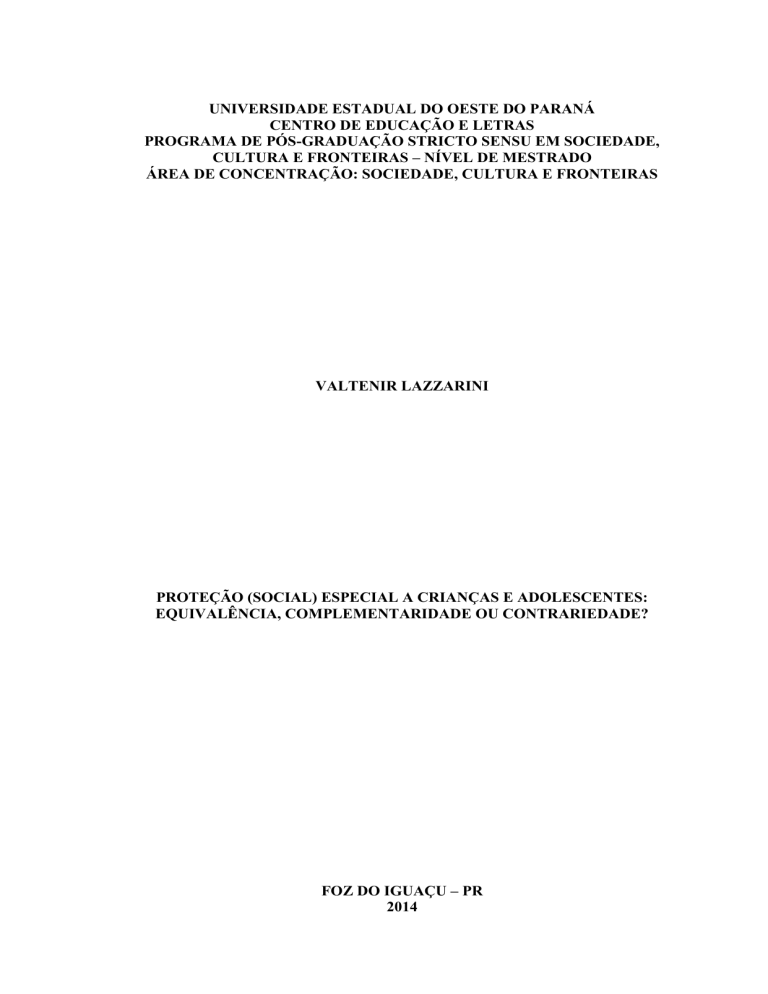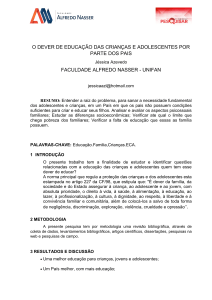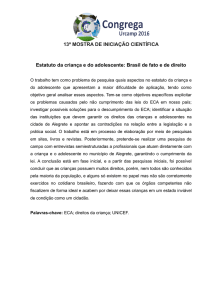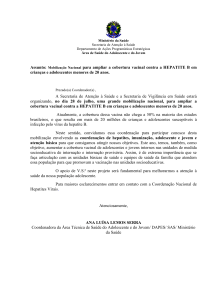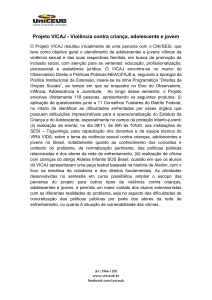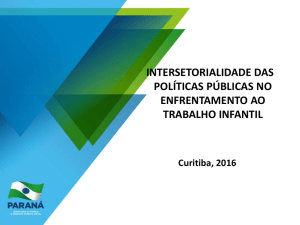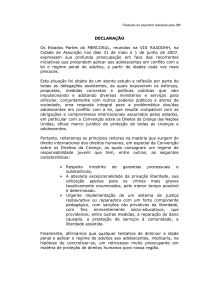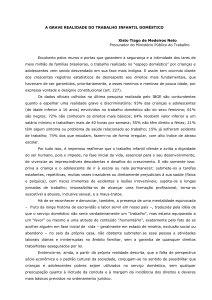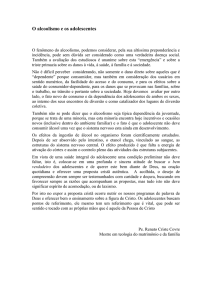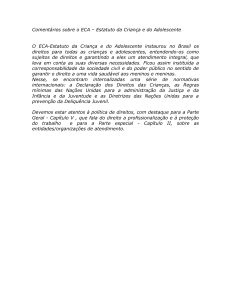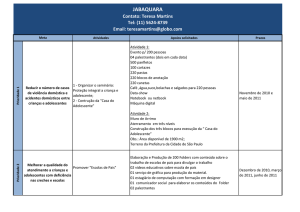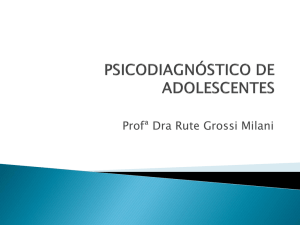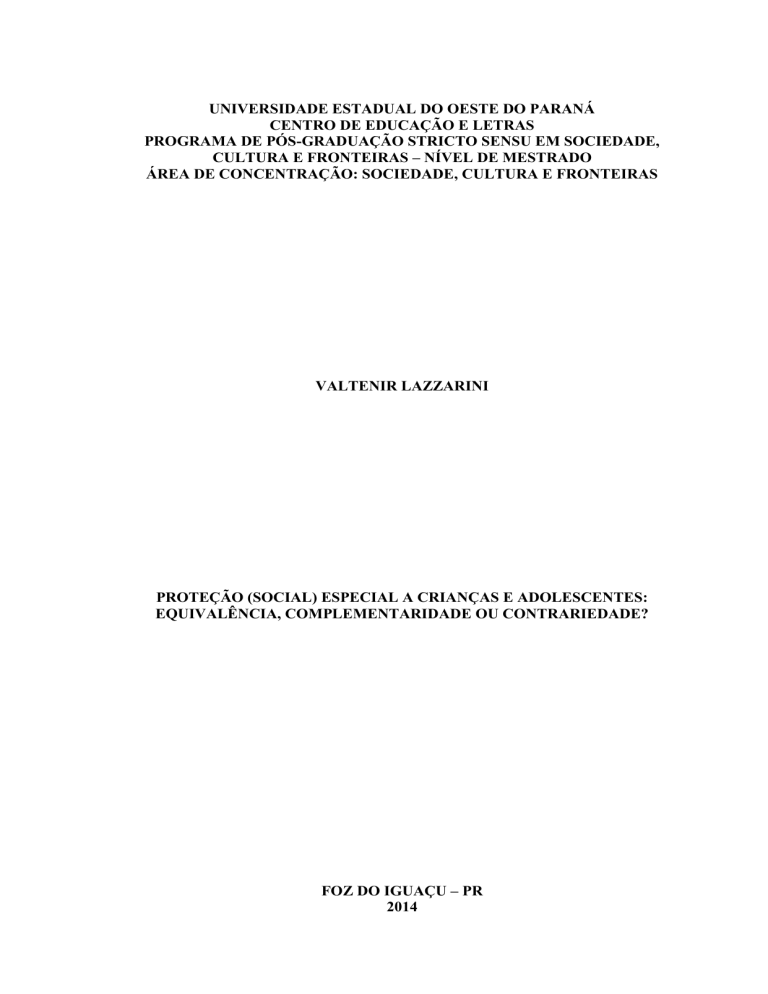
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE EDUCAÇÃO E LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SOCIEDADE,
CULTURA E FRONTEIRAS – NÍVEL DE MESTRADO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS
VALTENIR LAZZARINI
PROTEÇÃO (SOCIAL) ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
EQUIVALÊNCIA, COMPLEMENTARIDADE OU CONTRARIEDADE?
FOZ DO IGUAÇU – PR
2014
VALTENIR LAZZARINI
PROTEÇÃO (SOCIAL) ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
EQUIVALÊNCIA, COMPLEMENTARIDADE OU CONTRARIEDADE?
Dissertação apresentada à Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE – para obtenção do
título de Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras,
junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Sociedade, Cultura e Fronteiras, área de
concentração: Sociedade, Cultura e Fronteiras.
Linha de Pesquisa: Trabalho, Política e Sociedade.
Orientadora: Profa. Dra. Rosana Katia Nazzari
Co-Orientador: Prof. Dr. Amarildo Jorge da Silva
FOZ DO IGUAÇU – PR
2014
VALTENIR LAZZARINI
PROTEÇÃO (SOCIAL) ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
EQUIVALÊNCIA, COMPLEMENTARIDADE OU CONTRARIEDADE?
Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre em Sociedade,
Cultura e Fronteiras e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Sociedade, Cultura e Fronteiras – Nível de Mestrado, área de Concentração em
Sociedade, Cultura e Fronteiras, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.
COMISSÃO EXAMINADORA
_______________________________________
Profa. Dra. Rosana Katia Nazzari – Orientadora
Unioeste
_____________________________________
Prof.º Dr.º Valdir Gregory
Unioeste
___________________________________________
Profa. Dra. Francisca Rodrigues de Oliveira Pini
Instituto Paulo Freire
Foz do Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014.
LAZZARINI, Valtenir. Proteção (social) especial a crianças e adolescentes: equivalência,
complementaridade ou contrariedade? Dissertação (Mestrado em Sociedade, Cultura e
Fronteira) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, 2014.
RESUMO
Profundamente influenciadas pelo papel do Estado na regulação/manutenção das contradições
de classe, as políticas públicas e, dentre elas as políticas sociais, refletem as desigualdades
oriundas do processo de disputa presente na sociedade. Nesse processo de disputa, a proteção
social atende aos interesses tanto da classe trabalhadora, na perspectiva de sobrevivência com
dignidade, como da burguesia, no interesse de manutenção da mão de obra para exploração e
como estratégia anticrise cíclica. As conquistas das disputas, entre outras formas, ficam
registradas nas normas internacionais dos direitos humanos (Pactos, convenções, tratados,
etc.) e nas normas nacionais (Constituição, Leis, Decretos, Resoluções, etc.), as quais são
instrumentos diários na efetivação dos direitos conquistados. Crianças e adolescentes são
merecedores de proteção especial na normativa internacional e, de forma equivalente, a
prioridade absoluta na normativa nacional. Utiliza-se a expressão “proteção especial” em
diversos contextos, principalmente pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de
Assistência Social, surge a “proteção social especial”. Os dois termos se confundem, e este
estudo procura responder se os mesmos são equivalentes, complementares ou contrários.
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos, criança, adolescente, proteção especial.
LAZZARINI, Valtenir. ¿Protección (social) especial a niños y adolescentes: equivalencia,
complementariedad o contrariedad? Disertación (Máster en Sociedad, Cultura y Frontera) –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, 2014.
RESUMEN
Influenciadas profundamente por el rol del Estado en el ajuste y manutención de las
contradicciones de clase social, las políticas públicas y, entre ellas, las políticas sociales,
reflejan las desigualdades originadas del proceso de disputa presente en la sociedad. En ese
proceso de disputa, la protección social atiende a los intereses tanto de la clase de
trabajadores, bajo la perspectiva de sobrevivencia con dignidad, como de la burguesía, en el
interés de manutención de la mano de obra para explotación e como estrategia anticrisis
cíclica. Las conquistas de las disputas, entre otras formas, quedan registradas en las normas
internacionales de los derechos humanos (Pactos, Convenciones, tratados, etc.) y en las
normas nacionales (Constitución, Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.), las cuales son
instrumentos cotidianos en la concretización de los derechos conquistados. Niños y
adolescentes son merecedores de una protección especial en la normativa internacional y, de
forma equivalente, la prioridad absoluta en la normativa nacional. Se emplea la expresión
“protección especial” en diversos contextos, principalmente por los Consejos de los Derechos
del Niño y del Adolescente, y, con la aprobación de la Política Nacional de Asistencia Social
y del Sistema Único de Asistencia Social, surge la “protección social especial”. Las dos frases
se confunden y este estudio busca responder si los mismos son equivalentes, complementarios
o contrarios.
PALABRAS LLAVE: Derechos Humanos; Niño; Adolescente; Protección Especial
LAZZARINI, Valtenir. Special (Social) Protection to children and teenagers: equivalence,
complementary or opposites? Dissert (Master in Society, Culture and Frontier) –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu, 2014.
ABSTRACT
Deeply influenced by the role of the state in the regulation/maintenance of class
contradictions, public policies and, among them the social policies, reflect the inequalities
arising from the dispute in this present society. In this dispute process, social protection
attends to the interests of both the working class, in view of survival with dignity, like the
bourgeoisie in the interest of maintaining manpower for operation and cyclic anticrisis
strategy. The achievements of disputes, among others, are registered in international human
rights standards (pacts, conventions, treaties, etc.) and in the national standards (Constitution,
laws, decrees, resolutions, etc.), which are everyday instruments in realization of conquered
rights. Children and adolescents are deserving of special protection in the international
normative and, equivalently, the absolute priority in the national law. We use the term
"special protection" in several contexts, especially the Councils for the Rights of Children and
Adolescents, and, with the approval of the National Policy of Social Assistance and Unified
System of Social Assistance comes the "special social protection". The two terms are
confused, and this study seeks to answer whether they are equivalent, complementary or
opposites.
KEYWORDS: human rights, children, adolescent, special protection.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Hierarquia das Políticas de Direitos......................................................................... 46
Figura 2 - Estrutura do PPA Governo Federal: 2012-2015 ...................................................... 87
Figura 3- Inter-relação das políticas na efetivação dos direitos humanos ................................ 96
LISTA DE TABELAS
Tabela 01 - Direitos sociais e correspondentes funções e subfunções .................................... 39
Tabela 02 - Atuais Ministérios, secretarias e órgãos com status de Ministério do Poder
Executivo Federal ..................................................................................................................... 40
Tabela 03 - Atuais Secretarias com status de ministério (ligadas à Presidência da República)
.................................................................................................................................................. 41
Tabela 04 - Atuais Órgãos com status de ministério (ligados à Presidência da República) .... 41
Tabela 05 - Atuais secretarias e órgãos da Administração Direta – Paraná - 2012 .................. 41
Tabela 06 - Atuais secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta – Foz do Iguaçu 2013 .......................................................................................................................................... 42
Tabela 07 - Proteção especial na normativa internacional dos direitos humanos .................... 62
Tabela 08 - Ocorrência de proteção especial e proteção social especial nas
deliberações/resoluções do Cedca/PR – 2003 a 2013 .............................................................. 72
Tabela 09 - Resumo das deliberações do FIA/PR 2004 a 2006 ............................................... 78
Tabela 10 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA‟s governo federal entre os
anos 2004 a 2015 ...................................................................................................................... 84
Tabela 11 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA‟s governo Paraná entre os
anos 2004 a 2015 ...................................................................................................................... 85
Tabela 12 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA‟s governo Foz do Iguaçu/PR
entre os anos 2002 a 2013 ........................................................................................................ 86
LISTA DE ABREVIATURAS
ADI - Ação direta de inconstitucionalidade
CDC - Convenção sobre os Direitos da Criança
CDCA‟s – Conselhos dos Direitos de Crianças e Adolescentes
CEDCA/PR - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná
CF - Constituição Federal
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
FEAS/PR – Fundo Estadual de Assistência Social do Paraná
FIA – Fundo da Infância e Adolescência
FIA/PR - Fundo da Infância e Adolescência do Paraná
IPEA- Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA - Lei Orçamentária Anual
LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
NOB/RH - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
NOB/SUAS - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
ONGs – Organizações Não Governamentais
ONU - Organização das Nações Unidas
PNAS - Política Nacional de Assistência Social
PPA - Plano Plurianual
SESA/PR - Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
SGD - Sistema de Garantia dos direitos humanos de Crianças e Adolescentes
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9
1 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS ................................... 13
1.1 PAPEL DO ESTADO ....................................................................................................... 13
1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS .................................................................................................. 14
1.2.1 Política Social ................................................................................................................ 16
1.3 O QUE SÃO OS DIREITOS HUMANOS ....................................................................... 20
1.3.1 O Contexto dos Direitos Humanos .............................................................................. 21
1.3.2 Principais documentos internacionais dos direitos humanos positivados ................ 23
1.3.2.1 A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança - CDC .............................. 26
1.3.2.2 A Criança e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ................................ 27
1.3.3 Direiros humanos e legislação interna ........................................................................ 29
1.4 CONSIDERAÇÕES .......................................................................................................... 32
2 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE NA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ........................................................... 35
2.1
A DESCENTRALIZAÇÃO E A MUNICIPALIZAÇÃO COMO DIRETRIZES DA
POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ................................................................................................................... 37
2.2 DEFINIÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS ............................................................. 43
2.3
NATUREZA JURÍDICA E DISCRICIONARIEDADE NOS CONSELHOS DE
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .............................................................. 50
2.4 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA ..................................................... 53
2.4.1 Fundo da infância e adolescência do Paraná – FIA/PR ............................................ 55
2.5 DELIBERAÇÃO OU RESOLUÇÃO? COMO EXERCER CONTROLE ....................... 56
2.6 CONSIDERAÇÕES .......................................................................................................... 58
3 A PROTEÇÃO ESPECIAL NA NORMA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E SEU FINANCIAMENTO ....................................................................... 60
3.1 ASPECTOS DA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL ............................ 61
3.1.1 A proteção especial no ECA ........................................................................................ 65
3.2 SITUAÇÕES DE RISCO .................................................................................................. 69
3.3 AS DELIBERAÇÕES DO CEDCA/PR E OS RECURSOS DO FIA/PR ........................ 72
3.4 A PRESENÇA DA PROTEÇÃO (SOCIAL) ESPECIAL NO ORÇAMENTO PÚBLICO
.................................................................................................................................................. 81
3.5 CONSIDERAÇÕES ........................................................................................................... 89
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 92
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 99
9
INTRODUÇÃO
As diferentes conformações e papéis do Estado têm se tornado, nas últimas décadas,
tema de debate entre diversos pensadores. Compreender que as relações sociais de classe
estabelecidas são antagônicas, e que a classe hegemônica utiliza-se de todos os meios para a
manutenção desta situação pode explicar um conjunto de situações da realidade concreta,
mas, sem dúvida, é um ponto de vista.
O atual Estado capitalista, de democracia burguesa, positivou, em um conjunto de
normativas, as políticas públicas, especialmente as sociais, as quais são resultado da disputa
das forças presentes na sociedade. Se por um lado são conquistas dos trabalhadores, por outro
também respondem ao interesse da burguesia numa forma de manutenção da força de
trabalho.
O desenvolvimento das políticas públicas tem se mostrado intrinsecamente
relacionado ao desenvolvimento social da humanidade, que se processa em ritmos
diferenciados no espaço e no tempo. A cultura, cada vez mais globalizada, influencia as
mudanças na normativa (arcabouço jurídico como leis, decretos, etc.) e essas mudanças,
registradas, por vezes, em fatos e momentos históricos, são o que reconhecemos como
memória histórica e coletiva a qual, segundo Luvisolo (1989), é a memória valorizada, e sua
perda é considerada negativa.
Durante esse desenvolvimento histórico, por séculos, crianças e adolescentes foram
considerados objetos da ação dos adultos, o que influenciou, no decorrer da história, o
atendimento à criança e ao adolescente em suas diversas fases.
Nessas diversas fases da história de atendimento à infância brasileira, as crianças eram
consideradas objetos de direito e, sobretudo, da ação do Estado. A lei anterior (Código de
Menores, 1979) previa apenas dois direitos a crianças e adolescentes:
Art. 118. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de menor, o qual terá sempre
direito à visita de seus pais ou responsável e de procurador com poderes especiais,
de comum acordo com a direção do estabelecimento onde se encontrar internado, ou
devidamente autorizado pela autoridade judiciária.
Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá suspender, por tempo determinado,
a visita dos pais ou responsável, sempre que a visita venha a prejudicar a aplicação
de medida prevista nesta Lei.
Art 119. O menor em situação irregular terá direito à assistência religiosa. (BRASIL,
1979)
10
Essa cultura de considerar a criança como objeto começa a mudar no mundo em
meados do século passado, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, mais tarde,
especificamente, com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e da Convenção das
Nações Unidas para os Direitos da Criança.
Consolidam-se as alterações na normativa através de adequações na legislação interna
do Brasil. Na Constituição Federal de 1988 foi inserido o emblemático artigo 227 que afirmou
ser
[...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(BRASIL, 1988)
Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), novos termos, sentidos e
significados são atribuídos à crianças e adolescentes. Entre estes, é possível destacar
disposições sobre a proteção integral, no primeiro artigo; um capítulo sobre a prevenção
especial; e outro dedicado exclusivamente a medidas específicas de proteção.
A mudança de paradigma da doutrina da situação irregular1 para crianças e
adolescentes sujeitos de direitos e de proteção integral é muito recente se comparada à nossa
história de atendimento às crianças. Essa mudança de paradigma não superou as práticas
assistencialistas, mas superou a compreensão jurídica, social e teórica.
A modalidade de atendimento que se desenvolveu e que permanece ainda hoje,
sempre foi vista pelo prisma assistencialista, compensatório, de entidades nãogovernamentais, sobretudo, ligadas à Igreja Católica, que faziam atendimentos supostamente
“protetivos” a crianças e adolescentes.
1
Tinha-se, até então, no Brasil, duas categorias distintas de crianças e adolescentes. Uma, a dos filhos
socialmente incluídos e integrados, a que se denominava «crianças e adolescentes». A outra, a dos filhos dos
pobres e excluídos, genericamente denominados «menores», que eram considerados crianças e adolescentes de
segunda classe. A eles se destinava a antiga lei, baseada no «direito penal do menor» e na «doutrina da situação
irregular».
Essa doutrina definia um tipo de tratamento e uma política de atendimento que variavam do assistencialismo à
total segregação e onde, via de regra, os «menores» eram simples objetos da tutela do Estado, sob o arbítrio
inquestionável da autoridade judicial. Essa política fomentou a criação e a proliferação de grandes abrigos e
internatos, onde ocorriam toda a sorte de violações dos direitos humanos. Uma estrutura verdadeiramente
monstruosa, que logrou cristalizar uma cultura institucional perversa cuja herança ainda hoje se faz presente e
que temos dificuldade em debelar completamente.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente) Acesso em 29 maio 2013.
11
Art 60. As entidades criadas pelo Poder Público e as de natureza privada planejarão
e executarão suas atividades de assistência e proteção ao menor atendendo às
diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor.
§ 1º O trabalho de toda entidade dedicada à assistência e à proteção ao menor em
situação irregular visará, prioritariamente, ao ajustamento ou integração sóciofamiliar deste. (BRASIL, 1979)
Para tanto, a definição de proteção ainda carrega muitas marcas deste tipo de
atendimento previsto no Código de Menores, remetendo ao menor em “situação irregular”.
Para compreender a mudança que ocorreu e que ainda está ocorrendo, procurou-se
observar o desenvolvimento histórico dos direitos humanos e como a criança e o adolescente
são percebidos e reconhecidos nesse processo.
O caminho utilizado para alcançar o objetivo foi a pesquisa sobre documentação
indireta. A pesquisa bibliográfica, a qual, segundo Gil (1999) “... é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” e a pesquisa
documental a qual “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.
Conhecedores de parte da normativa internacional dos direitos humanos, buscou-se
nesta e, em especial, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança possíveis conceitos
de proteção especial. Encontrou-se citação de “proteção especial”, primeiramente, na
Convenção dos Direitos da Criança e, a partir desta, buscou-se as demais citadas pela mesma
em seu preâmbulo.
Além da normativa internacional, também foi analisada a nacional, especificamente, a
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para ampliar a busca, acessouse a internet fazendo a busca aberta do “conceito de proteção especial”.
Através dessa busca, deparou-se com vários artigos que discutem a situação de risco, o
que chamou atenção, pois a grande maioria das citações de proteção especial refere-se “às
crianças e adolescentes em situação de risco”.
Procurou-se entre os vários artigos, muitos dos quais voltados à epidemiologia, por
indicações de literatura sobre a proteção especial, mas não obteve-se resultado significativo,
contudo, a leitura desses artigos ajudaram a entender a origem do risco e também a abrir
novas possibilidades na pesquisa.
Finalmente, para poder cumprir com o objetivo, analisou-se as deliberações do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR) no período de
12
2003 a 2013 bem como planilha produzida pela Câmara Técnica do Fundo da Infância e
Adolescência, Fundo esse gerido pelo CEDCA/PR.
Inicia-se, no capítulo I, com o papel do Estado, as políticas públicas, especialmente as
sociais, e com a definição dos direitos humanos normatizados internacional e nacionalmente,
focalizando os direitos da criança e do adolescente.
Para efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, abordou-se a
participação e o controle na definição dessa política no capítulo II e, na sequência, no capítulo
III, investigou-se a presença da “proteção especial” na normativa afeta ao segmento e seu
financiamento.
Após ser verificada a presença da “proteção especial” na normativa, analisou-se, no
conjunto dos planos plurianuais do orçamento da União, Estado do Paraná e do Município de
Foz do Iguaçu, entre os anos 2004 e 2015, como a locução „proteção especial‟ ou „proteção
social especial‟ aparecem nos referidos planos.
Nas considerações finais, retomam-se os principais pontos abordados no
desenvolvimento da pesquisa e aponta-se uma tentativa de entendimento expressa no título da
pesquisa.
13
1 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS
1.1 PAPEL DO ESTADO
Desde que a humanidade se complexificou e surgiu o Estado, este tem merecido
atenção de diversos teóricos que procuram defini-lo na expectativa de explicar as relações
sociais. Não se faz na sequência, a discussão do Estado brasileiro e o reflexo deste na
discussão do tema, mas, tão somente, um breve apanhado das discussões gerais em relação ao
Estado.
No artigo intitulado Fundamentos de Política Social, Behring (2006) apresenta um
breve debate clássico sobre o papel do Estado. Segundo a autora, com o declínio da sociedade
feudal e da lei divina que davam sustentação às hierarquias políticas (séc. XVI e XVII),
começa uma discussão sobre o papel do Estado. Com Maquiavel, busca-se uma abordagem
racional do exercício do poder político por meio do Estado. Naquela época, o Estado era
considerado mediador civilizador (Carnoy, 1987 apud Behring, 2006), tendo a função de
controlar as paixões, ou seja, o desejo insaciável de vantagens materiais, próprias aos homens
em estado de natureza.
Já para Hobbes, em seu Leviathan (1651 apud Behring, 2006), no estado de natureza,
os desejos e as repulsas determinam as ações livres dos homens, mas faz-se necessário
renunciar á liberdade individual, em função do medo da violência e da guerra, em favor do
soberano. A submissão seria uma opção racional refreando suas paixões.
Concordando com a ideia de Hobbes , John Locke porém, dizia que o absolutismo era
incompatível com o governo civil, pois o soberano não teria a quem recorrer a não ser a ele
mesmo. Fazia-se necessário, então, que o poder político estivesse em mãos da coletividade. O
poder teria origem num pacto estabelecido mutuamente entre os indivíduos para preservar a
vida, a liberdade e a propriedade.
O surgimento do tema da propriedade causa uma cisão na discussão, devido à clara
associação entre poder político e propriedade.
Novos e polêmicos elementos são acrescentados neste debate no ano de 1762 por
Jean-Jacques Rousseau, com seu Contrato Social. Para este,
14
[...] o homem é naturalmente bom, do bom selvagem -, enquanto a sociedade civil é
a descrição de como os homens vivem em realidade, e não uma construção ideal. A
sociedade civil, para Rousseau, é imperfeita: foi corrompida pela propriedade, e é
produto da voracidade do homem, obra do mais rico e poderoso que quer proteger
seus interesses próprios.” (BEHRING, 2006, p. 3-4)
Um Estado com o poder residente na cidadania por meio da vontade geral é a saída
proposta por Rousseau frente ao impasse da desigualdade social e política na sociedade civil.
Diferente de Locke, o pacto proposto não inclui somente os proprietários, mas o conjunto da
sociedade em mecanismos de democracia direta (Bobbio, 1988 apud Behring, 2006). Tendo
por base as leis definidas pela vontade de todos, apenas esse Estado de Direito teria a
capacidade de limitar os extremos (pobreza e riqueza) presentes na sociedade civil, e também
promover, como meio decisivo para a livre escolha, a educação pública para todos.
Finalizando esse breve debate, ressalta que
[...] a consolidação econômica e política do capitalismo nos séculos XVIII e XIX
introduziu outros e duradouros condimentos nesta calorosa discussão sobre a relação
Estado, sociedade civil e bem-estar. Se, para os pensadores do período de fundação
do Estado moderno, este era o mediador civilizador - idéia resgatada pelas
perspectivas keynesianas e social-democratas que preconizaram, no século XX, um
Estado intervencionista -, para o pensamento liberal emergente, era um mal
necessário (Bobbio, 1988). E continua sendo para os liberais do presente [...]
(BEHRING, 2006, p. 4)
O Estado capitalista no qual vivemos hoje tem se mostrado cada vez mais
intervencionista a favor da classe hegemônica, como recentemente se viu no socorro ao
sistema financeiro em 2008. Por outro lado, a lógica de “perder os anéis para não perder os
dedos” tem-se mostrado eficaz.
Políticas públicas de Estado ou de Governo, a exemplo do programa de transferência
de renda conhecido como Bolsa Família, segundo Behring (2006), têm permitido a
sobrevivência de um contingente enorme de mão de obra, mantendo um exército de reserva
estrutural que pressiona os salários para baixo.
1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS
A diferenciação entre políticas de governo e políticas de Estado devem ser feitas
considerando que ambas são resultado de um processo de disputa, de conflito de forças
15
históricas contraditórias presentes em nossa sociedade. O resultado desse conflito é o que
configura, historicamente, a adoção dessas ou daquelas políticas.
Utiliza-se, como definição para política de Estado, aquela que tem sua duração para
mais de um governo, e que foi submetida ao processo público de discussão e participação da
sociedade na sua definição, além de contar com um grau maior de institucionalidade como ter
sido aprovado, por exemplo, por lei ou, como afirma Almeida (2013):
... são aquelas que envolvem as burocracias de mais de uma agência do Estado,
justamente, e acabam passando pelo Parlamento ou por instâncias diversas de
discussão, depois que sua tramitação dentro de uma esfera (ou mais de uma) da
máquina do Estado envolveu estudos técnicos, simulações, análises de impacto
horizontal e vertical, efeitos econômicos ou orçamentários, quando não um cálculo
de custo-benefício levando em conta a trajetória completa da política que se
pretende implementar. O trabalho da burocracia pode levar meses, bem como o
eventual exame e discussão no Parlamento, pois políticas de Estado, que respondem
efetivamente a essa designação, geralmente envolvem mudanças de outras normas
ou disposições pré-existentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade.
Para política de governo, considera-se aquelas que não sobrevivem à mudança de
mandatos e tem sua definição mais burocrática nos gabinetes, contando com pouca ou
nenhuma participação, e sua institucionalização se dá por vias e instrumentos administrativos
ou, mais precisamente, como considera Almeida (2003),
... são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar de
formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas
colocadas na própria agenda política interna – pela dinâmica econômica ou políticaparlamentar, por exemplo – ou vindos de fora, como resultado de eventos
internacionais com impacto doméstico. Elas podem até envolver escolhas
complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a apresentação do problema e a
definição de uma política determinada (de governo) é bem mais curto e simples,
ficando geralmente no plano administrativo, ou na competência dos próprios
ministérios setoriais.
Há que se ressalvar que nem toda política de governo é política pública, pois, como se
posiciona Teixeira (2002), “[...] é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou
benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público.”
Como resultado desse processo de disputa, tanto a política de governo como a política
de Estado podem representar o interesse da maioria ou não, a depender do caso concreto ao se
avaliar determinada política pública.
16
Avaliar políticas públicas, sejam estas de Estado ou de governo, não é tarefa fácil e
sempre será uma visão parcial, ou melhor, uma visão de um determinado ponto de
observação. Diferentes fatores das mais diversas naturezas podem causar impactos na análise
e na avaliação. Chiari (2012) argumenta que “Este fato é especialmente verdadeiro quando a
política pública endereça-se às questões sociais, dentre as quais se inscrevem, por exemplo, as
políticas de educação, saúde, segurança pública.”
1.2.1 Política Social
Dentre as proposições neoliberais para a saída da crise nos fins dos anos 60 e início
dos 70, incluía-se o desmonte dos direitos sociais, quebrando o vínculo entre política social e
esses direitos. Essas proposições só se transformam em programas de governo em fins dos
anos 70 e início dos anos 80, com Margareth Thatcher (Inglaterra, 1979), Ronald Reagan
(EUA, 1980) e Helmut Khol (Alemanha Ocidental, 1982).
A implementação desses governos permitiu um controle da inflação e aumento das
taxas de lucro devido ao crescimento do desemprego e a diminuição dos tributos, mas sem
uma significativa reanimação do capitalismo, segundo Behring (2009).
Esta reanimação não ocorreu, pois a desregulamentação financeira levou a uma
explosão de operações especulativas (CHESNAIS, 1996 apud Behring, 2009), e o Welfare
State não regride como esperado, apesar de alguns retrocessos aos direitos (NAVARRO, 1998
apud Behring, 2009) e um efeito contrário ao esperado acaba acontecendo, pois o crescimento
do desemprego pressionou por aumento da proteção social e, em consequência, ocorreram
maiores gastos públicos.
Por uma conjuntura histórica de redemocratização, o Brasil consegue “... inscrever o
conceito de seguridade social na Constituição de 1988, apesar de suas restrições a apenas três
políticas, e da tensão entre universalidade e seletividade que está presente em seus princípios”
(BEHRING, 2009).
O neoliberalismo tem uma primeira fase de ataque ao keynesianismo e ao Welfare
State e, uma segunda fase mais propositiva, segundo Sônia Draibe (1993 apud Behring,
2009 ), no que diz respeito aos programas sociais, no trinômio articulado da focalização,
privatização e descentralização.
17
Essa fase procura desuniversalizar e assistencializar as ações, reduzindo os gastos
sociais para o equilíbrio financeiro do setor público. Trata-se de política social residual que
busca solucionar aquilo que não pode ser resolvido pelo mercado, pela comunidade ou pela
família.
A principal resposta dessa fase é a renda mínima, a qual, combinada ao apelo de
solidariedade através de organizações da sociedade civil, estabelece que essa renda não pode
ter um teto alto para não desestimular o trabalho.
No final do período depressivo, entre 1914 e 1939, as políticas sociais se multiplicam
e, no início do período de expansão após a Segunda Guerra Mundial, se generalizam. A crise
mundial de 1929/1932 promove mudança de direção na atitude da burguesia, em relação à sua
certeza sobre as respostas automáticas do mercado, o que se expressa na chamada revolução
keynesiana. A sustentação pública de um conjunto de medidas anticrise ou anticíclicas é o
ponto comum das proposições de Keynes. Para Mandel (1982 apud Behring, 2009), tais
medidas, dentre elas as políticas sociais, conseguiram, na melhor das hipóteses, a redução e
amortecimento da crise.
Mas, veja-se como se explica, pela ótica marxista, o longo período de expansão
após a Segunda Guerra Mundial, bem como o significado das políticas sociais
naquele contexto. Observa-se o crescimento da composição orgânica do capital 2, o
aumento da taxa de mais-valia3 (o que pressupõe derrotas do movimento operário) e
a baixa dos preços das matérias primas. Essa situação cria seus próprios obstáculos,
que estão na base do esgotamento da expansão capitalista no final dos anos de 1960.
Com a redução do exército industrial de reserva4 na situação de pleno emprego
promovida pelo keynesianismo, ampliou-se a resistência do movimento operário,
baixando a taxa de mais-valia num tempo histórico mais largo. Houve, ainda, uma
generalizada incorporação da revolução tecnológica na produção, diminuindo os
2
Expressão em valor da composição técnica do capital, que por sua vez é a razão entre a massa dos meios de
produção e o trabalho necessário para pô-los em movimento. O aumento da composição orgânica do capital
significa uma redução do número de trabalhadores necessários por unidade de meios de produção, sem diminuir
a produção. Ao contrário, trata-se de diminuir seus custos perseguindo um aumento da extração da mais-valia
(BOTTOMORE, 1988, p. 69).
3
Sendo a força de trabalho uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de vida necessários à sua
subsistência, se este trabalhar além de um número de horas, estará produzindo um valor a mais, um valor
excedente, sem contrapartida, denominado por Marx de mais-valia. A taxa de mais-valia é a relação entre a
mais-valia e o capital variável (salários) e define o grau de exploração sobre os trabalhadores. Mantendo-se
inalterados os salários reais, a taxa de mais-valia tende a elevar-se quando a jornada ou a intensidade do trabalho
aumentam (SANDRONI, 1992, p. 201).
4
Também caracterizado por Marx como superpopulação relativa excedente. Trata-se de uma reserva de força de
trabalho que é inerente ao processo de acumulação do capital. Este é impulsionado pela concorrência e pela
busca de lucros a aplicar novos métodos e tecnologias de produção poupadoras de mão-de-obra, já que ampliam
a produtividade do trabalho. O exército industrial de reserva também contém a pressão operária sobre o aumento
dos salários. Ele é ampliado, ainda, pela não absorção total da mão-de-obra jovem, pela mecanização da
agricultura e processos migratórios daí decorrentes, e falência de pequenas empresas, pressionadas pela
concentração de capitais (BOTTOMORE, 1988, p. 144; SANDRONI, 1992, p. 128).
18
lucros extraídos do anterior diferencial de produtividade do trabalho 5. A
concorrência é acirrada, bem como a especulação. Há uma estagnação do emprego e
da produtividade, o que gera uma forte capacidade ociosa na indústria. Assim,
configurou-se uma superabundância de capitais, acompanhada de uma queda dos
lucros. (BEHRING, 2009 p. 14-15)
É na era do keynesianismo que ocorre a evolução da política social como estratégia
anticíclica. Mas, antes disso, houve pressão do movimento operário em relação à insegurança
da existência (desemprego, invalidez, doença, velhice), impondo o princípio dos seguros
sociais. “Esse processo levou ao princípio da segurança social, a partir do qual os
assalariados deveriam ter cobertura contra toda perda de salário corrente”. (BEHRING,
2009).
Como gestor de medidas anticrise, o Estado implementa sistemas nacionais de
seguridade, tomando emprestadas as enormes somas disponibilizadas por esses mecanismos
de poupança forçada, a partir do qual desencadeia ações anticíclicas.
Mas as ações da seguridade social, sozinhas, não conseguem garantir um efeito
anticíclico. É preciso ampliar o conceito de seguridade social, que tem como seu núcleo
inicial o sistema previdenciário, para além dos seguros sociais, diz respeito a um conjunto de
medidas econômicas e políticas como “[...] compra de equipamentos de consumo coletivo;
garantia estatal dos preços da cesta básica para populações de baixa renda, entre inúmeras
outras formas.” (BEHRING, 2009, p. 16)
Como parte de uma estratégia política e econômica, a política social é um fato
decorrente, segundo Behring (2009), de uma “crise de legitimação política articulada à
queda dos gastos na área social”. Para milhões de famílias, os benefícios e serviços sociais
são fundamentais no dia-a-dia.
As políticas sociais são concessões/conquistas mais ou menos elásticas, a depender
da correlação de forças na luta política entre os interesses das classes sociais e seus
segmentos envolvidos na questão. No período de expansão, a margem de negociação
se amplia; na recessão, ela se restringe. Portanto, os ciclos econômicos, que não se
definem por qualquer movimento natural da economia, mas pela interação de um
conjunto de decisões ético-políticas e econômicas de homens de carne e osso,
balizam as possibilidades e limites da política social. (BEHRING, 2009 pg. 19)
5
Renda tecnológica proveniente da maior produtividade do trabalho num mesmo ramo de produção. Uma
empresa que possui tecnologia de ponta produz a um menor custo em relação às demais no mesmo ramo,
extraindo maiores lucros, no contexto da concorrência (BEHRING, 2002, p. 125).
19
É possível perceber que a economia política desenvolve-se, historicamente, em função
das condições objetivas e subjetivas e, neste contexto, a política social deve ser considerada
inserida na relação desses processos na totalidade.
Na boa síntese de Netto (2006), as tendências que operam no campo das políticas
sociais são:
a desresponsabilização do Estado e do setor público com uma política social
de redução da pobreza articulada coerentemente com outras políticas sociais
(de trabalho, emprego, saúde, educação e previdência); o combate à pobreza
opera-se como uma política específica;
a desresponsabilização do Estado e do setor público, concretizada em fundos
reduzidos, corresponde à responsabilização abstrata da “sociedade civil” e da
“família” pela ação assistencial; enorme relevo é concedido às organizações
não-governamentais e ao chamado terceiro setor;
desdobra-se o sistema de proteção social: para aqueles segmentos
populacionais
que
dispõem
de
alguma
renda,
há
a
privatização/mercantilização dos serviços a que podem recorrer; para os
segmentos mais pauperizados, há serviços públicos de baixa qualidade;
a política voltada para a pobreza é prioritariamente emergencial, focalizada e,
no geral, reduzida à dimensão assistencial. (BEHRING, 2009, p. 22)
O sistema de proteção social brasileiro desenvolveu-se, de modo geral, diverso
daquele observado na Europa, segundo Yazbek (2012, p. 11). A autora afirma que “... as
peculiaridades da sociedade brasileira, de sua formação histórica e de suas dificuldades em
adiar permanentemente a modernidade democrática, pesaram fortemente nesse processo.”
Com isso, o acesso a bens e serviços sociais é caracterizado pela desigualdade,
heterogeneidade e fragmentação.
O sistema de proteção social não é uma reação automática às necessidades, “mas
representam formas históricas de consenso político, de sucessivas e intermináveis pactuações
que, considerando as diferenças no interior das sociedades, buscam incessantemente
responder a, pelo menos, três questões: quem será protegido? Como será protegido? Quanto
de proteção?” (YAZBEK Silva; GIOVANNI, 2008:16, apud YAZBEC M. C., pg. 6).
Colin (2007) refere-se a estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA), o qual
[...] aponta as cinco áreas que integram a proteção social: 1. a política de assistência
social como política de enfrentamento das desigualdades; 2. a política do trabalho
como geradora de emprego e renda; 3. a política de previdência social como
asseguradora da força de trabalho e das condições de aposentadoria; 4. as políticas
de educação e saúde como condição essencial para a cidadania; e 5. as políticas de
infraestrutura que potencializam o desenvolvimento. (COLIN, 2007, p. 2)
20
Em 1993, o artigo 204 da Constituição Federal (CF) foi regulamentado pela Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS), a qual, em seu artigo primeiro, define a Política de
Assistência Social como “[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir atendimentos às
necessidades básicas”. (COLIN, 2007, p. 2).
Para implantar e implementar esta política, a partir da IV Conferência Nacional de
Assistência Social em 2003, foi proposto o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
sistema este estabelecido na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
145/2004 que aprovou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e, em 2011, inserido
no texto da LOAS através da lei federal 12.435.
O SUAS consolida-se com a edição da Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social (NOB/SUAS) em 2005 e, posteriormente, com a Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos (NOB/RH) disciplinando os recursos humanos mínimos
necessários ao funcionamento de seus programas e serviços. Mas somente em 2009, o CNAS
descreve quais são os serviços típicos da Política de Assistência Social através da Resolução
CNAS 109/2009.
A proteção social procura responder às necessidades do capital, mas também do
trabalho, pois muitos dependem desta para sobreviver. Assim, nesse processo permanente de
disputa torna-se um importante instrumento de luta de classes e como defesa de condições
dignas de existência, e, em última instância, de garantia dos direitos humanos.
1.3 O QUE SÃO OS DIREITOS HUMANOS
Se andarmos pelas ruas e perguntarmos às pessoas o que são os direitos humanos,
obteremos várias respostas. Elas poderiam dizer sobre os direitos que conhecem, mas muito
poucas conhecem os seus direitos.
Nosso desenvolvimento histórico nos levou, por diversas circunstâncias, a um sentido
de vida muito individualista e egoísta. Isso se tornou difícil e as pessoas se sentem
injustiçadas em função de uma injustiça que outro sofreu, mas, em observação contrária, é
percebida quando somos injustiçados e não recebemos o apoio de outro.
21
Direitos Humanos é uma forma sintética de nos referirmos a direitos fundamentais
da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana e que precisa ser
respeitada como pessoa. São aqueles necessários para a satisfação das necessidades
humanas fundamentais. Respirar é uma necessidade básica, portanto a pessoa tem
direito a um ar puro e não ar poluído que pode ser o caminho da morte . (DALLARI,
200-, p. 1)
Enquanto as nações ou grupos especializados usufruem dos direitos específicos que se
aplicam só a eles, os direitos humanos são os direitos aos quais todas as pessoas têm direito,
não importa quem sejam ou onde morem, simplesmente porque estão vivos.
1.3.1 O Contexto dos Direitos Humanos
Apresenta-se, nos parágrafos seguintes, um breve contexto dos direitos humanos
segundo Dalmo Dallari (200-), para o qual, apesar das divergências, muitos autores afirmam
ter sido, na Grécia Antiga, o aparecimento primeiro na história. Refere-se a um dos textos de
Sófocles onde Antígona responde ao rei que agiu “... em nome de uma lei que é muito mais
antiga do que o rei, uma lei que se perde na origem dos tempos, que ninguém sabe quando foi
promulgada”.
Mas é a Idade Média um momento de rever valores, e o cristianismo passa a ter uma
influência muito grande na vida política, aparecendo, no final desta época histórica, Santo
Tomás de Aquino, o qual discute diretamente a questão dos direitos humanos, retornando a
Aristóteles e dando à filosofia a visão cristã, para qual a fundamentação é teológica ou seja,
“... o ser humano tem direitos naturais que fazem parte de sua natureza, pois lhe foram dados
por Deus”. (DALLARI, 200-, p. 2)
Como consequência, desenvolve-se uma linha teórica e política que levará à uma
ambiguidade em sua utilização, levando-se a considerar que o direito dos reis eram direito
natural, propiciando assim o surgimento do absolutismo.
É também na Idade Média que se constituiu uma aristocracia a partir das famílias dos
que lutaram contra os bárbaros, tornando-se proprietários de terras e sócios do poder real, os
quais buscavam, no direito natural, o fundamento para seus privilégios e as justificativas para
as violências contras aqueles que não tinham os mesmos privilégios.
Chegando ao final da Idade Média, surge a burguesia, forte economicamente mas
marginalizada do poder político, o que lhe faltava para defender direitos pessoais e seu
22
patrimônio. O crescimento político da burguesia favorece o crescimento dos direitos
humanos, pois, no século XVII, acontece a primeira grande revolução burguesa, na Holanda,
quando aparecem grandes pensadores liberais. Fruto da associação do burguês aos pensadores
liberais, é que surge modernamente a liberdade como um valor.
Ainda no século XVII, surge a liberdade como um valor nos Estados Unidos da
América, a partir de uma revolução burguesa e, no final deste mesmo século, também
burguesa, acontece a Revolução Francesa.
Refletindo historicamente, verificamos que os direitos humanos foram concebidos
como direitos naturais, impostos por Deus e vinham sendo utilizados contra os
burgueses, em favor dos reis, em favor da aristocracia, para cometer violências. O
burguês não rejeita esses direitos, mas os reclama para si também. Aparecem
pensadores, considerados liberais, como Espinoza, Locke, Rosseau, Montesquieu,
que pregam a existência dos direitos fundamentais como a liberdade e a igualdade.
(DALLARI, 200-, p. 3)
Segue Dallari (200-) afirmando que o século XVIII está muito presente em nossa CF,
a qual foi concebida como um acordo entre iguais, mas na verdade não existe essa igualdade.
Observa ainda que nosso Parlamento não funciona porque foi concebido para uma sociedade
do século XVIII. “Porque não usamos o computador para saber a opinião das pessoas, pois
temos a loteria esportiva que é a captação de opiniões. Porque só para a opinião esportiva?”
(DALLARI, 200-, p. 3)
A humanidade mergulhou em duas grandes guerras nos século XX. Após isso se
aprova em 1948, pela ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este é um dos
documentos mais importantes na formulação dos direitos fundamentais, porém ainda não
efetivado em sua plenitude.
Na Constituição Federal brasileira, segundo Dallari (200-), há ênfase muito grande na
liberdade e pouco à igualdade. Questiona o autor como fica a liberdade para aquele que não
possui dinheiro, e se resolve alguma coisa dizer a um “... favelado você é livre, o Estado não
vai interferir na sua vida, use sua miséria como você quiser?”
O direito positivado em nossa CF é um instrumento que pode e deve ser utilizado para
a promoção dos direitos humanos, tendo a CF recepcionado os fundamentos destes
internacionalmente reconhecidos em importantes documentos.
23
1.3.2 Principais documentos internacionais dos direitos humanos positivados
Se olharmos somente pelo direito positivado no século XX, ou seja, aquele composto
por todas as leis, decretos, tratados etc., aprovados e com vigência em um determinado tempo
e espaço, encontraremos diversos documentos existentes que garantem os direitos humanos.
Dentre eles, é possível destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (1966).
O fato de se ter dois pactos aprovados no mesmo ano pode causar estranheza, mas é
preciso recordar que, nessa época, o mundo vivia ainda a sombra da Guerra Fria6 e a
polarização entre comunismo e capitalismo. Essa divisão acabou por ser refletida nos pactos
e, apesar de eles terem a mesma importância e validade, o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos foi mais fortemente implantado pelo Ocidente7, enquanto o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais teve sua efetivação mais
aprofundada pelo Oriente.
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, conhecidos como direitos de
primeira geração, é composto por direitos e liberdades como:
[...] direito à autodeterminação; direito à garantia judicial; igualdade de direitos entre
homens e mulheres; direito à vida; proibição da tortura; proibição da escravidão,
servidão e trabalho forçado; liberdade e segurança pessoal; proibição de prisão por
não cumprimento de obrigação contratual; liberdade de circulação e de residência;
direito à justiça; direito à personalidade jurídica; proteção contra interferências
arbitrárias ou ilegais; liberdade de pensamento, de consciência e de religião;
liberdade de opinião, de expressão e informação; direito de reunião; liberdade de
associação; direito de votar e de ser eleito; igualdade de direito perante à lei e direito
à proteção da lei sem discriminação; e ainda direitos da família, das crianças, das
minorias étnicas, religiosas e linguísticas. (MODELL, 2000)
Nesses direitos de primeira geração, se faz mais forte o senso de não intervenção do
Estado sobre a vida do cidadão, sendo as liberdades seu enfoque principal.
6
Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre
os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra
Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991). Em resumo, foi um conflito de ordem
política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência.
(<http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria>)
7
A diferença entre Ocidente e Oriente nessa situação está se referindo como o usado politicamente e
temporariamente em meados para o final do século XX se referindo ao antagonismo entre os blocos capitalistas e
socialistas durante a Guerra Fria. (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental>)
24
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, direitos esses
tidos como sendo os de segunda geração, traz na sua compreensão, por exemplo:
[...] direito ao trabalho, incluindo remuneração igual para homens e mulheres; direito
a formar sindicatos; direito de greve; direito à previdência e assistência social;
direitos da mulher durante a maternidade; direitos da criança, incluindo proibição ao
trabalho infantil; direito a um padrão de vida razoável que inclua alimentação,
vestuário e moradia; direito a todos seres humanos de estarem a salvo da fome;
direito à saúde mental e física; direito à educação; e direito a participar da vida
cultural e científica do país. (MODELL, 2000)
Nos dois Pactos mencionados acima os direitos da criança estão presentes, logo, estes
são sujeitos de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais etc..
Em todos os documentos de Direitos Humanos, vamos observar que estes são
indivisíveis, interdependentes e correlacionados não havendo hierarquia entre os mesmos.
Aborda-se na sequencia os princípios fundamentais da universalidade, responsabilidade,
indivisibilidade, participação os quais podem subsidiar a discussão de nosso tema.
O princípio de universalidade determina que os direitos sejam aplicados de maneira
igual para todas as pessoas e, com isso temos o conceito da não discriminação que, por lógica,
afirma que meninos e meninas têm direitos iguais. Esse princípio ainda evidencia que todos os
direitos aplicam-se em todo lugar e a qualquer tempo. Importante ressaltar que, quando os
Estados-partes ratificam os tratados, tornam-se responsáveis por todos os cidadãos.
As crianças são reconhecidas como portadoras de direitos e não como objetos de
caridade. O princípio da responsabilidade torna os Estados os primeiros responsáveis pela
garantia dos direitos, devendo, para tal, após ratificar um tratado internacional, respeitar os
direitos do cidadão através de uma legislação adequada, e proteger para que não sejam
violados por terceiros, além de assegurar integralmente esses direitos por meio de medidas
apropriadas e efetivas.
Outro princípio presente nos documentos internacionais dos direitos humanos é o da
indivisibilidade.
Os
direitos
são
indivisíveis,
interdependentes
e
correlacionados.
Exemplificadamente, podemos dizer que, para o exercício do direito ao voto (direito político),
depende do direito à informação e à educação, sem os quais o exercício do direito político fica
prejudicado.
Nenhum grupo de direitos é mais importante que o outro e, embora sejam igualmente
importantes, os recursos são limitados e temos que estabelecer prioridades sem perder o
enfoque holístico. No estabelecimento de prioridades, outro princípio que se faz presente é o
25
da participação, pois o indivíduo tem direito de participar da vida política e cultural, sendo as
crianças reconhecidas como agentes sociais de suas próprias vidas, bem como da sociedade.
Infelizmente, se observarmos os espaços de conferências dos direitos da criança e do
adolescente, espaços esses que deveriam ser privilegiados de participação, essas se dão
formalmente sem, efetivamente, ser reflexo de organização e participação autônoma e
independente de crianças e adolescentes.
Em função do princípio de participação, os Estados são obrigados a estimular a
participação das pessoas em todas as esferas, mas, na prática, essa participação é controlada.
Toma-se por exemplo, para justificar tal afirmação, a própria composição dos segmentos8
presentes nas conferências ou mesmo dos Conselhos da Criança.
O princípio de participação está também presente na Convenção sobre os Direitos da
Criança (CDC). Essa convenção é considerada um marco de afirmação dos direitos humanos
de crianças e adolescentes. Teve sua aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
1989 e foi ratificada por 192 países, sendo que Estados Unidos da América e a Somália não
ratificaram. No ano de 2000, foram aprovados dois protocolos facultativos: um relativo à
venda de crianças, prostituição e pornografia infantis; outro, ao envolvimento de crianças em
conflitos armados. Ambos os protocolos já foram ratificados pelo Brasil.
Mas, para chegar a esse importante documento, o mundo percorreu um caminho que
se iniciou em 1924 com a Declaração de Genebra dos direitos da criança, passando em 1948
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1959, pela segunda Declaração dos
Direitos da Criança e, em 1966, pelos dois Pactos internacionais dos direitos humanos (civis e
políticos; econômicos e sociais).
Foi por ocasião dos 20 anos da segunda Declaração que foi instituído um grupo de
especialistas para elaborar o que se tornou, em 1989, a CDC. Num primeiro momento, pode
parecer tempo demasiado, no entanto, foi um grande feito da diplomacia internacional ter
conseguido, em 10 anos, discutir e conciliar um acordo com tantos países com culturas
diferentes.
É possível ressaltar de seu conteúdo, inicialmente, a definição de que “[...] criança é
todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir
a maioridade mais cedo”. Segue discorrendo sobre a liberdade e direitos civis, ambiente
familiar e cuidados alternativos.
8
Os segmentos tradicionais que estão representados e participam com maior número em conferências, regionais,
estaduais e nacional são: conselheiros de direitos governamentais e não governamentais; conselheiros tutelares;
entidades governamentais e não governamentais; adolescentes. Em menor número estão outros representantes de
órgãos públicos e representantes do Fórum DCA.
26
Mas todos esses compromissos internacionais assumidos, para serem ratificados, os
Estados-parte devem adequar sua legislação interna, ou seja, a Constituição, e, por
consequência, leis federais e demais regulamentos.
1.3.2.1 A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança - CDC
A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1989 e vigente desde 1990, ratificada pelo Brasil nesse mesmo ano,
destaca-se como o tratado internacional de proteção dos direitos humanos com o mais elevado
número de ratificações. “Foi ratificado por 192 países. Somente dois países não ratificaram a
Convenção: os Estados Unidos e a Somália - que sinalizaram sua intenção de ratificar a
Convenção ao assinar formalmente o documento”. (UNICEF, Brasil)
A Convenção possui um preâmbulo e 54 artigos sendo que, do primeiro ao 40, são
artigos de direitos, do 41 ao 45, dispõe sobre o monitoramento e, do 46 ao 54, sobre a
ratificação. Dentre seus artigos, a convenção tem quatro princípios gerais: não discriminação
no artigo segundo; o do interesse superior da criança no artigo terceiro; direito à
sobrevivência e desenvolvimento no artigo sexto e, por último, o de participação no artigo 12.
Os direitos previstos na Convenção incluem: o direito à vida e à proteção contra a
pena capital; o direito a ter uma nacionalidade; a proteção ante a separação dos pais;
o direito de deixar qualquer país; o direito de entrar e sair de qualquer Estado-parte
para fins de reunificação familiar; a proteção para não ser levada ilicitamente para o
exterior; a proteção de seus interesses no caso de adoção; a liberdade de
pensamento, consciência e religião; o direito ao acesso a serviços de saúde,descanso,
lazer, divertimento, atividades recreativas, participação na vida cultural e artística,
devendo o Estado reduzir a mortalidade infantil e abolir práticas tradicionais
prejudiciais à saúde; o direito a um nível adequado de vida e segurança social; o
direito à educação, devendo os Estados oferecerem educação primária compulsória e
gratuita; a proteção contra a exploração econômica, com a fixação de idade mínima
para admissão em emprego; a proteção contra o envolvimento na produção, tráfico e
uso de drogas e substâncias psicotrópicas; a proteção contra a exploração e o abuso
sexual. (LOBO, 2005)
Complementarmente, foram adotados dois Protocolos facultativos à Convenção dos
Direitos da Criança: o Protocolo Facultativo sobre a Venda de Crianças, Prostituição e
Pornografia Infantis, e o Protocolo Facultativo sobre o Envolvimento das Crianças em
Conflitos Armados. O Brasil já superou a ideia de prostituição infantil por entender que
crianças e adolescentes são violentadas, exploradas e abusadas.
27
Esses dois Protocolos procuram o fortalecimento de medidas protetivas no que diz
respeito às violações sobre as quais se referem. O protocolo sobre a Prostituição Infantil
obriga aos Estados-parte que proíbam a venda de crianças, a prostituição e a pornografia
infantis.
O Protocolo sobre Conflitos Armados define, no seu primeiro artigo, que “Os Estadosparte devem adoctar todas as medidas possíveis para assegurar que os membros das suas
forças armadas que não atingiram a idade de 18 anos não participam directamente nas
hostilidades.” Em seu artigo quarto, amplia inclusive essa proibição ao recrutamento por
grupos armados.
O Comitê sobre os Direitos da Criança é o mecanismo de controle e fiscalização
criado pela Convenção, ao qual cabe monitorar a implementação da Convenção através do
exame de relatórios periódicos (cada cinco anos) encaminhados pelos Estados-parte. Esse
Comitê é formado por 18 membros eleitos por méritos individuais por seus países. A cada
quatro anos, é feita eleição e os membros têm o papel de análise dos relatórios bem como
requerer maiores informações aos Estados-parte sobre a implementação da CDC. Após a
análise do relatório, o Comitê emite recomendações que devem ser seguidas pelo Estado-parte
que apresentou o relatório.
Ana Maria Lima Lobo (2005), ao finalizar sua análise, observa que
A integralidade dos protagonistas da proteção a que se refere o artigo terceiro
implica em que os Estados-partes, sociedade e família são co-responsáveis pela
proteção e promoção dos direitos da criança. Os Estados-partes atuam por meio de
políticas públicas; a sociedade por meio da participação na elaboração de políticas
públicas e na fiscalização da política de atendimento à criança e ao adolescente; e a
família atua por meio do suporte para o crescimento social, emocional, harmônico e
saudável da criança. (LOBO, 2005)
Compondo o Sistema Internacional dos Direitos Humanos há o Sistema
Interamericano e, como documento maior deste, a Convenção Americana que foi aprovada
em 1969.
1.3.2.2 A Criança e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos
O sistema interamericano dos direitos humanos é composto pela Convenção
Americana e pela Carta da Organização dos Estados Americanos. A Convenção Americana
28
aprovada em 1969 é o instrumento de maior importância dentro desse sistema. No Brasil, a
Convenção entrou em vigor em 1992.
Qualquer pessoa, grupo ou entidade não governamental legalmente reconhecida em
um ou mais Estados-Membros da organização pode apresentar à Comissão petições que
contenham denúncias ou queixas de violação às disposições da Convenção Americana por um
Estado-parte.
Em seu artigo 19, a Convenção Americana (1969) dispõe sobre os direitos da criança:
“Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por
parte da sua família, da sociedade e do Estado”.
No artigo 27, ao discorrer sobre a suspensão de garantias em “[...] caso de guerra, de
perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do EstadoMembro, [...]” exclui essa suspensão de garantias quando se refere aos direitos da criança.
A Convenção constitui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, composta
por sete membros, com a “[...] função principal de promover a observância e a defesa dos
Direitos Humanos [...]”.
Um dos motivos para que muitos deixem de procurar o auxílio no caso de violação dos
direitos da criança é o desconhecimento dos mecanismos previstos na Convenção. Outro
motivo que contribui é que a Comissão não possui escritórios regionais dificultando esse
acesso.
Portanto, a criança e o adolescente brasileiros encontram-se sujeitos, além
dos direitos fundamentais disciplinados no artigo 5º da Constituição Federal,
também às garantias e direitos fundamentais disciplinados na Convenção Americana
de Direitos Humanos. Ainda assim, infelizmente, a violência contra a criança e o
adolescente ainda é uma dura realidade. O sistema interamericano de proteção
precisa ser aprimorado, buscando proximidade das dificuldades enfrentadas na
defesa dos direitos humanos, garantindo o acesso à Corte Interamericana de Direitos
Humanos a fim de que diminuam significativamente os casos de violações aos
direitos fundamentais da criança e do adolescente, consagrados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Americana. (LOBO, 2005, p. 08)
As tentativas de impedir, através de leis, que violações aconteçam não são recentes.
Na história do Brasil, encontramos diversas passagens com registro de projetos ou leis que
buscam proteger a infância.
29
1.3.3 Direitos humanos e legislação interna
O primeiro projeto de proteção à infância do qual se tem conhecimento foi enviado à
Assembleia Constituinte de 1823 por José Bonifácio de Carvalho, no período do Império, no
qual estabelecia que:
[...] a escrava, durante a prenhez e passado o terceiro mês, não será obrigada a
serviços violentos e aturados; no oitavo mês só será ocupada em casa, depois do
parto terá um mês de convalescença e, passado este, durante um ano, não trabalhará
longe da cria. (CARNEIRO, 2005, pg. 30)
A Lei do Ventre Livre (1871) começou a evidenciar o problema do jovem
abandonado. O governo cria, com isso, o primeiro sistema de atendimento à criança e ao
adolescente.
Assim, a roda dos expostos, em 1896, foi transformada na “Casa dos Expostos” em
decorrência do aumento do número de crianças que a esta eram submetidas, e também pela
deficiência da proteção dada pelas amas pagas para alimentar as crianças no período de
adaptação.
O Estado, com a implantação da República, intensifica a atenção para o problema do
jovem abandonado a partir da criação do Fundo de Assistência ao Menor e de seu Conselho
Diretor, instituído como órgão de Planejamento do Serviço Social.
O Código de Menores, redigido por Mello Mattos, foi aprovado em 1927. Destacavase, dentre os dispositivos apresentados, uma detalhada descrição das atribuições da autoridade
competente – o Juiz de Menores. Sob sua esfera de ação, encontram-se os "Infantes com
menos de 2 anos de idade, criados fora das casas dos paes", os menores nos "asylos dos
expostos", as nutrizes de aluguel, as residências, as escolas, as vias públicas, os
estabelecimentos de recolhimento e internação de menores, as oficinas, as indústrias, etc.
Eram também da competência do Juizado de Menores a suspensão do Pátrio Poder e
as ações dirigidas aos menores abandonados, delinquentes, "pervertidos" ou que estivessem
em "perigo de o ser".
Criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), em dezembro de
1964, a esta foi delegada pelo Governo Federal a implantação da Política Nacional do BemEstar do Menor.
30
Sendo assim, em outubro de 1979, passa a vigorar a Lei n.º 6.697/79, popularmente
conhecida como Código de Menores, que só é revogada com a aprovação da Lei n.º 8.069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em julho 1990.
Mas antes da aprovação do Estatuto, temos a Assembleia Nacional Constituinte que
aprovou a Constituição Federal de 1988 e nesta já foi inserida o princípio da prioridade
absoluta à crianças e adolescentes em seu artigo 227.
Nossa Constituição, em seu artigo 5°, §3° previu que “[...] os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.” (CF, 1988)
Decorre, conforme o disposto acima, que nossa Constituição torna-se adequada ao
compromisso firmado perante a comunidade internacional quando houver aprovação da forma
exposta.
Além da adequação Constitucional, há que se ajustar ou aprovar legislação específica
infraconstitucional para tal. Nesse entendimento, a aprovação da lei federal 8.069/90,
conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, torna-se consequência do
compromisso assumido perante a Assembleia das Nações Unidas quando da aprovação da
CDC. Essa adequação interna foi realizada, inicialmente, na Constituição em seu artigo 227,
e, posteriormente, com o ECA para plena efetivação dos direitos humanos de crianças e
adolescentes.
Para a efetivação dos direitos humanos, nosso Estado-parte (Brasil) se constitui na
Carta Magna como uma República Federativa “formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios [...]”, sendo o poder emanado “do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” (CF, 1988).
Deriva da afirmação acima a responsabilidade dos Estados e Municípios pela
efetivação dos direitos humanos, ressalvada as devidas competências. Não podem então,
Estados e Municípios, negarem-se à referida promoção sob o argumento de que é a União
(Governo Federal) a responsável por tal.
O Princípio da Dignidade da pessoa humana, inscrito no primeiro artigo de nossa
Constituição, traz, segundo Alvarenga (1998, apud Lobo, 2005, p. 08), “um valor supremo
que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida,
acompanhando o homem até a sua morte”. Esse princípio, contudo, é violado toda vez que a
criança e o adolescente sofre qualquer tipo de mau-trato. A dignidade da pessoa humana não
31
consegue conviver com a humilhação, o descaso, o desrespeito à intimidade física e psíquica
do ser humano.
Os artigos terceiro e quinto ao sétimo dispõem sobre a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização e o bem estar de todos,
proibidas quaisquer formas de discriminação; o princípio da igualdade, da liberdade e do
respeito à intimidade e à incolumidade física, dentre outros; o direito à educação, à saúde, à
proteção, à infância e à segurança.
Entre os artigos 226 a 230, encontramos o Capítulo VII (DA FAMÍLIA, DA
CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO). Nesse capítulo, encontramos o artigo 227
trazendo:
a) o princípio da prioridade absoluta; b) a corresponsabilidade da família, da
sociedade e do Estado pela promoção dos direitos da criança e do adolescente; c) o
direito à proteção especial; e d) diretrizes para política de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente. (LOBO, 2005, p. 09)
Mas foi a lei federal 8.069/90, que aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente,
regulamentando, no âmbito infraconstitucional, a proteção integral à criança e ao adolescente.
Aprovado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com
a doutrina da situação irregular do Código dos Menores vigente até então. Esse Código,
superado pelo ECA, dizia que “[...] o sistema jurídico da infância e juventude deveria incidir
sob a esfera dos indivíduos menores de dezoito anos quando esses se encontrassem em
situação irregular. O artigo 2º dessa lei define as situações irregulares”. (LOBO, 2005, p. 09)
Inspirado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e pela
Constituição Federal, o ECA inaugura o paradigma da doutrina da proteção integral,
abrangendo as esferas civil, administrativa, judicial, política, mídia, etc., em razão dos direitos
superiores das crianças.
O ECA é considerado, por operadores do direito, revolucionário em matéria de
proteção aos direitos da infância, pois, além de absorver os conceitos da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança, especialmente a doutrina da proteção integral,
inovou “[...] estabelecendo parcerias entre governo e sociedade civil e definindo linhas de
ações e diretrizes político-administrativas para o atendimento à criança e ao adolescente.
(Lobo, 2005, p. 09)
A lei federal 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) pode ser vista
32
[...] como o conjunto de regras que visam modelar a participação social de
indivíduos, grupos e coletividade, em seus papéis de pais, mães, irmãos, amigos e
companheiros. Ampliou o rol de direitos das crianças e adolescentes e acentuou a
importância da família, das instituições e da comunidade, como responsáveis pela
formação destes indivíduos. (LOBO, 2005, p. 10)
Essa participação social encontra desdobramentos práticos, como as previstas no Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), nas ações programáticas previstas no
eixo da educação básica, as quais abordam diretamente a questão da participação da criança:
4- Desenvolver uma pedagogia participativa que inclua conhecimentos, análises
críticas e habilidades para promover os direitos humanos;
11- Favorecer a inclusão da educação em direitos humanos nos projetos políticopedagógicos das escolas, adotando as práticas pedagógicas democráticas presentes no
cotidiano;
17 – Incentivar a organização estudantil por meio de grêmios, associações,
observatórios, grupos de trabalhos entre outros, como forma de aprendizagem dos
princípios dos direitos humanos, da ética, da convivência e da participação
democrática na escola e na sociedade;
21 – Dar apoio técnico e financeiro às experiências de formação de estudantes como
agentes promotores de direitos humanos numa perspectiva crítica; (PNEDH, 2007, p.
33-34)
Este plano desafia a escola a se reconhecer local privilegiado para a estruturação de
concepções de mundo e de consciência social, de circulação e de consolidação de valores, de
promoção da diversidade cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos
sociais e de desenvolvimento de práticas pedagógicas humanizadoras (PNEDH, 2008, p. 31).
1.4 CONSIDERAÇÕES
A partir de vivências e dos estudos realizados é possível considerar que as relações de
classe estabelecidas na sociedade marcam a organização e papel do Estado frente a essa
mesma sociedade. A classe dominante, ao ter privilégios obtidos frente à desigualdade e à
exploração, utiliza-se do Estado e dos seus aparelhos para manter está situação.
Essa relação de dominação não é pacífica, pois há resistência dos dominados e
explorados que buscam mudar a situação em que se encontram. As leis têm sido, neste Estado
democrático de direito, o argumento de neutralidade entre as classes com o discurso de que
são para todos. Mas o resultado da disputa presente nas relações de classe, e mesmo sua
33
aplicação ou efetivação, nos casos das políticas sociais, por exemplo, depende do resultado
dessas forças em disputa num dado momento.
As políticas sociais no Estado atual continuam sendo, como observou Behring (2009),
de interesse tanto da classe burguesa (dominante) como dos trabalhadores (dominados,
explorados). A burguesia as utiliza como estratégia anticrise e como garantia mínima de
sobrevivência e reprodução da mão de obra assalariada. Por seu lado, os trabalhadores a
buscam, por segurança e condições de bem estar, para garantir o mínimo de dignidade.
Nesse processo de disputa, como se pode perceber no desenvolvimento histórico dos
direitos de crianças e adolescentes, as mudanças na base normativa internacional e nacional
apontam, cada vez mais, para a garantia dos direitos humanos, mas sua efetivação continua
dependendo do processo de disputa. Ressalta-se que os documentos de direitos humanos
também estão permeados de ideologia e são reflexo das disputas presentes na sociedade.
Diversas declarações, pactos e convenções ressaltam a obrigação de especial proteção
a crianças e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento, e que se deve propiciar a todas
elas as facilidades e oportunidades para seu pleno desenvolvimento.
Contrariamente às inúmeras regras de proteção a crianças e adolescentes, percebemos,
segundo fontes oficiais do disque 100 nacional, um aumento de denúncias de maus-tratos
(abuso, crueldade, opressão, exploração, negligência), o que não significa, necessariamente,
um aumento da violência praticada, mas esse aumento está, ainda, longe de um ideal
defendido e concordado por uma sociedade que se diz civilizada.
As violências sofridas na infância ficam registradas na memória individual e, de certa
forma, tornam-se parte do aprendizado de como relacionar-se com o outro. Se os laços sociais
não são fortes, esses exemplos podem marcar profundamente o modo de agir e reagir quando
adulto, pois “[...] para relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa antes de mais nada
encontrar uma escuta”. (POLLACK, 1989). Quando essa escuta não acontece, vemos um
círculo de violência se reproduzindo independente de termos uma normativa avançada de
proteção a crianças e adolescentes.
O conflito entre memória coletiva e individual pode expressar a contradição entre a
consciência e a necessidade da sociedade proteger suas crianças, mas também revela, ainda,
que a memória individual não foi esquecida, encontra-se tão somente silenciada, prestes a
irromper no momento (in)apropriado.
34
O conceito e concepção de crianças e adolescentes bem como de infância são uma
construção histórica9.
Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, o termo
"menor" foi abolido, passando a definir todas as crianças como sujeito de direitos,
com necessidades específicas, decorrentes de seu desenvolvimento peculiar, e que,
por conta disso, deveriam receber uma política de atenção integral a seus direitos
construídos social e historicamente.
A mudança é radical, vai à raiz: o menor deixa de ser visto como menor e retoma seu
lugar de criança. O menor passa a ser visto como cidadão de direitos e não como um
expectador das tentativas de sabê-lo vítima ou responsável pelos descalabros sociais.
A criança volta a ocupar o seu lugar de um ser humano, de um sujeito construído
historicamente, com direitos e deveres que devem ser exercidos hoje, com uma vida
concreta que pode ser muito dura e distante do sonho dourado da infância mítica da
classe média. (FROTA, 2007, p. 153)
Certamente, tivemos muitas conquistas ao reconhecermos a criança e o adolescente
como sujeitos de direito, mas toda essa conquista não significa garantia de que as pessoas já
estejam preparadas para um relacionamento adequado com a criança e o adolescente, contudo,
garante a existência de mecanismos legais que podem contribuir para coibir a prática de
violência contra eles.
Mesmo considerando o discurso da classe hegemônica de neutralidade do Estado e de
que este se submete à Carta Maior a qual assegura diversos direitos a crianças e adolescentes,
estes direitos não são efetivados conforme estão normatizados por este Estado, pois são a
expressão da desigualdade e exploração presente nas relações de classe.
Nesse quadro de desigualdade e de disputa, algumas conquistas abrem a possibilidade
de participação direta do cidadão na definição daquelas políticas que o Estado deve efetivar.
Essa possibilidade pode e deve ser utilizada como instrumento para tencionar a disputa, no
sentido de ampliar e efetivar os direitos conquistados, na perspectiva de superação da
desigualdade social.
Se partirmos das premissas de que vivemos uma permanente correlação de relação de
forças, de disputa de concepções de mundo, e de que nenhuma educação é neutra, ignorar o
diálogo e não mobilizar a sociedade para a vivência da experiência participativa é uma opção
que denota uma visão de infância e adolescência já superada, e um posicionamento político
contrário às recomendações internacionais, à legislação e aos planos nacionais.
9
Para melhor entendimento sugere-se a leitura de FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da
infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. In Estudos e Pesquisas em
Psicologia, UERJ, RJ, v. 7, n. 1, p. 147-160, abr. 2007. Disponível em:
http://www.revispsi.uerj.br/7n1/artigos/pdf/v7n1a13.pdf. Acesso em 11de maio de 2014.
35
2 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE NA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A Constituição Federal (1988) grafou, em seu artigo 227, as responsabilidades e a
prioridade absoluta no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes e, para tal, o
parágrafo sétimo do mesmo artigo remeteu ao disposto no artigo 204.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência
social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (BRASIL,
1988)
Necessário ressaltar que, além dos recursos da seguridade, o artigo remete a outras
fontes, sendo coerente com a responsabilidade definida no artigo 227, mas observa-se,
atualmente, uma concentração à política de assistência social quando se discute a política de
atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes, especialmente a proteção.
Além do financiamento, dois outros aspectos relevantes merecem ser brevemente
comentados. O primeiro diz respeito à descentralização político-administrativa, grande
conquista da Constituição que reservou a coordenação e as normas gerais à esfera federal, mas
que, na prática, não vem sendo efetivada, ao contrário, observa-se uma volta à centralização
vivida ainda com o Código de Menores, a exemplo dos diversos programas definidos
nacionalmente (Programa Bolsa Família, Segundo Tempo, Pró Jovem, etc.), cabendo aos
municípios, basicamente, a sua administração.
O segundo aspecto que deve ser oportunamente aprofundado é sobre a forma de
participação popular, a qual está prevista por meio de organizações representativas, as quais
são diferentes daquelas entidades de atendimento que hoje são quase a totalidade nos
conselhos da criança e do adolescente. Dessa forma, reforçam uma lógica de definição da
política pelos próprios executores, afastando o exercício do controle de forma mais
qualificada.
36
A perspectiva que se impõe nessa discussão é a do direito, e não a da necessidade ou
problema. Os cidadãos, de forma geral, são detentores dos direitos humanos, os quais podem
ser classificados em direitos econômicos, civis, políticos, sociais, culturais e ambientais.
Crianças e adolescentes também são cidadãos sujeitos de direitos, e as normativas
internacionais relacionadas ao tema conferem a esse segmento especial atenção dos Estadosparte na efetivação dos direitos humanos.
A legislação interna brasileira, especialmente com a aprovação do ECA, institui um
sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescente, sistema esse que tem seu
significado delineado da resolução no. 113 do Conanda:
Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se
na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade
civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos
de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e
do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. (CONANDA,
2006)
Esse sistema está organizado em três eixos: promoção, defesa e controle. O eixo da
promoção é o desenvolvimento da "política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente", conforme o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, através de três
tipos de programas, serviços e ações públicas: I – Políticas sociais - Educação, Saúde,
Assistência, Esporte, Cultura, Lazer, Habitação, Trabalho, etc.; II – Serviços e programas de
execução de medidas de proteção e; III – Serviços e programas de execução de medidas
sócio-educativas.
Já no eixo da Defesa estão aqueles órgãos incumbidos de prestar proteção jurídicosocial: I - judiciais; II - público-ministeriais; III - defensorias públicas; IV - advocacia geral da
união e as procuradorias gerais dos estados; V - polícia civil judiciária, inclusive a polícia
técnica; VI - polícia militar; VII - conselhos tutelares; e VIII - ouvidorias.
Também nesse eixo estão as entidades sociais de defesa de direitos humanos,
incumbidas de prestar proteção jurídico-social, nos termos do artigo 87, V da ECA.
No terceiro eixo, é realizado o controle das ações de promoção e defesa através de
instâncias colegiadas, nas quais a participação é paritária entre representantes do governo e de
entidades sociais.
O primeiro nível de controle é exercido pelo CDCA‟s e, na sequência, pelos conselhos
setoriais de políticas públicas como de educação, saúde, assistências, etc. No terceiro nível,
37
estão os órgãos de controle interno e externo como controladorias, ouvidorias e Tribunais de
Contas.
Para além destes níveis do controle que funcionam de forma integrada, está o controle
social, o qual, segundo Res. 113 do Conanda (2006), é “[...] exercido soberanamente pela
sociedade civil, através de suas organizações e articulações representativas”.
Esta participação paritária requer, por parte da sociedade civil organizada10, conhecer
a natureza jurídica destes conselhos bem como a dos mecanismos estratégicos como os
Fundos da Infância e, sobretudo, saber como ter acesso à informação para o verdadeiro
exercício de controle social.
Abordam-se, na sequência, duas diretrizes para apontar alguns elementos para reflexão em
relação à definição da política pública a que se refere a nossa temática principal, quais sejam:
a descentralização político-administrativa e a municipalização.
2.1
A DESCENTRALIZAÇÃO E A MUNICIPALIZAÇÃO COMO DIRETRIZES DA
POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
A Constituição Federal de 1988 inaugura um novo marco de organização do Estado e
de relação com os Estados Federados, Distrito Federal e Municípios. Parte do poder, antes
concentrado nas mãos da União, passa a ser dividido com os demais entes federados.
Nesse novo acordo federativo, coube à União a coordenação e as normas gerais e, aos
Estados e Municípios, a coordenação e execução dos respectivos programas. Essa
descentralização concretiza-se com a transferência de funções e de recursos.
Esse movimento em direção à descentralização nos anos 80 do século passado, teve
dois catalisadores fundamentais, segundo Espinosa (2012): “... o desgaste da legitimidade e a
crise fiscal do Estado”. Seguindo com suas observações o autor afirma que:
[...] os governos enxergaram a descentralização como uma válvula de escape e
administração da crise, visto que, ao envolver mais atores políticos e sociais para
10
Entendida aqui como a parcela da Sociedade civil que se constitui e se organiza atuando como força política
na procura de soluções para os conflitos sociais. É a estrutura moldando-se em superestrutura para defender
interesses da maioria, ou mesmo parciais, atuando em conjunto com o Estado e as forças de mercado, na „busca
maior‟, qual seja, a de uma melhor simbiose com a Sociedade civil. (MARX, Ivan Claudio. Sociedade civil e
sociedade civil organizada: o ser e o agir. Jus Navigandi, Teresina, ano11, n.1019, 16 abr. 2006).
38
atender funções e responsabilidades, logravam não só atenuar as crises, mas também
socializar os problemas e proceder de maneira conjunta para sua solução, evitando,
com isso, que a responsabilidade caísse apenas sobre os governos centrais ou
federais. (ESPINOSA, 2012)
Se as perspectivas colocadas com a descentralização e municipalização apontavam
para uma aproximação e apropriação do poder por Estados e Municípios para a busca de
solução de seus problemas, essa perspectiva encontra-se, em grande parte, frustrada, pois não
veio acompanhada da devida transferência de recursos.
Num movimento inverso ao pretendido, a descentralização onerou os Municípios de
responsabilidades, ao passo que permitiu, ao governo federal, manter a centralização de
recursos para fazer frente aos compromissos em relação à dívida.
Para fazer frente aos compromissos e responsabilidades, Municípios se veem
obrigados a aceitar transferências voluntárias oferecidas pela União, recursos esses
insuficientes e, muitas vezes, não respeitando as áreas demandadas pelo mesmo. Por serem
transferências voluntárias, cada vez mais os Municípios ficam reféns de acordos políticos e de
intermediações de deputados e senadores para obtenção delas.
Antes de avançar na discussão destas diretrizes, vejamos quais são as funções e como
está organizada a estrutura administrativa do Estado para efetivar os direitos, porém com um
recorte focando nos direitos sociais, entendidos como aqueles constantes em nossa
Constituição Federal (CF):
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição - Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 64, de 2010 (BRASIL, 2010)
A promoção desses direitos aos cidadãos está organizada e agrupada por meio de
funções que se expressam no orçamento público e devem ser entendidas como o maior nível
de agregação das diversas áreas que competem ao setor público, conforme expresso na
Portaria Nº 117/1998, do Ministério do Planejamento e Orçamento (BRASIL, 1998).
Dos direitos sociais elencados na CF, percebe-se que a maioria possui função própria
no setor público, como se observa na tabela abaixo.
39
Tabela 01 - Direitos sociais e correspondentes funções e subfunções
DIREITO SOCIAL
FUNÇÕES
Segurança
06 – Segurança Pública
A proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos
desamparados (esses direitos
podem estar em diversas
funções)
08 – Assistência Social
Previdência Social
09 – Previdência Social
Saúde
10 – Saúde
Trabalho
11 – Trabalho
Educação
12 – Educação
Cultura
13 – Cultura
Moradia
16 – Habitação
Lazer
27 - Desporto e Lazer
SUB-FUNÇÕES
181 – Policiamento
182 – Defesa Civil
183 – Informação e Inteligência
241 – Assistência ao Idoso
242 – Assistência ao Portador de Deficiência
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
244 – Assistência Comunitária
271 – Previdência Básica
272 – Previdência do Regime Estatutário
273 – Previdência Complementar
274 – Previdência Especial
301 – Atenção Básica
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 – Suporte Profilático e Terapêutico
304 – Vigilância Sanitária
305 – Vigilância Epidemiológica
306 – Alimentação e Nutrição
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332 – Relações de Trabalho
333 – Empregabilidade
334 – Fomento ao Trabalho
361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
363 – Ensino Profissional
364 – Ensino Superior
365 – Educação Infantil
366 – Educação de Jovens e Adultos
367 – Educação Especial
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico
392 – Difusão Cultural
481 – Habitação Rural
482 – Habitação Urbana
811 – Desporto de Rendimento
812 – Desporto Comunitário
813 – Lazer
Fonte: próprio autor
O direito à alimentação aparece com a subfunção 306, inserida na função 12 (saúde),
porém assume novo status com a aprovação da lei federal nº 11.346/2006, a qual institui o
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com vistas a assegurar o
direito humano à alimentação adequada.
Deixou assim de ser responsabilidade específica do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome (MDS), passando a ser coordenada pela Casa Civil e gerida por
uma câmara intersetorial, restando, porém, saber se também haverá função específica para
esse direito social.
40
Muitos desses direitos são promovidos também em subfunções cruzadas, entendendo
que a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto
do setor público, segundo menções na Portaria Nº 117/1998, do Ministério do Planejamento e
Orçamento (BRASIL, 1998).
A subfunção cruzada define-se, portanto, como sendo a utilização de uma subfunção
em outra função que não aquela que originalmente foi atribuída. Para ilustrar essa definição,
pode-se citar a função 12 (educação) e subfunção 126 (tecnologia da informação). Essa
subfunção originalmente está associada à função 03 (administração e planejamento).
Além dessas funções que se correlacionam com os direitos sociais, a estrutura
administrativa de órgãos governamentais procura seguir a mesma lógica. No nível federal,
esses órgãos são os Ministérios e seus equivalentes, os quais são os responsáveis pela
execução direta da política governamental. Nos Estados, Distrito Federal e Municípios há
Secretarias e outros órgãos, conforme sintetizam as tabelas abaixo:
Tabela 02 - Atuais Ministérios, secretarias e órgãos com status de Ministério do Poder Executivo Federal
MINISTÉRIO
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cidades
Ciência, Tecnologia e Inovação
Comunicações
Cultura
Defesa
Desenvolvimento Agrário
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Educação
Esporte
Fazenda
Integração Nacional
Justiça
Meio Ambiente
Minas e Energia
Pesca e Aquicultura
Planejamento, Orçamento e Gestão
Previdência Social
Relações Exteriores
Saúde
Trabalho e Emprego
Transportes
Turismo
SIGLA
MAPA
MCida
des
MCTI
MC
MinC
MD
MDA
MDIC
MDS
MEC
ME
MF
MI
MJ
MMA
MME
MPA
MPOG
MPS
MRE
MS
MTE
MT
MTur
41
Tabela 03 - Atuais Secretarias com status de ministério (ligadas à Presidência da República)
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
SAE
Secretaria de Aviação Civil
SAC
Secretaria de Comunicação Social
SeCom
Secretaria dos Direitos Humanos
SDH
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
SMPE
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SEPPIR
Secretaria de Políticas para as Mulheres
SPM
Secretaria de Portos
SEP
Secretaria-Geral da Presidência
SG
Secretaria de Relações Institucionais
SRI
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rios_do_Brasil> Acesso em: 29 maio 2013. Adaptada pelo
autor.
Tabela 04 - Atuais Órgãos com status de ministério (ligados à Presidência da República)
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AGU
Banco Central
BC
Casa Civil
CC
Controladoria-Geral da União
CGU
Gabinete de Segurança Institucional
GSI
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rios_do_Brasil> Acesso em: 29 maio 2013. Adaptada pelo
autor.
Tabela 05 - Atuais secretarias e órgãos da Administração Direta – Paraná - 2012
SECRETARIAS E ÓRGÃOS - PR
Casa Civil
Casa Militar
Procuradoria Geral do Estado
Secretaria da Administração e Previdência
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Secretaria da Comunicação Social
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social
Secretaria do Desenvolvimento Urbano
Secretaria da Cultura
Secretaria da Educação
Secretaria da Fazenda
Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
Secretaria da Saúde
Secretaria da Segurança Pública
Secretaria de Infraestrutura e Logística
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral
Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária
Secretaria do Turismo
Secretaria Especial para Assuntos da Copa do Mundo de Futebol 2014
Secretaria Especial da Chefia de Gabinete do Governador
Secretaria de Controle Interno
Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral
Secretaria Especial de Relações com a Comunidade
Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos
Secretaria Especial do Esporte
Fonte: próprio autor
SIGLA
CC
CM
PGE
SEAP
SEAB
SETI
SECS
SEDS
SEDU
SEEC
SEED
SEFA
SEIM
SEJU
SESA
SESP
SEIL
SEMA
SEPL
SETS
SETU
CCI
42
Tabela 06 - Atuais secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta – Foz do Iguaçu - 2013
UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
SIGLA
Gabinete do Prefeito
Assessoria Especial de Governo
AEG
Assessoria Especial de Tecnologia da Informação
AET
Assessoria Especial de Planejamento
AEP
Procuradoria Geral do Município
PGM
Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas
SMAD
Secretaria Municipal da Fazenda
SMFA
Secretaria Municipal da Assistência Social, Família e Relações SMAS
com a Comunidade
Secretaria Municipal da Educação
SMED
Secretaria Municipal da Saúde
SMSA
Secretaria Municipal de Agricultura
SMAG
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SMMA
Secretaria Municipal de Obras
SMOB
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento SMTD
Socioeconômico, Indústria e Comércio
Secretaria Municipal de Turismo
SMTU
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
SMEL
Secretaria Municipal de Segurança Pública
SMSP
Entidades da Administração Indireta:
Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu
FOZTRANS
Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu
FOZHABITA
Autarquia Especial Foz Previdência
FOZPREV
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Fonte: próprio autor
A existência dos órgãos pode variar no tempo, dependendo dos governos. Em
decorrência disso, pode haver funções agrupadas em um único órgão, uma única função em
diferentes órgãos ou exclusivamente em um único órgão.
A estrutura administrativa acima evidenciada representa uma parte, uma possibilidade
de exercício do poder do povo. Essa forma de exercício é o da representação, mas a cidadania
também pode, e deve exercer seu poder diretamente, participando das decisões sobre o seu
interesse.
No processo de descentralização e envolvimento de mais atores políticos e sociais na
solução dos problemas, nossa Constituição aponta a participação da população através de suas
entidades representativas, como diretriz na formulação das políticas e no controle das ações
em todos os níveis.
Como materialização dessa diretriz, temos a criação de diversos conselhos de políticas
públicas, muitos dos quais com poder deliberativo, para definir e controlar as ações sob sua
competência.
43
O Estatuto da Criança e do Adolescente, adaptação legislativa interna da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, ao regulamentar a prioridade absoluta a crianças e
adolescentes inscrita em nossa Constituição no artigo 227, definiu como primeira diretriz da
política de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes a municipalização.
Essa diretriz, aliada à descentralização política-administrativa, apontou, naquele
momento, para uma nova perspectiva, um novo jeito de fazer política, dando à comunidade
local a possibilidade, dentro de suas peculiaridades, de dar a resposta mais indicada à uma
dada situação.
Esse conjunto de diretrizes constitucionais e legais se materializou à medida que os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente foram sendo implantados, especialmente
aqueles no nível municipal, possibilitando o exercício da participação, definição e controle
das políticas púbicas.
2.2 DEFINIÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS
Os Estados-partes11 assumem a obrigação de estimular a participação de seus
cidadãos, pois esse é um dos princípios dos direitos humanos juntamente com a
responsabilidade, universalidade e indivisibilidade.
Estamos chegando, no Brasil, a quase três décadas de democracia burguesa após o
último período de ditadura e, aos olhos dos mais velhos, parece pouco tempo, enquanto aos
jovens parece que sempre foi assim.
A democracia, desde seu surgimento, não progrediu nem se expandiu de forma
contínua até chegar a nossos dias, “[...] o rumo da história democrática mais parece a trilha de
um viajante atravessando um deserto plano e quase interminável, quebrada por apenas alguns
morrinhos, até finalmente iniciar a longa subida até sua altura no presente.” (DAHL, 2001)
Outra falsa ideia que se tem é a de que a democracia tenha sido inventada de uma só
vez num determinado lugar e, a partir dele, desenvolvido e expandido. Tal ideia conflita com
estudos antropológicos e históricos que investigam o surgimento de práticas e ferramentas
“em momentos diferentes e em diferentes lugares,” e como esses foram produzidos. “Será que
as ferramentas ou as práticas se espalharam por divulgação a partir de seus inventores para
11
Estados-partes ou Estados-membros são os Estados políticos que compõe a Organização das Nações Unidas –
ONU. Veja mapa em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados-membros_das_Nações_Unidas>
44
outros grupos – ou teriam sido inventadas de maneira independente por grupos diferentes?”
(DAHL, 2001).
A resposta para essas questões, que também pode ser aplicada à democracia, quase
sempre são incertas, contudo, Dahl (2001) observa que parte da expansão da democracia pode
ser atribuída à “difusão de ideias e práticas democráticas”, mas, se existiram condições que
permitiram o surgimento da democracia, essas não poderiam ser únicas em determinado lugar.
Pressuponho que a democracia possa ser inventada e reinventada de maneira
autônoma sempre que existirem as condições adequadas. Acredito que essas
condições adequadas existiram em diferentes épocas e em lugares diferentes. Assim
como uma terra que pode ser cultivada e a devida quantidade de chuva estimularam
o desenvolvimento da agricultura, determinadas condições favoráveis, sempre
apoiaram uma tendência para o desenvolvimento de um governo democrático.
(DAHL, 2001, p. 19).
Mas de que democracia se está falando? Ela é única desde seu surgimento? Uma
discussão aprofundada sobre democracia ensejaria adentrar em considerações de diferentes
teóricos sobre o tema. Não é intenção aprofundar, neste texto, as diferentes correntes
alternativas discutidas dentro da teoria política contemporânea, especialmente a corrente
participacionista12.
Apesar de não se fazer este aprofundamento é necessário, ao menos, pontuar que a
democracia em seu estágio é resultado do processo de disputa das forças sociais presentes na
sociedade.
[...] a análise teórica da democracia burguêsa nos revela que esta pode, concretamente
- isto é, em formações sociais determinadas-, tanto servir como instrumento de
reforço da dominação ideológica burguesa, como levar ao desenvolvimento da
consciência revolucionária do proletariado. (SAES, 1998, p. 165)
Nesse processo de disputa a possibilidade de participação é fundamental, mas num
primeiro momento, pode causar estranheza a necessidade de abordar uma definição para
“participar”, pois democracia em plenitude pressuporia a participação, mas entende-se, neste
texto, por participar, estar presente, com direito à voz e/ou voto, conversar, discutir, fazer
propostas e decidir qual será efetivada. É implicar-se, ou seja, assumir a responsabilidade pela
decisão política, tanto na sua definição quanto na sua execução e controle.
12
Para uma reflexão maior sobre democracia participativa ver VITULLO, Gabriel E. Teorias Alternativas da
Democracia: uma análise comparada. In: Cadernos de Ciência Política. UFGRS, 1999.
45
Mas para implicar-se há condições que precisam ser refletidas: como garantir uma
efetiva participação dos cidadãos? Como dar condições de esclarecimento a todos? E como
isso se daria? Dahl apresenta critérios13 de um processo democrático que procuram responder
a essas dúvidas.
Nossa cultura identifica muito a democracia enquanto representativa, ou seja,
escolhemos alguém (pelo voto ou outro meio) para que faça em nosso nome. Exemplo claro
são as eleições para prefeito, vereador, deputados, governadores e presidente. Mas vem
ganhando espaço e força uma forma de participação da população relacionada aos conselhos
com caráter deliberativo.
Considerada por muitos como sinônimo de democracia, a participação, cada vez mais,
é exaltada como forma de comprometimento e de exercício da cidadania14. Desde nossa
Constituição Federal (CF), inauguram-se, com a redemocratização do país, novas formas de
participação popular na solução de seus problemas. Proliferam-se os conselhos com caráter
deliberativo que cumprem, ao menos, duas funções: a participação popular na decisão daquilo
que lhe diz respeito e a descentralização/desconcentração de poder.
As leis federais que sucedem a CF disciplinam a formação desses conselhos dandolhes contornos mais precisos, e os Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes
(CDCA‟s), ao menos em teoria, são a expressão do disposto na lei federal 8.069/90 – Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).
O ECA é a primeira lei a adotar os princípios básicos da CF, determinando a
descentralização político-administrativa e a participação popular, interferindo na formulação,
execução e controle das políticas sociais e, inclusive, implicando um novo acordo federativo.
Essa participação tem fundamental importância quando da definição da política de
atendimento pelos CDCA‟s. Essa política, prevista no artigo 86 do ECA, se faz por um
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. As linhas de ação,
definidas no artigo 87 do ECA, segundo Costa (2008), podem ser assim divididas:
Políticas Sociais Básicas, direitos de todos e dever do Estado, como educação e
saúde;
Políticas de Assistência Social, para quem se encontra em estado de necessidade
temporária ou permanente, como os programas de renda familiar mínima;
13
Participação efetiva; Igualdade de voto; Entendimento esclarecido; Controle do Programa de Planejamento;
Inclusão dos adultos. Esses critérios podem ser mais bem estudados em Dahl, Rober A (2001, p. 49-50).
14
Para uma reflexão maior, buscar as considerações sobre cidadania em STOER, Stephen R.E.; MAGALHÃES,
Antônio M.: Rodrigues, David. Os Lugares da Exclusão Social: um dispositivo de diferenciação pedagógica.
São Paulo: Cortez, 2004.
46
Políticas de Proteção Especial, para quem se encontra violado ou ameaçado de
violação em sua integridade física, psicológica e moral, como os programas de
abrigo;
Políticas de Garantia de Direitos, para quem precisa pôr para funcionar em seu favor
as conquistas do estado democrático de direito, como, por exemplo, uma ação do
Ministério Público ou de um centro de defesa de direitos. (COSTA, 2008)
O mesmo autor apresenta, por meio da figura 1, a visualização dessa divisão,
procurando explicitar a hierarquia das diferentes políticas na efetivação dos direitos humanos
de crianças e adolescentes.
Figura 1 - Hierarquia das Políticas de Direitos
Fonte: Costa (2008)
Quando da implementação dos programas e ações nessas linhas de ação, faz-se
necessário observar o conjunto de diretrizes que emana do ECA em seu artigo 88. Podemos
visualizar, nas diretrizes, os princípios da política de atendimento, quais sejam:
Princípio da Descentralização: municipalização do atendimento;
Princípio da Participação: criação de Conselhos;
Princípio da Focalização: criação e manutenção de programas específicos;
Princípio da Sustentação: manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais;
Princípio da Integração Operacional 15: atuação convergente e intercomplementar dos
órgãos do Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública e Assistência Social no
atendimento ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;
Princípio da Mobilização: desenvolvimento de estratégias de comunicação, visando
à participação dos diversos segmentos da sociedade na promoção e defesa dos
direitos da população infanto-juvenil. (COSTA, 2008)
É preciso observar que o movimento popular, efervescente no momento de aprovação
da CF, foi, com o passar dos anos, diminuindo em sua organização e atuação. Essa
15
Alteração em sentido similar foi realizado no ECA pela lei 12.010/09, prevendo a integração dos órgão em
relação às crianças e aos adolescentes em acolhimento institucional e familiar.
47
diminuição, contudo, não é equivalência de ausência de lutas e sim reflexo do
enfraquecimento do Estado pela ofensiva neoliberal que conseguiu instalar seu ideário de
privatização e redução do mesmo na garantia de políticas e serviços a todos os cidadãos.
Se, para aprovação dos direitos humanos de crianças e adolescentes na CF, houve uma
mobilização que chegou a coletar mais de 1 milhão de assinaturas, hoje percebemos a
dificuldade de encontrar pessoas/organizações dispostas a compor os diferentes conselhos,
não sendo raro encontrar as mesmas pessoas/organizações em vários destes.
Faz-se necessária uma distinção, qual seja, a forma de participação popular, pois a CF
e o ECA previram essa participação através de organizações representativas as quais são
diferentes daquelas entidades de atendimento pois,
Não se deve confundir as "organizações representativas da população" com
"entidades de atendimento" que prestam serviços e são regidas pelo artigo 90 do
Estatuto. O Hospital é uma entidade de atendimento, logo não pode fazer parte do
Conselho. O Conselho Municipal é responsável por registrar (autorizar o
funcionamento), fiscalizar e garantir recursos para as entidades de atendimento,
logo, elas não podem participar de um órgão que vai fiscalizar a elas mesmas. Todas
as demais organizações, se são representativas da população, podem participar.
(SÊDA, 2005)
Mais que exercício de participação popular, a presença de organizações representativas
nos conselhos tem o objetivo de definir e controlar as políticas públicas para efetivação dos
direitos assegurados à população infanto-juvenil.
Após o início de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, começam a ser
criados e instalados vários conselhos como expressão primeira da participação popular de
forma direta. “Ao estabelecer canais de participação direta na gestão do poder político, como
modo de exercício do poder, remeteu-se ao legislador infraconstitucional a tarefa de regular a
forma dessa participação”. (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 86)
A criação dos Conselhos foi o caminho encontrado pelo legislador, nascendo também
“[...] um novo „lócus‟ de discricionariedade [...]”, pois, tradicionalmente, cabia ao Executivo a
escolha do que fazer e quando fazer.
A participação e controle popular das políticas foram estabelecidos no artigo 204,
inciso II, da Constituição, e , através da “[...] participação paritária entre representação de
governo e da sociedade civil nesses novos organismos, surgiu, no campo do ordenamento
jurídico, um novo perfil, um novo canal institucional, a saber, os Conselhos.” (CYRINO;
LIBERATI, 2003, p. 87)
48
Essa previsão de participação popular por meio de organizações representativas
também encontra afirmação no inciso II do artigo 88 do ECA, que fixa as diretrizes da política
de atendimento:
II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e
do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis,
assegurada a participação popular paritária por meio de organizações
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. (BRASIL, 1990)
Na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a forma de participação
popular prevista foi por meio de organizações representativas. Essas organizações são
diferentes daquelas entidades de atendimento, as quais, hoje, são quase a totalidade dos
conselhos da criança e do adolescente. Essa composição por entidade de atendimento acaba
comprometendo o exercício do controle de forma mais qualificada por parte da sociedade
civil organizada, pois a mesma está implicada no processo de elaboração e de execução, e
também sujeita às pressões do governo via financiamento, o qual se dá, na maioria das vezes,
por transferências voluntárias.
Essa participação tem fundamental importância quando da definição da política de
atendimento pelos CDCA‟s através das linhas de ação definidas no artigo 87 do ECA, no qual
ressalta-se o princípio da focalização, o qual será retomado mais adiante quando discute-se os
programas de proteção.
Mas, mesmo com todas as dificuldades da participação popular na definição e controle
que se apresentam, a política geral de atendimento foi ganhando seus contornos e uma
organização maior a partir da institucionalização do Sistema de Garantia dos Direitos
Humanos da Criança e do Adolescente por meio da Resolução nº 113, do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual, conforme o artigo segundo compete:
[...] promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integralidade, em favor de
todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e respeitados
como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento;
colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de
garantir a apuração e reparação dessas ameaças e violações. (CONANDA, 2006)
O artigo segundo acima explicitado não mereceria maiores comentários se tivesse se
tornado efetivo. Porém, quando discutimos a proteção a crianças e adolescentes, a realidade
não nos permite deixar de fazer duas constatações: 1) somente a parte final dos direitos sociais
(a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados), objeto principal de
49
respostas da política de Assistência Social, tem merecido alguma atenção; 2) a não integração
e articulação dos eixos (promoção, defesa e controle) ocorrem e, consequentemente, um
isolamento das políticas setoriais em si, com raras exceções.
O Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (Res. nº.
113/2006-Conanda) ao estabelecer o eixo estratégico de promoção dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, refere-se à concretização deste através da política de atendimento
prevista no artigo 86 do ECA, a qual integra o âmbito maior da política de promoção e
proteção dos direitos humanos.
E, além de localizar esse eixo estratégico no sistema maior dos direitos humanos,
define, em seu artigo 14 parágrafo primeiro, como deve se dar o desenvolvimento dessa
política:
Essa política especializada de promoção da efetivação dos direitos humanos de
crianças e adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e
intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infra-estruturantes,
institucionais, econômicas e sociais16) e integrando suas ações, em favor da garantia
integral dos direitos de crianças e adolescentes. (CONANDA, 2006)
É preciso reafirmar e ressaltar no enunciado acima o caráter transversal, intersetorial
e de todas as políticas, além da integração das ações das mesmas. Nessas poucas linhas, há
um comando claro de como as diferentes políticas deveriam estar, com prioridade absoluta
promovendo os direitos humanos de crianças e adolescentes.
Esse eixo estratégico desenvolve-se através de três tipos de programas, ações e
serviços: I - serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas sociais,
afetos aos fins da política de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes; II serviços e programas de execução de medidas de proteção dos direitos humanos; III - serviços
e programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas.
Interessa-nos mais, nesse momento, o inciso II acima, o qual seria a resposta desse
ordenamento todo àquelas crianças e adolescentes que têm seu direito ameaçado e/ou violado,
pois precisam de uma resposta imediata do Estado para que seus direitos sejam preservados,
ou, no caso de violados, prontamente reparados, como se infere do artigo 17 da Res. 113/2006
– Conanda:
16
INFRA-ESTRUTURANTES: Agricultura, Indústria, Comércio, Transporte etc.; INSTITUCIONAIS:
Segurança Pública, Direitos Humanos, Defesa do Estado etc.; ECONÔMICAS: Fiscal, Cambial etc.; e
SOCIAIS: Educação, Saúde, Previdência Social, Assistência Social, etc.
50
Art. 17 Os serviços e programas de execução de medidas específicas de proteção dos
direitos humanos têm caráter de atendimento inicial, integrado e emergencial,
desenvolvendo ações que visem prevenir a ocorrência de ameaças e violações dos
direitos humanos de crianças e adolescentes e atender às vítimas imediatamente após
a ocorrência dessas ameaças e violações.
§ 1.º Esses programas e serviços ficam à disposição dos órgãos competentes do
Poder Judiciário e dos conselhos tutelares, para a execução de medidas específicas
de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente; [...]” (CONANDA,
2006)
Quais são os programas, ações e serviços públicos que, desde 2006, respondem à
decisão acima? Tivemos, temos ou teremos? É preciso lembrar que essa resolução é
proveniente de uma deliberação/decisão do Conselho Nacional e, como tal, em respeito à
prioridade absoluta e à prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, deve ser
efetivada pelo governo e pela sociedade civil, conforme já decido pelo Supremo Tribunal
Federal.
2.3
NATUREZA JURÍDICA E DISCRICIONARIEDADE NOS CONSELHOS DE
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Para subsidiar essa discussão, inicialmente nos reportamos à previsão legal positivada,
ainda em vigência, contida no decreto-lei 200/67, o qual, em seu artigo 172, atribuiu a
responsabilidade ao Poder Executivo, o qual
[...] assegurará autonomia administrativa e financeira, no grau conveniente, aos
serviços, institutos e estabelecimentos incumbidos da execução de atividades de
pesquisa ou ensino ou de caráter industrial, comercial ou agrícola, que, por suas
peculiaridades de organização e funcionamento, exijam tratamento diverso do
aplicável aos demais órgãos da Administração direta [...] (BRASIL, 1967)
Cyrino e Liberati (2003, p. 93), ao analisar esse aspecto, dizem que “[...] interessamnos as seguintes ilações: a) nem todos os órgãos da Administração Pública são iguais; b) pode
haver tratamento diferenciado dado pela Administração, entre seus órgãos, desde que suas
peculiaridades de organização e funcionamento assim o exigirem”.
Afirmam, então, os autores que os Conselhos de Direitos são órgãos especiais e,
considerando o parágrafo primeiro do artigo 172 do decreto-lei acima citado, terão
denominação genérica de órgãos autônomos.
51
As especificidades que garantem o status de órgão especial ao Conselho dos Direitos,
primeiro, estão relacionadas com sua composição paritária, ou seja, o mesmo número de
representantes do governo e da sociedade civil. A segunda diz respeito ao caráter deliberativo.
“E deliberar significa decidir sobre a matéria que lhes for afeta. Não se trata de órgãos
meramente consultivos do Poder Executivo.” (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 94)
Continuam Cyrino e Liberati (2003), afirmando que, em função de suas
especificidades e em conformidade com o dispositivo legal citado, outra característica se
apresenta, qual seja, a autonomia.
Surge, com isso, uma questão a ser respondida: seria então o Conselho órgão
centralizado ou descentralizado? Segundo a concepção jurídico-positivista, uma das
características para se considerar descentralizado, o órgão deveria ter personalidade jurídica, e
o Conselho dos Direitos não possui. Mas para o conceito extrajurídico ou substancial de
descentralização, o que interessa é
Saber se estão vencidos os entraves que esclerosam a Administração, roubando-lhe a
flexibilidade necessária para conduzir com destreza e eficácia as atividades que
exigem preparação técnica e rapidez de decisões, ou se os interesses locais de uma
determinada área são convenientemente atendidos. (CYRINO; LIBERATI 2003, p.
96)
Resumindo esses aspectos sobre a natureza jurídica dos Conselhos, Cyrino e Liberati
(2003, p. 95) afirmam que essa natureza jurídica é de:
a) órgão especial – devido à sua estrutura e funcionamento específicos; b) órgão
autônomo e independente – não estão subordinados hierarquicamente ao governo; c)
Administração descentralizada – com capacidade pública para decidir as questões
que lhes são afetas, com a peculiaridade de que suas deliberações se tornam vontade
estatal, e não vontade do órgão, sujeitando o próprio Estado ao seu cumprimento.
(CYRINO; LIBERATI 2003)
Esse órgão público autônomo e especial é o novo lócus para a escolha das opções
políticas de governo; mas, diferentemente da tradicional “vontade” (discricionariedade) do
Executivo, agora essa opção é partilhada paritariamente com a sociedade civil através de suas
entidades.
Malvezzi (2007) em seu artigo “A Discricionariedade no Ato Administrativo” discute
esse conceito e cita Celso Antônio Bandeira de Mello para quem a discricionariedade é
52
[...] a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este
cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do
caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos
objetivos consagrados no sistema legal. (MALVEZZI, 2007)
No artigo citado acima, a autora segue esclarecendo que essa liberdade não pode ser
exercida por conveniência pessoal. Citando Marçal Justen Filho (2005), complementa a ideia
de discricionariedade, pois, para esse autor, “[...] é da essência da discricionariedade que a
autoridade administrativa formule a melhor solução possível, adote a disciplina jurídica mais
satisfatória e conveniente ao poder público.”
Aliada à participação popular, a Constituição estabelece como princípio, através do
artigo 227, a prioridade absoluta, reduzindo assim a margem da discricionariedade do Chefe
do Poder Executivo através desses dois imperativos constitucionais, qual seja, a prioridade
absoluta e a formulação/deliberação de certas matérias por instâncias mais democráticas com
participação da sociedade civil.
Portanto, além de a discricionariedade sofrer a restrição constitucional quanto ao seu
apreciador, pois compete ao Chefe do Executivo repartir essa tarefa, antes
exclusivamente sua, com os Conselhos – ou melhor, transferir o lócus do poder de
escolha para esses Conselhos –, o mérito administrativo, antes intangível, é agora,
também, resultado de manifestação complexa; e o princípio constitucional da
prioridade absoluta deve ser levado em conta quando das escolhas ou opções
políticas, bem como obriga o Administrador Público, conforme o caso, a torná-las
realizáveis. (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 89).
Digiácomo (200-), ao analisar a transparência no funcionamento do Conselho dos
Direitos como condição para legitimidade e legalidade de suas deliberações, observa
convenientemente
[...] que uma resolução do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que
consiste na materialização de uma deliberação do Órgão, tomada no pleno
exercício de sua competência constitucional específica, VINCULA (OBRIGA) o
administrador público, que não terá condições de discutir seu mérito, sua
oportunidade e/ou conveniência, cabendo-lhe apenas tomar as medidas
administrativas necessárias a seu cumprimento (e também em caráter prioritátio, ex
vi do disposto no art.4º, parágrafo único, alínea “c”, in fine, da Lei nº 8.069/90 c/c
art.227, caput da Constituição Federal), a começar pela adequação do orçamento
público às demandas de recursos que em razão daquela decisão porventura
surgirem.
A "discricionariedade" acerca da elaboração e implementação de políticas públicas
voltadas à criança e ao adolescente, portanto, cabe ao citado Conselho de Direitos,
e NÃO ao administrador público "de plantão", até porque teve o legislador a nítida
intenção de desvincular tal responsabilidade da pessoa do Prefeito, Governador,
Presidente da República e/ou do partido político ao qual estes fazem parte, de modo
a evitar a ocorrência de sua solução de continuidade em razão da alternância de
53
mandatários e/ou partidos políticos no poder, de modo que o exercício do poder
fosse efetivamente compartilhado com a sociedade, por intermédio do Órgão no
qual esta encontra assento. (DIGIÁCOMO 200-, grifo do autor)
Essa legitimidade e poder de decisão vinculante dos CDCA‟s, reconhecida inclusive
por decisão do Superior Tribunal de Justiça17, tem se restringido, na maioria das vezes, na
gestão dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). Diante dos poucos recursos
destinados à efetivação da política de atendimento dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, a possibilidade de deliberar os recursos tem atraído a atenção de entidades da
sociedade civil.
2.4 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA
O Fundo da Infância e Adolescência tem sua origem nas diretrizes da política de
atendimento, definidas no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “IV manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos
dos direitos da criança e do adolescente.” Esse artigo deve ser entendido conjuntamente com o
artigo 214 do mesmo diploma legal: “Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município”.
Mas qual seria o conceito desse Fundo? Na opinião de Cyrino e Liberati, é possível ter
duas compreensões as quais não se excluem. A primeira está alinhada com o conceito
extrajurídico segundo o qual “Fundos são recursos financeiros destinados ao atendimento das
políticas, programas e ações voltadas para o atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, distribuídos mediante deliberação dos Conselhos dos Direitos, nos diferentes
níveis de governo”.
A segunda compreensão está alinhada com o conceito jurídico positivo para o qual os
Fundos são “produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”.18
O objetivo expresso nos dois conceitos é de haver separação entre os recursos gerais
da Fazenda Pública, reservando parte desses recursos para a realização de certos objetivos,
17
18
RESP 493811, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11/11/03, DJ 15/03/04.
Artigo 71 da Lei 4.320/64.
54
garantindo assim que, após essa separação, não haja outra destinação senão aquela prevista na
lei, evitando assim desvios na aplicação dos mesmos.
O Fundo da Infância e Adolescência (FIA) se caracteriza por ser um fundo especial
conforme especifica o próprio título VII da lei federal 4.320/64, lei esta que foi recepcionada
com status de lei complementar pela CF e seus artigos que seguem.
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se
vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.
Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais far-se-á
através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do
fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a
crédito do mesmo fundo.
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de
contrôle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência
específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. (BRASIL, 1964)
Essa característica especial se deve ao princípio da unidade de tesouraria, princípio
esse previsto no artigo 56 da citada lei. “Assim, tudo que entrar para os cofres públicos deverá
ocorrer por uma única via, a saber, a Fazenda Pública.” (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 215)
O FIA é uma exceção a essa regra, a qual permite que determinadas receitas
constituam uma reserva específica para atender objetivos determinados, qual seja, os direitos
da criança e do adolescente em atendimento à deliberação do Conselho dos Direitos.
Essas receitas especificadas estão definidas no Estatuto da Criança e na lei de criação
dos FIA em cada nível. Essas receitas são oriundas de
[...] dotações orçamentárias, transferências de recursos inter e intragovernamentais,
multas administrativas aplicadas em procedimentos para apuração de infração
administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (arts.194 usque 197
e 245 usque 258 da Lei nº 8.069/90) e/ou cominadas em ações civis públicas
ajuizadas com vista à garantia de direito fundamental de crianças e adolescentes
(art.213, §2º e 3º da Lei nº 8.069/90), tal qual previsto nos arts.154 e 214 da Lei nº
8.069/90, dentre outras previstas na lei específica que cria o fundo. (DIGIÁCOMO,
200-)
Constitui-se, então, outra característica do FIA, qual seja, o da especificidade da
receita. Entendemos por especificidade de receita aquela instituída em lei que podem ser
próprias ou transferidas, mas com destinação certa.
55
Dessas duas características, especialidade e especificidade “[...] resulta a necessidade
de vinculação do produto dessas receitas à realização de objetivos predeterminados, sendo
essa a verdadeira razão da existência dos fundos”. (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 219)
Essa vinculação já foi definida quando da aprovação do Estatuto da criança e do
Adolescente, no artigo 88, IV: “manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente”.
Essa vinculação deve ser entendida como prerrogativa exclusiva do Conselho em
deliberar sobre os recursos mediante plano de aplicação, não significando com isso “[...] que a
operacionalização do Fundo dar-se-á administrativamente no Conselho. Uma vez inexistindo
unidade orçamentária própria, poderão os Fundos vincular-se (do ponto de vista contábil) a
qualquer órgão do governo”. (CYRINO; LIBERATI, 2003, p. 220)
2.4.1 Fundo da infância e adolescência do Paraná – FIA/PR
O FIA/PR foi instituído pela lei estadual 9.579/91, a qual dispõe sobre a criação do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR. O artigo 14 da
referida lei diz que: “Fica criado o Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência, de
acordo com o que dispõe o artigo 88, inciso IV da Lei Federal 8.069/90, administrado pelo
Conselho e com recursos destinados ao atendimento das crianças e dos adolescentes.”
Dentre os Fundos da Infância existentes no Brasil, o FIA/PR é o que conta com o
maior aporte de recursos do orçamento do Estado. Isso se deve por haver no passado a decisão
política de dotar o mesmo de recursos financeiros disponíveis, e não somente previsão
orçamentária como acontece na maioria dos Fundos do Brasil.
Essa decisão permite hoje que o FIA/PR receba, do tesouro do Estado,
aproximadamente 110 milhões de reais anualmente, receitas essas provenientes de percentuais
de taxas vinculadas a esse Fundo. Esses recursos são investidos na política estadual dos
direitos da criança e do adolescente mediante deliberações do CEDCA/PR.
O decreto 3.963/94 aprovou o regulamento do FIA/PR dando contornos mais precisos
a esse Fundo Especial. O aspecto relevante a ser observado foi o da destinação de recursos.
Art. 1º - O Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência tem por objetivo captar
e aplicar recursos destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente.
56
§ 1º - As ações de que trata o "caput" deste artigo destinam-se a programas de
proteção especial à criança e ao adolescente expostos à situação de risco pessoal e
social e, excepcionalmente, a projetos de assistência social para crianças e
adolescentes que delas necessitem, a serem realizadas em caráter supletivo, em
atendimento às de liberações do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do
Adolescente. (PARANÁ, 1994, grifo nosso)
Desde sua criação (1991), tanto o CEDCA/PR como o FIA/PR sofreram alterações nos
dispositivos legais, mas essas prerrogativas permanecem válidas.
As decisões dos Conselhos são tomadas em plenárias públicas e ganham forma em
suas deliberações/resoluções.
2.5 DELIBERAÇÃO OU RESOLUÇÃO? COMO EXERCER CONTROLE
Os CDCA‟s reúnem-se periodicamente para discutir e deliberar. Uma dúvida que
surge, por vezes, são publicações como deliberação e, outras vezes, resolução. Deliberar é
decidir e a resolução é a formalização da decisão que deve ser publicada em órgão oficial, em
respeito aos princípios da transparência e publicidade.
Necessário lembrar que a resolução nº113 do Conanda, em seu artigo 23 e parágrafos,
dispõe que:
§ 1º As deliberações dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, no
âmbito de suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e da
sociedade civil organizada, em respeito aos princípios constitucionais da participação
popular, da prioridade absoluta do atendimento à criança e ao adolescente e da
prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, conforme já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Constatado, através dos mecanismos de controle, o descumprimento de suas
deliberações, os conselhos dos direitos da criança e do adolescente representarão ao
Ministério Publico para as providências cabíveis e aos demais órgãos e entidades
legitimados no artigo 210 da Lei nº 8.069/90 para demandar em Juízo por meio do
ingresso de ação mandamental ou ação civil pública. (CONANDA, 2006)
Essa resolução, então, acaba afetando todo o Sistema de Garantia dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes (SGD), pois deverá ser promovida, controlada e
defendida. Especificamente no eixo de controle da efetivação dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, a referida resolução nº 113, em seu artigo 21, dispõe de níveis
independentes e articulados para a realização do necessário controle, tais como:
57
I - conselhos dos direitos de crianças e adolescentes;
II - conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; e
III - os órgãos e os poderes de controle interno e externo definidos nos artigos 70, 71,
72, 73, 74 e 75 da Constituição Federal.
Parágrafo Único. O controle social é exercido soberanamente pela sociedade civil,
através das suas organizações e articulações representativas. (CONANDA, 2006)
Chama-se a atenção e faz-se questão de repetir o mencionado acima, pois as
conferências e conselhos são espaços de exercício do controle social e não propriamente o
controle social, sendo este exercido soberanamente pela sociedade civil, através de suas
organizações e articulações representativas. Acreditar que os conselhos fazem o controle
social seria uma contradição com o exposto acima, ao passo que os mesmos têm, na sua
composição, representantes do governo.
Mas afinal o que é controlar? Controlar é a ação de fiscalizar, acompanhar, ver se a
decisão anterior foi realizada ou não. Saber dos motivos da não execução e avaliar quais ações
tomar para que seja efetivada.
No exercício do controle social, é fundamental o acesso à informação, seja ela
quantitativa ou qualitativa. Um primeiro olhar deve ser dirigido à nossa CF que diz, em seu
artigo 5° incisos XIV e XXXIII:
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
...
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (BRASIL, 1988)
Igual referência pode-se encontrar na Constituição Estadual do Paraná, grafado no
artigo 27, parágrafo 4°, inciso “II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de Governo observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII da
Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)”.
Por certo, haverá, nas Leis Orgânicas dos Municípios, redações similares. Mas, além
do ordenamento geral, encontramos também, nas leis federais, a garantia de acesso à
informação e à previsão de prazos. Especialmente, podemos citar as leis federais n° 9.051/95,
artigo primeiro, que dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situações, e a lei n° 9.784/99, artigo 24, a qual regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
58
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 101/2000 - em seus artigos 48 e 49, dispõe da
transparência, controle e fiscalização, e uma consulta deve ser feita ao contido na Lei Federal
10.257/91 – Estatuto da Cidade – em seus artigos segundo, II; quarto, § 3º; 32 §1º; 40 §4º, I e
45.
Para o exercício do controle social, as organizações representativas devem ter
independência frente ao governo e, fundamentalmente, terem acesso à informação. Temos, em
nosso regime democrático, dispositivos constitucionais e legais que permitem o acesso à
informação, mas a simples grafia na lei não é sinônimo, infelizmente, de efetivação.
2.6 CONSIDERAÇÕES
A descentralização político-administrativa e a municipalização foram conquistas no
processo de redemocratização, mas em função das disputas de poder presentes na sociedade
foram frustradas na perspectiva inicial que se colocavam.
A carência de recursos nos Municípios e Estados tem levado os mesmos à busca de
transferências voluntárias junto a União, submetendo-se aos interesses do governo de plantão.
Reproduz-se, assim, a prática clientelista com possível troca de apoio nas eleições.
Na perspectiva da descentralização, novos atores sociais foram envolvidos na busca de
soluções para os problemas da comunidade local, principalmente através da criação de
conselhos de políticas públicas de caráter deliberativo, e composto paritariamente por
representantes do governo e de entidades.
A participação popular direta nas decisões, conquistada no processo constituinte,
encontrou canal prioritário no segmento criança e adolescente através dos CDCA‟s os quais
definem a política para este segmento.
Essa política deve ser articulada entre ações governamentais e não governamentais.
Seguem linhas de ação as quais, segundo Costa (2008), possuem diferenciação entre a política
de assistência social e a política de proteção especial, estabelecendo inclusive hierarquia entre
estas, e a criação de programas específicos como diretriz da focalização prevista no ECA.
Quando os CDCA‟s definem a política, esta vai ser mais ou menos adequada aos
princípios dos direitos humanos conforme as forças em disputada neste espaço. Essas pressões
e jogos de interesse fazem parte do processo de disputa pelas forças sociais que compões
determinada sociedade no tempo e no espaço.
59
As entidades de atendimento tem se mostrado mais suscetível à pressão do governo
em função da dependência do financiamento público. Não há, contudo, garantia de que
entidades representativas não sofram essas pressões, mas, objetivamente, não dependeriam de
financiamento do governo e, em tese, teriam maior independência para o exercício do controle
social.
O exercício de controle social qualificado poderia possibilitar a superação da atual
fragmentação e concentração da política de atendimento dos direitos humanos de crianças e
adolescente sob o olhar da política de assistência social, pois deve ser estrategicamente
desenvolvida de maneira transversal, intersetorial, e articulada com as diferentes políticas
públicas (infraestruturantes, institucionais, econômicas e sociais).
Depreende-se que essa estratégia deve estar presente, também, junto à diretriz de
focalização quando da necessária resposta de programas específicos, como aqueles destinados
à execução de medidas específicas de proteção dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, não se resumindo a respostas de uma única política, como por exemplo, os da
política de assistência social com seus serviços tipificados19.
Para a definição dessa política, a legislação criou os CDCA‟s os quais são órgãos
especiais, segundo Cyrino; Liberati (2003), por sua estrutura e funcionamento específicos, por
serem autônomos e independentes, ou seja, não estão subordinados hierarquicamente ao
governo, e por terem administração descentralizada “... e suas deliberações se tornam vontade
estatal, e não vontade do órgão, sujeitando o próprio Estado ao seu cumprimento”.
Os CDCA‟s contam com um mecanismo estratégico para efetivação da política
definida, qual seja, o FIA. Este fundo especial gerido pelos CDCA‟s é considerado como tal
tanto pela concepção jurídica positivada como pela extrajurídica, que prevê a separação de
recursos públicos para serem destinados a objetivos específicos, através de deliberação dos
CDCA‟s, as quais são formalizadas e publicadas através de resolução.
Apesar do caráter dos CDCA‟s e, no caso, o do Paraná, o FIA/PR ser importante no
volume de recursos, o exercício do controle pelos CDCA‟s é pouco realizado. Apesar de
existirem inúmeras obrigações legais de que informações sejam disponibilizadas, pouco tem
sido apresentado.
Do ponto de vista da sociedade civil, que deveria exercer o controle social neste
espaço através de suas representações, contando inclusive com dispositivos legais de acesso à
19
A tipificação dos serviços socioassistencias foi estabelecida através da Resolução 109/2009 do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS
60
informação, não se percebe uma incidência que possa forçar uma mudança na prática
estabelecida.
De pouco adianta ter espaços institucionais com previsão de participação popular, com
caráter deliberativo que vinculam a vontade do governante, se os representantes que ali estão
deixarem de cumprir com suas atribuições na definição e controle das políticas.
Essa possível “omissão” pode se tornar relevante diante da necessidade de se
estabelecer os programas de proteção especial, que devem ser desenvolvidos de maneira
transversal, intersetorial, articulada e financiada pelas diferentes políticas públicas.
3 A PROTEÇÃO ESPECIAL NA NORMA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E SEU FINANCIAMENTO
A ocorrência textual de proteção especial nos documentos internacionais dos direitos
humanos de crianças e adolescentes estão, quase na sua totalidade, referindo-se à necessidade
dos Estados-partes darem prioridade a este segmento populacional em função de sua
condição peculiar de desenvolvimento.
O conjunto de documentos da norma internacional referidos no capítulo I, foram
incorporados à normativa nacional, principalmente na CF e no ECA, e também em resoluções
dos CDCA‟s.
A CF é a única legislação brasileira que, textualmente, se refere à proteção especial,
não propriamente a ela, mas aos aspectos que esta proteção abrangerá, os quais são
mencionados no parágrafo III do artigo 227.
Esses aspectos são, de certa forma, regulamentados na legislação infraconstitucional
conhecida como ECA, a qual dispõe sobre a proteção integral dos direitos da criança e do
adolescente, composto por dois livros, sendo o primeiro a Parte Geral e o segundo a Parte
Especial.
Na Parte Especial do ECA, há previsão de programas de proteção e seus regimes, os
quais se destinam à execução de medidas específicas de proteção aplicadas pela autoridade
competente.
Esses programas não se confundem, segundo Neto (2005), com o significado de
proteção social especial estabelecido a partir de 2004 com o Sistema Único de Assistência
Social e fortemente marcado pela situação de risco pessoal e social.
61
A discussão em torno do conceito de risco está carregada ideologicamente e, se
inicialmente pode ser utilizada para acrescer serviços a grupos vulneráveis, também pode ser
utilizada para designar aqueles que não agem de acordo com os padrões socialmente aceitos.
Tanto a proteção (social) especial como a situação de risco estão presentes nas
discussões e definições dos recursos públicos à política de atendimento dos direitos humanos
de crianças e adolescentes, estabelecidas nas deliberações dos CDCA‟s.
No caso do CEDCA/PR, essas discussões e deliberações estão, quase na totalidade, em
torno dos recursos do FIA/PR, o qual é gerido por esse conselho.
Apesar do grande volume de recursos do FIA/PR (R$ 114.637.100,00 em despesas
prevista para 2013), estes representam somente 0,27% do montante de receitas para o
orçamento do Estado do Paraná em 2013, o qual deveria prever os recursos para programas a
crianças e adolescentes com a prioridade estabelecida no artigo quarto do ECA.
Mas a existência ou não destes no orçamento, especialmente no Plano Plurianual
(PPA), depende das disputas das forças presentes na sociedade capitalista, e seu resultado está
em contradição com a normativa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a qual é
“aprovada por todos”.
3.1 ASPECTOS DA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
Procedendo à leitura da normativa internacional, especialmente a referenciada na
Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, buscou-se pela locução “proteção
especial”.
Apresenta-se, na sequência, tabela com a normativa internacional, data de sua
aprovação, se cita ou não a “proteção especial” em seu texto, seja no preâmbulo ou nos
artigos, e, por fim, a transcrição da citação encontrada. Lembra-se, contudo que os mesmos
não estão isentos de uma ideologia.
Pretende-se, com isso, possibilitar a visualização e aproximação dos textos com a
locução “proteção especial” para melhor referência, pois se trata de documentos ainda pouco
conhecidos da maioria da população, e também pouco citados em outros documentos.
62
Tabela 07 - Proteção especial na normativa internacional dos direitos humanos
NORMATIVA
ANO
Carta das Nações Unidas
Declaração Universal dos
D.H.
Declaração de Genebra
sobre os Direitos da
Criança
Declaração
sobre
os
Direitos da Criança
1945
1948
PROT.
ESP.
NÃO
NÃO
1924
NÃO
1959
SIM
Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos
Pacto Internacional de
Direitos
Econômicos,
Sociais e Culturais
1966
NÃO
1966
SIM
Convenção
sobre
Direitos da Criança
os
1989
SIM
Declaração
sobre
os
Princípios
Sociais
e
Jurídicos relativos à Prot. e
ao Bem-Estar da Criança
(res Ass. Geral 41/85 –
03/12/86)
Regras-Padrão
Mínimas
para a a Admininstração da
Justiça Juvenil das Nações
Unidas (As Regras de
Pequim)
Declaração
sobre
a
Proteção da Mulher e da
Criança em Situação de
Emergência e de Conflito
Armado
1986
NÃO
1985
NÃO
1974
SIM
TEXTO
PRINCÍPIO 2º
A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão
proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por
outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e
em condições de liberdade e dignidade.
Na instituição de leis visando este objetivo levar-se-ão em
conta sobretudo, os melhores interesses da criança.
PRINCÍPIO 4º
A criança gozará os benefícios da previdência social.
Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para isto, tanto à
criança como à mãe, serão proporcionados cuidados e
proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pósnatais.
2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um
período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante
esse período, deve-se conceder às mães, que trabalham,
licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios
previdenciários adequados.
PREÂMBULO
Tendo em mente que a necessidade de proporcionar proteção
especial à criança foi afirmada na Declaração de Genebra
sobre os Direitos da Criança de 1924 e na Declaração sobre os
Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral em 20 de
novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal
dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos (particularmente nos artigos 23 e 24), no
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (particularmente no artigo 10) e nos estatutos e
instrumentos relevantes das agências especializadas e
organizações internacionais que se dedicam ao bem estar da
criança;
PREÂMBULO
Tendo em conta a necessidade de proporcionar uma proteção
especial a mulheres e crianças, que formam parte das
povoações civis.
63
Princípios das Nações
Unidas para a Prevenção da
Delinqüência
Juvenil
(Princípios Orientadores de
Riad)
1990
SIM
Protocolo Facultativo à
Convenção
sobre
os
Direitos
da
Criança
relativos
ao
Envolvimento
de
Crianças em Conflitos
Armados
2000
SIM
2000
NÃO
Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os
Direitos da Criança
relativos
à venda de crianças,
prostituição e pornografia
infantis
Fonte: próprio autor
5. Deverá reconhecer-se a necessidade e a importância de
adotar políticas progressivas de prevenção da delinqüência, de
efetuar um estudo sistemático, de elaborar medidas que
evitem criminalizar e penalizar um menor por um
comportamento que não cause danos sérios ao seu
desenvolvimentos ou prejudique os outros. Tais políticas e
medidas devem envolver:
a) A promoção de oportunidades, em especial oportunidades
educacionais, para satisfazer as várias necessidades dos
jovens e servir como enquadramento de apoio para
salvaguardar o desenvolvimento pessoal de todos os jovens,
em especial daqueles que se encontram manifestamente em
perigo ou em situação de risco social e têm necessidade de
cuidados e proteção especiais.
Reafirmando que os direitos da criança requerem uma
proteção especial e fazendo um apelo para que a situação das
crianças, sem distinção, continue a ser melhorada e que elas
se possam desenvolver e ser educadas em condições de paz e
segurança,
Artigo 3.º
1. Os Estados-Partes devem aumentar a idade mínima de
recrutamento voluntário de pessoas nas suas forças armadas
nacionais para uma idade acima daquela que se encontra
fixada no número 3 do artigo 38.º da Convenção sobre os
Direitos da Criança, tendo em conta os princípios contidos
naquele artigo e reconhecendo que, nos termos da Convenção,
as pessoas abaixo de 18 anos têm direito a uma proteção
especial.
Dentre os textos da normativa internacional analisados, encontra-se a ocorrência da
locução “proteção especial” em seis deles. O primeiro documento, Declaração Universal dos
Direitos da Criança (1959), em seu princípio segundo diz que:
A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de
liberdade e dignidade. (ONU, 1959, grifo nosso)
Ao se traçar um paralelo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), é
possível encontrar, logo no seu início, texto semelhante, porém sem mencionar a “proteção
especial”:
64
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990)
O artigo 227 da Constituição do Brasil, mencionado anteriormente, e o ECA
incorporaram os princípios da norma internacional relativos à criança e ao adolescente. Na
citação acima, observa-se uma forte comprovação disso. Mas por que então não ficou
registrado no ECA a locução proteção especial?
De todas as ocorrências de “proteção especial” que se observa na norma internacional,
somente a que consta nos Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência
Juvenil (Princípios Orientadores de Riad) não tem o caráter das demais citações.
Todas as demais situações fazem crer que, para os direitos humanos, a criança é
merecedora de proteção especial por ser uma fase de vida do ser humano que requer essa
proteção especial, independente da situação (pobreza, maus-tratos, etc...), o que foi traduzida
no ECA como prioridade absoluta.
Contudo, nos Princípios Orientadores de Riad (1990), há uma citação que foge a esse
entendimento de “prioridade abslouta” e se aproxima com o que se observa em muitas
citações como situação de risco. O contexto da citação está inserta na necessidade do Estadoparte adotar políticas progressivas de prevenção à delinquência juvenil:
a) A promoção de oportunidades, em especial oportunidades educacionais, para
satisfazer as várias necessidades dos jovens e servir como enquadramento de apoio
para salvaguardar o desenvolvimento pessoal de todos os jovens, em especial
daqueles que se encontram manifestamente em perigo ou em situação de risco
social e têm necessidade de cuidados e proteção especiais. (ONU, 1990, grifo
nosso)
Nessa citação, pode-se concluir, segundo os Princípios Orientadores de Riad, que a
proteção especial deve ser dada àquele que está em perigo ou em situação de risco social.
Contudo, a norma também não explicita essa situação, e considere-se que o fato de ser um
documento no âmbito da ONU, não significa que está isenta de uma ideologia20.
Após a leitura da normativa internacional, buscou-se pela locução “proteção especial”
na legislação interna, precisamente a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
20
Recomenda-se a leitura SILVA, A. P. F. da. A construção ideológica da escola como antídoto ao estigma
“situação de risco” atribuído à crianças e jovens: elementos para uma crítica. Dissertação de Mestrado, PUC,
SP, 2005.
65
Emblemático o artigo 227 da Constituição, muito citado por profissionais da área
social em estudos sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, e
também por operadores de direito em artigos avaliando ou analisando os direitos da criança e
do adolescente, mas pouquíssimo citado e analisado o parágrafo terceiro, qual seja:
O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto
no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo
dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao
adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins. (BRASIL, 1988)
A Constituição, dentro da legislação brasileira analisada, é a única a, tacitamente,
mencionar a locução “proteção especial”. Após a análise da normativa internacional, e
sabendo que o Brasil teve acesso privilegiado ao texto em discussão da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, pode-se concluir que o artigo 227 é a expressão
condensada da proteção especial referida na normativa internacional ao conferir o caráter de
prioridade absoluta a este segmento.
O parágrafo terceiro, ao mencionar que “O direito à proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:” pode ser entendido como uma evidência de situações de risco como
mencionado nos Princípios Orientadores de Riad?
Mas o ECA é a legislação específica que normatiza o artigo 227. Eis, a seguir, o modo
como esse diploma legal aborda essa questão.
3.1.1 A proteção especial no ECA
Novos termos são utilizados no que se refere à garantia de direitos prevista no ECA,
como a proteção integral, em seu primeiro artigo; um capítulo sobre a prevenção especial; e
outro dedicado exclusivamente a medidas específicas de proteção.
66
Compõem o ECA dois livros, a saber: Livro I, Parte Geral que inicia no artigo
primeiro e vai até o 85; o Livro II, Parte Especial iniciando no artigo 86 e findando com o
artigo 258.
Em seus 267 artigos, Livro I e II, e mais nas disposições finais e transitórias não
encontra-se registrada a locução “proteção especial”. Contudo, no Livro II, há um capítulo
destinado às medidas específicas de proteção. Ao se buscar o sinônimo de específico, chegase à especial, então, ter-se-ia aqui a proteção especial?
Não se pretende aqui dar todas as respostas, pois pode parecer precipitado, diante da
pouca literatura encontrada, ter tal pretensão, contudo, há que se considerar que o ECA
também definiu de que maneira as entidades garantiriam o atendimento nos programas de
proteção e em quais regimes:
Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias
unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e
sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - colocação familiar;
IV - acolhimento institucional;
V - prestação de serviços à comunidade;
VI - liberdade assistida;
VII - semiliberdade; e
VIII - internação. (BRASIL, 1990)
Os programas de proteção nos regimes especificados levam imediatamente a acreditar
que se destinam à efetivação da medida de proteção aplicada pela autoridade competente
(Conselho Tutelar e Juiz da Vara da Infância) e, por força do artigo 113 do ECA, essas
medidas protetivas também podem ser aplicadas conjuntamente com as medidas sócioeducativas.
Antonio Carlos Gomes da Costa (2008) comentando os regimes do ECA, considera o
regime de orientação e apoio sócio-familiar
“...como a primeira e a mais fundamental
retaguarda para os Conselhos Tutelares e a Justiça da Infância e da Juventude.”
Com o advento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), surge nesse a
expressão “proteção social especial” locução muito próxima de “proteção especial” mas
teriam o mesmo conceito?
Cabe aqui ressaltar que a proteção social dispensada a crianças e adolescentes, bem
como às famílias brasileiras, foi historicamente contemplada pela implementação das políticas
67
públicas asseguradas pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS (dezembro de 1993) e, finalmente, com o advento do ECA.
Para tanto, com a aprovação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), há uma
definição de “proteção social especial” na Política Nacional de Assistência Social. Essa
definição explora o conceito de exclusão social:
[...] diferentemente de pobreza, miséria, desigualdade e indigência, que são
situações, a exclusão social é um processo que pode levar ao acirramento da
desigualdade e da pobreza e, enquanto tal, apresenta-se heterogênea no tempo e no
espaço. (BRASIL, 2004, p. 21)
Diante do referencial pesquisado, a definição de proteção social especial, segundo a
Política Nacional da Assistência Social – PNAS/2004,
[...] é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de
trabalho infantil, entre outras. (BRASIL, 2004, p. 37)
Complementarmente, faz uma diferenciação de níveis entre proteção social especial de
média e de alta complexidade.
Contudo, Neto (2005, p. 17 a 19), em seu artigo “ Por um Sistema de Promoção e
Proteção dos Direitos Humanos de Criança e Adolescentes”, discorda frontalmente que
proteção social especial e proteção especial tenham o mesmo significado. Falando da política
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente (art. 86 do ECA) defende a
operacionalização desta através de três linhas estratégicas:
a) serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos, b)
programas de execução de medidas socioeducativas; e c) serviços e programas das
demais políticas públicas, especialmente das políticas sociais, quando afetos aos fins
da política especial de promoção e proteção (“atendimento”) dos direitos humanos.
(NETO, 2005)
Das três linhas estratégicas, Neto (2005) se detém em explicar e exemplificar, com
maior ênfase, a primeira (letra „a‟) a qual, para o autor,
[...] tem um caráter de atendimento inicial, integrado, emergencial e ao mesmo
tempo alavancador da inclusão moral e social de seus beneficiários (vítimas de
violações de direitos): “cuidados e cuidadores”. Aí estão os programas de
68
abrigamento (ou abrigo), de colocação familiar, de orientação sociofamiliar, de
localização de desaparecidos, de prevenção/apoio médico e psicossocial a vítimas de
maus-tratos, abusos, violências, explorações etc. – serviços e programas de execução
de medidas de proteção de direitos. Esse tipo de “proteção” pouco tem a ver com a
“proteção social” e não deve ser confundida com ela. Esta última é uma forma de
atuação da política de assistência social e tem sua abrangência ampliada ou limitada,
conforme o pensamento doutrinário que justifica essa ou aquela outra abrangência
do campo da “proteção social”. Mas, de qualquer maneira, será um equivoco
lastimável fazer com que os “programas de execução de medidas de proteção de
direitos”, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 87, III a V, e 90)
acabem absorvidos pelos “programas de proteção social”, institucionalizados a partir
da Lei Orgânica da Assistência e regulados pelo Suas. (NETO, 2005 p. 18)
Afirma o autor que os serviços e programas nascidos do ECA devem ser
implementados para servir de retaguarda, principalmente às Varas da Infância e Juventude e
aos Conselhos Tutelares, pois são instâncias públicas para execução das decisões desses dois
órgãos, para atender às suas requisições.
Para essas instâncias
[...] não vão crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, como um
encaminhamento social, depois de reconhecidas como nessa situação social, por
meio de um estudo social (âmbito do Serviço Social). Para lá vão crianças e
adolescentes com seus “direitos ameaçados e violados” (art. 98 – Estatuto citado),
por força da aplicação formal de uma “medida específica de proteção” de direitos,
aplicada por autoridade competente, nos termos do Estatuto, isto é, após
procedimento contencioso próprio, onde se garanta ampla defesa para as partes e que
resulte em decisão judicial ou administrativa, da qual caiba recurso. (NETO, 2005 p.
19)
Na segunda linha (letra „b‟) estão os programas de medidas socieducativas como a
internação, a semiliberdade, a liberdade assistida etc. “A ele se aplicam também as
considerações acima, mutatis mutantis, sobre sua natureza jurídica, abrangência,
especificidades, interfaces etc.”
Por fim, a terceira linha (letra „c‟), serviços e programas das demais políticas públicas
“...implica a facilitação do acesso aos serviços públicos (educação, saúde, proteção no
trabalho, previdência, segurança pública etc.)...”.
As afirmações de Costa (2008) e Neto (2005) vêm trazer argumento para destinar os
recursos do FIA, quando relativos à proteção, tão somente para as medidas protetivas, ou seja,
para programas e serviços que sirvam na execução das medidas específicas aplicadas pelo
Conselho Tutelar e Juiz da Vara da Infância. Essas medidas são para a criança e o adolescente
que tiver seus direitos ameaçados ou violados, conforme artigo 98 do ECA, correspondendo
aos programas e serviços elencados nos art.87, III a V e os do artigo 90.
69
Os serviços e programas de proteção, os quais compõem o eixo de promoção, são
definidos no artigo 17 da Res. 113 (Conanda, 2006) como aqueles que se destinam à
[...] execução de medidas específicas de proteção dos direitos humanos têm caráter
de atendimento inicial, integrado e emergencial, desenvolvendo ações que visem
prevenir a ocorrência de ameaças e violações dos direitos humanos de crianças e
adolescentes e atender às vítimas imediatamente após a ocorrência dessas ameaças e
violações.
§ 1.º Esses programas e serviços ficam à disposição dos órgãos competentes do
Poder Judiciário e dos conselhos tutelares, para a execução de medidas específicas
de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente; [...] (CONANDA,
2006)
O Estatuto da Criança, por ser lei regulamentadora do artigo 227, esperava-se que
claramente dispusesse sobre a proteção especial, mas assim não foi feito. O Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), além de reiterar o contido no artigo 227 da Constituição de
1988, cuja redação estabelece o princípio da prioridade absoluta, detalha os direitos dos quais
crianças e adolescentes são sujeitos.
Diante deste novo paradigma de atendimento, o ECA assevera, como princípio maior,
a garantia do desenvolvimento pleno e saudável a todas as crianças e adolescentes em vários
de seus artigos, passando este novo paradigma a ser frequente no linguajar dos operadores do
direito e dos agentes da política pública.
Na continuidade, procurou-se verificar as deliberações do CEDCA/PR relativas ao
necessário financiamento dos programas de proteção e seu reflexo no fundo gerido por esse
conselho. Mas antes, faz-se necessário uma rápida incursão sobre situação de risco, em função
de diversas citações sobre a obrigação de haver proteção especial quando a criança ou
adolescente está em situação de risco pessoal e/ou social,
3.2 SITUAÇÕES DE RISCO
Entrar na discussão de risco é uma tarefa bastante complexa a qual não se pretende
aprofundar neste momento, mas necessário se fazem algumas discussões por que está
intimamente ligada à utilização da locução “proteção especial”.
Segundo Freitas (2001), a origem do termo remonta ao século XV e vem da palavra
italiana riscare a qual significa navegar entre rochedos perigosos. Foi incorporada ao
70
vocabulário francês em 1660 e provém da teoria das probabilidades a qual “implica na
consideração de previsibilidade de determinadas situações ou eventos”.
Mary Jane Paris Spink (2003), diz que:
[...] a palavra risco tem seu primeiro registro no século XIV. Inexistia em grego, em
árabe e no latim clássico. Tem registro em espanhol desde o século XIV, mas ainda
sem a clara conotação de 'perigo que se corre'. É no século XVI que adquire seu
significado moderno. E apenas em meados do século XVII tem registro nos léxicos
da língua inglesa. Etimologicamente, suscita mais hipóteses do que certezas. A mais
plausível é que risco seria um derivativo de resecare, ou seja, cortar. A palavra
parece ter sido usada para descrever penhascos submersos que cortavam os navios,
emergindo daí seu uso moderno de risco como possibilidade - mas não como
evidência imediata. Essa hipótese permite, ainda, entender o uso muito singular de
risco em português, para referir-se a uma linha traçada - quiçá uma linha proveniente
de um corte de navalha. (SPINK, 2003)
Perguntado sobre a diferença entre perigo e risco, Assiz (2007) responde dizendo que:
Primeiro é preciso que tenhamos em mente que a segurança é definida como o
conjunto das ações que se opõem ao perigo, e que a proteção é apenas um dos meios
da segurança. Chamamos perigo, do latim: periculum, a situação ou conjuntura, em
que está ameaçada a integridade física ou moral de uma pessoa; ou seja, a exposição
ao risco; podendo ser perigo direto quando se associa as pessoas, e/ou indireto
quando se se associa as coisas ou objetos. Já o risco, a probabilidade de perigo,
compreende-se como toda incerteza possível de gerar um prejuízo ou dano, corporal
ou material. (ASSIZ, 2007)
Poderíamos inferir inicialmente que risco é a probabilidade de acontecer algo, e esse
algo na sociedade atual está quase sempre associado ao negativo. Mas ainda não é o bastante.
Silva (2005, pg. 76), ao analisar a construção ideológica da escola como antídoto ao estigma
“situação de risco”, analisa os aspectos ideológicos envolvidos e considera que “... situação de
risco muitas vezes é ideologicamente construída com o intuito de „diagnosticar‟ locais e
pessoas ainda não tocadas pelas vantagens e virtudes da grande panacéia universal: o
desenvolvimento econômico”.
Discorrendo sobre a situação de risco, Rosemberg (1994) ressalta que “A categoria
descritiva famílias em risco foi emprestada da epidemiologia e da psiquiatria e transposta para
o terreno das políticas sociais sem uma crítica epistemológica necessária” (ROSEMBERG,
1994, p. 37)
A conceituação risco, no campo da psiquiatria, tem sua origem nas “[...] condições de
existência da criança ou de seu ambiente que comportam um risco de doença mental superior
ao que se observa na população em geral.” (AJURIAGUERRA, 1973, apud ROSEMBERG,
1994, p. 37).
71
Silva (2005), analisando o risco no campo da epidemiologia, “[...] considera o fator
„risco‟ como a „descrição de uma maior probabilidade de ocorrências indesejáveis em saúde
quando um indivíduo ou grupo é portador de certas características denominadas indicadores
de risco e cuja lista e ponderações podem se construir em grades de risco‟, (Deschamps apud
Rosemberg, 1994b, p.31).”
Quando a análise considera o risco no campo da epidemiologia, considera este como a
descrição de “[...] uma maior probabilidade de ocorrências indesejáveis em saúde quando um
indivíduo ou grupo é portador de certas características denominadas indicadores de risco e
cuja lista e ponderações podem se constituir em grades de risco.”(DESCHAMPS, 1985, p.
472 apud ROSEMBERG, 1994, p. 37)
Esse conceito serviu, inicialmente, para identificar grupos vulneráveis e acrescer à
disponibilidade de serviços à esses. “Porém, ao se estender para o campo das relações sociais,
pode-se considerar que os riscos são essencialmente de natureza psicossocial. (SILVA, 2005,
p. 111)
Fechando seu entendimento crítico sobre situação de risco, a autora expõe seu
pensamento dizendo que:
Nesse sentido, entendemos a “situação de risco” como uma forma de designar
aquelas pessoas que não agem de acordo com os padrões socialmente aceitos e que
precisam de “ajuda” para conseguir se adequar. Tal forma de denominação oferece
um pressuposto falso relacionado à possibilidade de escolha, à medida que idealiza
uma criança no limiar entre o risco – perder-se definitivamente – e a “salvação” – ou
a correção do mal que a desviava. (SILVA, 2005, p. 112)
E finalmente, “ „Situação de risco‟ é uma síntese estatística que pode ou não coincidir
com as possibilidades de risco em uma situação concreta”. (SILVA, 2005, p. 135)
Crianças e adolescentes em “situação de risco” têm sido tema de discussão nos
conselhos de direitos, pois são os órgão responsáveis pela definição da política de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente em seus respectivos níveis municipal,
estadual e nacional. Esse tema quase sempre vem à discussão quando da aprovação de planos
de aplicação para financiamento de projetos ou programas de atendimento, pois, não raras
vezes, os conselhos se restringem à discussão do Fundo que gerenciam.
72
3.3 AS DELIBERAÇÕES DO CEDCA/PR E OS RECURSOS DO FIA/PR
Como exposto anteriormente, o CEDCA/PR é o conselho responsável pela definição
da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes do Paraná. Conta com um
poderoso instrumento, qual seja, o FIA/PR do qual é o gestor.
Procurou-se estudar as deliberações desse conselho, especialmente as destinadas a
definir recursos do referido fundo, na intenção de verificar se essas contemplavam destinação
para serviços e programas de proteção especial.
Analisou-se as deliberações entre os anos 2003 e 2013 as quais estão disponíveis no
site do CEDCA/PR. Buscou-se, inicialmente, pela grafia de “proteção especial” e,
posteriormente, por “proteção social especial”. Observou-se presença de proteção especial em
nove deliberações/resoluções computando-se um anexo, com 12 ocorrências textuais. A
proteção social especial aparece em 10 deliberações/resoluções computando-se dois anexos,
com 22 ocorrências textuais.
Há um predomínio da presença da proteção especial até o ano de 2010, havendo a
primeira ocorrência de proteção social especial em 2011. Entre 2011 e 2013, são 11
deliberações/resoluções, havendo somente em duas a ocorrência de proteção especial,
enquanto que a proteção social especial predomina com 10 deliberações/resoluções.
Apresenta-se, na sequência, tabela com os dados obtidos na pesquisa das referidas
deliberações/resoluções.
Tabela 08 - Ocorrência de proteção especial e proteção social especial nas deliberações/resoluções do
Cedca/PR – 2003 a 2013
Proteção
Proteção
Número
Ementa
Social
Transcrição/Contexto
Especial
Especial
04/2004
Pela
aprovação SIM
Não
Art. 8º. Os recursos do FIA serão exclusivamente para
dos critérios para
atendimento de política de proteção especial, na
liberação
de
implantação ou implementação de projetos, programas e
recursos do FIA
serviços.
12/2004
Pela
aprovação SIM
Não
Art. 6º. Os recursos do FIA serão exclusivamente para
dos critérios para
atendimento de política de proteção especial, na
liberação
de
implantação ou implementação de projetos, programas e
recursos do FIA
serviços. Art. 7º. Para efeitos da presente deliberação,
às entidades não
entende-se por proteção especial à criança e ao
governamentais.
adolescente que são vítimas de abandono, de maus
tratos, os órfãos, as negligenciadas, abusadas, exploradas
sexualmente e no trabalho, as traficada e as em
cumprimento de medida sócio educativa
73
03/2005
Pela
aprovação
das normas que
orientarão
a
liberação
de
recursos
orçamentários do
FIA/2005
para
prefeituras
e
entidades.
SIM
Não
15/2005
Pela
aprovação
das normas que
orientarão
a
liberação
de
recursos do FIA/
2006
aos
municípios, tanto
para prefeituras
como
para
entidades
não
governamentais.
Pela
aprovação
das normas e
critérios
que
orientarão
a
liberação
de
recursos do FIA2007.
SIM
Não
SIM
Não
Parâmetros para o
funcionamento e
destinação dos
recursos do FIA
Estadual
SIM
Não
18/2006
03/2010
Art.2º O repasse de recursos orçamentários do FIA/2005
destinar-se-á ao financiamento de programas de atenção
à infância e adolescência, sendo de proteção especial
para municípios acima de 20 mil habitantes e de
proteção social para municípios com população abaixo
de 20 mil habitantes (anexo 01) § 1º Para fins desta
deliberação,
será
considerado
Programas
de
PROTEÇÃO ESPECIAL o desenvolvimento de
medidas protetivas de média e alta complexidade e
medidas socioeducativas em meio aberto, ...
Art.2º O repasse de recursos do FIA/2006 destinar-se-á
ao financiamento de programas de atendimento à criança
e ao adolescente, sendo os de proteção especial para a
totalidade dos municípios e de proteção social apenas
para municípios com população abaixo de 20 mil
habitantes. (...) § 1º Para fins desta deliberação, serão
considerados Programas de PROTEÇÃO ESPECIAL
o desenvolvimento de medidas protetivas de media e alta
complexidade e medidas socioeducativas em meio
aberto,...
Art. 2º. Os CMDCA's ao direcionarem os recursos
disponibilizados para os municípios, deverão considerar:
(...) . As prioridades estabelecidas pelo CMDCA na
perspectiva de constituir a rede de proteção especial
para crianças e adolescentes; (...) Art. 3º. O repasse de
recursos do FIA/2007 destinar-se-á ao financiamento de
programas de proteção e socioeducação para
atendimento à criança e ao adolescente em situação de
risco pessoal e social. (...) § 3º Para o município receber
financiamento
para
programa
de
contraturno
intersetorial deverá ter população abaixo de 20 mil
habitantes e ter atendida a demanda infanto-juvenil de
proteção especial.
Art. 3º. O Fundo para a Infância e Adolescência do
Estado do Paraná tem por finalidades: I - a organização e
manutenção de uma Rede de Proteção Especial
Intersetorial voltada ao público infanto-adolescente; Art.
16. Ficam estabelecidos princípios gerais de destinação
de recursos do Fundo Estadual para a Infância e
Adolescência do Paraná – FIA/PR, de forma a constituir
política pública estadual de garantia dos direitos,
estimular e fortalecer redes estadual, regionais e locais
de atendimento:... VI – Priorizar a Constituição de uma
REDE
DE
PROTEÇÃO
ESPECIAL
INTERSETORIAL que inclua ações, programas e
projetos de forma intersetorial e pública, seja com
execução governamental ou não governamental. VII –
Apoiar, de forma continuada, a partir de regulamentação
específica após a previsão legal de repasse fundo-fundo,
os programas que compõem uma REDE de
PROTEÇÃO
ESPECIAL
INTERSETORIAL,
priorizando as situações de violação dos direitos a partir
do maior para o menor risco, conforme matrizes
contidas nos anexos I, II e III. (...) Art. 17. A aplicação
dos recursos do Fundo Estadual para a Infância e
Adolescência do Paraná – FIA/PR, deliberada pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CEDCA, deverá ser destinada para o
financiamento de ações governamentais e não-
74
governamentais relativas a: (...) II – programas e ações
de promoção, proteção e defesa, tendo como referência a
Rede de Proteção Especial Intersetorial.
226/201
0
01/2011
02/2011
09/2011
Define
orientações sobre
destinação
de
bens adquiridos
com recursos do
FIA-estadual na
interface
com
equipamentos e
serviços
do
SUAS,
SUS e
demais sistemas
das
políticas
públicas
da
segurança
pública, educação
e garantia de
direitos.
RESERVA
RECURSOS
PARA
COMPLEMENT
AR OS CUSTOS
DE
CONSTRUÇÃO
E A AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
S PARA OS
CENTROS DA
JUVENTUDE JÁ
DELIBERADOS
E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Dispõe sobre a
convocação da 8ª
Conferência
Estadual
dos
Direitos
da
Criança e do
Adolescente e dá
outras
providências.
Programa Crescer
em Família.
SIM
Não
art 1º Reiterar que os recursos do FIA tem caráter
suplementar às políticas públicas que compõe a chamada
“rede de proteção especial intersetorial”, e serão
utilizados no apoio a programas, projetos e ações
voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes,
conforme definido em sua legislação de criação; decreto
regulamentador; resolução sobre os parâmetros e
deliberações específicas do CEDCA. (...) Art. 8º Para
análise das situações apresentadas deverá ser analisada a
“rede de proteção especial intersetorial” levando em
consideração os anexos estabelecidos na resolução nº
03/2010 dos parâmetros do FIA,” tanto na relação com a
intersetorialidade quanto em relação as demandas e tipos
de programas.
Não
SIM
que a execução das medidas socioeducativas em meio
aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade estão tipificadas no SUAS como serviço de
Proteção Social Especial, referenciados no CREAS –
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social; (...) c) Entrega dos projetos analisados pelos
Escritórios Regionais à Sede da SEDS – Coordenação de
Proteção Social Especial: 26/01/2012;
SIM
Não
EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS Diretriz 03 - Proteção especial a crianças e adolescentes
com seus direitos ameaçados ou violados, consideradas
as condições de pessoas com deficiência e as
diversidades de gênero, orientação sexual, cultural,
étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de
nacionalidade e de opção política.
Não
SIM
Embora ainda pouco difundida no País, esse serviço
encontra-se consolidado em outros países, especialmente
nos europeus e da América do Norte, além de contar
com experiências exitosas no Brasil e América Latina.
Tal serviço encontra-se contemplado, expressamente, na
75
52/2011
Pela continuidade
do
programa
“LiberdadeCidadã"
medidas
socioeducativas
em meio aberto
Não
SIM
01/2012
Alteração
da
Resolução
nº
002/2011
Liberdade Cidadã
Medidas
Socioeducativas
em Meio Aberto
Não
SIM
Não
SIM
Criação
e
composição
da
Comissão
para
elaboração
de
Deliberação tendo
como foco o
atendimento
à
Não
SIM
46/2012
56/2012
Política Nacional de Assistência Social (2004), como um
dos serviços de proteção social especial de alta
complexidade e no Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa de Direitos de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
(2006).
que a execução das medidas socioeducativas em meio
aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade estão tipificadas no SUAS como serviço de
Proteção Social Especial, referenciados no CREAS –
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social; (...) Art. 17. Os Planos de Trabalho e de
Aplicação deverão ser protocolados junto ao Escritório
Regional da SEDS, o qual procederá a análise prévia à
luz desta deliberação e solicitará os ajustes a que se
referem o Parágrafo Único do Artigo 14, quando
necessário. Os projetos analisados serão remetidos à
Coordenação de Proteção Social Especial que
referendará ou não o parecer do Escritório Regional em
relação ao projeto técnico e, posteriormente, ao Grupo
de Planejamento Setorial da SEDS que procederá a
análise dos Planos de Aplicação. (...) c) Entrega dos
projetos analisados pelos Escritórios Regionais à Sede
da SEDS – Coordenação de Proteção Social Especial:
26/01/2012;
d) Mara Cristina Ferreira – Coordenadora de Proteção
Social Especial.
que a execução das medidas socioeducativas em meio
aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade estão tipificadas no SUAS como serviço de
Proteção Social Especial, referenciados no CREAS –
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social; (...) Art. 10. Os Escritórios Regionais da SEDS
deverão orientar os municípios e entidades não
governamentais quanto aos critérios e requisitos desta
deliberação, receber a documentação constante no
Artigo 9º e encaminhá-la à SEDS/Coordenação de
Proteção Social Especial. (...) Art. 17. Os Planos de
Trabalho e de Aplicação deverão ser protocolados junto
ao Escritório Regional da SEDS, o qual procederá a
análise prévia à luz desta deliberação e solicitará os
ajustes a que se referem o Parágrafo Único do Artigo 14,
quando necessário. Os projetos analisados serão
remetidos à Coordenação de Proteção Social Especial
que referendará ou não o parecer do Escritório Regional
em relação ao projeto técnico e, posteriormente, ao
Grupo de Planejamento Setorial da SEDS que procederá
a análise dos Planos de Aplicação. (...) c) Entrega dos
projetos analisados pelos Escritórios Regionais à Sede
da SEDS – Coordenação de Proteção Social Especial:
Até 24/10/2012; (...) Fonte: Coordenação de Proteção
Social Especial, SEDS, 2012.
a) Sionara de Paula – Coordenação de Proteção Social
Especial; (...) c) Entrega dos projetos analisados pelos
Escritórios Regionais à Sede da SEDS – Coordenação de
Proteção Social Especial: 22/02/2013.
76
22/2013
88/2013
crianças
e
adolescentes com
deficiência.
Programa Crescer
em Família,
alterada pela
Deliberação nº
023/2013
CEDCA/PR, pela
Resolução nº
005/2013
CEDCA/PR, pela
Deliberação nº
048/2013
CEDCA/PR e
pela Deliberação
nº 050/2013
CEDCA/PR
Capacitações
Não
SIM
b) As Equipes Regionalizadas deverão emitir parecer e
encaminhar as solicitações até o dia 16 de agosto de
2013, para a Coordenação de Proteção Social Especial
(CPSE) da SEDS. (...) Embora ainda pouco difundida no
País, esse serviço encontra-se consolidado em outros
países, especialmente nos europeus e da América do
Norte, além de contar com experiências exitosas no
Brasil e América Latina. Tal serviço encontra-se
contemplado, expressamente, na Política Nacional de
Assistência Social (2004), como um dos serviços de
proteção social especial de alta complexidade e no
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária (2006).
Não
SIM
Coordenação de Proteção Social Especial (...) ·
“Programa Liberdade Cidadã 2014”, no valor de R$
90.000,00; · “Garantia de Direito à Convivência
Familiar e Comunitária – Cuidador de Criança e
Adolescente”, no valor de R$ 93.215,50; · “Capacitação
aos Agentes Institucionais para o Trabalho de Aquisição
de Autonomia dos Adolescentes e Jovens Acolhidos no
Estado do Paraná”, no valor de R$ 94.590,00; ·
“Seminário: A atuação do Sistema de Justiça e sua
interrelação com demais atores do Sistema de Garantia
de Direitos na área da Infância e Adolescência”, no valor
de R$ 35.576,00.
Nesse ínterim, a presente proposta justifica-se. A
disponibilização de brinquedotecas aos equipamentos da
política da assistência social municipais tem por objetivo
garantir o direito ao brincar e propiciar à criança a
oportunidade de socialização em um ambiente lúdico.
Uma forma mesma de garantir a proteção no sentido
amplo que discutimos acima, acionando-se também,
para tanto, toda a Rede de Proteção municipal, o que
implica em parcerias com a proteção social especial,
entidades, escolas, conselhos tutelares, entre outros. O
aperfeiçoamento dos atores que desenvolverão as
atividades justifica-se, tendo em vista a carência de
formação especifica nessa área.
COMPARTILHADA PELOS TECNICOS DO CRAS.
SE PROPOS A CONTRATAR UMA EQUIPE QUE
ATUE COM A PROTEÇÃO ESPECIAL PARA 2014.
DESAPROVADO (...) 3.O município justificou que ,no
momento não tem possibilidade de contratação de
equipe técnica exclusiva para o serviço de acolhimento
por ser de pequeno porte,com demanda pequena (8
crianças/adolescentes em média) e pela inviabilidade
financeira. Esclareceu que conta com atuação da
assistente social do órgão gestor e da psicóloga do
CRAS, que atendem o serviço de acolhimento de forma
compartilhada. Acrescentou ainda que, para próximo
ano,esta prevendo a formação da equipe técnica para
atuar na proteção social especial. (...) 3, O município
justificou que não tem previsão de contratação de equipe
técnica exclusiva para o serviço de acolhimento por ser
de pequeno porte, com demanda pequena (em media 5,3
97/2013
Brincadeiras
Comunidade
na
Não
SIM
156/201
3
Programa Crescer
em Familia
SIM
SIM
77
crianças e adolescentes) e pela inviabilidade financeira.
Esclareceu ainda que reorganizou os serviços
socioassistenciais, contando com a atuação de um
profissional de serviço social para o núcleo de Proteção
Social Especial, onde está referenciado o serviço de
acolhimento. (...) 1. A prefeitura de Grandes Rios
Justifica que o atendimento técnico das crianças
adolescentes, que hoje estão acolhidos, será realizado
pelos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência
Social e da Secretaria Municipal da Educação. Informa
ainda que, a partir de janeiro de 2014, pretende realizar
um concurso para contratação de um psicólogo para
atuar no órgão Gestor da Assistência Social, com a
proteção Social Especial.
Fonte: próprio autor
Percebe-se que, a partir do ano de 2005, os textos das deliberações começam a
permear e se confundir entre proteção especial e proteção social, mas ainda sem fazer
referência à proteção social especial, possivelmente por influência da Política Nacional de
Assistência Social aprovada no segundo semestre de 2004.
Dentre as deliberações, somente a 012/2004 dá um entendimento à proteção especial
especificando que essa proteção é destinada aos “[...] que são vítimas de abandono, de maus
tratos, os órfãos, as negligenciadas, abusadas, exploradas sexualmente e no trabalho, as
traficadas e as em cumprimento de medida sócio-educativa.”
As demais deliberações quando fazem essa distinção o fazem citando os serviços e
programas, notadamente os citados no artigo 87, III a V e 90 do ECA. Veja-se o exemplo da
deliberação 03/2005:
I - Programas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade,
compreendendo ações de: a) promoção social do adolescente e sua família; b)
inserção e reinserção escolar; c) iniciação e formação profissional do adolescente; d)
atividades de esporte, cultura, lazer e protagonismo juvenil; e) acolhimento de
adolescentes egressos de medidas socioeducativas de restrição ou privação de
liberdade. II – Programa de Guarda subsidiada em família substituta, ou em família
acolhedora com orientação e apoio sóciofamiliar (para atender ação de desligamento
dos abrigos governamentais e não governamentais ou de colocação familiar direta,
tendo sua gestão exercida exclusivamente pelas prefeituras); III - Serviços de
referência na prevenção e atendimento médico, jurídico e psicossocial às crianças e
adolescentes vítimas de maus-tratos, abuso e exploração sexual e suas famílias,
apoiados na rede de Saúde, Educação e Assistência Social; IV – Serviços de
prevenção e atendimento às crianças e adolescentes com dependência de substâncias
psicoativas quando houver retaguarda de CAPS ou estiver em processo de
implantação; (CEDCA/PR, 2005)
Surge, na deliberação 015/2005, a citação de risco como referência às crianças e
adolescentes que serão atendidos com os recursos do FIA/PR: “ V- Programas municipais de
78
orientação psicosociofamiliar de crianças e adolescentes em situação de risco;”. Também a
018/2006, “... destinar-se-á ao financiamento de programas de proteção e socioeducação para
atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social.”
Desnecessário seria o uso de risco associado aos programas de proteção e sócioeducação, haja vista o exposto anteriormente sobre a quem se destina os mesmos, conforme
Res. 113 do Conanda.
Dentre as funções exercidas pelo CEDCA/PR está a de “Formular a política de
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, [...] Controlar as ações de
execução da Política Estadual de atendimento à criança e ao adolescente em todos os níveis,
[...] Gerir seu respectivo Fundo, [...]”.
Pelo que se pode observar, as deliberações revelam que o CEDCA/PR faz a gerência
do FIA/PR e formula a política que se expressa nas deliberações e nos Planos Estaduais
aprovados, mas e o controle das ações na execução da política? Uma resposta, pelo menos em
parte, para essa questão, se depreende quando se faz a análise da tabela elaborada pela
Câmara Técnica do FIA/PR, apresentada aos conselheiros durante reunião ordinária no ano de
2007.
Tabela 09 - Resumo das deliberações do FIA/PR 2004 a 2006
BENEFICIADO
DELIBER
AÇÃO
QUANT.
21
PM
%
ONG22
%
TOTAL R$
7.582.217,01
004/2004
518
250
48
268
52
012/2004
440
0
0
440
100
6.733.834,01
003/2005
459
331
72
131
29
10.689.914,79
015/2005
TOTA
GERAL
501
348
69
153
31
14.802.547,36
1918
929
48
992
52
39.808.513,17
TIPO DE PROJETO/PROGRAMA
L
A
E
P
S
C
CONVIVÊ
NCIA
FAMILIA
RE
COMUNI
TÁRIA
VÍTIMA
DE
VIOLÊN
CIA
DEPENDÊ
NCIA
QUÍMICA
VIVÊNCI
A DE RUA
REABILIT
AÇÃO
004/2004
27
78
13
7
2
52
50
012/2004
21
75
21
16
3
102
003/2005
67
10
16
14
2
015/2005
TOTA
GERAL
63
17
8
53
21
12
216
71
49
DELIBE
RAÇÃO
21
22
Prefeituras Municipais
Organizações Não Governamentais
ORIENT. E
APOIO
PSICOSOCIOFA MIST
M.
O
CONTRAT
URNO
INIC. E
FORM.
SOCIOP
ROF.
48
176
65
42
27
99
34
14
21
36
233
46
2
17
28
74
178
53
9
185
141
185
686
198
51
8
44
0
45
9
50
1
19
18
79
VALORES R$
DELIBE
RAÇÃO
004/2004
012/2004
003/2005
015/2005
TOTA
GERAL
LA E
PSC
498.882,8
9
464.607,2
5
2.767.210
,07
3.037.244
,89
6.767.945
,10
CONVIV
ÊNCIA
FAMILI
VÍTIMA
AR E
DE
COMUNI VIOLÊNC
TÁRIA
IA
1.614.252,
95 171.346,04
1.643.998,
98 403.896,88
430.536,3 1.595.750,1
9
4
2.093.882,
11 615.235,35
5.782.670, 2.786.228,4
43
1
DEPEND
ÊNCIA
QUÍMIC
A
154.562,0
4
236.759,3
0
384.813,4
0
278.092,5
6
1.054.227,
30
VIVÊ
ORIENT. E
NCIA
APOIO
DE
REABIL PSICOSOC
RUA ITAÇÃO
IOFAM.
23.200, 731.956,0
00
8
612.330,21
51.194, 1.270.847
53
,25
481.846,92
20.363, 136.082,0
85
2
366.897,78
138.20 214.012,8
0,00
9
856.399,81
232.95 2.352.898 2.317.474,7
8,38
,24
2
MISTO
646.885,
61
403.634,
59
814.565,
36
1.976.95
4,89
3.842.04
0,45
CONTRA
TURNO
2.373.010,
97
1.218.548,
74
3.570.478,
46
4.433.413,
95
11.595.452
,12
INIC. E
FORM.
SOCIOP
ROF.
755.790,2
2
558.499,5
7
603.217,3
2
1.159.110
,91
3.076.618
,02
7.582.21
7,01
6.733.83
4,01
10.689.9
14,79
14.802.5
47,36
39.808.5
13,17
PERCENTUAIS POR TIPO
DELIBE
RAÇÃO
LA E
PSC
CONVIV
ÊNCIA
FAMILI
AR E
COMUNI
TÁRIA
004/2004
5,21
15,06
2,51
1,35
0,39
10,04
9,65
9,27
33,98
12,55
100,00
012/2004
4,77
17,05
4,77
3,64
0,68
23,18
9,55
6,14
22,50
7,73
100,00
003/2005
14,60
2,18
3,49
3,05
0,44
3,05
4,58
7,84
50,76
10,02
100,00
015/2005
TOTA
GERAL
12,57
10,58
4,19
2,40
0,40
3,39
5,59
14,77
35,53
10,58
100,00
9,28
11,26
3,70
2,55
0,47
9,65
7,35
9,65
35,77
10,32
100,00
DELIBE
RAÇÃO
CONSU
MO
%
TOTAL
%
%
VÍTIMA
DE
VIOLÊNC
IA
DEPEND
ÊNCIA
QUÍMIC
A
VIVÊ
NCIA
DE
RUA
REABIL
ITAÇÃO
ORIENT. E
APOIO
PSICOSOC
IOFAM.
MISTO
CONTRA
TURNO
INIC. E
FORM.
SOCIOP
ROF.
POR TIPO DE GASTO - INCIDÊNCIA DE ITENS
EQUIPA
OBRA
MENTOS
%
S
%
SERVIÇOS
004/2004
23
2,18
930
88,32
98
9,31
2
0,19
1053
100,00
012/2004
402
24,68
1026
62,98
34
2,09
167
10,25
1629
100,00
003/2005
335
27,19
669
54,30
103
8,36
125
10,15
1232
100,00
015/2005
TOTA
GERAL
475
31,77
736
49,23
119
7,96
165
11,04
1495
100,00
1235
22,35
3361
60,82
354
6,41
459
8,31
5526
100,00
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES - CONSTRUÇÃO
DELIBE
RAÇÃO QUANT.
M²
TOTAL R$
956.799,62
004/2004
44 10.634,70
012/2004
8
502,05
169.129,79
003/2005
57
11.355,23
2.164.722,27
015/2005
TOTA
GERAL
89
15.655,02
3.067.872,21
198
38.147,00
6.358.523,89
OBS.: A metragem está subdimensionada. Falta este dado em alguns
processos
Fonte: Câmara Técnica do FIA/PR - 2007
DETALHAMENTO - OBRAS
DEL. 04/04
DEL.
DEL.15/0
12/04
DEL.03/05
5
85
29
101
104
Nº de
Municíios
PM
58
ONG
28
Construçã
o
44
26
Reforma
Ampliaçã 20
o
Readequa 0
ção
Compra
6
de imóvel
Metragem
14.060,67
Recursos 1.625.359,3
R$
3
91
137
14
57
39
89
15
18
44
9
28
52
0
4
4
2
1
0
4.077,12
18.779,78
23.530,13
688.743,
19
3.787.482,
21
5.655.724
,38
0
33
8
80
Discutir e aprovar uma deliberação, fazer a publicação, dar conhecimento aos
municípios para acessar os recursos disponibilizados, aguardar a chegada dos projetos,
analisar, aprovar, conveniar e repassar os recursos, tem sido, com maior ou menor grau de
detalhes, o tramite que o CEDCA/PR estabelece no gerenciamento dos recursos do FIA/PR no
que diz respeito aos recursos destinados aos Municípios e ONGs.
Entre o texto da deliberação e o projeto apresentado, nem sempre existe a
correspondência. Quando da análise dos projetos pelos conselheiros estaduais, muitos são
encaminhados para ajustes ou reprovados por não estarem de acordo a deliberação.
Nessa fase, ainda o CEDCA/PR consegue fazer o controle, contudo, quando essa fase
termina e é realizado o convênio e, consequentemente repassados os recursos para execução,
começa a haver um esmaecimento do controle. Alguns casos, posteriormente, na maioria
mediante denúncia, voltam ao controle, mas a grande maioria está longe, enquanto sua
efetividade, de um exercício de controle.
Essa falta ou impossibilidade de controle, fruto também da quantidade e distribuição
de projetos, tem facilitado que proponentes mascarem muitos projetos na busca de recursos
para manutenção dos mesmos. Não se nega a necessidade desses recursos, tão somente que a
fonte da busca não deveria ser o FIA/PR.
Por que tal afirmação? É feita considerando o decreto estadual 3963/94 de
regulamentação do FIA/PR, o qual cita, novamente para maior clareza:
Art. 1º - O Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência tem por objetivo captar
e aplicar recursos destinados às ações de atendimento à criança e ao adolescente.
§ 1º - As ações de que trata o "caput" deste artigo destinam-se a programas de
proteção especial à criança e ao adolescente expostos à situação de risco pessoal
e social e, excepcionalmente, a projetos de assistência social para crianças e
adolescentes que delas necessitem, a serem realizadas em caráter supletivo, em
atendimento às deliberações do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do
Adolescente. (PARANÁ, 1994, grifo nosso)
Pelo volume de projetos e pelo montante de recursos, pode-se inferir que a
excepcionalidade de projetos de assistência não tem sido a regra, nem mesmo respeitado o
caráter supletivo, sendo o FIA/PR, em muitos casos, a única fonte para implantação e
manutenção de alguns projetos.
É possível perceber a grande quantidade de projetos de assistência social sob a
denominação de “contra turno” na tabela elaborada pela Câmara Técnica do FIA com base em
quatro deliberações (04, 012/2004 e 03, 015/2005). Faz-se a ressalva, contudo, que nem todos
os projetos intitulados dessa forma são de assistência, mas são os que fogem à regra geral,
81
qual seja, a proteção especial. Por outro lado, teríamos ainda os projetos de iniciação e
formação sócio-profissional e aqueles considerados mistos que podem também fugir a regra
geral.
Para reforçar essa ideia, a partir de 2005, as deliberações começam a incluir a
“proteção social”, limitando inclusive aos municípios com população inferior a 20.000
habitantes.
A segunda folha da tabela 9, com dados de percentuais dos projetos aprovados,
oferece a confirmação da linha de argumentação, ou seja, a média de 35,77% de projetos
considerados de “contra turno”. Chama atenção a deliberação 012/2004 pelo percentual
abaixo da média ficando em 22,50% e a 03/2005 a qual extrapola em muito a média chegando
aos 50,76%.
Pode-se inferir que, em relação à deliberação 012/2004, há dois fatores que colaboram
para isso. O primeiro, devido ao fato da deliberação dar um entendimento à proteção especial,
nominando as situações de violação que deveriam ser atendidas, inibindo assim que projetos
de assistência voltados à situação de vulnerabilidade fossem apresentados. Por outro lado, o
fato dessa deliberação ter atendido somente a ONGs, as quais, em média, têm apresentado
menor número de projetos (37%) de contra turno se comparado com os Municípios (63%)23.
Já na deliberação 03/2005, pode ser encontrada explicação ao “vento” do SUAS que
soprou com intensidade no início de 2005 após a aprovação, em meados do segundo semestre
de 2004, da PNAS e da Norma Operacional Básica em início de 2005, encontrando, inclusive,
apoio na própria deliberação de modo a alentar a apresentação de projetos de assistência.
Mas, para além da fonte do FIA, é no orçamento que os recursos públicos são
previstos para efetivar essas deliberações dos conselhos, deliberações estas que dão forma à
política definida.
3.4 A PRESENÇA DA PROTEÇÃO (SOCIAL) ESPECIAL NO ORÇAMENTO PÚBLICO
As diferentes forças presentes na sociedade capitalista disputam os recursos do fundo
público, e o orçamento estatal reflete essa disputa, pois é ali que essas forças procuram inserir
os seus interesses.
23
Considerando a média das deliberações com exceção da 012/2004
82
Esses interesses são privados e, desde a década de 1980, há um domínio hegemônico
do capital financeiro, segundo Salvador (2012). “O orçamento público é que garante
concretude à ação planejada do Estado e espelha as prioridades das políticas públicas que
serão priorizadas pelo governo.” (SALVADOR, 2012)
Continua o autor afirmando que a CF assegurou avanços relacionados aos direitos da
cidadania, e que a efetivação desses avanços deveria ter o aporte prioritário de recursos no
orçamento público, mas que seu financiamento é feito pelos pobres via impostos sobre o
salário e por meio de tributos indiretos.
Uma das alternativas para garantir a expansão dos direitos da cidadania e seu
financiamento, foi a vinculação de recursos para áreas sociais através dos fundos sociais
vinculados a conselhos com composição paritária entre os representantes governamentais e
não governamentais, com função de acompanhar e fiscalizar políticas públicas (SALVADOR,
2012).
Essas despesas vinculadas se constituem em importantes despesas para garantir
direitos, mas, ao mesmo tempo, segundo Salvador (2012), não significam que os gastos feitos
gerem justiça social nem que os serviços oferecidos se tornem universais na perspectiva de
acabar com as desigualdades sociais.
Um exemplo dessa situação é o que ocorre na execução do orçamento da seguridade
social. Em 2009, os recursos exclusivos do orçamento da seguridade social
financiaram, além das funções típicas da seguridade social (previdência, assistência
social e saúde), outras 24 funções orçamentárias. (SALVADOR, 2012, p. 14,15)
Ao comparar a participação da assistência social na composição do orçamento da
seguridade social, Salvador (2012) registra um aumentando de 5,51% entre os anos de 2000 a
2010, e que, nesse último ano, dos R$ 39,1 bilhões liquidados na função 8 (assistência social)
aproximadamente R$14 bilhões foram gastos no Programa Bolsa Família (PBF).
Ao analisar a participação de cada uma das fontes, no período de 2001 a 2011,
Salvador (2012) observa a elevada concentração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), a qual tem sua incidência sobre a receita e o faturamento das
empresas. Esse tipo de incidência pode ser repassado aos preços de bens e serviços. Conferese um caráter regressivo a esse tributo, levando a política de assistência social a ser financiada
pelos próprios beneficiários desta.
O orçamento público no capitalismo brasileiro é refém dos rentistas do capital
financeiro, obstaculizando a construção de um sistema de proteção social universal.
83
Os ricos neste país continuam não pagando impostos, pois suas rendas estão isentas
da tributação. Ao mesmo tempo em que a maior parcela do orçamento é destinada ao
capital portador de juros, por meio do pagamento de juros e amortização da dívida
pública.
Nesse sentido, a consolidação e expansão das políticas sociais no orçamento público
passam pela necessidade do atendimento em cada período fiscal ao princípio da
demanda por direitos já regulamentados, irrestrito no caso dos direitos sociais
expressos individualmente, e compatível no caso dos direitos expressos como
demanda por bens coletivos. A consequência deste enunciado é a não existência de
teto físico-financeiro aos orçamentos sociais, mas tão somente princípios fiscais
compatíveis com os princípios da política social. Na prática, isso significa que o
orçamento público deve atender prioritariamente aos direitos sociais, sem restrições
financeiras que impeçam a sua consolidação e o seu avanço. (SALVADOR, 2012, p.
20)
O orçamento público, desde seu princípio, é um instrumento político. Não se resume a
ser um documento técnico-contábil e, tampouco, mero planejamento. Umas das formas de
verificar o cumprimento da prioridade absoluta a crianças e adolescentes é, segundo o ECA, a
“destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância”.
Essa destinação começa a se materializar quando da definição dos recursos do fundo
público, especialmente através da aprovação das leis do orçamento público, quais sejam;
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA24). Buscou-se, nas leis orçamentárias do Governo Federal, Estadual (PR) e Municipal
(Foz do Iguaçu/PR), pela presença de programas, objetivos, ações, iniciativas, etc., que
pudessem demonstrar a presença ou não da proteção especial ou proteção social especial.
Fez-se o recorte de análise no PPA, o qual estabelece os projetos e os programas de
longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de
quatro anos. Em busca, nos sites, dos referidos três níveis de governo, optou-se pelo período
entre os anos 2004 a 2015 do governo federal e estadual e entre 2002 a 2013 do Município de
Foz do Iguaçu, em função da disponibilidade desses dados.
Para investigação, foi utilizada a busca textual por “proteção especial” e “proteção
social especial”. Com o retorno dessa investigação, elaborou-se as tabelas abaixo com a
ocorrência textual.
24
São as três leis que definem o orçamento público: Plano Plurianual com vigência de quatro anos iniciando no
segundo ano de mandato e finalizando no primeiro ano do mandato seguinte.; Lei de Diretrizes Orçamentárias
define as prioridades para o ano seguinte e Lei Orçamentária Anual que fixa a estimativa de receitas e despesas
para a execução no ano seguinte à sua aprovação.
84
Tabela 10 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA’s governo federal entre os anos 2004 a 2015
Proteção
Proteção
PPA/ANO
ÓRGÃO
Programa/Atividade
Objetivo
social
especial
especial
2004_2007
20121
0670 Assistência a Garantir proteção especial a Uma
Nenhuma
Secretaria
Vítimas
e
a testemunhas e a vítimas ocorrência ocorrência
Especial dos Testemunhas
sobreviventes de crimes
Direitos
Ameaçadas
Humanos
2008_2011
20121
0670 Proteção a Garantir proteção especial a Uma
Nenhuma
Secretaria
Pessoas Ameaçadas
testemunhas, defensores dos ocorrência ocorrência
Especial dos
direitos humanos e crianças e
Direitos
adolescentes ameaçados de
Humanos
morte, bem como prestar
(SEDH)
assistência
a
vítimas
sobreviventes de crimes
2008_2011
20121
0073 Enfrentamento
Promover um conjunto de Nenhuma Uma
Secretaria
da Violência Sexual
ações
articuladas
que ocorrência ocorrência
Especial dos contra Crianças e
permitam a intervenção
Direitos
Adolescentes/
técnico-política
para
o
Humanos
2383 Serviços de
enfrentamento da violência
(SEDH)
Proteção Social
sexual contra crianças e
Executor
Especial para
adolescentes, o resgate e a
atividade - Crianças e
garantia dos direitos sexuais
MDS
Adolescentes Vítimas e reprodutivos
de
Violência, Abuso e
Exploração Sexual e
suas Famílias
2008_2011
55000
1385 Proteção Social Aumentar o alcance da Nenhuma Cinco
Ministério
Especial/2B31
Seguridade Social brasileira ocorrência ocorrências
do
Estruturação da Rede não contributiva, a partir da
Desenvolvi
de
Serviços
da concretização de atenções
mento Social Proteção
Social sócio-assistenciais
de
e Combate à Especial
proteção social especial, de
Fome
2A65 Serviços de modo a promover a redução
(MDS)
Proteção
Social de risco pessoal e social em
Especial a Indivíduos decorrência da exposição a
e Famílias
situações
de
extrema
2A69
Serviços vulnerabilidade, tais como
Específicos
de abandono, violência física,
Proteção
Social psíquica e/ou sexual, uso de
Especial
substâncias
psicoativas,
situação de rua, entre outras
que caracterizam o fenômeno
da exclusão social dos
indivíduos e famílias que não
tiveram
seus
direitos
concretizados, visando a
orientação, o convívio e o
resgate
de
vínculos
familiares e comunitários
2012_2015
55000
PROGRAMA: 2037 - 0282 - Ampliar o acesso das Nenhuma Uma
Ministério
Fortalecimento
do famílias em situação de ocorrência ocorrência
do
Sistema Único de vulnerabilidade social ao
Desenvolvi
Assistência
Social acompanhamento familiar e
mento Social (SUAS)/ 013T - ao atendimento pela proteção
e Combate à Expansão,
básica e especial; qualificar
Fome
manutenção,
os serviços e promover sua
(MDS)
qualificação
e articulação
com
os
85
estruturação da rede
de proteção social
especial (iniciativa)
benefícios e transferência de
renda;
assegurar
o
funcionamento da rede de
proteção social básica e
expandi-la nos territórios
intramunicipais e de extrema
pobreza;
e
induzir
a
estruturação de unidades
públicas de prestação de
serviços socioassistenciais,
de acordo com padrões
estabelecidos nacionalmente.
Tabela 11 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA’s governo Paraná entre os anos 2004 a
2015
PPA/ANO ÓRGÃO
Programa/AÇÃO
PRODUTO
(TIPO Proteção
Proteção
PRODUTO/UNIDADE)
especial
social
especial
2004_2007 Secretaria
de Programa
16 Prestar atendimento
Duas
Nenhuma
Estado
do Assistência
assistencial aos indivíduos
ocorrências ocorrência
Trabalho,
Social/2502
e famílias em situação de
Emprego
e FUNDO
risco pessoal e social Promoção Social ESTADUAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL
ASSISTÊNCIA
(pessoa/número)
SOCIAL – FEAS
Implantar
medidas de
proteção
social
nos
municípios.
Implantar
medidas
de
proteção
especial nos municípios.
Implantar
medidas de
enfrentamento à pobreza
nos
munic.
Implantar
medidas de aprimoramento
à
gestão
nos
munic.(município/número)
2004_2007 Secretaria
de Programa
16 Incrementar a capacidade Nenhuma
Uma
Estado
do Assistência
gerencial dos municipios ocorrência ocorrência
Trabalho,
Social/2495
na área de políticas
Emprego
e PROTEÇÃO
públicas de assistência
Promoção Social SOCIAL
social (município/número)
ESPECIAL
DE
MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2008_2011 Secretaria
de Trabalho, Emprego Assegurar proteção social Nenhuma
Duas
Estado
do e
Assistência especial
às
pessoas, ocorrência ocorrências
Trabalho,
Social/2495
- famílias
ou
grupos
Emprego
e Proteção
Social (entidade/município)
Promoção Social Especial de Média
e
Alta
Complexidade
2012_2015 Secretaria
de PROGRAMA: 17 Propiciar atendimento, por Nenhuma
Uma
Estado
da Proteção
e meio dos municípios, às ocorrência ocorrência
Família
e Desenvolvimento
pessoas em situação de
Desenvolvimento Social
/4225 risco pessoal e social.
Social
– Proteção
Social Firmar
parcerias
com
SEDS/FEAS
Especial de Média entidades para acolhimento
e
Alta institucional de pessoas
Complexidade
sem vínculo familiar, em
86
2012_2015
Secretaria
de
Estado da Saúde
– SESA
PROGRAMA: 19
Saúde para todo
Paraná
situação de risco pessoal e
social (idosos, crianças,
adolescentes,
adultos
portadores de deficiências
múltiplas,
distúrbios
psiquiátricos, deficiência
mental leve e moderada).
Garantir atendimento aos
municípios sem gestão
plena.
Apoiar a Implementação e
Manutenção de serviços
tipificados de média e alta
complexidade na proteção
social especial
Nenhuma
ocorrência
Uma
ocorrência
Tabela 12 - Proteção especial/Proteção social especial nos PPA’s governo Foz do Iguaçu/PR entre os anos
2002 a 2013
PPA/ANO ÓRGÃO
Programa/Atividade
Objetivo
Proteção
Proteção
especial
social
especial
2010_2013 Secretaria
0060 - PROTEÇÃO Prover
atenções Nenhuma
Uma
Municipal de SOCIAL ESPECIAL sócioassistenciais a famílias ocorrência ocorrência
Assistência
DE
MÉDIA e
indivíduos
que
se
Social
COMPLEXIDADE
encontram em situação de
risco pessoal e social, por
ocorrência de abandono,
maus tratos físicos e/ou
psíquicos, abuso sexual,
entre outras.
Nas tabelas acima, não foram computadas, nas ocorrências, a repetição de ação ou
atividade, ou ainda iniciativas que possuíam a mesma redação referindo-se a desdobramentos
regionais. Também se desconsiderou, nas ocorrências, as citações textuais que se referiam a
indicadores, sendo contado somente no programa, ação, atividade, iniciativa ou objetivo
destas.
Dos dados extraídos referentes ao governo federal, é possível inferir que, no PPA de
2004 a 2007, só há uma ocorrência do termo proteção especial na descrição do objetivo do
programa “0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas”. A não ocorrência de
proteção social especial pode ser explicada pelo fato do SUAS ter sido instituído em meados
de 2004, quando o PPA já havia sido aprovado no ano anterior.
No PPA 2008 a 2011, mantém-se a ocorrência de uma proteção especial mas é
possível observar a presença de seis ocorrências de proteção social especial, sendo uma como
programa “1385 Proteção Social Especial”, e quatro como atividades deste mesmo programa.
Observa-se, ainda neste ano, uma atividade dentro do programa “0073 Enfrentamento da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”, programa este de responsabilidade da
87
Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas que possui uma atividade que tem, como órgão
executor, o MDS.
O novo PPA do governo federal, entre 2012 a 2015, é marcado por uma mudança
metodológica, conforme se demonstra a seguir:
Figura 2 - Estrutura do PPA Governo Federal: 2012-2015
Fonte: Plano Mais Brasil, pg. 116
Na nova perspectiva colocada, observa-se, no PPA 2012 a 2015, uma ocorrência de
proteção social especial em uma única iniciativa. Na análise, é possível observar certa
inconsistência no uso de proteção especial ou proteção social especial, como a da “omissão de
social” na descrição do objetivo da iniciativa como sendo o “... atendimento pela proteção
básica e especial;...” Essa inconsistência também é possível ser observada na mensagem da lei
do PPA enviada ao Congresso Nacional que, em dado momento, descreve o SUAS referindose aos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), equipamentos
públicos de proteção social especial nos quais são desenvolvidos serviços voltados a
88
famílias ou a indivíduos com direitos ameaçados ou violados: violência doméstica,
sexual e cumprimento de medidas socioeducativas.
Ainda na proteção especial, há os serviços de acolhimento que atendem a situações
de abandono, separação do núcleo familiar, calamidades públicas e outros. (PPA,
2012, 2015, p. 87)
No início do segundo parágrafo, ao utilizar “Ainda na proteção especial, [...]” concluíse que os CREAS fazem parte da proteção especial juntamente com os serviços que começa a
descrever na sequência.
Essa alternância da utilização dos termos “proteção especial” e “proteção social
especial” acaba por refletir na própria composição e disposição orçamentária, tendo maior ou
menor importância enquanto programa, ação ou projeto/atividade.
Os dois primeiros PPA‟s do governo do Estado do Paraná, 2004 a 2007 e 2008 a 2011,
possuem a mesma metodologia. No primeiro PPA do período analisado, foi possível
encontrar, no programa “16 Assistência Social”, duas ações. Na primeira ação, “2502
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)” constam dois produtos com a
ocorrência proteção especial. A segunda ação discorre sobre a implantação de medida de
proteção nos municípios, fazendo diferenciação entre medidas de proteção social e medidas
de proteção especial, deduzindo-se, assim, serem medidas distintas.
Diferentemente do governo federal, no PPA do Paraná 2004 a 2007, já há ocorrência
de proteção social especial como pode ser observado na ação “2495 Proteção Social Especial
de Média e Alta Complexidade”. O produto desta ação merece consideração, pois refere-se à
“...área de políticas públicas de assistência social.”
Tal afirmação nos remete à discussão necessária em torno do entendimento da
assistência, como já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade (ADI)). Furtado (2013) comenta tal decisão afirmando que “A
edição da Lei 12101/09, trouxe a compreensão da assistência social (lato sensu), conforme
descrito na ADI 2028. Assim, a assistência social hoje pode ser tida como um gênero das
espécies de assistência social, educação, saúde (strictu sensu).”
Apesar de apontar o produto desta ação para o entendimento lato sensu de assistência
social, o mesmo está subordinado a uma ação e um programa que, pela redação, compreendese estarem afetos ao entendimento strictu sensu de assistência social.
No PPA seguinte, 2008 a 2011, desaparece a ocorrência de proteção especial aliada à
uma redução na descrição do produto de uma única ação onde existe a ocorrência de proteção
social especial.
89
Esta ação, que no PPA anterior estava no programa “16 Assistência Social”, agora está
inserida no programa “Trabalho, Emprego e Assistência Social”, o que pode ser considerado
um retrocesso se comparado ao PPA anterior e à perspectiva colocada pelo SUAS a partir de
2004.
Finalmente, no PPA 2012 a 2015, encontram-se duas ocorrências de proteção social
especial, sendo uma dentro do programa “17 Proteção e Desenvolvimento Social”, e a
segunda na descrição de uma emenda aprovada ao programa “19 Saúde para todo Paraná”, a
qual se propõe “Apoiar a Implementação e Manutenção de serviços tipificados de média e alta
complexidade na proteção social especial”.
O descritivo da emenda aprovada remete aos serviços tipificados da assistência social,
os quais foram normatizados através da Res. 109/2009 do CNAS, e na qual consta quais são
os serviços típicos da política de assistência social. Estranhamente, a emenda remete aos
mesmos serviços do programa da saúde sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Saúde – SESA.
No âmbito do Município de Foz do Iguaçu, foi possível encontrar uma única
ocorrência de proteção social especial no PPA de 2010 a 2013, no enunciado do programa
“0060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE”.
No conjunto, é possível observar a alternância da presença dos enunciados, bem como
maior presença nos PPA‟s Nacional e Estadual.
3.5 CONSIDERAÇÕES
A utilização de proteção especial enquanto conceito que se refere a dar prioridade ao
segmento populacional criança que, para efeitos das normas internacionais, são todos os seres
humanos até 18 anos, salvo se legislação específica nacional dispuser de forma diferente, é
presente em praticamente todos os documentos analisados, exceto uma passagem nos
Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil.
Quando da tradução para a legislação interna, esse conceito assume o princípio de
prioridade absoluta esculpida no artigo 227 da CF, o qual sintetiza todos os direitos das
crianças e adolescentes e ressalta alguns aspectos que esta prioridade deve abranger.
A CF, ao enumerar certos aspectos, foi influenciada e influencia a cultura histórica de
cuidados a um público que era conhecido, sob o Código de Menores, como aquele em
90
situação irregular, e parece fazer uma ligação com a exceção observada nos Princípios das
Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil:
5. Deverá reconhecer-se a necessidade e a importância de adotar políticas
progressivas de prevenção da delinqüência, de efetuar um estudo sistemático, de
elaborar medidas que evitem criminalizar e penalizar um menor por um
comportamento que não cause danos sérios ao seu desenvolvimentos ou prejudique
os outros. Tais políticas e medidas devem envolver:
a) A promoção de oportunidades, em especial oportunidades educacionais, para
satisfazer as várias necessidades dos jovens e servir como enquadramento de apoio
para salvaguardar o desenvolvimento pessoal de todos os jovens, em especial
daqueles que se encontram manifestamente em perigo ou em situação de risco social
e têm necessidade de cuidados e proteção especiais. (ONU, 1990)
Dos setes incisos do parágrafo terceiro do artigo 227 da CF, que enumeram os apectos
que a proteção especial deve abranger, três referem-se ao trabalho de adolescentes e os demais
aos “infratores”, órfãos e abandonados e “usuários de drogas”, todos esses referenciados
como público em situação de risco e que são público da proteção social especial prevista no
SUAS.
O ECA, como norma regulamentadora da prioridade absoluta dos direitos humanos
(civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, etc) de crianças e adolescentes,
não menciona proteção especial em seu conteúdo, tão somente proteção integral em seu
primeiro artigo e proteção em diversas passagens.
Dentre essas passagens, merece destaque a que se refere aos programas de proteção
para execução de medidas específicas aplicadas pela autoridade competente. Os regimes
desses programas de proteção e os sócio-educativos, previstos no artigo 90 do ECA e
comentados por Costa (2008), trazem novamente, na sua maioria, o público mencionado no
parágrafo acima referente aos aspetos da proteção especial na CF.
Mas, contrariamente ao conceito de proteção social especial do SUAS, que utiliza a
situação de risco como condição e se restringe à assistência social (strictu sensu), o que se
depreende do ECA e das considerações de Neto (2005) é que esse público pode ser mais
amplo, desde que seus direitos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais,
etc) sejam ameaçados ou violados, e que haja a aplicação de uma medida específica de
proteção pela autoridade competente.
A Res. 113 do Conanda (2006) dispôs sobre os mecanismos de fortalecimento do
Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (SGD), sistema este
já subjacente no ECA. O SGD deve ser entendido como um subsistema específico referente a
91
crianças e adolescente dentro do Sistema Internacional de Promoção e Proteção dos Direitos
Humanos.
Essa resolução define, claramente, o que são os programas de proteção, a que e a quem
se destinam, ficando o desafio de entendimento em relação à proteção quanto a política e
medida.
A política de proteção é parte menor e integrante da política de Promoção e Proteção
dos direitos humanos de crianças e adolescente, sendo esta estabelecida pelos CDCA‟s em
seus respectivos níveis, bem como seu financiamento.
Em análise das deliberações do CEDCA/PR no período compreendido entre 2003 a
2013, observou-se o predomínio da situação de risco diretamente mencionada, ou através do
entendimento dado à proteção especial nas deliberações, ou ainda pela presença, cada vez
maior, da proteção social especial.
Com a implantação do SUAS, observa-se crescimento em projetos típicos da
assistência que encontram respaldo nas deliberações do CEDCA, contrariando seu próprio
decreto de regulamento que diferencia a “proteção especial” de projetos de assistência social,
admitindo estes últimos somente em casos excepcionais.
Esse crescimento também é observado nas ocorrências textuais nos PPA‟s dos três
níveis de governo, significando a prevalência do termo “proteção social especial” e,
consequentemente, uma priorização da política de assistência quase que como única resposta
a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados e/ou violados.
92
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização e o papel do Estado na sociedade e seu reflexo nas políticas públicas e,
dentre estas, nas políticas sociais, é marcado pelas disputas de interesses presentes nessa
mesma sociedade as quais ficam registradas nas normas e na execução ou não destas.
Essa disputa está presente não só na aprovação das normas no Estado, mas na
efetivação das mesmas, desde seu planejamento, previsão de recursos orçamentários e,
propriamente, execução dos serviços.
Expressão dessa disputa e sua implementação em favor da classe dominante é possível
observar com a onda do neoliberalismo, implementando o trinômio focalização, privatização e
descentralização aos programas sociais.
Esse ataque do neoliberalismo procura desuniversalizar e assistencializar as ações,
buscando somente responder àquilo que não pode ser resolvido pelo mercado, pela família ou
pela sociedade.
Percebe-se, então, que o Estado oferece, como principal resposta, o programa de renda
mínima, fortemente combinado com chamado à solidariedade, através de entidades da
sociedade civil.
Esse processo não é novo quando se observa a modalidade de atendimento a crianças
e adolescentes que se desenvolveu, e ainda hoje há em grande parte. Essa modalidade sempre
foi vista pelo prisma assistencialista, compensatório, de entidades não-governamentais,
sobretudo ligadas à igreja católica, que faziam atendimentos supostamente protetivos.
Como resultado de um processo histórico em condições objetivas e subjetivas, a
política social encontra-se operando numa tendência de desresponsabilização do Estado para
com uma política social articulada, com fundos reduzidos e apelando à responsabilização da
sociedade civil e da família. Isso se desdobra num sistema de proteção social dividido entre
aqueles que podem recorrer ao mercado e aqueles pobres que buscam os serviços públicos,
marcados cada vez mais pela baixa qualidade.
Essa lógica operada na realidade é uma contradição com as normas positivadas tanto
internamente no Brasil como na comunidade internacional através de tratados, protocolos e
convenções dos direitos humanos.
Os direitos humanos, ou seja, os direitos fundamentais da pessoa humana,
reconhecidos e positivados pelos Estados-partes, são negados sistematicamente à medida que
os interesses da classe dominante são colocados em jogo.
93
Direitos humanos são as garantias universais e legais que protegem indivíduos e
grupos contra ações que afetam sua liberdade e dignidade humana e, resumidamente, pode-se
afirmar que o ser humano é sujeito de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais.
Dentre os princípios dos direitos humanos, o princípio da participação assume
relevância para a efetivação e controle dos direitos que lhe devem ser promovidos. Crianças e
adolescentes, como seres humanos, têm, no mínimo, os mesmo direitos humanos e outros que
lhes são particulares em função da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, como
previsto no artigo terceiro do ECA.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990)
Articulando princípios e direito positivados, espaços de participação como os CDCA‟s
podem e devem ser apropriados pela sociedade civil, porém vistos como um dos espaços de
participação e controle e não como os únicos, sob pena de não estarem fazendo controle, mas
sim sendo controlados.
Esses espaços de participação popular, responsáveis pela definição e controle da
política de atendimento aos direitos humanos de crianças e adolescente, têm, em seu caráter
paritário e em sua competência, a possibilidade de fazer com que a disputa de interesses
presente na sociedade seja mais favorável à maioria das crianças e adolescentes.
A Res. 113 (2006) do Conanda, além de localizar a política de atendimento dos
direitos humanos de crianças e adolescentes como eixo estratégico no sistema maior dos
direitos humanos, define, em seu artigo 14, parágrafo primeiro, que:
Essa política especializada de promoção da efetivação dos direitos humanos de
crianças e adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e
intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infra-estruturantes,
institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas ações, em favor da garantia
integral dos direitos de crianças e adolescentes. (CONANDA, 2006)
Com um comando claro, a Res. 113 (2006) define o caráter transversal e intersetorial
94
de todas as políticas públicas25, além da integração das ações das mesmas, buscando, com
isso, efetivar a prioridade absoluta, promovendo os direitos humanos de crianças e
adolescentes. Através de um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, essa política segue linhas de ação as quais, segundo Costa (2008), possuem
diferenciação entre a política de assistência social “para quem se encontra em estado de
necessidade temporária ou permanente”, e a política de proteção especial “para quem se
encontra violado ou ameaçado de violação em sua integridade física, psicológica e moral,”
estabelecendo inclusive hierarquia entre elas.
Quando os CDCA‟s definem a política, esta vai ser mais ou menos adequada aos
princípios dos direitos humanos, conforme as forças em disputa neste espaço e na sua
composição, a qual, segundo a CF e o ECA, se daria através de organizações representativas
as quais são diferentes de entidades de atendimento, como comenta Edson Sêda (2005):
Não se deve confundir as "organizações representativas da população" com
"entidades de atendimento" que prestam serviços e são regidas pelo artigo 90 do
Estatuto. O Hospital é uma entidade de atendimento, logo não pode fazer parte do
Conselho. O Conselho Municipal é responsável por registrar (autorizar o
funcionamento), fiscalizar e garantir recursos para as entidades de atendimento,
logo, elas não podem participar de um órgão que vai fiscalizar a elas mesmas. Todas
as demais organizações, se são representativas da população, podem participar.
(SÊDA, 2005)
Os poucos recursos e a falta de regras claras no financiamento público têm deixado as
entidades de atendimento suscetíveis à maior pressão do governo. Por outro lado, entidades
representativas não são imunes às pressões e jogos de interesses, mas ao não depender de
financiamento do governo para suas atividades, em tese, teriam maior independência e
realizariam o controle social de forma mais qualificada.
Se, por um lado, o conjunto de leis garante o acesso à informação e à participação, a
simples grafia na lei não é sinônimo, infelizmente, de efetivação. Contudo, essas normativas
tornam possíveis a construção de espaços de participação e mecanismos de controle pela
sociedade civil.
Algumas experiências já vivenciadas precisam ser fortalecidas e outras tantas podem e
devem ser implantadas e implementadas. De forma geral, tem-se a possibilidade de participar
em associações (de moradores, de usuários etc.), sindicatos, movimentos (sociais, culturais,
25
INFRA-ESTRUTURANTES: Agricultura, Indústria, Comércio, Transporte etc.; INSTITUCIONAIS:
Segurança Pública, Direitos Humanos, Defesa do Estado etc.; ECONÔMICAS: Fiscal, Cambial etc.; e
SOCIAIS: Educação, Saúde, Previdência Social, Assistência Social, etc
95
ambientais etc.), grupos, fóruns, grêmios estudantis, centros acadêmicos, entidades de
atendimento, conselhos etc.
Nesses espaços, é possível realizar assembleias, reuniões, manifestações e utilizar-se
de abaixo-assinados, cartas abertas, requerimentos, petições, imprensa, ações judiciais,
audiências públicas etc.
Todos esses espaços e mecanismos podem ser utilizados de forma isolada ou
cumulativamente, conforme a situação e decisão daqueles que participam. Não importa que o
cidadão esteja num pequeno ou grande município. Não existe, ou melhor, não devem existir
impedimentos para a participação e exercício do controle social na busca de solução aos seus
problemas e a contribuição com respostas.
Este exercício de controle social qualificado pode apontar na perspectiva de superar a
atual fragmentação da política de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescente
e concentração sob o olhar da política de assistência social, já que esta não é a única
responsável, seja na execução ou no financiamento, pois estes “serão realizados com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes,” conforme
emanado do artigo 204 da CF e 90 do ECA.
A proposta inicial deste trabalho foi de analisar as definições de proteção (social)
especial a crianças e adolescentes na norma internacional e nacional, buscando saber se são
equivalentes, complementares ou contraditórias.
Para isso, foi realizada a retomada histórica do papel do Estado, das políticas e dos
direitos humanos no Capítulo I.
Adentrou-se, no Capítulo II e III, um pouco mais na realidade do CEDCA/PR e
FIA/PR, por serem dois importantes instrumentos de definição e financiamento da execução
de serviços e programas para crianças e adolescentes, bem como, buscou-se a ocorrência da
“proteção especial” nos textos da norma internacional e nacional sem deixar de discutir,
mesmo que superficialmente, a “situação de risco” por ser muito utilizada como equivalência
ou exemplificação de proteção especial.
Aproximando-nos do final, iniciou-se uma discussão sobre o possível significado da
terminologia utilizada no âmbito internacional e nacional quando da citação de “proteção
especial”. Nesse momento, começamos a desenhar o entendimento da proteção prevista no
ECA e a proteção social especial no âmbito da Política de Assistência Social.
As investigações realizadas suscitaram muitas dúvidas, mas não é pretensão desta
pesquisa responder todas, muito pelo contrário. Elas são verdadeiras instigadoras de debate e
de maiores e mais aprofundadas pesquisas.
96
Contudo, é possível afirmar que proteção especial não pode ser entendida como
equivalência de “situação de risco”, apesar de alguns casos concretos daquela derivarem
desta, mas não se restringe a essa situação, como também essa situação não leva
necessariamente à proteção especial.
Na busca de quais serviços seriam financiados, nos parece prudente que, dentro da
crise de recursos financeiros alardeados pelos governos, os recursos do FIA/PR sejam
destinados prioritariamente em respostas às necessidades das medidas protetivas elencadas no
ECA. Essas medidas devem ser executadas conforme descrito nos artigos 88, III a V e 90 do
ECA.
As demais políticas, ou seja, as básicas (educação, saúde, segurança, trabalho,
habitação, esporte, cultura, lazer, etc...) e de assistência social devem ser garantidas com
recursos de seus fundos ou os previstos no orçamento geral do ente respectivo.
Após termos exposto a ocorrência ou não da locução “proteção especial” e “proteção
social especial” na normativa internacional e nacional, é possível concluir com o objetivo
proposto no início da pesquisa.
A figura a seguir tenta exemplificar os desafios colocados aos CDCA‟s no momento
de deliberar a política de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes. As
políticas em referência não excluem as demais.
Figura 3- Inter-relação das políticas na efetivação dos direitos humanos
Fonte: próprio autor
97
Tomando como referência a política de saúde, somente como exemplo, percebe-se que
esta é responsável pela efetivação dos direitos da população em geral (verde), mas deve
possuir programas que promovam especificamente os direitos à saúde de todas as crianças e
adolescentes (azul). Além disso, a política de saúde também deve responder àquelas crianças
e adolescentes que se encontram no que é chamado de proteção especial.
Na prática, nem mesmo os direitos sociais vêm sendo objeto de discussão e
deliberação nos CDCA‟s. Com raras exceções, as deliberações ficam concentradas na parte
final dos direitos sociais: a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados. Essa concentração parece ainda ser herança da cultura menorista26 vigente até
a aprovação da Constituição e do ECA.
Diante dos documentos estudados e dados disponíveis, é possível afirmar que:
1 – Proteção social especial a crianças e adolescentes está contida na proteção especial
a crianças e adolescentes;
2 – Proteção especial à criança, na norma internacional dos direitos humanos, é a
prioridade dada a este segmento geracional por sua condição peculiar de desenvolvimento.
3 – Proteção especial à criança, na norma internacional dos direitos humanos, foi
inserida na normativa nacional (CF e no ECA) como conceito de prioridade absoluta .
4 – A Política de Assistência Social é um dos eixos da Proteção Social juntamente
com a política do trabalho, de previdência social, de educação, de saúde, e de infraestrutura.
5 – A tipificação dos serviços socioassistenciais estabelecidos na Res. 109/2009 do
CNAS, no que diz respeito à proteção social especial a crianças e adolescentes, deve ser
entendida tão e somente como a responsabilidade desta política com as crianças e
adolescentes em proteção especial.
6 – Praticamente, não existe intersetorialidade das políticas públicas presentes nos
programas destinados à proteção especial em função da focalização implementada pela
política neoliberal, como se pode observar na presença ou não das locuções proteção social
especial e proteção especial nos PPAs dos três níveis de governo.
7 – São minoria os órgãos estratégicos de articulação dos direitos humanos de crianças
e adolescentes que coordenam as diferentes políticas setoriais de forma transversal e
integrada, em resposta e em cumprimento à prioridade absoluta constitucional e legal. Esta
política estratégica está, em sua maioria, subordinada ao órgão responsável pela política de
assistência social.
26
Ver nota 1
98
8 – Admitir como sendo única resposta a proteção social especial dentro da política de
assistência social às situações de crianças e adolescentes ameaçadas ou violadas em seus
direitos é negar os princípios dos direitos humanos e a visão holística que estes impõem.
9 – O SGD de crianças e adolescentes (Res. 113/2006 Conanda), ao ser subsistema do
sistema geral dos direitos humanos, não utiliza “especial” quando se refere à proteção no seu
conteúdo, por já estar dispondo exclusivamente deste segmento especial, não havendo por que
fazer tal diferenciação.
10 – Os programas de proteção, no artigo 90, incisos I a IV do ECA, tampouco se
referem à especial, pois tem a mesma lógica do SGD, sendo desnecessário tal distinção. Para
esses programas, “não vão crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
como um encaminhamento social, depois de reconhecidas como nessa situação social, por
meio de um estudo social (âmbito do Serviço Social).” (Neto, 2005, p. 9) Esses programas do
ECA se constituem em retaguarda para aplicação de medida específica de proteção, aplicada
pela autoridade competente.
11 – As medidas específicas de proteção (contrário de geral, pois o que é geral é
normal e o que não é normal é especial), podendo assim ser entendidas como medidas de
proteção especial previstas no artigo 101 do ECA, são medidas aplicadas pela autoridade
competente após procedimento contencioso que garanta ampla defesa às partes e que resulte
numa decisão, judicial ou administrativa em que caiba recurso.
Faz-se necessário uma mudança cultural para que as fronteiras das políticas sejam
ultrapassadas e de forma interdisciplinar, como requerem os direitos humanos, as crianças
tenham seus direitos efetivados com a devida prioridade absoluta.
99
REFERÊNCIAS
Referências Bibliográficas
BEHRING, E. R. . Política Social no Contexto da Crise Capitalista. Brasília:
ABEPSS/CFESS/CEAD-UnB, 2009 (Texto para Curso de Especialização à Distância
ABEPSS/CFESS/CEAD-UnB).
BEHRING, E. R. Fundamentos de Política Social. In: MOTA, A. E.; BRAVO, M. I. S.;
UCHÔA, R.; NOGUEIRA, V.; MARSIGLIA, R.; GOMES, L.; TEIXEIRA, M. (Org.).
Serviço Social e Saúde: formação e Trabalho Profissional. 1. ed. São Paulo: Cortez Editora,
2006, v. 1, p. 13-39.
BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade social no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação.
Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFES S/A
CARNEIRO, Edison. Antologia do negro brasileiro: de Joaquim Nabuco a Jorge Amado, os
textos mais significativos sobre a presença do negro em nosso país. / Edison Carneiro
Compilador: Edison Carneiro. Rio de Janeiro: Agir, 2005
CHIARI, Juliana. Avaliação de Políticas Públicas in: Dicionário de Políticas Públicas.
Organizadores: CASTRO, Carme Lucia Freitas de; GONTIJO, Cybthia Rúbia Braga,
AMABILE, Antônio Eduardo de Noronha. Barbacena: EdUEMG, 2012. 242f.
COLIN, D. R. A; Ampliação da proteção social: desafios para implementação do sistema
único de assistência social – SUAS no Paraná. Caderno SUAS IV: assistência social sistema
municipal e gestão local do CRAS, 2007.
DAHL, Robert A. Sobre a Democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília, DF: Ed. UnB, 2001.
ESPINOSA, Roberto Moreno. Descentralização. in: Dicionário de Políticas Públicas.
Organizadores: CASTRO, Carme Lucia Freitas de; GONTIJO, Cybthia Rúbia Braga,
AMABILE, Antônio Eduardo de Noronha. Barbacena: EdUEMG, 2012. 242f.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. – São Paulo:
Atlas, 1999.
LIBERATI, Wilson Donizeti ; CYRINO, Públio Caio Bessa. Conselhos e fundos no
Estatuto da criança e do Adolescente. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003.
100
LUVISOLO, Hugo. A memória e a formação dos homens. Estudos Históricos. Rio de
Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 16-28
MACHADO, Martha de Toledo. A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e
os Direitos Humanos. Barueri: Manole, 2003.
NETO, Wanderlino N. Por um Sistema de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes. Revista Serviço Social & Sociedade - n. 83, 2005.
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. Secretaria especial
dos direitos humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, Brasília,
2007.
POLLACK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro,
vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
SAES, Décio. Estado e democracia: ensaios teóricos. 2 ed. Campinas: UNICAMP, Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas, 1998. 187 P:- (Coleção Trajetória 1)
SPOSATI, Aldaíza. Modelo brasileiro de proteção social não contributiva: concepções
fundantes. Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. Brasília:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO, 2009.
Referências infográficas
ASSIZ, Luiz Emanuel de. Perigo x Riscos – Colunas do SIMEC, 2007. Disponível em
http://www.simec.med.br/s_colunas.asp?id=17 – acesso em 30 de dezembro de 2012.
BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no contexto da crise capitalista. Disponível em:
http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/12894/11251/3.6_Politica_Social_no_Conte
xto_de_Crise_Capitalista.pdf. Acesso em: 20 de dezembro 2013.
BEHRING, Elaine Rossetti. Fundamentos de Política Social. Serviço Social e Saúde:
Formação
e
Trabalho
Profissional.
Disponível
em
http://www.abemeducmed.org.br/fnepas/pdf/servico_social_saude/texto1-1.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de
2013.
101
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em:
18 de maio de 2012.
______. Norma Operacional Básica/SUAS. 2005.
Disponível em: <http://www.sesc.com.br/mesabrasil/doc/NOB.pdf> Acesso em 18 de maio
2012.
______. Política Nacional de Assistência Social/SUAS. 2004. Disponível
<http://www.renipac.org.br/pnas_2004.pdf> Acesso em 18 de maio de 2012.
em:
______. Estatuto da criança e do adolescente. 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> Acesso em: 18 de maio de 2012.
______. Decreto-lei Nº200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm> Acesso em: 20 de dezembro
2012.
______.
Lei
Nº4320, de 17 de março de 1964.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm> Acesso em: 20 de dezembro 2012.
______. Lei Nº11.346, de 15 de setembro de 2006. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm> Acesso em: 20
de dezembro 2012.
______. Lei Nº8.742, de 7 de dezembro de 1993. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm> Acesso em: 20 de dezembro 2012.
______.
Lei
Nº9.051,
de
18
de
maio
de
1995.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9051.htm> Acesso em: 20 de dezembro 2012.
______. Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm> Acesso em: 20 de dezembro 2012.
______. Lei complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm> Acesso em: 20 de dezembro
2012.
102
______. Lei No 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm> Acesso em: 20 de
dezembro 2012.
______. Ministério do Planejamento. Portaria 117 de 12 de novembro de 1998. Disponível
em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Portarias/981112_port_
117.pdf> Acesso em: 18 de maio de 2012.
______: Violência contra criança tem recorde de denúncias. Disponível em:
http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/pt/features/saii/features/main/2013/04/17/feature-02.
Acesso em: 17 de maio de 2013.
______. CONANDA. Resolução 113, de 19 de abril de 2006. Disponível em:
<http://www.direitosdacrianca.org.br/conanda/resolucoes/resolucao-no-113-de-19-de-abrilde-2006> Acesso em: 20 de dezembro de 2013.
COSTA, Antonio C. G. da. A política de atendimento. Disponível em:
<http://www.promenino.org.br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/7e182eb6-075b4064-9550-d7c08701a19f/Default.aspx> Acesso em: 18 de maio de 2012.
DALLARI, Dalmo. Direitos Humanos: Histórico, Conceito e Classificação. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari_dh_historico_conceito_classif
icacao.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de 2013.
DIGIÁCOMO, Murilo J. Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente: transparência
de seu funcionamento como condição indispensável à legitimidade e legalidade de suas
deliberações. Disponível em: <http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/ arquivos/File/
conselhos_direitos/Transparencia_Conselho_de_Direitos__revisado_.pdf> Acesso em: 18 de
maio de 2012.
FREITAS, Carlos Machado de. Riscos e Processos Decisórios - implicações para a vigilância
sanitária . Centro de Estudos da Saúde do Trab. e Ecologia Humana, Escola Nac. de Saúde
Pública,
Fund.
Oswaldo
Cruz,
Min.
Saúde,
2001.
Disponível
em
http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/includes/header_pdf.php?id=331&ext=.pdf&titulo=Riscos
%20e%20processos%20decis%F3rios.
Acesso em 05 de abril de 2013.
FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da infância e adolescência: a
importância da historicidade para sua construção. In Estudos e Pesquisas em Psicologia,
UERJ,
RJ,
v.
7,
n.
1,
p.
147-160,
abr.
2007.
Disponível
em
http://www.revispsi.uerj.br/7n1/artigos/pdf/v7n1a13.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2013.
103
FURTADO, Ricardo. A lei 12101/09 põe fim ao conflito sobre o entendimento da
expressão
assistência
social
–
28/01/2013.
Disponível
em:
http://www.ricardofurtadoadvogados.com.br/ImprensaMostra.asp?T=M&chave=7715.
Acesso em: 20 de dezembro de 2013.
LOBO, Ana Maria Lima. Os direitos da criança – aspectos históricos. Disponível em:
<http://br.groups.yahoo.com/neo/groups/TOCHEGANDO/conversations/topics/1961>.
Acesso em: 15 de dezembro de 2013.
MALVEZZI, Thais Stefano. A Discricionariedade no Ato Administrativo. Disponível em:
<
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3723/A-discricionariedade-no-AtoAdministrativo > Acesso em: 12 de dezembro de 2012.
MARX, Ivan Claudio. Sociedade civil e sociedade civil organizada: o ser e o agir. Jus
Navigandi, Teresina, ano11, n.1019, 16 abr. 2006.
Disponível em:<http://jus.com.br/artigos/8257>. Acesso em: 05 de janeiro de 2014.
MODELL, Flavia Leda. Direito civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais:
dicotomia ou integração?In Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos
Judiciários. n. 10. Brasília: CEJ, 2000.
Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/
ojs2/index.php/cej/issue/view/20 >Acesso em: 11 de maio de 2012.
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm> Acesso em: 18 de
maio de 2012.
______. Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989. Disponível em:
<http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf> Acesso
em: 18 de maio de 2012.
______. Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. 1924. Disponível em:
<http://www.avizora.com/publicaciones/derechos_humanos/textos/0012_declaracion_derecho
s_nino.htm> Acesso em: 18 de maio de 2012.
______. Declaração Sobre os Direitos da Criança. 1959. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-dacrianca.html> Acesso em: 18 de maio de 2012.
______. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 1966. Disponível em
<http://www.interlegis.leg.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/200306161042
12/20030616113554/> Acesso em: 18 maio 2012.
104
______. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 1966.
Disponível em: <http://www.interlegis.leg.br/processo_legislativo/copy_of_2002031915052
4/2003061 6104212/20030616110115/> Acesso em: 18 de maio de 2012.
PARANÁ (Estado). Lei Estadual 9579, de 22 de março de 1991. Disponível em:
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6881&i
ndice=1&totalRegistros=1> Acesso em: 18 de maio de 2012.
________. Decreto Estadual 3963, de 29 de agosto de 1994. Disponível em:
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=25541&
indice=1&totalRegistros=1> Acesso em 18 de maio de 2012.
ROSEMBERG, F. Crianças Pobres e Famílias em Risco: As Armadilhas de um Discurso.
Rev. Bras. Cresc. Des. Hum., São Paulo, IV(1), 1994. Disponível em
http://www.revistas.usp.br/jhgd/article/viewFile/37710/40438. Acesso em 04 de junho de
2013
SEDA, Edson. Tira-dúvidas com Edson Sêda: perguntas e respostas sobre Conselhos
Tutelares e de Direitos. Disponível em <http://www.promenino.org.br/Ferramentas/
Conteudo/tabid/77/ConteudoId/af45b2aa-05db-4569-90491e89234e10c9/Default.aspx#_titulo3> Acesso em: 06 de outubro de 2012.
SALVADOR, Evilasio. Fundo Público e o financiamento das Políticas Sociais no Brasil.
Serviço Social em Revista, v. 14, n. 2 (2012) ISSN: 1679-4842. Disponível em:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/12263. Acesso em: 10 de
dezembro de 2013.
SILVA, A. P. F. da. A construção ideológica da escola como antídoto ao estigma
“situação de risco” atribuído à crianças e jovens: elementos para uma crítica. Dissertação
de Mestrado, PUC, SP, 2005. Disponível em http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/
arquivo.php?codArquivo=1404. Acesso 20 de maio 2013.
SPINK, M. J. P. Suor, Arranhões e Diamantes: as contradições dos riscos na modernidade
reflexiva. Esterisco site, Fiocruz, 2003. Disponível em: http://www4.ensp.fiocruz.br/projetos/
esterisco/suor1.htm. Acesso 20 de maio 2013.
TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e
na Transformação da Realidade. In Políticas Públicas - O Papel das Políticas Públicas
2002 - AATR-BA. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_
aatr_pp_papel.pdf. Acesso em: 10 de dezembro de 2013.
105
YAZBEK, Maria Carmelita. Sistema de proteção social brasileiro: modelo, dilemas e
desafios. 2012. Disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/eventos/assistenciasocial/seminario-internacional-bpc/sobre
evento/apresentacoes/arquivos/Maria%20Carmelita%20Yazbek%20%20Protecao%20Social.pdf/download. Acesso em: 10 de dezembro de 2013.