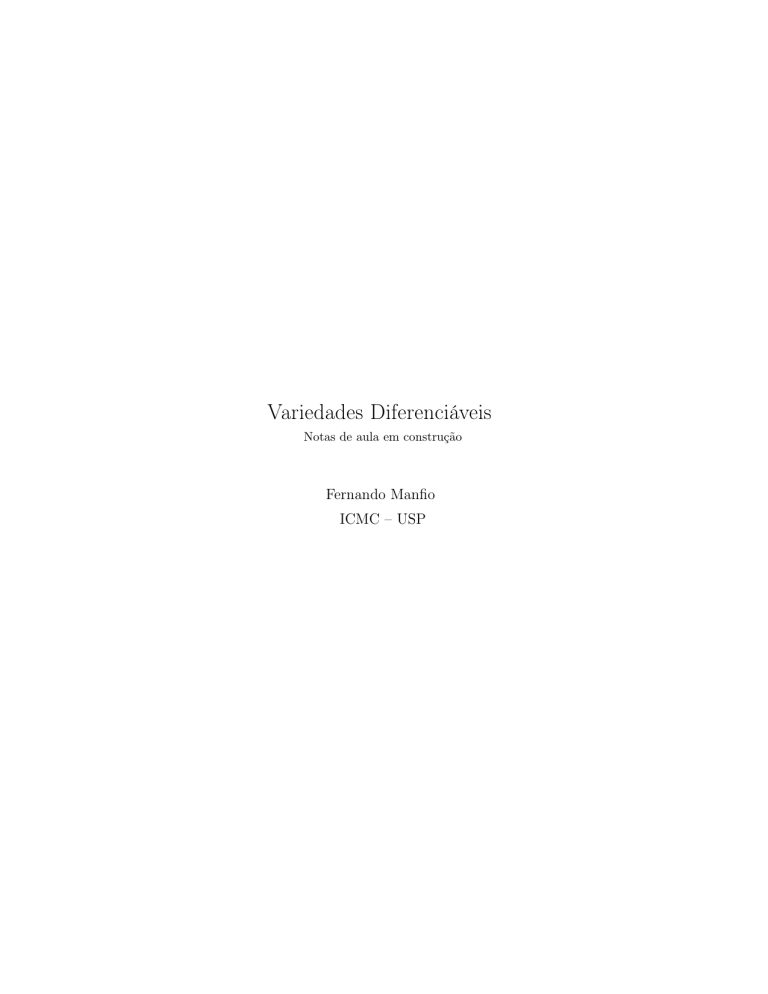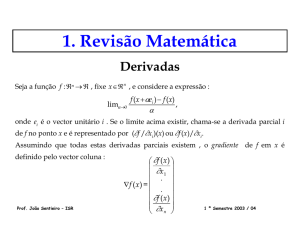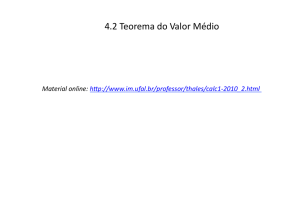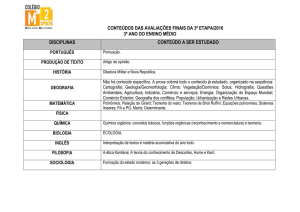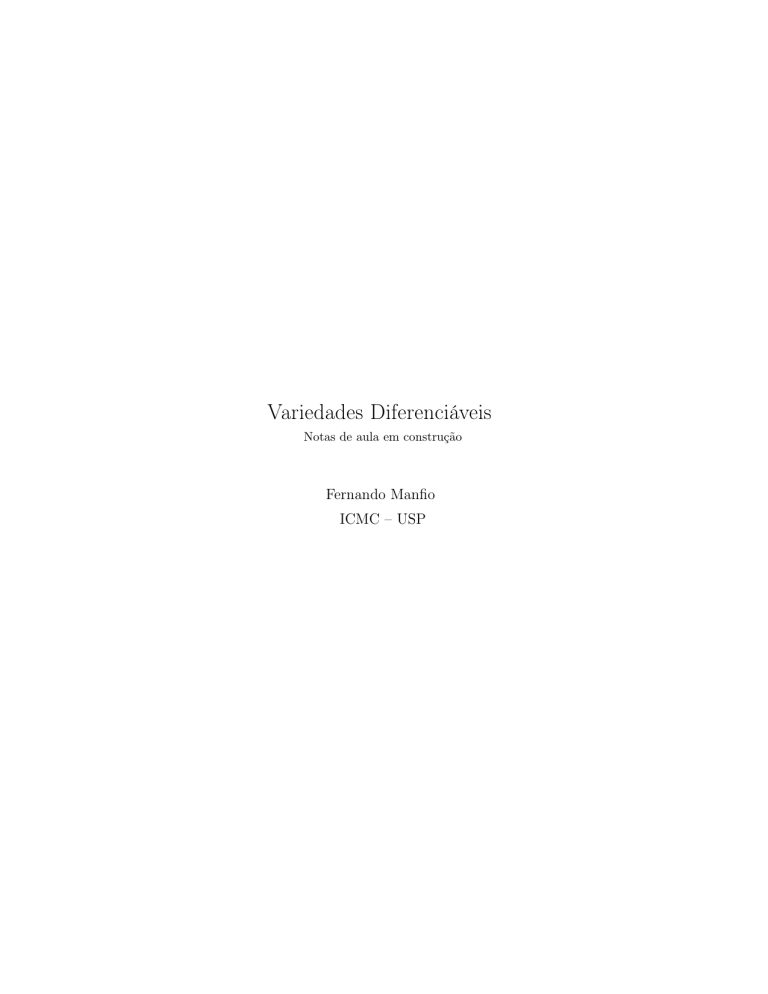
Variedades Diferenciáveis
Notas de aula em construção
Fernando Manfio
ICMC – USP
Sumário
1 Variedades diferenciáveis
1.1 Superfícies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Variedades diferenciáveis . . . . . . . . . . .
1.3 A topologia de uma variedade diferenciável
1.4 Aplicações diferenciáveis entre variedades .
1.5 O espaço tangente . . . . . . . . . . . . . .
1.6 A diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
9
14
18
22
26
2 Subvariedades
2.1 As formas locais . . . . . . . . . . . .
2.2 Subvariedades . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Partição da unidade . . . . . . . . . .
2.4 Extensões de aplicações diferenciáveis
2.5 O teorema de mergulho de Whitney .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
32
41
49
56
59
3 Distribuições
3.1 O fibrado tangente . . . . . . .
3.2 Campos de vetores . . . . . . .
3.3 Derivações . . . . . . . . . . . .
3.4 Curvas integrais e o fluxo local
3.5 Campos f -relacionados . . . . .
3.6 O teorema de Frobenius . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61
. 61
. 66
. 72
. 82
. 90
. 100
4 Variedades quocientes
4.1 Variedades quocientes . . . . . . . . . .
4.2 Grupos propriamente descontínuos . . .
4.3 Orientação em espaços vetoriais . . . . .
4.4 Orientação em variedades diferenciáveis
4.5 Orientação via ação de grupos . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
106
106
110
120
121
126
5 Integração em superfícies
5.1 Álgebra Multilinear . . . . . . . . . . .
5.2 Formas diferenciais em variedades . . .
5.3 Integrais de formas diferenciais . . . .
5.4 Cohomologia de de Rham . . . . . . .
5.5 Operadores lineares . . . . . . . . . . .
5.6 O operador Laplaciano . . . . . . . . .
5.7 O Teorema da Decomposição de Hodge
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
129
129
135
142
153
154
158
162
6 Grupos de Lie
6.1 Grupos de Lie e homomorfismos . . . . .
6.2 Álgebras de Lie . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Exemplos clássicos . . . . . . . . . . . .
6.4 Uma aplicação do teorema de Frobenius
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
166
166
170
175
179
Referências Bibliográficas
183
ii
Capítulo 1
Variedades diferenciáveis
1.1
Superfícies
Nesta seção estudaremos as superfícies Euclidianas, as quais são generalizações naturais dos objetos estudados na Geometria Diferencial. Além
disso, tais superfícies servirão como modelos concretos para as variedades
diferenciáveis abstratas, introduzidas na seção seguinte.
Definição 1.1.1. Um subconjunto M ⊂ Rn é uma superfície de dimensão
m e classe C k se, para todo ponto p ∈ M , existem um aberto V ⊂ Rn , com
p ∈ V , e uma aplicação ϕ : U → M ∩ V , onde U é um aberto de Rm , tais
que
(a) ϕ : U → M ∩ V é um homeomorfismo;
(b) ϕ é uma imersão de classe C k .
A aplicação ϕ chama-se uma parametrização de classe C k de M . O
número n − m chama-se a codimensão de M em Rn . Nos casos particulares
em que m = 1 e n − m = 1, M é chamada de curva e hipersuperfície,
respectivamente, de Rn .
Observação 1.1.2. Na definição 1.1.1 estamos considerando M com a topologia induzida de Rn . Além disso, a condição (a) implica que toda superfície
de classe C k e dimensão m é uma variedade topológica de dimensão m (em
relação à topologia induzida de Rn ), i.e., para todo p ∈ M , existe um aberto
V ⊂ Rn contendo p, tal que M ∩ V é homeomorfo a um aberto de Rm .
Observação 1.1.3. A condição de ϕ ser uma imersão é equivalente a qualquer das condições a seguir:
1
(a) dϕ(p) : Rm → Rn é injetora;
(b) O conjunto de vetores {dϕ(p) · ei : 1 ≤ i ≤ m} é linearmente independente, onde {e1 , . . . , em } é a base canônica de Rm ;
(c) A matriz jacobiana de ordem n × m,
∂ϕi
Jϕ(p) =
(p)
∂xj
tem posto m, onde 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m e ϕ = (ϕ1 , . . . , ϕn ), ou seja,
algum de seus determinantes menores m × m é diferente de zero.
Exemplo 1.1.4. Qualquer subespaço vetorial m-dimensional E ⊂ Rn é uma
superfície de dimensão m e classe C ∞ de Rn . De fato, seja T : Rm → E um
isomorfismo linear. Munindo E com a topologia induzida de Rn , T torna-se
um homeomorfismo. Além disso, como toda transformação linear é de classe
C ∞ , segue que T é um difeomorfismo de classe C ∞ .
Exemplo 1.1.5. A esfera S n = {x ∈ Rn+1 : |x| = 1} é uma superfície de
dimensão n e classe C ∞ de Rn+1 . De fato, denotando por N = (0, . . . , 0, 1) ∈
S n seu polo norte, considere a projeção estereográfica ϕN : S n − {N } → Rn .
ϕN é um difeomorfismo entre S n − {N } e Rn . Geometricamente, ϕN (x) é
o ponto em que a semi-reta N x ⊂ Rn+1 intercepta o hiperplano xn+1 = 0.
Note que os pontos da semi-reta N x são da forma
N + t(x − N ),
t ≥ 0.
Este ponto pertence ao hiperplano xn+1 = 0 se, e somente se, 1+t(xn+1 −1) =
0, onde x = (x1 , . . . , xn+1 ). Assim, t = 1−x1n+1 e, portanto,
ϕN (x) =
1
(x1 , . . . , xn , 0).
1 − xn+1
Analogamente defini-se ϕS : S n − {S} → Rn , onde S = (1, 0, . . . , 0) ∈ S n é
o seu polo sul.
Exemplo 1.1.6. Todo aberto U ⊂ Rn é uma superfície de dimensão n e
classe C ∞ de Rn , imagem de uma única parametrização ϕ, sendo ϕ : U → U
a aplicação identidade. Reciprocamente, seja M ⊂ Rn uma superfície de
dimensão n e classe C k . Assim, para todo p ∈ M , existem um aberto
V ⊂ Rn , com p ∈ V , e um homeomorfismo ϕ : U → M ∩ V , onde U é um
2
aberto de Rn . Usando o Teorema da Invariância do Domínio1 , segue que a
vizinhança coordenada M ∩ V é aberta em Rn . Portanto, o conjunto M ,
reunião das vizinhanças coordendas M ∩ V , é aberto em Rn .
Exemplo 1.1.7. Um subconjunto M ⊂ Rn é uma superfície de dimensão 0
se, e somente se, para todo p ∈ M , existem um aberto V de Rn , com p ∈ V ,
e uma parametrização ϕ : U → M ∩ V , onde U é um aberto de R0 = {0}.
Assim, devemos ter U = {0} e V = {p}. Portanto, M ⊂ Rn é uma superfície
de dimensão 0 se, e somente se, M é um conjunto discreto.
O teorema a seguir nos dá caracterizações equivalentes da Definição 1.1.1.
Teorema 1.1.8. Seja M um subconjunto de Rn . As seguintes afirmações
são equivalentes:
(a) M é uma superfície de dimensão m e classe C k de Rn .
(b) Para todo p ∈ M , existem abertos U ⊂ Rm e V ⊂ Rn , com p ∈ V , e
uma aplicação de classe C k g : U → Rn−m tal que M ∩ V = Gr(g).
(c) Para todo p ∈ M , existem um aberto V de Rn , com p ∈ V , e uma
submersão de classe C k f : V → Rn−m tal que M ∩ V = f −1 (0).
(d) Para todo p ∈ M , existem um aberto V de Rn , com p ∈ V , e um
difeomorfismo de classe C k ϕ : V → ϕ(V ) que satisfaz ϕ(M ∩ V ) =
ϕ(V ) ∩ Rm .
Antes de apresentarmos sua prova, vejamos como usá-lo a fim de produzir
exemplos de superfícies em Rn . Lembre que, dado uma aplicação diferenciável f : U ⊂ Rn → Rn−m , dizemos que c ∈ Rn−m é valor regular de f se a
diferencial df (p) é sobrejetora para todo p ∈ f −1 (c).
Corolário 1.1.9. Seja f : U ⊂ Rn → Rn−m uma aplicação de classe C k .
Se c ∈ Rn−m é valor regular de f então M = f −1 (c) é uma superfície de
dimensão m e classe C k de Rn .
Exemplo 1.1.10. A esfera S n = {x ∈ Rn+1 : |x| = 1} pode ser descrita
como a imagem inversa f −1 (1) da função f : Rn+1 → R definida por f (x) =
hx, xi, para todo x ∈ Rn+1 . Note que f é diferenciável e, dados x, v, ∈ Rn+1 ,
tem-se
df (x) · v = 2hx, vi.
Isso implica que 0 ∈ Rn+1 é o único ponto crítico de f . Como f (0) = 0 6= 1,
concluimos que 1 é um valor regular de f , logo S n = f −1 (1) é, como já
sabíamos, uma superfície de dimensão n e classe C ∞ de Rn+1 .
1
cf. [16], Theorem 36.5.
3
Exemplo 1.1.11. Seja M ⊂ R3 o cone de uma folha, i.e.,
M = {(x, y, z) : x2 + y 2 = z 2 , z ≥ 0}.
Note que M é homeomorfo a R2 . De fato, denotando por π a projeção
π(x, y, z) = (x, y), a restrição de π a M é um homeomorfismo. No entanto,
M não é uma superfície regular. De fato, caso fosse, existiriam abertos
U ⊂ R2 e V ⊂ R3 , com 0 ∈ V , e uma função diferenciável g : U → R
tal que M ∩ V = Gr(g). Observe que M ∩ V não pode ser um gráfico em
relação a uma decomposição da forma R3 = R2 ⊕ R, no qual o segundo fator
seja o eixo-x
p ou o eixo-y. Assim, tem-se necessariamente g = f |U , onde
f (x, y) = x2 + y 2 . Como f não é diferenciável em (0, 0), obtemos uma
contradição. Portanto, M é uma superfície de classe C 0 mas não é de classe
C k , k ≥ 1.
Seja M (m × n) o espaço vetorial das matrizes reais m × n. Dado uma
matriz X ∈ M (m × n), com X = (xij ), a transposta de X, denotada por
X t , é a matriz X t = (xji ), que se obtém de X trocando-se ordenadamente
suas linhas por suas colunas. Assim, X t ∈ M (n × m). Se det X 6= 0, então
det X t 6= 0 e vale (X t )−1 = (X −1 )t .
Uma matriz quadrada X ∈ M (n) chama-se simétrica se X t = X e antisimétrica se X t = −X. As matrizes simétricas e anti-simétricas formam
subespaços vetoriais, S(n) e A(n), de M (n), de dimensão n(n+1)
e n(n−1)
,
2
2
respectivamente. Dado uma matriz X ∈ M (n), tem-se
X + X t ∈ S(n) e X − X t ∈ A(n).
Assim,
1
1
X = (X + X t ) + (X − X t ),
2
2
ou seja,
M (n) = S(n) ⊕ A(n).
Exemplo 1.1.12. O grupo ortogonal
O(n) = {X ∈ M (n) : XX t = I}
2
e classe C ∞ de M (n) ' Rn .
é uma superfície compacta de dimensão n(n−1)
2
De fato, considere a aplicação f : M (n) → S(n) definida por
f (X) = XX t ,
4
para toda matriz X ∈ M (n). Note que O(n) = f −1 (I). Resta provar que
I ∈ S(n) é valor regular de f . Seja X ∈ O(n) = f −1 (I). Temos:
f (X + H) − f (X) = (X + H)(X + H)t − XX t = XH t + HX t + HH t .
|r(H)|
= 0, segue que f é diferenciável em X e df (X) · H =
H→0 |H|
XH t + HX t . Finalmente, dada S ∈ S(n), tome V = 12 SX. Assim, tem-se
df (X) · V = S, ou seja, df (X) é sobrejetora para toda X ∈ O(n), logo O(n)
é uma superfície de dimensão n(n−1)
e classe C ∞ de M (n). Além disso, como
2
2
f é contínua, segue que O(n) = f −1 (I) é fechado em Rn . Como cada vetor
√
linha de X ∈ O(n) é unitário tem-se |X| = n, logo O(n) está contido na
√
esfera centrada na origem e de raio n. Portanto, O(n) é fechado e limitado
2
em Rn .
Como lim
Observação 1.1.13. A imagem inversa f −1 (c) pode ser uma superfície sem
que c seja valor regular de f . Por exemplo, seja f : R2 → R dada por
f (x, y) = y 2 . Note que
f −1 (0) = eixo − x,
que é uma curva de classe C ∞ de R2 . No entanto, 0 ∈ R não é valor regular
de f , pois df (x, 0) = 0, para todo (x, 0) ∈ f −1 (0).
A fim de provarmos o Teorema 1.1.8, faremos uso do seguinte Lema de
Álgebra Linear.
Lema 1.1.14. Seja E ⊂ Rn um subespaço vetorial m-dimensional. Então
existe uma decomposição em soma direta Rn = Rm ⊕Rn−m tal que a primeira
projeção π : Rn → Rm , π(x, y) = x, transforma E isomorficamente sobre
Rm .
Demonstração. Dado uma base {v1 , . . . , vm } de E, sejam ej1 , . . . , ejn−m vetores da base canônica de Rn tais que {v1 , . . . , vm , ej1 , . . . , ejn−m } seja uma
base de Rn . Sejam Rn−m = span{ej1 , . . . , ejn−m } e Rm gerado pelos vetores
canônicos restantes. Temos, então, duas decomposições em soma direta:
Rn = Rm ⊕ Rn−m = E ⊕ Rn−m .
Seja π : Rm ⊕ Rn−m → Rm , π(x, y) = x. Dado x ∈ Rm , seja x = x1 + y,
onde x1 ∈ E e y ∈ Rn−m . Temos:
x = π(x) = π(x1 ) + π(y) = π(x1 ).
Isso implica que π|E : E → Rm é sobrejetora. Como E tem dimensão m,
segue que π|E é um isomorfismo linear.
5
Demonstração do Teorema 1.1.8. (a)⇒(b) Dado p ∈ M , seja ϕ : U → ϕ(U )
uma parametrização de classe C k , com p = ϕ(q). Como E = dϕ(q)(Rm ) é
um subespaço vetorial m-dimensional de Rn existe, pelo Lema 1.1.14, uma
decomposição em soma direta Rn = Rm ⊕Rn−m tal que π|E é um isomorfismo
linear entre E e Rm . Defina a aplicação
η = π ◦ ϕ : U → Rm .
Como dη(q) = π ◦ dϕ(q) é um isomorfismo linear, segue do Teorema da
Aplicação Inversa que existe um aberto W ⊂ Rm , com q ∈ W ⊂ U , tal que
η|W : W → η(W ) = Z é um difeomorfismo de classe C k . Defina
ξ = (η|W )−1 : Z → W
e ψ = ϕ ◦ ξ.
ψ é uma parametrização de classe C k de M e
π ◦ ψ = π ◦ (ϕ ◦ ξ) = η ◦ ξ = Id.
Da igualdade acima segue que a primeira coordenada de ψ(x), em relação à
decomposição Rn = Rm ⊕Rn−m , é x. Denote por g(x) a segunda coordenada.
Assim,
ψ(Z) = ϕ(W ) = {(x, g(x)) : x ∈ W }
para alguma aplicação de classe C k g : W → Rn−m . Como ϕ é aberta,
tem-se
ϕ(W ) = M ∩ V = Gr(g),
para algum aberto V ⊂ Rn , com p ∈ V .
(b)⇒(c) Defina a aplicação f : V → Rn−m pondo
f (x, y) = y − g(x),
onde V ⊂ Rn = Rm ⊕ Rn−m é o aberto dado por hipótese. Temos:
M ∩V
= Gr(g)
= {(x, y) ∈ Rn : y = g(x)}
= {(x, y) ∈ Rn : f (x, y) = 0}
= f −1 (0).
Resta provar que df (x, y) é sobrejetora, para todo (x, y) ∈ V . De fato, dados
(x, y) ∈ V e (u, v) ∈ Rn , temos:
df (x, y) · (u, v) = df (x, y) · (u, 0) + df (x, y) · (0, v)
= Id(0) − dg(x) · u + Id(v) − dg(x) · 0
= v − dg(x) · u.
6
Portanto, dado v ∈ Rn−m , tem-se
df (x, y) · (0, v) = v,
ou seja, df (x, y) : Rn → Rn−m é sobrejetora. Portanto, f é uma submersão
de classe C k , com M ∩ V = f −1 (0).
(c)⇒(d) Dado p ∈ M , seja f : V → Rn−m a submersão de classe C k tal
que M ∩ V = f −1 (0). Como df (p) : Rn → Rn−m é sobrejetora, o conjunto {df (p) · e1 , . . . , df (p) · en } gera Rn−m . Assim, podemos escolher vetores ei1 , . . . , ein−m tais que {df (p) · ei1 , . . . , df (p) · ein−m } seja uma base de
Rn−m . Considere a decomposição em soma direta Rn = Rm ⊕ Rn−m tal que
Rn−m = span{ei1 , . . . , ein−m } e Rm gerado pelos demais vetores canônicos.
Assim, df (p)|Rn−m é um isomorfismo linear. Defina
ϕ : V → Rn = Rm ⊕ Rn−m
pondo
ϕ(x, y) = (x, f (x, y)),
para todo (x, y) ∈ V . ϕ é uma aplicação de classe C k e dϕ(p) é um isomorfismo. Assim, pelo Teorema da Aplicação Inversa, existe um aberto Ve ⊂ Rn ,
com p ∈ Ve ⊂ V , tal que ϕ|Ve : Ve → ϕ(Ve ) é um difeomorfismo de classe
C k . Podemos, supor, sem perda de generalidade, que ϕ(Ve ) = Z × W ⊂
Rm ⊕ Rn−m , onde W é um aberto contendo 0 ∈ Rn−m . Assim,
(x, y) ∈ M ∩ Ve
⇔ ϕ(x, y) = (x, f (x, y))
⇔ ϕ(x, y) = (x, 0).
Portanto, ϕ(M ∩ Ve ) = ϕ(Ve ) ∩ Rm .
(d)⇒(a) Dado p ∈ M , considere o difeomorfismo de classe C k ϕ : V → ϕ(V )
tal que ϕ(M ∩ V ) = ϕ(V ) ∩ Rm , onde V é um aberto de Rn , com p ∈ V .
Como ϕ(V ) é aberto em Rn , U = ϕ(V ) ∩ Rm é aberto em Rm . Defina, então,
k
ψ : U → Rn pondo ψ = ϕ|−1
U . Assim, ψ é uma parametrização de classe C
de M , com ψ(U ) = M ∩ V .
Corolário 1.1.15. Sejam ϕ1 : U1 → M ∩ V1 e ϕ2 : U2 → M ∩ V2 parametrizações de classe C k de uma superfície M , com V1 ∩ V2 6= ∅. Então, ϕ−1
2 ◦ ϕ1
−1
k
e ϕ1 ◦ ϕ2 são de classe C .
Demonstração. Dado p ∈ M ∩ V1 ∩ V2 , seja f : V → f (V ) um difeomorfismo
de classe C k tal que f (M ∩ V ) = f (V ) ∩ Rm . Como ϕ1 (U1 ) = M ∩ V1 e
e1 ⊂ Rm , com ϕ−1 (p) ∈ U
e1 ⊂ U1 , tal
V é aberto em Rn , existe um aberto U
1
7
e1 ) ⊂ M ∩ V . Assim, (f ◦ ϕ1 )(U
e1 ) ⊂ Rm . Analogamente, existe um
que ϕ1 (U
−1
e2 ⊂ Rm , com ϕ (p) ∈ U
e2 ⊂ U2 , tal que (f ◦ ϕ2 )(U
e2 ) ⊂ Rm . Assim,
aberto U
2
−1
e1 ) ∩ ϕ2 (U
e2 ), temos:
no aberto ϕ1 (W ), onde W = ϕ1 (U
−1
−1
ϕ−1
◦ f ◦ ϕ1 = (f ◦ ϕ2 )−1 ◦ (f ◦ ϕ1 ).
2 ◦ ϕ1 = ϕ2 ◦ f
A composta f ◦ϕ1 é de classe C k . Como d(f ◦ϕ2 )(x) é um isomorfismo linear,
segue do Teorema da Aplicação Inversa que f ◦ ϕ2 é, possivelmente num
k
aberto menor, de classe C k . Assim, ϕ−1
2 ◦ ϕ1 é de classe C . Analogamente
se prova que ϕ−1
1 ◦ ϕ2 também o é.
Exercícios
1. Verifique se os seguintes conjuntos são superfícies de dimensão 1 (curvas)
de R2 . Caso sejam, determine a classe de diferenciabilidade.
1. M = {(t, t2 ) : t ∈ R} ∪ {(t, −t2 ) : t ∈ R}
2. M = {(t, t2 ) : t ∈ R− } ∪ {(t, −t2 ) : t ∈ R+ }
3. M = {(t2 , t3 ) : t ∈ R}
2. Sejam M1 ⊂ Rn1 e M2 ⊂ Rn2 superfícies de classe C k e dimensão m1 e
m2 , respectivamente. Prove que o produto cartesiano M1 × M2 ⊂ Rn1 +n2 é
uma superfície de classe C k e dimensão m1 + m2 . Conclua, daí, que o toro
bidimensional T 2 = S 1 × S 1 é uma superfície de dimensão 2 e classe C ∞ de
R4 .
3. Denote por M (m × n; k) o subconjunto de M (m × n) formado pelas
matrizes reais m × n de posto k. Prove que M (m × n; k) é uma superfície
de dimensão k(m + n − k) e classe C ∞ de M (m × n) ' Rmn .
4. O grupo linear GL(n) é o subconjunto aberto de M (n) formado pelas
matrizes invertíveis. O grupo linear especial,
SL(n) = {X ∈ GL(n) : det X = 1},
é um subgrupo de GL(n). Prove que SL(n) é uma hipersuperfície de classe
C ∞ de M (n), i.e., uma superfície de dimensão n2 −1 e classe C ∞ de M (n) '
2
Rn .
8
1.2
Ck,
Variedades diferenciáveis
Nesta seção introduzimos a noção de variedade diferenciável de classe
onde estaremos fixando um valor para k, 0 ≤ k ≤ ∞.
Definição 1.2.1. Seja M um conjunto. Uma carta local em M é uma bijeção
ϕ : U → ϕ(U ), onde U é um subconjunto de M e ϕ(U ) é um aberto de algum
espaço Euclidiano Rn .
Definição 1.2.2. Duas cartas locais em M , ϕ : U → ϕ(U ) e ψ : V → ψ(V ),
são C k -compatíveis (0 ≤ k ≤ ∞) se ϕ(U ∩ V ) e ψ(U ∩ V ) são abertos em Rn
e a aplicação de transição ψ ◦ ϕ−1 é um difeomorfismo de classe C k .
Note que a condição de ψ◦ϕ−1 ser um difeomorfismo de classe C k implica
que ϕ ◦ ψ −1 também é um difeomorfismo de classe C k .
Observação 1.2.3. Se U ∩ V = ∅, então a aplicação de transição ψ ◦ ϕ−1 é a
aplicação vazia. Convencionaremos que a aplicação vazia é um difeomorfismo
de classe C k , para qualquer k ≥ 0. Assim, ϕ e ψ são sempre C k -compatíveis
quando U ∩ V = ∅.
Observação 1.2.4. A noção de C k -compatibilidade para cartas locais
ϕ : U → ϕ(U ) e ψ : V → ψ(V ) faria sentido também na situação mais
geral em que ϕ(U ) é um aberto de Rm e ψ(V ) é um aberto de Rn onde,
a princípio, m não precisa ser igual a n. Mas se U ∩ V 6= ∅, tal compatibilidade implicaria na existência de um difeomorfismo de classe C k de um
aberto não-vazio de Rm sobre um aberto de Rn , o que implicaria m = n
(no caso k ≥ 1, isso segue do fato que a diferencial de tal difeomorfismo em
qualquer ponto fornece um isomorfismo de Rm sobre Rn ; para o caso k = 0,
cf. Exercício 2.)
Definição 1.2.5. Um atlas A de classe C k e dimensão n em um conjunto
M é um conjunto de cartas locais em M ,
A = {(Uα , ϕα ) : α ∈ I},
onde S
cada ϕα (Uα ) é aberto em Rn , duas a duas C k -compatíveis, e tal que
M = α∈I Uα .
Exemplo 1.2.6. Um atlas de classe C ∞ em Rn é o conjunto A = {(Rn , Id)}.
Exemplo 1.2.7. Na esfera S n , um atlas de classe C ∞ é o conjunto
A = {(S n − {N }, ϕN ), (S n − {S}, ϕS )},
onde ϕN e ϕS são as projeções estereográficas relativas ao polos norte e sul,
respectivamente.
9
Definição 1.2.8. Uma carta local ϕ em M é dita C k -compatível com um
atlas A de classe C k em M se ϕ é C k -compatível com tada carta ψ ∈ A.
A noção de C k -compatibilidade é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva. De fato, se (U, ϕ), (V, ψ), (W, ξ) são cartas locais em M , com ϕ
C k -compatível com ψ e ψ C k -compatível com ξ, então só podemos garantir
que a aplicação de transição ξ ◦ ϕ−1 seja de classe C k em ϕ(U ∩ V ∩ W ).
É bem possível, por exemplo, que U ∩ V = ∅, V ∩ W = ∅ (o que torna a
C k -compatibilidade entre ϕ, ψ e ψ, ξ triviais), mas U ∩ W 6= ∅ e que ϕ e ξ
não sejam C k -compatíveis. No entanto, temos o seguinte:
Lema 1.2.9. Seja A um atlas de classe C k em M . Se (U, ϕ) e (V, ψ) são
cartas locais em M , ambas C k -compatíveis com A, então ϕ e ψ são C k compatíveis.
Demonstração. Suponha U ∩V 6= ∅. Devemos provar que ϕ(U ∩V ) e ψ(U ∩V )
são abertos em Rn e que ψS◦ ϕ−1 : ϕ(U ∩ V ) → ψ(U ∩ V ) é um difeomorfismo
de classe C k . Como U = α∈I (U ∩ Uα ), segue que
ϕ(U ∩ V ) =
[
ϕ(U ∩ V ∩ Uα ).
α∈I
Assim, basta provar que, para cada α ∈ I, ϕ(U ∩ V ∩ Uα ) é aberto em Rn e
que ψ ◦ ϕ−1 |ϕ(U ∩V ∩Uα ) é de classe C k . De fato, como (U, ϕ) e (V, ψ) são C k compatíveis com (Uα , ϕα ), segue que ϕα (Uα ∩ U ) e ϕα (Uα ∩ V ) são abertos
k
em Rn e ϕ ◦ ϕ−1
α é um difeomorfismo de classe C . Assim,
ϕ(U ∩ V ∩ Uα ) = (ϕ ◦ ϕ−1
α )(ϕα (U ∩ V ∩ Uα ))
= (ϕ ◦ ϕ−1
α )(ϕα (Uα ∩ U ) ∩ ϕα (Uα ∩ V ))
é aberto em Rn . Finalmente,
−1
ψ ◦ ϕ−1 |ϕ(U ∩V ∩Uα ) = (ψ ◦ ϕ−1
α ) ◦ (ϕα ◦ ϕ )|ϕ(U ∩V ∩Uα ) ,
que é de classe C k .
Definição 1.2.10. Um atlas A de classe C k em M é dito maximal se não
está propriamente contido em nenhum outro atlas de classe C k em M .
Lema 1.2.11. Seja A um atlas de classe C k em M . Então existe um único
atlas maximal de classe C k em M contendo A.
10
Demonstração. Seja Amax o conjunto formado por todas as cartas locais de
M que são C k -compatíveis com A. Disso decorre que A ⊂ Amax . Além disso,
o Lema 1.2.9 implica que Amax é de fato um atlas de classe C k . Quanto à
maximalidade, considere um atlas B de classe C k em M , contendo A. Disso
decorre que todo elemento de B é C k -compatível com A, logo, B ⊂ Amax .
Finalmente, quanto à unicidade, suponha que exista um atlas maximal B
de classe C k em M , com A ⊂ B. Disso decorre que todo elemento de
B é C k -compatível com A, logo B ⊂ Amax . Como B é maximal tem-se,
necessariamente, que B = Amax .
Lema 1.2.12. Seja A = {(Uα , ϕα ) : α ∈ I} um atlas de classe C k em um
conjunto M . Então, existe uma única topologia em M tal que cada Uα é
aberto em M e cada ϕα é um homeomorfismo.
Demonstração. Defina
τA = {V ⊂ M : ϕα (Uα ∩ V ) é aberto em Rn , ∀α ∈ I}.
O fato de que τA é uma topologia segue das igualdades
ϕα (Uα ∩ ∅) = ∅,
ϕα (Uα ∩ M ) = ϕα (Uα ),
ϕα (Uα ∩ V1 ∩ V2 ) = ϕα (Uα ∩ V1 ) ∩ ϕα (Uα ∩ V2 ),
!!
[
[
ϕα Uα ∩
Vλ
=
ϕα (Uα ∩ Vλ ).
λ∈J
λ∈J
Para provar que cada Uα é um aberto em M e cada ϕα é um homeomorfismo,
é suficiente provar a seguinte afirmação: dados α ∈ I e V ⊂ Uα , então
V ∈ τA se, e somente se, ϕα (V ) é aberto em Rn . De fato, se V ∈ τA então
ϕα (V ) = ϕα (Uα ∩ V ) é aberto em Rn . Reciprocamente, suponha ϕα (V )
aberto em Rn . Para provar que V ∈ τA , devemos provar que ϕβ (Uβ ∩ V ) é
aberto em Rn , para todo β ∈ I. Mas isso segue da igualdade
ϕβ (Uβ ∩ V ) = ϕβ (Uβ ∩ V ∩ Uα )
= (ϕβ ◦ ϕ−1
α )(ϕα (V ) ∩ ϕα (Uα ∩ Uβ ))
e do fato que ϕβ ◦ϕ−1
α : ϕα (Uα ∩Uβ ) → ϕβ (Uα ∩Uβ ) é um homeomorfismo ente
abertos de Rn . Quanto à unicidade, seja τ uma topologia em M que torna
cada Uα aberto em M e cada ϕα um homeomorfismo. Dado V ∈ τ , tem-se
V ∩Uα ∈ τ , para todo α ∈ I, logo ϕα (Uα ∩V ) é aberto em Rn . Isso mostra que
V ∈ τA , logo τ ⊂ τA . Por outro lado, dado V ∈ τA , tem-se que ϕα (Uα ∩ V ) é
aberto em Rn , para todo α ∈ I. Assim, V S
∩ Uα = ϕ−1
α (ϕα (Uα ∩ V )) é aberto
em (M, τ ), para todo α ∈ I. Logo, V = α∈I V ∩ Uα é aberto em (M, τ ).
Isso prova que τA ⊂ τ .
11
Definição 1.2.13. Dado um atlas A = {(Uα , ϕα ) : α ∈ I} em um conjunto
M , a única topologia τA que torna cada Uα aberto em M e cada ϕα um
homeomorfismo é chamada a topologia induzida pelo atlas A em M .
Observação 1.2.14. Se dois atlas A1 e A2 de classe C k em M são tais que
A1 ∪ A2 é um atlas de classe C k em M , então as topologias induzidas em M
por A1 e A2 coincidem (cf. Exercício 3). Disso decorre, em particular, que
a topologia induzida por um atlas A coincide com a topologia induzida pelo
atlas maximal que o contém.
Definição 1.2.15. Uma variedade diferenciável de classe C k e dimensão n é
um par (M, A), onde M é um conjunto e A é um atlas maximal de classe C k
e dimensão n em M , tal que a topologia induzida em M por A é Hausdorff
e satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade.
Exemplo 1.2.16. O conjunto unitário A = {(Rn , Id)} é um atlas de classe
C ∞ em Rn . De fato, como a aplicação identidade Id é um homeomorfismo,
com domínio aberto em relação à topologia usual de Rn , segue que a topologia
induzida por A em Rn coincide com a topologia usual. O atlas maximal Amax
que contém A consiste de todos os difeomorfismos de classe C ∞ ϕ : U →
ϕ(U ), com U e ϕ(U ) abertos em Rn .
Exemplo 1.2.17. Sejam (M, A) uma variedade diferenciável de classe C k
eα = U ∩ Uα
e U um aberto de (M, τA ). Para cada (Uα , ϕα ) ∈ A, considere U
eϕ
eα = ϕα |Ueα . Considere o conjunto
eα , ϕ
Ae = {(U
eα ) : (Uα , ϕα ) ∈ A}.
Claramente Ae é um atlas de classe C k em U . Denotemos por τ a topologia
induzida por τA em U , e por τAe a topologia induzida por Ae em U . Mostremos
que τAe = τ . De fato, dado V ∈ τ , tem-se V = U ∩ W , onde W ∈ τA . Assim,
eα ∩ V ) = ϕα (U ∩ Uα ∩ V ) = ϕα (U ∩ Uα ∩ W ),
ϕ
eα (U
que é aberto em Rn , logo V ∈ τAe. Por outro lado, dado V ∈ τAe, segue
eα ∩ V ) = ϕα (U ∩ Uα ∩ V ) é aberto em Rn . Disso decorre que
que ϕ
eα (U
U ∩ V ∈ τA . Assim, V = U ∩ (U ∩ V ) ∈ τ , logo V ∈ τ . Portanto, a topologia
e torna-se uma variedade
τAe é Hausdorff e tem base enumerável, logo (U, A)
diferenciável de classe C k .
12
Exercícios
1. Seja V um espaço vetorial real n-dimensional. Prove que o conjunto A
constituído de todos os isomorfismos lineares ϕ : V → Rn é um atlas de
classe C ∞ em V . Prove também que a topologia induzida em V por A
coincide com a topologia usual (definida por qualquer norma). Portanto, o
espaço vetorial V , munido do atlas maximal que contém A, é uma variedade
diferenciável de classe C ∞ .
2. Usando o Teorema da Invariância do Domínio, prove que se um aberto
não-vazio de Rm é homeomorfo a um aberto de Rn , então m = n.
3. Sejam A1 e A2 atlas de classe C k num conjunto M .
(a) Prove que A1 ∪ A2 é um atlas de classe C k em M se, e somente se,
todo ϕ ∈ A1 é C k -compatível com A2 .
(b) Prove que A1 ∪ A2 é um atlas de classe C k em M se, e somente se, A1
e A2 estão contidos no mesmo atlas maximal de classe C k em M .
(c) Se A1 ∪ A2 é um atlas de classe C k em M , prove que as topologias
induzidas em M por A1 e A2 coincidem.
4. Sejam A um atlas maximal de classe C k num conjunto M e (U, ϕ) ∈ A.
Se W é um aberto de Rn , com W ⊂ ϕ(U ), e se V = ϕ−1 (W ), então a
restrição ϕ|V : V → W também pertence a A.
5. Considere a esfera S n , n ≥ 1.
(a) Prove que S n tem a mesma cardinalidade que R, i.e., existe uma bijeção
ϕ : S n → R.
(b) Se A é o único atlas maximal de classe C k que contém ϕ, então (S n , A)
é uma variedade diferenciável de classe C k e dimensão 1. Verifique que
ϕ não é um homeomorfismo, se considerarmos S n com a topologia induzida de Rn+1 . Segue, portanto, que a topologia da variedade (S n , A)
não coincide com a topologia usual da esfera.
Observação 1.2.18. Em geral, quando considerarmos a esfera S n como
uma variedade, estaremos pensando no atlas que contém as projeções estereográficas.
13
1.3
A topologia de uma variedade diferenciável
Nesta seção discutiremos algumas propriedades da topologia induzida
em M por um atlas A. O lema seguinte é útil para determinar se um
dada topologia em uma variedade diferenciável coincide com sua topologia
induzida.
Lema 1.3.1. Sejam (M n , A) uma variedade diferenciável de classe C k e τ
uma topologia em M . As seguintes afirmações são equivalentes:
(a) τ = τA ;
(b) Para toda carta (Uα , ϕα ) ∈ A, tem-se Uα ∈ τ e ϕα é um homeomorfismo, em relação à topologia induzida em Uα por τ ;
e
(c) Existe um atlas Ae ⊂ A tal que vale (b) para toda carta (Uα , ϕα ) ∈ A.
Demonstração. (a)⇒(b) Segue do fato que ϕα : Uα → ϕα (Uα ) é homeomorfismo segundo a topologia τA .
(b)⇒(c) Basta tomar Ae = A.
(c)⇒(a) Basta provar que a aplicação identidade Id : (M, τ ) → (M, τA ) é
um homeomorfismo. De fato, para todo (Uα , ϕα ) ∈ Ae segue por hipótese
que Uα ∈ τA , Uα ∈ τ , ϕα : (Uα , τA ) → ϕα (Uα ) e ϕα : (Uα , τ ) → ϕα (Uα ) são
homeomorfismos. Como o diagrama
/ (Uα , τα )
Id
(Uα , τ )
ϕα
'
w
ϕα
ϕα (Uα )
comuta,
S segue que Id : (Uα , τ ) → (Uα , τα ) é um homeomorfismo. Como
M = α∈Ie Uα , segue que Id : (M, τ ) → (M, τA ) é um homeomorfismo.
Exemplo 1.3.2. Seja M m ⊂ Rn uma superfície de classe C k . Para cada
parametrização ψα : Vα → M ∩ Wα = Uα de M , denote por ϕα a inversa de
ψα . Seja
A = {(Uα , ϕα ) : ϕα = ψα−1 }.
−1
k
Segue do Corolário 1.1.15 que ϕβ ◦ ϕ−1
α = ψβ ◦ ψα é de classe C , logo
A é um atlas de classe C k em M . Além disso, como cada ϕα : Uα → Vα
é um homeomorfismo em relação à topologia induzida em M de Rn segue,
do Lema 1.3.1, que a topologia τA coincide com a topologia usual de M .
Portanto, (M, A) torna-se uma variedade diferenciável de classe C k .
14
Exemplo 1.3.3. Em M = Rn+1 − {0}, definimos uma relação de equivalência ∼ pondo:
x ∼ y ⇔ y = tx, para algum t 6= 0.
O espaço quociente RP n = M/∼ chama-se o espaço projetivo real. Provemos
que RP n é uma variedade diferenciável de classe C ∞ e dimensão n. Geometricamente, cada classe [x] ∈ RP n pode ser identificada com a reta em
Rn+1 que passa pela origem, cuja direção é dada pelo vetor x. Provemos,
inicialmente, que a topologia quociente τ em RP n é Hausdorff e tem base
enumerável. De fato, sejam π : M → RP n a aplicação quociente e A ⊂ M
um aberto. Temos:
π −1 (π(A)) = {x ∈ M : x ∼ a, para algum a ∈ A}
[
=
tA,
t6=0
onde tA = {tx : x ∈ A}. Como cada tA é aberto em M , segue que π −1 (π(A))
é aberto. Logo, por definição de topologia quociente, π(A) é aberto, logo
π é aberta. Assim, como M tem base enumerável, M/ ∼ também o tem
(cf. Exercício 1). A fim de provar que τ é Hausdorff, considere a função
f : M × M → R definida por
X
f (x, y) =
(xi yj − xj yi )2 ,
i6=j
para quaisquer x, y ∈ M . Note que
f (x, y) = 0 ⇔ xi yj − xj yi = 0, i 6= j
⇔ yi = txi , para algum t 6= 0, 1 ≤ i ≤ n + 1
⇔ x ∼ y.
Ou seja,
R = {(x, y) ∈ M × M : x ∼ y} = f −1 (0).
Como f é contínua, R é fechado em M × M , logo (RP n , τ ) é Hausdorff (cf.
Exercício 1). A fim de construir um atlas em RP n considere, para cada
ei em M definido por
1 ≤ i ≤ n + 1, o aberto U
ei = {x ∈ M : xi 6= 0}.
U
ei → Rn pondo
Defina uma aplicação ϕ
ei : U
ϕ
ei (x1 , . . . , xn+1 ) =
1
(x1 , . . . , x
bi , . . . , xn+1 ).
xi
15
ϕ
ei é contínua, pois suas funções coordenadas são contínuas, e ϕ
ei é sobrejetora.
n
De fato, dado x = (x1 , . . . , xn ) ∈ R , tome x
e = (x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , xn ) ∈
ei . Assim, tem-se ϕ
U
ei (e
x) = x. Além disso, como
x∼y⇔ϕ
ei (x) = ϕ
ei (y),
segue do Lema de passagem ao quociente que, para cada 1 ≤ i ≤ n + 1,
existe uma bijeção contínua ϕi : RP n → Rn tal que o diagrama
ei
U
π
ϕ
ei
/ Rn
9
ϕi
RP n
ei ). Provemos que o conjunto
comuta. Seja Ui = π(U
A = {(Ui , ϕi ) : 1 ≤ i ≤ n + 1}
é um atlas de classe C ∞ em RP n . Note que
ϕ−1
i (x, . . . , xn ) = π(x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , xn ),
para todo 1 ≤ i ≤ n + 1. Assim, dados (Ui , ϕi ), (Uj , ϕj ) ∈ A, com i < j,
temos:
(ϕj ◦ ϕ−1
i )(x) = ϕj (π(x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , xn ))
= ϕ
ej (x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , xn )
1
=
(x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , x
bj , . . . , xn ),
xj
logo ϕj ◦ ϕ−1
é de classe C ∞ . Finalmente, resta provar que τA = τ . De
i
ei é aberto em M , segue que Ui é aberto em (RP n , τ ).
fato, como π −1 (Ui ) = U
Além disso, da igualdade
ϕ−1
i (x, . . . , xn ) = π(x1 , . . . , xi−1 , 1, xi , . . . , xn ),
segue que ϕ−1
é contínua. Logo, ϕi : Ui → ϕi (Ui ) é um homeomorfismo
i
relativo à topologia τ . Portanto, pelo Lema 1.3.1, segue que τA = τ .
Exemplo 1.3.4 (Variedade não-Hausdorff). Em R2 , considere os subconjuntos
A = {(x, 1) ∈ R2 : x ≤ 0},
B = {(x, 0) ∈ R2 : x > 0},
C = {(x, −1) ∈ R2 : x ≤ 0}.
16
Sejam U1 = A ∪ B e U2 = B ∪ C, e defina as aplicações ϕ1 : U1 → R e
ϕ2 : U2 → R pondo
ϕ1 (x, y) = x e ϕ2 (x, y) = x.
O conjunto A = {ϕ1 , ϕ2 } é um atlas de classe C ∞ em M = A ∪ B ∪ C. No
entanto, a topologia τA não é Hausdorff, pois qualquer vizinhança em torno
dos pontos (0, 1) e (0, −1) têm pontos em comum.
A proposição seguinte reune as principais propriedades da topologia induzida em M por um atlas A.
Proposição 1.3.5. Seja (M n , A) uma variedade diferenciável de classe C k .
As seguintes afirmações são válidas:
(a) Existe atlas Ae ⊂ A tal que Ae tem um número enumerável de elementos.
(b) A topologia τA é metrizável.
(c) (M, τA ) é localmente compacto e localmente conexo.
(d) (M, τA ) é conexo se, e somente se, é conexo por caminhos.
Exercícios
1 (Topologia quociente). Dados um espaço topológixo X e uma relação de
equivalência ∼ em X, denotemos por X/∼ o espaço quociente. Assim, os
elementos de X/∼ são as classes de equivalências
[x] = {y ∈ X : x ∼ y}.
A topologia quociente em X/∼ é a topologia τ que torna a aplicação quociente
π : X → X/∼ contínua. Mais precisamente, um subconjunto U ⊂ X/∼ é
aberto se π −1 (U ) é aberto em X. Uma relação de equivalência ∼ em X é
dita ser aberta se, [
para todo aberto A ⊂ X, o subconjunto [A] é aberto em
X/∼, onde [A] =
[a].
a∈A
(a) Prove que uma relação de equivalência ∼ em X é aberta se, e somente
se, π é uma aplicação aberta. Quando ∼ é aberta e X tem uma base
enumerável de abertos, então X/∼ também tem base enumerável.
(b) Seja ∼ uma relação de equivalência aberta em X. Então, o conjunto
R = {(x, y) ∈ X × X : x ∼ y}
é um subconjunto fechado de X ×X se, e somente se, X/∼ é Hausdorff.
2. Prove as afirmações da Proposição 1.3.5.
17
1.4
Aplicações diferenciáveis entre variedades
Nesta seção discutiremos a noção de diferenciabilidade de aplicações,
transferindo algumas noções básicas do cálculo no Rn para o contexto de
variedades diferenciáveis.
Definição 1.4.1. Sejam M m , N n variedades diferenciáveis de classe C k .
Dizemos que uma aplicação f : M → N é de classe C r , 1 ≤ r ≤ k, se
para todo ponto p ∈ M , existem cartas locais ϕ : U → ϕ(U ) em M e
ψ : V → ψ(V ) em N tais que p ∈ U , f (U ) ⊂ V e ψ ◦ f ◦ ϕ−1 seja de classe
Cr.
A composta ψ ◦ f ◦ ϕ−1 é a aplicação que representa f em relação às
cartas ϕ e ψ.
Observação 1.4.2. A definição acima independe da escolha das cartas. De
fato, sejam ϕ0 : U 0 → ϕ0 (U 0 ) e ψ 0 : V 0 → ψ 0 (V 0 ) cartas locais em M e N ,
respectivamente, com p ∈ U 0 e f (U 0 ) ⊂ V 0 . Então, no aberto ϕ0 (U 0 ∩ U ),
temos:
ψ 0 ◦ f ◦ ϕ0−1 = (ψ 0 ◦ ψ −1 ) ◦ (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 ) ◦ (ϕ ◦ ϕ0−1 ).
Como ϕ e ϕ0 , ψ e ψ 0 são C k -compatíveis e ψ ◦ f ◦ ϕ−1 é de classe C r , segue
que ψ 0 ◦ f ◦ ϕ0−1 é de classe C r .
Definição 1.4.3. Uma aplicação f : M → N é um difeomorfismo de classe
C k se f é uma bijeção de classe C k , cuja inversa f −1 : N → M também é
de classe C k . Uma aplicação f : M → N chama-se um difeomorfismo local
de classe C k se todo ponto p ∈ M possui uma vizinhança aberta U ⊂ M tal
que f (U ) ⊂ N é aberto e f |U : U → f (U ) seja um difeomorfismo de classe
Ck.
Exemplo 1.4.4. Se U é um aberto de Rn , então U é uma variedade diferenciável de classe C ∞ e dimensão n, e a aplicação identidade Id : U → U é
uma carta em U . Assim, dado uma variedade diferenciável M m de classe C k ,
uma aplicação f : U → M é de classe C r se, e somente se, para todo p ∈ U ,
existem um aberto W ⊂ U , com p ∈ W , e uma carta local ψ : V → ψ(V )
em M , com f (W ) ⊂ V , tal que ψ ◦ f |W é de classe C r . Disso decorre, em
particular (no caso em que M = Rm ), que f é diferenciável no sentido de
variedades se, e somente se, é diferenciável no sentido do Cálculo.
A proposição seguinte mostra que as cartas locais de uma variedade M
são nada mais que difeomorfismos entre abertos de M e abertos do espaço
Euclidiano.
18
Proposição 1.4.5. Seja (M n , A) uma variedade diferenciável de classe C k .
Dados um subconjunto U ⊂ M e um aberto W ⊂ Rn , então uma bijeção
ϕ : U → W pertence ao atlas A se, e somente se, U é aberto em M e ϕ é
um difeomorfismo de classe C k .
Demonstração. Suponha ϕ : U → W uma carta local de M . Assim, U é
aberto em M . Considere as representações de ϕ e ϕ−1 em relação às cartas
ϕ na variedade U e Id na variedade W .
ϕ
U
ϕ
/W
Id◦ϕ◦ϕ−1 /
W
Id
W
Ambas essas representações são iguais a aplicação identidade de W , que é
de classe C k . Logo, ϕ é um difeomorfismo de classe C k . Reciprocamente,
suponha que U é aberto em M e que ϕ : U → W seja um difeomorfismo
de classe C k . Devemos provar que ϕ é C k -compatível com o atlas A. Dado
(V, ψ) ∈ A, como ϕ e ψ são homeomorfismos entre abertos, segue que ϕ(U ∩
V ) e ψ(U ∩V ) são abertos de Rn . A aplicação de transição ψ ◦ϕ−1 é de classe
C k pois ela é a representação da aplicação ϕ−1 : W → U de classe C k , em
relação às cartas locais Id : ϕ(U ∩V ) → ψ(U ∩V ) e ψ|U ∩V : U ∩V → ψ(U ∩V ).
Analogamente se prova que ϕ ◦ ψ −1 é de classe C k .
O corolário seguinte é útil quando queremos provar resultados sobre unicidade de estruturas diferenciáveis satisfazendo certas condições.
Corolário 1.4.6. Sejam A1 , A2 atlas maximais de classe C k num conjunto
M . Então A1 = A2 se, e somente se, a aplicação identidade Id : (M, A1 ) →
(M, A2 ) é um difeomorfismo de classe C k .
Demonstração. Suponha que Id seja um difeomorfismo de classe C k . Assim,
Id é, em particular, um homeomorfismo, logo A1 e A2 induzem a mesma
topologia em M . Dado um aberto U ⊂ M , denotemos por A1 |U , A2 |U os
atlas induzidos em U por A1 e A2 , respectivamente. Assim, Id : (U, A1 |U ) →
(U, A2 |U ) é um difeomorfismo de classe C k . Sejam V ⊂ Rn um aberto e
ϕ : U → V uma bijeção. Temos, assim, um diagrama comutativo:
/ (U, A2 |U )
Id
(U, A1 |U )
1
ϕ
&
2
V
19
x
ϕ
A flecha 1 no diagrama é um difeomorfismo de classe C k se, e somente se,
a flecha 2 o for. Segue da Proposição 1.4.5 que ϕ ∈ A1 se, e somente se,
ϕ ∈ A2 .
Exemplo 1.4.7. A função f : R → R, dada por f (t) = t3 , é um homeomorfismo, cuja inversa é f −1 (t) = t1/3 , que não é diferenciável em t = 0. Logo,
f não é um difeomorfismo. Sejam (R, A) e (R, B) estruturas de variedades
diferenciáveis de classe C k em R, determinadas pelos atlas
{(R, Id)} e {(R, f )},
respectivamente. Note que Id : R → R e f : R → R não são C k -compatíveis
para nenhum k ≥ 1, pois (Id ◦ f −1 )(t) = t1/3 não é diferenciável em t =
0. Assim (R, A) 6= (R, B). Por outro lado, (R, A) e (R, B) são variedades
difeomorfas, pois a aplicação φ : (R, A) → (R, B), dada por φ(t) = t1/3 , é
um difeomorfismo de classe C k . De fato, a representação de φ é a aplicação
identidade Id : R → R, que é de classe C k .
Observação 1.4.8. Em virtude do Exercício 1, segue que todo difeomorfismo é um homeomorfismo. Este fato reporta à questão natural de saber
se, reciprocamente, duas variedades homeomorfas são necessariamente difeomorfas. Em R, é ralativamente simples provar que qualquer estrutura
diferenciável é difeomorfa a estrutura canônica (R, A), onde A é o único
atlas maximal que contém a aplicação identidade (cf. [18], Problem 9.24, ou
[10], Problem 12.5). Em R2 e R3 a afirmação também é verdadeira. De fato,
segue do trabalho de J. Munkres [17] (cf. também [15]) que toda variedade
topológica de dimensão menor ou igual a 3 tem uma estrutura diferenciável que é única a menos de difeomorfismos. Em R4 existem exemplos de
estruturas diferenciáveis que não são difeomorfas à estrutura diferenciável
usual (R4 , A). A existência de estruturas diferenciáveis, distintas da usual,
em R4 foram apresentadas por S. Donaldson e M. Freedman em 1984, como
consequência de seus estudos em geometria e topologia das variedades compactas de dimensão 4. Os resultados podem ser encontrados em [4] e [5].
Na esfera S n , para n ≤ 6, quaisquer duas estruturas diferenciáveis são difeomorfas. Porém, na esfera S 7 , J. Milnor [14] apresentou a existência de
estruturas diferenciáveis que não são difeomorfas. Existem também espaços
localmente Euclidianos que não possuem nenhuma estrutura diferenciável.
M. Kervaire [9] exibiu exemplos em dimensão 10, e também exemplo de um
espaço topológico homeomorfo à esfera S 9 , mas que não são difeomorfos.
20
Exercícios
1. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k . Prove que toda
aplicação f : M → N de classe C r , 0 ≤ r ≤ k, é contínua.
2. Sejam M , N , P variedades diferenciáveis de classe C k e f : M → N ,
g : N → P aplicações de classe C r , 0 ≤ r ≤ k. Prove que g ◦ f : M → N
também é de classe C r .
3. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k e f : M → N uma
aplicação. Prove que:
(a) Se N1 é um aberto em N e f (M ) ⊂ N1 , então f : M → N é de classe
C r se, e somente se, f : M → N1 é de classe C r , 0 ≤ r ≤ k.
(b) A aplicação identidade Id : M → M é de classe C k . Mais geralmente,
se M1 é um aberto de M então a aplicação inclusão i : M1 → M é de
classe C k .
(c) Se f : M → N é de classe C r , 0 ≤ r ≤ k, então, para todo aberto
M1 ⊂ M , a restrição f |M1 : M1 → N é de classe C r .
4. Sejam M1 , M2 variedades diferenciáveis de classe C k e M = M1 × M2 seu
produto cartesiano. Prove que existe um único atlas maximal A de classe C k
em M tal que (M, A) é uma variedade diferenciável de classe C k satisfazendo
as seguintes propriedades:
(a) As projeções πi : M → Mi são de classe C k , i = 1, 2.
(b) Se N é uma variedade diferenciável de classe C k então uma aplicação
f : N → M é de classe C k se, e somente se, as aplicações coordenadas
πi ◦ f : N → Mi são de classe C k , i = 1, 2.
(c) A topologia induzida em M por A coincide com a topologia produto.
5. Seja M n uma variedade diferenciável de classe C k compacta. Prove que
não existe um difeomorfismo local de classe C k f : M → Rn .
6. Sejam M , N conjuntos, f : M → N uma aplicação bijetora e B um atlas
maximal de classe C k em N . Prove que existe um único atlas maximal A
de classe C k em M tal que f : (M, A) → (N, B) seja um difeomorfismo de
classe C k .
21
1.5
O espaço tangente
Nesta seção estudaremos o espaço tangente a uma variedade diferenciável
M . Começaremos com o caso dos modelos concretos, ou seja, o caso em que
M é uma superfície de Rn .
Dado uma superfície M m ⊂ Rn de classe C k , dizemos que v ∈ Rn é um
vetor tangente a M no ponto p ∈ M se existe uma curva λ : I → Rn , onde
I é um intervalo aberto de R contendo 0, diferenciável em t = 0, tal que
λ(I) ⊂ M , λ(0) = p e λ0 (0) = v. O conjunto de todos os vetores tangentes a
M em p é chamado de espaço tangente a M em p, e será denotado por Tp M .
Observação 1.5.1. Decorre diretamente da definição que se U é um aberto
de uma superfície M m ⊂ Rn , então Tp U = Tp M , para todo p ∈ U . Em
particular, se U é um aberto de Rn , então Tp U = Tp Rn = Rn , para todo
p ∈ U.
Lema 1.5.2. Sejam f : U → Rn uma aplicação de classe C k , onde U é
um aberto de Rm , e M r ⊂ U , N s ⊂ Rn superfícies de classe C k tais que
f (M ) ⊂ N . Então, df (p)(Tp M ) ⊂ Tf (p) N , para todo p ∈ M . Em particular,
se f : U → f (U ) é um difeomorfismo de classe C k e f (M ) = N , então
df (p)(Tp M ) = Tf (p) N , para todo p ∈ M .
Demonstração. Dados p ∈ M e v ∈ Tp M , seja λ : I → M uma curva
diferenciável em t = 0 tal que λ(0) = p e λ0 (0) = v. Seja α = f ◦ λ. Tem-se
α(0) = f (p) e α(I) ⊂ N . Além disso,
df (p) · v = df (λ(0)) · λ0 (0) = (f ◦ λ)0 (0) = α0 (0) ∈ Tf (p) N.
Logo, df (p)(Tp M ) ⊂ Tf (p) N , para todo p ∈ M . A última afirmação segue
da parte já provada aplicada a f −1 .
Proposição 1.5.3. Seja M m ⊂ Rn uma superfície de classe C k . Dado
p ∈ M , temos:
(a) Tp M é um subespaço vetorial m-dimensional de Rn .
(b) Seja f : U → Rn−m uma aplicação de classe C k , onde U é uma vizinhança de p em Rn , e 0 ∈ Rn−m um valor regular de f tais que
M ∩ U = f −1 (0). Então, Tp M = ker df (p).
(c) Se ϕ : U → M ∩ V é uma parametrização de M , com p = ϕ(q), então
Tp M = dϕ(q)(Rm ).
22
Demonstração. (a) Pelo Teorema 1.1.8, existem um aberto V de Rn , com p ∈
V , e um difeomorfismo de classe C k ϕ : V → ϕ(V ) tal que
ϕ(M ∩ V ) = ϕ(V ) ∩ Rm . Assim, pelo Lema 1.5.2, temos:
dϕ(p)(Tp M ) = dϕ(p)(Tp (M ∩ V )) = Tϕ(p) (ϕ(V ) ∩ Rm )
= Tϕ(p) Rm = Rm .
Portanto, Tp M = dϕ(p)−1 (Rm ), i.e., Tp M é um subespaço vetorial mdimensional de Rn .
(b) Dado v ∈ Tp M , seja λ : I → M uma curva diferenciavel em t = 0 tal
que λ(0) = p e λ0 (0) = v. Seja > 0 tal que λ(−, ) ⊂ M ∩ U . Assim,
f (λ(t)) = 0, para todo t ∈ (−, ). Portanto,
df (p) · v = df (λ(0)) · λ0 (0) = (f ◦ λ)0 (0) = 0,
i.e., v ∈ ker df (p). Isso implica que Tp M ⊂ ker df (p). Como ambos são
subespaços vetoriais m-dimensionais de Rn , segue a igualdade.
(c) Pelo Lema 1.5.2, temos dϕ(q)(Rm ) ⊂ Tp M . Como ambos são subespaços
vetoriais m-dimensionais de Rn , segue a igualdade.
Exemplo 1.5.4. Considere a esfera S n = {x ∈ Rn+1 : |x| = 1}. Dado um
ponto p ∈ S n , considere o subconjunto
Cp = {v ∈ Rn+1 : hv, pi = 0}.
Note que Cp é um subespaço vetorial n-dimensional de Rn+1 . Dado
v ∈ Tp S n , seja λ : I → S n uma curva diferenciável em t = 0 tal que
λ(0) = p e λ0 (0) = v. Derivando a identidade hλ(t), λ(t)i = 1, obtemos
2hλ0 (t), λ(t) = 0,
para todo t ∈ I. Assim, para t = 0, obtemos hv, pi = 0, i.e., v ∈ Cp . Logo,
Tp M ⊂ Cp . Como ambos são subespaços vetoriais m-dimensionais de Rn ,
segue que
Tp S n = {v ∈ Rn+1 : hv, pi = 0}.
Exemplo 1.5.5. Considere o grupo ortogonal O(n). Vimos no Exemplo
1.1.12 que a matriz indentidade I ∈ M (n) é valor regular da aplicação diferenciável f : M (n) → S(n) definida por
f (X) = XX t ,
23
para todo X ∈ M (n). Além disso, tem-se que O(n) = f −1 (I) e df (X) · H =
XH t + HX t , para toda matriz H ∈ M (n). Disso decorre, em particular, que
df (I) · H = H t + H.
Logo, df (I) · H = 0 se, e somente se, H é anti-simétrica. Portanto,
TI O(n) = ker df (I) = A(n).
Passaremos agora à noção de espaço tangente a uma variedade diferenciável M . Dados uma variedade diferenciável M n de classe C k e um ponto
p ∈ M , denotemos por Cp o conjunto de todas as curvas λ : I → M de classe
C k , com λ(0) = p, onde I ⊂ R é um intervalo aberto contendo a origem.
Dizemos que duas curvas λ, µ ∈ Cp são equivalentes, e escreveremos λ ∼ µ,
se existe uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , tal que
(ϕ ◦ λ)0 (0) = (ϕ ◦ µ)0 (0).
(1.1)
Note que, como λ e µ são contínuas e U ⊂ M é aberto, temos que as
compostas ϕ ◦ λ e ϕ ◦ µ estão definidas numa vizinhança da origem em R.
Observação 1.5.6. A definição dada em (1.1) independe da escolha da
carta. De fato, se (V, ψ) é outra carta local em M , com p ∈ V , segue da
regra da cadeia que:
(ψ ◦ λ)0 (0) = (ψ ◦ ϕ−1 ◦ ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · (ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · (ϕ ◦ µ)0 (0)
= (ψ ◦ µ)0 (0).
Além disso, é fácil ver que a relação ∼ em Cp , definida em (1.1), é uma
relação de equivalência em Cp .
Definição 1.5.7. O espaço tangente a M no ponto p, denotado por Tp M , é
definido por Tp M = Cp /∼.
Dados um ponto p ∈ M e uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U ,
definimos uma aplicação ϕ : Tp M → Rn pondo
ϕ([λ]) = (ϕ ◦ λ)0 (0),
24
para toda classe [λ] ∈ Tp M . Da Observação 1.5.6 segue que ϕ está bem
definida. Dados [λ], [µ] ∈ Tp M , temos:
ϕ([λ]) = ϕ([µ]) ⇔ (ϕ ◦ λ)0 (0) = (ϕ ◦ µ)0 (0)
⇔ λ∼µ
⇔ [λ] = [µ],
ou seja, ϕ é injetora. Além disso, dado v ∈ Rn , considere a curva
α : I → ϕ(U ) definida por α(t) = ϕ(p) + tv. Pondo λ = ϕ−1 ◦ α, temos:
ϕ([λ]) = (ϕ ◦ λ)0 (0) = (ϕ ◦ ϕ−1 ◦ α)0 (0) = α0 (0) = v,
ou seja, ϕ é sobrejetora. Assim, ϕ induz uma estrutura de espaço vetorial
em Tp M :
[λ] + [µ] = ϕ−1 (ϕ([λ]) + ϕ([µ])) ,
c · [λ] = ϕ−1 (c · ϕ([λ])) .
(1.2)
Observação 1.5.8. A estrutura de espaço vetorial induzida em Tp M , por
(1.2), independe da escolha da carta local. De fato, se (V, ψ) é outra carta
local de M , com p ∈ V , temos:
ψ([λ]) = (ψ ◦ λ)0 (0)
= (ψ ◦ ϕ−1 ◦ ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ϕ([λ]),
ou seja,
ψ = T ◦ ϕ,
onde T é o isomorfismo linear T = d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)). Portanto
ψ
−1
(ψ([λ]) + ψ([µ])) = (ϕ−1 ◦ T −1 )(T ◦ ϕ([λ]) + T ◦ ϕ([µ]))
= ϕ−1 (ϕ([λ]) + ϕ([µ])).
Analogamente tem-se
ψ
−1
(c · ψ([λ])) = ϕ−1 (c · ϕ([λ])),
para qualquer c ∈ R. Portanto, quaisquer duas cartas locais em M induzem
a mesma estrutura de espaço vetorial em Tp M .
Exercícios
1. Prove as afirmações feitas na Observação 1.5.1.
2. Prove que o espaço tangente a SL(n), na matriz identidade, é o subespaço
das matrizes de traço nulo.
25
1.6
A diferencial
Sejam M m , N n variedades diferenciáveis de classe C k e f : M → N uma
aplicação de classe C r , 1 ≤ r ≤ k. Dado um ponto p ∈ M , definimos uma
aplicação df (p) : Tp M → Tf (p) N , chamada a diferencial de f no ponto p,
pondo
df (p) · [λ] = [f ◦ λ],
(1.3)
para todo [λ] ∈ Tp M . Verifiquemos que df (p) é uma transformação linear
bem definida. De fato, considere cartas locais (U, ϕ) em M e (V, ψ) em N ,
com p ∈ U e f (U ) ⊂ V . Dado [λ] ∈ Tp M , temos:
ψ([f ◦ λ]) = (ψ ◦ f ◦ λ)0 (0)
= (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 ◦ ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ϕ([λ]),
ou seja,
df (p) · [λ] = ψ
−1
d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ϕ([λ]) .
(1.4)
A igualdade em (1.4) mostra que a classe [f ◦ λ] ∈ Tf (p) N depende apenas
da classe [λ], logo (1.3) está bem definido. Além disso, segue de (1.4) que o
diagrama
Tp M
ϕ
df (p)
Rm
/ Tf (p) N
d(ψ◦f ◦ϕ−1 )(ϕ(p))
ψ
(1.5)
/ Rn
é comutativo. Portanto, df (p) : Tp M → Tf (p) N é uma transformação linear.
Dados uma carta local (U, ϕ) em M n e um ponto p ∈ U , denotemos por
∂
∂
(p), . . . ,
(p)
∂x1
∂xn
a base de Tp M , induzida naturalmente pelo isomorfismo ϕ : Tp M → Rn . Ou
seja,
∂
(p) = ϕ−1 (ei ),
∂xi
26
para todo 1 ≤ i ≤ n, onde {e1 , . . . , en } denota a base canônica de Rn . Assim,
∂
(p) = [λi ],
∂xi
onde λi = ϕ−1 ◦ αi e αi : I → ϕ(U ) é uma curva de classe C k tal que
αi (0) = ϕ(p) e αi0 (0) = ei , para todo 1 ≤ i ≤ n.
Proposição 1.6.1. Sejam f : M m → N n uma aplicação de classe C k
e (U, ϕ), (V, ψ) cartas locais em M e N , respectivamente, com f (U ) ⊂
V
o da
n diferencial de f emop ∈ U , em relação às bases
n . Então, a matriz
∂
∂
∂xi (p) : 1 ≤ i ≤ m , ∂yj (f (p)) : 1 ≤ j ≤ n determinadas por ϕ e ψ, respectivamente, é a matriz jacobiana de ψ ◦ f ◦ ϕ−1 no ponto ϕ(p).
Demonstração. Da comutatividade do diagrama (1.5), temos:
df (p) ·
n
n
j=1
j=1
X
X
∂
∂
−1
(p) =
(f (p)) ⇔ df (p) · ϕ−1 (ei ) =
aij
aij ψ (ej )
∂xi
∂yj
−1
⇔ ψ df (p) · ϕ
n
X
(ei ) =
aij ej
j=1
⇔ d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ei =
n
X
aij ej ,
j=1
para todo 1 ≤ i ≤ m.
Teorema 1.6.2 (Regra da cadeia). Sejam M , N , P variedades diferenciáveis de classe C k , 1 ≤ k ≤ ∞, e f : M → N , g : N → P aplicações de classe
ck . Então, g ◦ f é de classe C k e, para todo p ∈ M , tem-se:
d(g ◦ f )(p) = dg(f (p)) ◦ df (p).
(1.6)
Demonstração. A primeira afirmação é o conteúdo do Exercício 2. Para a
segunda, seja [λ] ∈ Tp M . Assim,
d(g ◦ f )(p) · [λ] = [g ◦ f ◦ λ]
= [g ◦ (f ◦ λ)]
= dg(f (p)) · [f ◦ λ]
= dg(f (p)) · df (p) · [λ].
Como [λ] é arbitrário, a igualdade (1.6) está provada.
27
Corolário 1.6.3. Se f : M m → N n é um difeomorfismo de classe C k então,
para todo p ∈ M , a diferencial df (p) : Tp M → Tf (p) N é um isomorfismo
linear e
df (p)−1 = d(f −1 )(f (p)).
Demonstração. Basta aplicar o Teorema 1.6.2 à igualdade f −1 ◦ f = Id no
ponto p e à igualdade f ◦ f −1 = Id no ponto f (p) (cf. Exercício 1).
Exemplo 1.6.4. Sejam V um espaço vetorial real n-dimensional e ϕ : V →
Rn um isomorfismo linear (então (V, ϕ) é uma carta em V ). Dado um vetor
p ∈ V , afirmamos que o isomorfismo ϕ−1 ◦ ϕ : Tp V → V não depende de ϕ.
De fato, dado outro isomorfismo ψ : V → Rn , temos:
ψ([λ]) = (ψ ◦ λ)0 (0)
= (ψ ◦ ϕ−1 ◦ ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ϕ([λ]),
para todo [λ] ∈ Tp M . Como ψ ◦ ϕ−1 é linear, temos d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) =
ψ ◦ ϕ−1 . Assim,
ψ = ψ ◦ ϕ−1 ◦ ϕ,
logo ψ −1 ◦ ψ = ϕ−1 ◦ ϕ.
Observação 1.6.5. O Exemplo 1.6.4 permite-nos realizar a seguinte convenção: se V é um espaço vetorial real n-dimensional então, para todo p ∈ V ,
identificamos o espaço tangente Tp V com o próprio espaço vetorial V através
do isomorfismo
ϕ−1 ◦ ϕ : Tp V → V,
onde ϕ : V → Rn é um isomorfismo arbitrário. No caso particular em
que V = Rn , identificamos Tp Rn com Rn , para qualquer p ∈ Rn , através do isomorfismo Id : Tp Rn → Rn induzido pela carta (Rn , Id) em Rn .
Trabalharemos, então, como se Tp Rn = Rn , para todo p ∈ Rn , e como se
Id : Tp Rn → Rn fosse a aplicação identidade de Rn , para todo p ∈ Rn .
Lema 1.6.6. Sejam M n uma variedade diferenciável de classe C k e W ⊂ M
um aberto. Então, para todo p ∈ W , a diferencial da aplicação inclusão
i : W → M é um isomorfismo linear de Tp W sobre Tp M .
Demonstração. Seja (U, ϕ) uma carta local em W . Como W é aberto em
M , (U, ϕ) é também uma carta em M . A representação de i em relação
às cartas ϕ e ϕ é a aplicação identidade do aberto ϕ(U ) de Rn . Logo,
d(ϕ ◦ i ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) é a aplicação identidade de Rn . Sejam ϕW , ϕM os
28
isomorfismos induzidos pela carta ϕ nas variedades W e M , respectivamente.
Assim,
di(p) = (ϕM )−1 ◦ Id ◦ ϕW = (ϕM )−1 ◦ ϕW
Como ϕW e ϕM são isomorfismos, segue que di(p) também é um isomorfismo.
ϕ
/M
i
W
ϕ(U )
Tp W
ϕ
ϕW
/ ϕ(U )
Id
di(p)
Rn
/ Ti(p) M
Id
ϕM
/ Rn
Observação 1.6.7. O Lema 1.6.6 permite-nos adotar a seguinte convenção:
se W é um aberto de uma variedade diferenciável M , identificamos o espaço
tangente Tp W com o espaço tangente Tp M , através do isomorfismo di(p) :
Tp W → Ti(p) M .
Em virtude da identificação acima, temos também o seguinte resultado
sobre a diferencial da restrição de uma aplicação a um aberto.
Lema 1.6.8. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k , M1 ⊂ M ,
N1 ⊂ N subconjuntos abertos e f : M → N uma aplicação de classe C k tal
que f (M1 ) ⊂ N1 . Se f1 : M1 → N1 denota a restrição de f a M1 , então
df1 (p) = df (p), para todo p ∈ M1 .
Demonstração. Denotando por i : M1 → M e j : N1 → N as aplicações
de inclusão, temos que j ◦ f1 = f ◦ i. A conclusão segue então da regra da
cadeia, observando que, em virtude da identificação acima, di(p) é a aplicação
identidade de Tp M e dj(f (p)) é a aplicação identidade de Tf (p) N .
Lema 1.6.9. Seja (U, ϕ) uma carta local em uma variedade diferenciável
M n de classe C k . Então, para todo p ∈ U , a diferencial dϕ(p) coincide com
o isomorfismo induzido ϕp : Tp M → Rn .
Demonstração. Para calcular a diferencial dϕ(p), podemos considerar ϕ como uma aplicação com contra-domínio Rn , em vez de ϕ(U ) (cf. Lema 1.6.8).
Em relação às cartas ϕ em U e Id em Rn , a representação da aplicação ϕ é a
aplicação de inclusão i do aberto ϕ(U ) em Rn . Assim, di(ϕ(p)) é a aplicação
identidade de Rn .
U
ϕ
ϕ
ϕ(U )
i
/
/ Rn
Tp U
ϕU
Id
Rn
Rn
29
dϕ(p)
Id
/ Tϕ(p) Rn
/
Id
Rn
A diferencial de ϕ no ponto p é dada então por
−1
dϕ(p) = Id
◦ Id ◦ ϕU = Id ◦ ϕU .
Como identificamos Tp U = Tp M e Tϕ(p) Rn = Rn , então ϕU = ϕ e Id = Id,
logo dϕ(p) = ϕp .
Observação 1.6.10. A partir de agora abandonaremos a notação ϕ para
o isomorfismo induzido pela carta ϕ. Em virtude do Lema 1.6.9, usaremos
dϕ(p) em vez de ϕp .
Teorema 1.6.11 (Aplicação inversa). Seja f : M m → N n uma aplicação
de classe C k , 1 ≤ k ≤ ∞. Se p ∈ M é tal que df (p) : Tp M → Tf (p) N é um
isomorfismo, então existe um aberto W ⊂ M , com p ∈ W , tal que f (W ) é
aberto em N e f |W : W → f (W ) é um difeomorfismo de classe C k .
Demonstração. Sejam (U, ϕ), (V, ψ) cartas locais em M e N , respectivamente, com p ∈ U e f (U ) ⊂ V . A representação de f , fe = ψ ◦ f ◦ ϕ−1 , é de
classe C k e, pela regra da cadeia, temos:
dfe(ϕ(p)) = dψ(f (p)) ◦ df (p) ◦ dϕ(p)−1 .
Como dψ(f (p)) e dϕ(p) são isomorfismos, segue que dfe(ϕ(p)) é um isomorfismo de Rn . Assim, pelo Teorema da Aplicação Inversa em espaços
f ⊂ Rm , com ϕ(p) ∈ W
f ⊂ ϕ(U ), tal que
Euclidianos, existe um aberto W
f ) ⊂ ψ(V ) é aberto em Rn e fe| f : W
f → fe(W
f ) é um difeomorfismo
fe(W
W
f
de classe C k . Tome W = ϕ−1
(W ). Segue então que W é aberto em M ,
f ) é aberto em N e f |W : W → f (W ) é um
p ∈ W , f (W ) = ψ −1 fe(W
difeomorfismo de classe C k , pois
e
f |W = ψ −1 |fe(W
◦
f
|
f)
f ◦ (ϕ|W )
W
é uma composição de difeomorfismos de classe C k .
Corolário 1.6.12. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Se df (p) :
Tp M → Tf (p) N é um isomorfismo linear, para todo p ∈ M , então f é um
difeomorfismo local de classe C k . Em particular, se f é injetora, então f é
um difeomorfismo de classe C k sobre f (M ), que é um aberto de N .
Demonstração. Segue diretamente do Teorema 1.6.11.
Corolário 1.6.13. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . O conjunto
dos pontos p ∈ M tais que df (p) é um isomorfismo é aberto em M .
30
Demonstração. Se df (p) é um isomorfismo e se W é a vizinhança aberta
de p dada pelo Teorema 1.6.11, então df (q) é um isomorfismo, para todo
q ∈ W.
Exercícios
1. Dado uma variedade diferenciável M de classe C k , prove que a diferencial
da aplicação identidade Id : M → M , em qualquer ponto p ∈ M , é a
aplicação identidade em Tp M .
2. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k , 0 ≤ k ≤ ∞. Prove
que uma aplicação constante f : M → N é de classe C k . Se k ≥ 1, prove
que df (p) = 0, para todo p ∈ M .
3. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Prove que se df (p) = 0,
para todo p ∈ M e se M é conexa, então f é constante.
4. Seja f : M → R uma função de classe C k . Prove que se p ∈ M é um
ponto de máximo ou de mínimo local de f , então p é um ponto crítico de f .
5. Se M é uma variedade diferenciável compacta de classe C k , prove que
toda função f : M → R de classe C k tem, pelo menos, dois pontos críticos.
6. Se M n é uma variedade diferenciável compacta de classe C k , k ≥ 1,
prove que toda aplicação f : M → Rn de classe C k tem, pelo menos, um
ponto crítico, i.e., existe pelo menos um ponto p ∈ M tal que df (p) não é
sobrejetora.
31
Capítulo 2
Subvariedades
2.1
As formas locais
Nesta seção demonstraremos a versão para variedades diferenciáveis de
alguns resultados básicos do Cálculo, que descrevem a estrutura local das
aplicações diferenciáveis de posto máximo entre variedades diferenciáveis.
Definição 2.1.1. Sejam M m , N n variedades diferenciáveis de classe C k ,
1 ≤ k ≤ ∞, e f : M → N uma aplicação de classe C r , 1 ≤ r ≤ k. Dizemos
que f é uma imersão no ponto p ∈ M se a diferencial df (p) : Tp M → Tf (p) M
é injetora. Se f é uma imersão em todo ponto p ∈ M , diremos simplesmente
que f é uma imersão.
Note que se f é uma imersão em p ∈ M tem-se, necessariamente, m ≤ n.
Exemplo 2.1.2. Um exemplo simples de imersão é a aplicação inclusão
f : Rm → Rm × Rn dada por
f (p) = (p, 0),
para todo p ∈ Rm . Como f é linear, tem-se df (p) = f , para todo p ∈ Rm ,
logo f é uma imersão de classe C ∞ .
Exemplo 2.1.3. Um exemplo de imersão de classe C ∞ que não é injetora
é a curva f : R → R2 definida por f (t) = (t3 − t, t2 ), para todo t ∈ R. De
fato, tem-se f 0 (t) 6= (0, 0), para todo t ∈ R, e f (1) = f (−1). Um exemplo
de uma aplicação de classe C ∞ , injetora, que não é imersão é a ciclóide
g : R → R2 dada por g(t) = (t − sin t, 1 − cos t), para todo t ∈ R. Observe
que g 0 (t) = (0, 0) para todo t = 2kπ, k ∈ Z.
32
O teorema seguinte mostra que toda imersão de classe C k se comporta,
localmente, como a inclusão do Exemplo 2.1.2.
Teorema 2.1.4 (Forma local das imersões). Seja f : M m → N n uma aplicação de classe C k que é uma imersão num ponto p ∈ M . Então, existem uma
carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , e um difeomorfismo ξ : V → ϕ(U ) × W
de classe C k , onde V ⊂ N é um aberto contendo f (U ) e W ⊂ Rn−m é um
aberto contendo 0, tais que
(ξ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (x, 0) ∈ Rm × Rn−m ,
para todo x ∈ ϕ(U ).
Demonstração. Sejam (U, ϕ), (V, ψ) cartas locais em M e N , respectivamente, com p ∈ U e f (U ) ⊂ V . Como df (p) é injetora, segue da Proposição
1.6.1 que d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) também é injetora. Pela Forma local das imersões em espaços Euclidianos, restringindo os domínios, se necessário, existe
um difeomorfismo η : ψ(V ) → ϕ(U ) × W de classe C k , onde W ⊂ Rn−m é
um aberto contendo 0, tal que
η ◦ (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 ) : ϕ(U ) → ϕ(U ) × W
é a aplicação de inclusão, i.e.,
x ∈ ϕ(U ) 7→ (x, 0) ∈ Rm × Rn−m .
Agora, basta definir ξ = η ◦ ψ.
Observação 2.1.5. O difeomorfismo ξ = η ◦ ψ no Teorema 2.1.4 será uma
carta local em N se a classe de diferenciabilidade de N for exatamente igual
a k.
Corolário 2.1.6. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Então, o
conjunto dos pontos p ∈ M tais que f é uma imersão em p é aberto em M .
Demonstração. Com a notação do enunciado do Teorema 2.1.4, temos que se
f é uma imersão em p então f é uma imersão em q, para todo q ∈ U , pois ξ ◦
f ◦ ϕ−1 é uma imersão em ϕ(q), e as aplicações ϕ e ξ são difeomorfismos.
Corolário 2.1.7. Seja f : M m → N n uma imersão de classe C k . Então,
uma aplicação g : P r → M m é de classe C k se, e somente se, g é contínua e
a composta f ◦ g é de classe C k .
33
Demonstração. Dado um ponto p ∈ P , segue do Teorema 2.1.4 que existem uma carta local (U, ϕ) em M , com g(p) ∈ U , e um difeomorfismo
ξ : V → ξ(V ) de classe C k , com f (U ) ⊂ V , tais que ξ ◦ f ◦ ϕ−1 é dada
por
(ξ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (x, 0),
para todo x ∈ ϕ(U ). Como g é contínua, existe um aberto W ⊂ P contendo
p tal que g(W ) ⊂ U . Além disso, como f ◦ g é de classe C k , para toda carta
local (Z, ψ) em P , com p ∈ Z ⊂ W , tem-se que ξ ◦(f ◦g)◦ψ −1 : ψ(Z) → ξ(V )
é de classe C k . No entanto, como
ξ ◦ (f ◦ g) ◦ ψ −1 (x) = (ξ ◦ f ◦ ϕ−1 ) ◦ (ϕ ◦ g ◦ ψ −1 )(x)
= (ϕ ◦ g ◦ ψ −1 )(x), 0 ,
segue que ϕ ◦ g ◦ ψ −1 é de classe C k , logo g é de classe C k . A recíproca segue
diretamente da regra da cadeia (cf. Exercício 2).
Corolário 2.1.8. Sejam N uma variedade diferenciável de classe C k , (M, τ )
um espaço topológico e f : M → N uma aplicação contínua. Então existe,
no máximo, uma estrutura de variedade diferenciável de classe C k em M
que torna f uma imersão de classe C k tal que τA = τ .
Demonstração. Suponha que existam dois atlas maximais de classe C k em
M , A e B, tais que f : (M, A) → N e f : (M, B) → N sejam imersões de
classe C k . Como τA = τB , a aplicação identidade Id : (M, A) → (M, B) é
contínua. Como f ◦ Id = f , segue do Corolário 2.1.7 que Id é de classe C k .
Analogamente tem-se que Id : (M, B) → (M, A) é de classe C k . Portanto,
Id : (M, A) → (M, B) é um difeomorfismo de classe C k e, pelo Corolário
1.4.6, segue que A = B.
Definição 2.1.9. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
1 ≤ k ≤ ∞. Dizemos que uma aplicação f : M → N é um mergulho de
classe C r , 1 ≤ r ≤ k, se f é uma imersão de classe C r e se a aplicação
f : M → f (M ) é um homeomorfismo, onde f (M ) é munido da topologia
induzida de N .
Nem toda imersão injetora é um mergulho (cf. Exercício 1). No entanto,
temos um resultado local.
Proposição 2.1.10. Seja f : M m → N n uma imersão de classe C k . Então, todo ponto p ∈ M possui uma vizinhança aberta U ⊂ M tal que
f |U : U → N é um mergulho de classe C k .
34
Demonstração. Basta observar que a inclusão
Rm ' Rm × {0}n−m → Rn ,
assim como qualquer restrição dessa inclusão a abertos de Rm e Rn , é um
mergulho e que, pelo Teorema 2.1.4, toda imersão é localmente representada
em cartas apropriadas por uma inclusão como essa.
Definição 2.1.11. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
1 ≤ k ≤ ∞, e f : M → N uma aplicação de classe C r , 1 ≤ r ≤ k. Dizemos
que f é uma submersão no ponto p ∈ M se a diferencial
df (p) : Tp M → Tf (p) M é sobrejetora. Se f é uma submersão em todo
ponto p ∈ M , diremos simplesmente que f é uma submersão.
Exemplo 2.1.12. Uma função f : M → R de classe C k é uma submersão
de classe C k em p ∈ M se, e somente se, df (p) 6= 0. De fato, isso segue do
fato de que um funcional linear é sobrejetor ou é nulo.
Exemplo 2.1.13. Dado uma decomposição em soma direta do tipo
Rm+n = Rm ⊕ Rn , seja π : Rm+n → Rm a projeção sobre o primeiro fator, i.e., π(x, y) = x. Como π é linear, tem-se dπ(x, y) = π, para todo
(x, y) ∈ Rm+n , logo π é uma submersão de classe C ∞ .
O teorema seguinte mostra que o Exemplo 2.1.13 é, em cartas locais
apropriadas, o caso mais geral de uma submersão.
Teorema 2.1.14 (Forma local das submersões). Seja f : M m → N n uma
aplicação de classe C k que é uma submersão num ponto p ∈ M . Então,
dado uma carta local (V, ψ) em N , com f (p) ∈ V , existe um difeomorfismo
ξ : U → ψ(V ) × W de classe C k , onde U ⊂ M é um aberto contendo p, com
f (U ) ⊂ V , e W ⊂ Rm−n é um aberto, tais que
(ψ ◦ f ◦ ξ −1 )(x, y) = x ∈ Rn ,
para todo (x, y) ∈ ψ(V ) × W ⊂ Rn × Rm−n .
Demonstração. Sejam (U, ϕ), (V, ψ) cartas locais em M e N , respectivamente, com p ∈ U e f (U ) ⊂ V . Como df (p) é sobrejetora, segue da Proposição 1.6.1 que d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) também o é. Assim, pela Forma local
das submersões em espaços Euclidianos, restringindo os domínios, se necessário, existe um difeomorfismo η : ϕ(U ) → ψ(V ) × W de classe C k , onde
W ⊂ Rm−n é um aberto, tal que (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 ) ◦ η −1 : ψ(V ) × W → ψ(V ) é
a aplicação projeção sobre o primeiro fator, i.e.,
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 ) ◦ η −1 (x, y) = x,
para todo (x, y) ∈ ψ(V ) × W . Assim, basta considerar ξ = η ◦ ϕ.
35
Corolário 2.1.15. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Então, o
conjunto dos pontos p ∈ M tais que f é submersão em p é aberto em M .
Demonstração. Com a notação do enunciado do Teorema 2.1.14, temos que
se f é uma submersão em p então f é uma submersão em q, para todo
q ∈ U , pois ψ ◦ f ◦ ξ −1 é submersão em ξ(q), e as aplicações ξ e ψ são
difeomorfismos.
Corolário 2.1.16. Seja π : M m → N n uma submersão sobrejetora de classe
C k . Então, uma aplicação f : N n → P r é de classe C k se, e somente se,
f ◦ π é de classe C k .
Demonstração. Dado um ponto q ∈ N , seja p ∈ M tal que π(p) = q. Como
π é uma submersão, segue do Teorema 2.1.14 que existem uma carta local
(V, ψ) em N e um difeomorfismo ξ : U → ψ(V ) × W de classe C k , com
π(U ) ⊂ V , tais que
(ψ ◦ π ◦ ξ −1 )(x, y) = x,
para todo (x, y) ∈ ψ(V ) × W . Além disso, como f ◦ π é de classe C k ,
dado uma carta local (Z, ϕ) em P , com f (q) ∈ Z, restringindo U e V , se
necessário, temos que f (V ) ⊂ Z e
ϕ ◦ (f ◦ π) ◦ ξ −1 : ψ(V ) × W → ψ(Z)
é de classe C k . No entanto, como
ϕ ◦ (f ◦ π) ◦ ξ −1 (x, y) = (ϕ ◦ f ◦ ψ −1 ) ◦ (ψ ◦ π ◦ ξ −1 )(x, y)
= (ϕ ◦ f ◦ ψ −1 )(x),
segue que ϕ ◦ f ◦ ψ −1 é de classe C k , logo f é de classe C k . A recíproca segue
diretamente da regra da cadeia.
Definição 2.1.17. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
1 ≤ k ≤ ∞, e f : M → N uma aplicação de classe C r , 1 ≤ r ≤ k. O
posto de f num ponto p ∈ M , denotado por rankf (p), é definido como sendo
o posto da transformação linear df (p), i.e., a dimensão da imagem de df (p).
Assim, o posto de uma aplicação f : M m → N n de classe C r não pode
ser maior do que m nem maior do que n. Se f é uma imersão, então f tem
posto igual a m em todos os pontos p ∈ M . Por outro lado, se f é uma
submersão, então f tem posto igual a n em qualquer ponto p ∈ M . Por esse
motivo é que imersões e submersões são chamadas de aplicações de posto
máximo.
36
Observação 2.1.18. Se f : M m → N n é uma aplicação de classe C k , então
o posto de f é uma função semi-contínua inferiormente. Ou seja, se f tem
posto r num ponto p ∈ M , existe uma vizinhança aberta U de p em M tal
que em todo ponto de U o posto de f é maior ou igual a r. De fato, existe
um determinante menor r ×r da matriz jacobiana df (p) que é diferente de 0.
Por continuidade, este mesmo determinante menor é não-nulo em todos os
pontos de uma vizinhança U de p. Nestes pontos, o posto de f é, portanto,
pelo menos igual a r.
No teorema seguinte admitiremos, por simplicidade, que a classe de diferenciabilidade das variedades M e N seja a mesma da aplicação f .
Teorema 2.1.19 (Teorema do posto). Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k e f : M m → N n uma aplicação de classe C k . Suponha
que f tenha posto igual a r ≤ min{m, n} em todos os pontos de M . Então, dado um ponto p ∈ M , existem cartas locais (U, ϕ), (V, ψ) em M e N ,
respectivamente, com p ∈ U e f (U ) ⊂ V , tais que
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (xr , 0) ∈ Rr × Rn−r ,
para todo x = (xr , xm−r ) ∈ ϕ(U ).
Demonstração. Sejam (U1 , ϕ1 ), (V1 , ψ1 ) cartas locais em M e N , respectivamente, com p ∈ U1 e f (U1 ) ⊂ V1 . Disso decorre que a representação de
f , ψ1 ◦ f ◦ ϕ−1
1 , tem posto r em todos os pontos do aberto ϕ1 (U1 ). Pelo
Teorema do posto em espaços Euclidianos, existem abertos W, W 0 ⊂ Rm ,
Z, Z 0 ⊂ Rn e difeomorfismos α : W → W 0 , β : Z → Z 0 de classe C k , com
ϕ1 (p) ∈ W ⊂ ϕ1 (U1 ) e (ψ1 ◦ f ◦ ϕ−1
1 )(W ) ⊂ Z, tais que
−1
(x) = (xr , 0) ∈ Rr × Rn−r ,
β ◦ (ψ1 ◦ f ◦ ϕ−1
1 )◦α
para todo x ∈ W 0 . Para completar a prova, basta tomar U = ϕ−1
1 (W ),
ϕ = α ◦ ϕ1 |U , V = ψ1−1 (ψ1 (V1 ) ∩ Z), ψ = β ◦ ψ1 |V e observar que
−1
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = β ◦ (ψ1 ◦ f ◦ ϕ−1
(x),
1 )◦α
para todo x ∈ W 0 = ϕ(U ).
Proposição 2.1.20. Seja f : M m → N n uma aplicação de classe C k . Para
cada r = 0, 1, . . . , s = min{m, n}, denotemos por Ar o interior do subconjunto de M no qual f tem posto igual a r. Então, o conjunto
A = A0 ∪ . . . ∪ As
é aberto e denso em M .
37
Demonstração. Dado um aberto V ⊂ M , denotemos por s o valor máximo
do posto de f em V . Como
p 7→ rankf (p)
é uma função semi-contínua inferiormente, se p ∈ V é tal que rankf (p) = s,
então existe um aberto U ⊂ V contendo p tal que rankf (q) = s, para todo
q ∈ U . Assim, U ⊂ V ∩ As ⊂ V ∩ A, logo A é denso em M .
Exercícios
1. Considere a curva f : (−1, +∞) → R2 dada por f (t) = (t3 − t, t2 ). Verifique que f é uma imersão de classe C ∞ , injetora, mas não é um mergulho.
2. Encontrar uma imersão f : R → R2 de classe C ∞ , e uma função descontínua g : R → R tais que f ◦ g seja de classe C ∞ .
3. Seja f : M → N uma imersão de classe C k injetora. Prove que se M é
compacta então f é um mergulho de classe C k .
4. Seja f : M m → N n uma aplicação de classe C k , 1 ≤ k ≤ ∞. Prove que:
(a) Se f é injetora, então m ≤ n e o conjunto dos pontos nos quais f tem
posto m é aberto e denso em M .
(b) Se f é aberta, então m ≥ n e o conjunto dos pontos nos quais f tem
posto n é aberto e denso em M .
5. Seja f : M → N uma imersão de classe C k . Prove que, para todo p ∈ M ,
existem abertos U ⊂ M e V ⊂ N , com p ∈ U e f (U ) ⊂ V , de modo que a
aplicação f |U : U → V admite uma inversa à esquerda g : V → U de classe
Ck.
6. Sejam M , N , P variedades diferenciáveis de classe C k , π : M → N uma
submersão sobrejetora de classe C k , f : M → P uma aplicação de classe C k
e f : N → P uma aplicação tal que f ◦ π = f . Prove que f é de classe C k .
7. Prove que uma submersão de classe C k f : M → N , com M compacta e
N conexa, é sobrejetora.
8. Prove que a aplicação quociente π : Rn+1 \{0} → RP n é uma submersão
de classe C ∞ .
9. Seja M n uma variedade diferenciável de classe C k compacta. Prove que
não existe uma submersão f : M → Rk , para qualquer k ≥ 1.
38
10. Sejam X um espaço topológico, Y um conjunto e π : X → Y uma
aplicação.
(a) Prove que a coleção τ = {U ⊂ Y : π −1 (U ) é aberto em X} é uma
topologia1 em Y .
(b) Prove que se Y é munido da topologia co-induzida por π então
π : X → Y é contínua.
(c) Assuma que Y é munido da topologia co-induzida por π. Sejam Z
um espaço topológico e f : X → Z, f : Y → Z aplicações tais que o
diagrama
X
π
f
$/
Y
f
Z
comuta. Prove que f é contínua se, e somente se, f é contínua.
11. Sejam X, Y espaço topológicos e π : X → Y uma aplicação. Prove que:
(a) Se π é contínua, aberta e sobrejetora então π é uma aplicação quociente.
(b) Se π é contínua, fechada e sobrejetora então π é uma aplicação quociente.
(c) Se X é compacto, Y é Hausdorff e π é contínua e sobrejetora então π
é uma aplicação quociente.
12. O objetivo deste exercício é provar que toda submersão é uma aplicação
aberta.
e Y , Ye espaços topológicos, ϕ : X → X,
e ψ : Y → Ye
(a) Sejam X, X,
homeomorfismos e f : X → Y uma aplicação. Prove que se ψ ◦ f ◦ ϕ−1
é uma aplicação aberta então f também é uma aplicação aberta.
(b) Seja X, Y espaços topológicos e f : X → Y uma aplicação. Suponha
que para todo x ∈ X existem abertos U ⊂ X e V ⊂ Y , com x ∈ U
e f (U ) ⊂ V , de modo que f |U : U → V seja uma aplicação aberta.
Prove que f é uma aplicação aberta.
1
A topologia τ é chamada a topologia co-induzida por π em Y ; quando Y é munido da
topologia co-induzida por π diz-se também que π é uma aplicação quociente.
39
(c) Prove que a projeção (x1 , . . . , xm ) ∈ Rm 7→ (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn é uma
aplicação aberta.
(d) Use o Teorema 2.1.14 e os itens anteriores para concluir que toda submersão é uma aplicação aberta.
13. Prove que toda submersão sobrejetora é uma aplicação quociente.
40
2.2
Subvariedades
Nesta seção introduziremos o conceito de subvariedade. Em linhas gerais,
uma subvariedade m-dimensional de uma variedade diferenciável N n é um
subconjunto M de N tal que, em cartas locais apropriadas, a inclusão de M
em N é representada pela inclusão de Rm em Rn ,
(x1 , . . . , xm ) ∈ Rm 7→ (x1 , . . . , xm , 0, . . . , 0) ∈ Rm ⊕ Rn−m ,
ou seja, a relação entre Rm e Rn serve como um modelo para a relação
existente entre uma subvariedade e uma variedade.
Definição 2.2.1. Seja N n uma variedade diferenciáve de classe C k . Dizemos
que um subconjunto M ⊂ N é uma subvariedade de classe C k e dimensão
m de N , com 0 ≤ m ≤ n, se para todo p ∈ M , existe uma carta local (U, ϕ)
em N , com p ∈ U , tal que
ϕ(U ∩ M ) = ϕ(U ) ∩ Rm .
(2.1)
Exemplo 2.2.2. Toda superfície M m de classe C k de Rn , no sentido da
Seção 1.1, é também uma subvariedade de classe C k no sentido da Definição
2.2.1. Isso decorre diretamente do Teorema 1.1.8, item (d).
É de se esperar que uma subvariedade M m de uma variedade diferenciável
de classe C k seja também em si uma variedade diferenciável. De fato,
dado um ponto p ∈ M , seja (U, ϕ) uma carta em N , com p ∈ U , satisfazendo
(2.1). Definimos uma aplicação
Nn
ϕ : U ∩ M → ϕ(U ) ∩ Rm
(2.2)
pondo ϕ = ϕ|U ∩M . Com a notação acima, podemos enunciar o seguinte
Teorema 2.2.3. O conjunto A formado por todas as aplicações ϕ dadas em
(2.2) é um atlas de classe C k em M , cuja topologia induzida em M coincide
com a topologia induzida pela variedade N . Além disso, a aplicação inclusão
i : M → N é um mergulho de classe C k .
Demonstração. Observe inicialmente que ϕ é bijetora e seu contra-domínio
ϕ(U ) ∩ Rm é aberto em Rm , logo (U ∩ M, ϕ) é uma carta local em M . Se
(U, ϕ), (V, ψ) são cartas em N , com p ∈ U ∩ V , satisfazendo (2.1), então os
conjuntos
ϕ ((U ∩ M ) ∩ (V ∩ M )) = ϕ ((U ∩ V ) ∩ (V ∩ M ))
= ϕ(U ∩ V ) ∩ Rm
41
e
ψ ((U ∩ M ) ∩ (V ∩ M )) = ψ ((U ∩ V ) ∩ (U ∩ M ))
= ψ(U ∩ V ) ∩ Rm
são abertos em Rm , pois ϕ(U ∩ V ) e ψ(U ∩ V ) são abertos em Rn . Além
disso, a aplicação de transição
ψ ◦ ϕ−1 : ϕ(U ∩ V ) ∩ Rm → ψ(U ∩ V ) ∩ Rm
é uma restrição da aplicação de transição ψ ◦ ϕ−1 e é, portanto, um difeomorfismo de classe C k . Portanto, o conjunto A, formado por todas tais
aplicações ϕ, é um atlas de classe C k em M . Afirmamos que a topologia τA ,
induzida em M pelo atlas A, coincide com a topologia τ , induzida em M
pela variedade N . De fato, dado uma carta (U, ϕ) em N , satisfazendo (2.1)
então, relativamente a τ , o conjunto U ∩ M é aberto em M e a carta ϕ é
um homeomorfismo, pois é restrição de um homeomorfismo. Logo a topologia τ faz com que os elementos de A sejam homeomorfismos definidos em
abertos de M , o que mostra que as topologias τ e τA coincidem. Em relação
à aplicação inclusão i : M → N , se (U, ϕ) é uma carta em N satisfazendo
(2.1), temos que i(U ∩ M ) ⊂ U e a representação ei : ϕ(U ) ∩ Rm → ϕ(U ) de
i em relação às cartas ϕ e ϕ é simplesmente a inclusão do aberto ϕ(U ) ∩ Rm
de Rm no aberto ϕ(U ) de Rn . Logo, ei é uma imersão de classe C k e, portanto, i|U ∩M = ϕ−1 ◦ ei ◦ ϕ é uma imersão de classe C k , já que ϕ e ϕ são
difeomorfismos de classe C k . Como U ∩ M é uma vizinhança aberta de p
em M e p é um ponto arbitrário de M , segue que i é uma imersão de classe
C k . Finalmente, para mostrar que i é um homeomorfismo sobre sua imagem,
basta provar que a aplicação identidade Id : M → M é um homeomorfismo,
onde o domínio de Id é munido da topologia τA e o contra-domínio de Id é
munido da topologia τ . Como ambas as topologias coincidem, segue que Id
é de fato um homeomorfismo.
O corolário seguinte é conhecido como o Teorema da mudança de contradomínio.
Corolário 2.2.4. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
f : M → N uma aplicação e P ⊂ N uma subvariedade de classe C k tal
que f (M ) ⊂ P . Seja fe : M → P a aplicação que difere de f apenas no
contra-domínio. Então, f é de classe C k se, e somente se, fe é de classe C k .
42
Demonstração. Denotando por i : P → N a aplicação inclusão, temos que
f = i ◦ fe, i.e., o diagrama abaixo
f
: NO
i
M
fe
/P
comuta. Suponha que f seja de classe C k . Como i : P → N é um mergulho
segue, em particular, que i : P → i(P ) é um homeomorfismo. Logo, como
f = i ◦ fe e f é contínua, segue que fe é contínua. Portanto, pelo Corolário
2.1.7, segue que fe é de classe C k . A recíproca segue diretamente da regra
da cadeia.
Exemplo 2.2.5. Seja W um aberto de uma variedade diferenciável M n de
classe C k . Se (U, ϕ) é uma carta local em M , com U ⊂ W , temos:
ϕ(U ∩ W ) = ϕ(U ) = ϕ(U ) ∩ Rn .
Isso mostra que W é uma subvariedade de M , de classe C k e dimensão n.
A carta ϕ em W , correspondente à carta (U, ϕ) de M , é igual a ϕ. Logo,
a estrutura diferenciável induzida por M na subvariedade W , no sentido do
Teorema 2.2.3, é constituída pelas cartas de M com domínio contido em W ,
ou seja, coincide com a estrutura diferenciável que M induz no subconjunto
aberto W .
Exemplo 2.2.6. Seja W um subespaço de um espaço vetorial real V ndimensional. Seja ϕ : V → Rn um isomorfismo tal que ϕ(W ) = Rm , onde
m = dim(W ). Então (V, ϕ) é uma carta local em V que satisfaz (2.1), logo
W é uma subvariedade de V . A carta ϕ = ϕ|W : W → Rm em W , associada
a ϕ, é um isomorfismo e, portanto, a estrutura diferenciável induzida em W
por V coincide com a estrutura diferenciável usual do espaço vetorial W .
O teorema seguinte fornece uma condição necessária e suficiente para
que a imagem de uma variedade M por uma imersão f : M → N seja uma
subvariedade em N .
Teorema 2.2.7. Seja f : M m → N n uma imersão de classe C k . Então,
f (M ) é uma subvariedade de classe C k de N se, e somente se,
f : M → f (M ) é uma aplicação aberta em relação à topologia induzida
em f (M ).
43
Demonstração. Se f (M ) é uma subvariedade de classe C k de N então, pelo
Corolário 2.2.4, f : M → f (M ) é uma imersão de classe C k e, portanto,
um difeomorfismo local de classe C k . Em particular, f : M → f (M ) é uma
aplicação aberta. Reciprocamente, pelo Teorema 2.1.4, para cada p ∈ M ,
existem uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , e um difeomorfismo de
classe C k ψ : V → ϕ(U ) × W tal que
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (x, 0),
para todo x ∈ ϕ(U ). Segue então que
ψ(f (U )) = ϕ(U ) ⊂ Rm ⊂ Rn .
Como f : M → f (M ) é aberta, temos que f (U ) é um aberto relativo a f (M )
e, portanto, existe um aberto Ve em N tal que f (U ) = Ve ∩ f (M ). Podemos
supor então, sem perda de generalidade, que Ve = V . Assim,
ψ(V ∩ f (M )) = ψ(f (U ))
= (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(U ))
= ψ(V ) ∩ Rm .
Portanto, f (M ) é uma subvariedade de classe C k de N .
Corolário 2.2.8. Se f : M m → N n é um mergulho de classe C k , então f (M )
é uma subvariedade de classe C k de N e f : M → f (M ) é um difeomorfismo
de classe C k .
Demonstração. Do Teorema 2.2.7, temos que f (M ) é uma subvariedade de
classe C k de N e f : M → f (M ) é um homeomorfismo de classe C k . Resta
provar que f −1 é de classe C k . Dado p ∈ M , seja ψ : V ∩f (M ) → ψ(V )∩Rm
a carta em f (M ) correspondente à carta (V, ψ) em N , como no Teorema
2.2.7. Como
f (U ) = V ∩ f (M ),
faz sentido considerar a representação de f −1 : f (M ) → M em relação às
cartas ψ e ϕ. Essa representação é igual à aplicação identidade do aberto
ϕ(U ). Assim, f −1 é de classe C k na vizinhança aberta V ∩ f (M ) de f (p)
em f (M ). Como p ∈ M é arbitrário, segue que f −1 : f (M ) → M é de classe
Ck.
Corolário 2.2.9. Seja N uma variedade diferenciável de classe C k . Um
subconjunto M ⊂ N é uma subvariedade de classe C k se, e somente se, for
imagem de um mergulho de classe C k .
44
Demonstração. Pelo Corolário 2.2.8, a imagem de um mergulho de classe
C k é uma subvariedade de classe C k . Reciprocamente, toda subvariedade de
classe C k é imagem de sua própria inclusão que, pelo Teorema 2.2.3, é um
mergulho de classe C k .
Corolário 2.2.10. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Então o
gráfico de f é uma subvariedade de classe C k de M × N .
Demonstração. Seja φ : M → M × N a aplicação definida por φ(p) =
(p, f (p)), para todo p ∈ M . Então, φ é de classe C k pois suas coordenadas
são de classe C k . Além disso, a primeira projeção π : M × N → M é uma
inversa à esquerda de classe C k para φ. Assim, em virtude do Exercício 1, φ
é um mergulho de classe C k . Portanto, pelo Corolário 2.2.9, Im(φ) = Gr(f )
é uma subvariedade de classe C k de M × N .
Relacionaremos agora o espaço tangente a uma subvariedade com o espaço tangente da variedade ambiente. Sejam N uma variedade diferenciável
de classe C k e M ⊂ N uma subvariedade de classe C k . Denotando por
i : M → N a aplicação inclusão então, para todo p ∈ M , identificamos o
espaço tangente Tp M com a imagem da diferencial di(p) através do isomorfismo di(p) : Tp M → Im(di(p)). Note que, como i é um mergulho e, em
particular, uma imersão, temos que di(p) é injetora e é, portanto, um isomorfismo sobre sua imagem. Trabalharemos então como se Tp M fosse um
subespaço de Tp N e como se di(p) : Tp M → Tp N fosse a aplicação inclusão
de Tp M em Tp N .
Exemplo 2.2.11. Sejam V um espaço vetorial real n-dimensional e W ⊂ V
um subespaço. Então, como vimos no Exemplo 2.2.6, W é uma subvariedade
de V . A aplicação inclusão i : W → V é linear e, portanto, para todo p ∈ W ,
temos di(p) = i. Assim,
Tp W = di(p)(Tp W ) = W ⊂ Tp V = V.
Proposição 2.2.12. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
f : M → N uma aplicação de classe C k , P ⊂ M e Q ⊂ N subvariedades
de classe C k tais que f (P ) ⊂ Q. Denote por fe : P → Q a restrição de f às
subvariedades. Então fe é de classe C k e dfe(p) : Tp P → Tf (p) Q é a restrição
de df (p) : Tp M → Tf (p) N a Tp P , para todo p ∈ P .
Demonstração. Denotando por i : P → M e j : Q → N as aplicações de
inclusão, temos f ◦ i = j ◦ fe. Como f e i são de classe C k , segue que f ◦ i é
de classe C k . Além disso, como f ◦ i e fe diferem apenas pelo contra-domínio,
45
segue do Corolário 2.2.4 que fe é de classe C k . A relação entre as diferenciais
dfe(p) e df (p) é obtida diferenciando a igualdade f ◦ i = j ◦ fe num ponto
p ∈ P usando a regra da cadeia e observando que, em relação à identificação
acima, di(p) e dj(f (p)) são aplicações de inclusão.
Corolário 2.2.13. Seja f : M → N um mergulho de classe C k . Então,
Tf (p) f (M ) = Im(df (p)),
para todo p ∈ M .
Demonstração. Seja fe : M → f (M ) a aplicação que difere de f apenas
pelo contra-domínio. Então, fe é um difeomorfismo de classe C k e, portanto,
dfe(p) é um isomorfismo. Em particular, a imagem de dfe(p) coincide com
Tf (p) f (M ). Como df (p) e dfe(p) só diferem pelo contra-domínio, temos que
df (p) e dfe(p) possuem a mesma imagem.
O teorema seguinte nos dá um método de obter subvariedades que são
imagens inversas de valores regulares.
Teorema 2.2.14. Sejam f : M m → N n uma aplicação de classe C k e c ∈ N
um valor regular de f . Então, f −1 (c) é uma subvariedade de classe C k de
M , com dimensão igual a m − n. Além disso, para todo p ∈ f −1 (c), tem-se:
Tp f −1 (c) = ker(df (p)).
Demonstração. Dado p ∈ f −1 (c), seja (V, ψ) uma carta em N , com c ∈ V e
ψ(c) = 0. Pelo Teorema 2.1.14, existe uma carta (U, ϕ) em M , com p ∈ U e
f (U ) ⊂ V , tal que
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x1 , . . . , xm ) = (x1 , . . . , xn ),
(2.3)
para todo (x1 , . . . , xm ) ∈ ϕ(U ). Temos:
ϕ(U ∩ f −1 (c)) = (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )−1 (0) = ϕ(U ) ∩ {0}n × Rm−n .
Seja T : Rm → Rm um isomorfismo qualquer que transforma o subespaço
{0}n × Rm−n sobre Rm−n ⊂ Rm . Então, T ◦ ϕ : U → T (ϕ(U )) é uma carta
em M e
(T ◦ ϕ)(U ∩ f −1 (c)) = T ϕ(U ) ∩ ({0}n × Rm−n )
= T (ϕ(U )) ∩ Rm−n ,
46
ou seja, T ◦ ϕ é uma carta em M satisfazendo (2.1). Além disso, como ϕ é
um difeomorfismo que transforma U ∩ f −1 (c) sobre ϕ(U ) ∩ ({0}n × Rm−n ),
temos que dϕ(p) transforma o espaço tangente a U ∩ f −1 (c) no ponto p, que
é igual a Tp f −1 (c), sobre o espaço tangente a ϕ(U )∩({0}n ×Rm−n ) no ponto
ϕ(p), que é igual a {0}n × Rm−n . Ou seja,
dϕ(p) Tp f −1 (c) = {0}n × Rm−n .
(2.4)
Diferenciando (2.3) no ponto ϕ(p), obtemos:
dψ(f (p)) ◦ df (p) ◦ dϕ(p)−1 (v1 , . . . , vm ) = (v1 , . . . , vn ),
para todo (v1 , . . . , vm ) ∈ Rm . Assim,
ker dψ(f (p)) ◦ df (p) ◦ dϕ(p)−1 = {0}n × Rm−n .
Como dψ(f (p)) e dϕ(p) são isomorfismos, temos:
ker dψ(f (p)) ◦ df (p) ◦ dϕ(p)−1 = ker df (p) ◦ dϕ(p)−1
= dϕ(p) (ker(df (p))) .
(2.5)
(2.6)
De (2.5) e (2.6), obtemos
dϕ(p) (ker(df (p))) = {0}n × Rm−n .
Comparando com (2.4), obtemos então
dϕ(p) Tp f −1 (c) = dϕ(p) (ker(df (p))) ,
o que implica que Tp f −1 (c) = ker(df (p)).
O teorema seguinte é uma aplicação do teorema do posto, e é um método
útil para encontrar exemplos de subvariedades.
Teorema 2.2.15. Sejam M m , N n variedades diferenciáveis de classe C k
e f : M → N uma aplicação de classe C k com posto constante e igual a
r ≤ min{m, n} em todos os pontos de M . Então, para cada q ∈ f (M ),
tem-se que f −1 (q) é uma subvariedade fechada de M de dimensão m − r.
Demonstração. O conjunto f −1 (q) é fechado em M pois é a imagem inversa
do fechado {q} em N por uma aplicação contínua. Dado p ∈ f −1 (q), segue do
Teorema 2.1.19 que existem cartas (U, ϕ), (V, ψ) em M e N , respectivamente,
com p ∈ U , ϕ(p) = 0, f (U ) ⊂ V e ψ(q) = 0, tais que
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (xr , 0) ∈ Rr × Rn−r ,
47
para todo x = (xr , xm−r ) ∈ ϕ(U ). Disso decorre que os únicos pontos de U
que são transformados em q por f são aqueles cujas r primeiras coordenadas
são zero, i.e.,
f −1 (q) ∩ U = ϕ−1 (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )−1 (0)
= ϕ−1 {x ∈ ϕ(U ) : x1 = . . . = xr = 0} .
Ou seja,
ϕ(U ∩ f −1 (q)) = ϕ(U ) ∩ Rm−r .
Portanto, f −1 (q) é uma subvariedade de M de dimensão m − r.
Corolário 2.2.16. Se n ≤ m e se o posto de f é constante e igual a n em
todo ponto de f −1 (q), então f −1 (q) é uma subvariedade fechada de M .
Exercícios
1. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Se f possui uma inversa à
esquerda, de classe C 1 , prove que f é um mergulho de classe C k .
2. Sejam f : M → N um difeomorfismo de classe C k e P ⊂ M uma subvariedade de classe C k . Prove que f (P ) é uma subvariedade de classe C k de N ,
f |P : P → f (P ) é um difeomorfismo de classe C k e Tf (p) f (P ) = df (p)(Tp P ),
para todo p ∈ P .
3. Dado uma aplicação de classe C k f : M → N , prove que, para todo
p ∈ M , o espaço tangente ao gráfico de f no ponto (p, f (p)) coincide com o
gráfico de df (p).
4. Sejam N uma variedade diferenciável de classe C k e M ⊂ N um subconjunto discreto, i.e., a topologia induzida em M por N é discreta. Prove que
M é uma subvariedade de N de classe C k e dimensão zero.
5. Prove que o conjunto
M = {(x, y) ∈ R2 : x4 = y 3 }
é uma subvariedade de classe C 1 e dimensão 1 de R2 , mas não é de classe
C 2.
6. A aplicação f : R → R2 definida por
f (t) = (2 cos t + t, sin t),
é um mergulho?
48
2.3
Partição da unidade
Todos os resultados sobre variedades diferenciáveis apresentados no Capítulo 1 foram de natureza local e suas provas reduziram-se, através de escolhas
de cartas locais apropriadas, a um problema de cálculo no espaço Euclidiano. Neste capítulo apresentaremos a primeira ferramenta para o estudo de
propriedades globais de variedades diferenciáveis, a partição da unidade.
Seja M uma variedade diferenciável de classe C k . O suporte de uma
função f : M → R de classe C r , 0 ≤ r ≤ k, denotado por suppf , é o fecho
do conjunto dos pontos de M onde f não se anula, i.e.,
suppf = {p ∈ M : f (p) 6= 0}.
Isso significa que se p ∈ M é um ponto fora do suporte de f então f é nula
numa vizinhança de p.
Exemplo 2.3.1. A função f : R → R definida por
−1/(1−x2 )
e
se |x| < 1
,
f (x) =
0
se |x| ≥ 1
é diferenciável e tem suporte compacto; de fato, tem-se suppf ⊂ [−1, 1].
Definição 2.3.2. Seja p ∈ M . Uma função f : M → R de classe C k é uma
função auxiliar em p se existe um aberto U ⊂ M contendo p tal que f é
constante e igual a 1 numa vizinhança de p com suppf ⊂ U .
O resultado principal desta seção é a existência de funções auxiliares.
Consideremos, inicialmente, o seguinte lema auxiliar.
Lema 2.3.3. Existe uma função λ : R → R de classe C ∞ tal que
λ(R) ⊂ [0, 1], λ(t) = 0 para todo |t| ≥ 2 e λ(t) = 1 para todo |t| ≤ 1.
Demonstração. Considere a função α : R → R definida por
−1/t
e
se t > 0
α(t) =
.
0
se t ≤ 0
Temos que α é de classe C ∞ e α(t) > 0, para todo t > 0. Defina α1 : R → R
pondo
α1 (t) = α((1 − t)(t − 2)),
para todo t ∈ R. Tem-se que α1 é de classe C ∞ , α1 (t) > 0 se t ∈ (1, 2) e
α1 (t) = 0 para t 6∈ (1, 2). A função α2 : R → R definida por
α2 (t) = α1 (−t) − α1 (t),
49
para todo t ∈ R, é uma função ímpar de classe C ∞ , que coincide com −α1
no intervalo (0, +∞). A função procurada λ : R → R é definida por
Z
1 t
λ(t) =
α2 (s)ds,
k −∞
R +∞
R2
para todo t ∈ R, onde k = −∞ α1 (s)ds = 1 α1 (s)ds. Note que a integral que define λ é sempre finita, pois α2 (t) = 0 para todo t 6∈ [−2, 2].
Então, λ é de classe C ∞ e λ0 (t) = k1 α2 (t). Temos que λ é constante nos
intervalos (−∞, −2], [−1, 1] e [2, +∞), pois α2 é nula nestes intervalos. Temos também que λ é estritamente crescente nos intervalos [−2, −1] e [1, 2].
Tem-se também λ(t) = 0 para todo t ≤ −2, pois α2 (t) = 0 para t ≤ −2;
λ(t) = 0 para t ≥ 2, pois α2 é uma função ímpar e, portanto,
Rtambém
+∞
α
(s)ds
= 0. Para completar a prova, basta verificar que λ(−1) = 1.
2
−∞
Temos:
Z
Z
Z
1 −1
1 2
1 2
λ(−1) =
α2 (s)ds =
α2 (−s)ds =
α1 (s)ds = 1,
k −2
k 1
k 1
como queríamos.
Corolário 2.3.4. Existe uma função φ : Rn → R de classe C ∞ tal que
φ(Rn ) ⊂ [0, 1], φ(x) = 0 para todo kxk ≥ 2 e φ(x) = 1 para todo kxk ≤ 1.
Demonstração. Basta considerar φ(x) = λ(kxk), onde λ é uma função dada
pelo Lema 2.3.3. Temos que φ é de classe C ∞ em Rn \{0}. Como φ é
constante numa vizinhança da origem, segue que φ é de fato de classe C ∞
em Rn .
Teorema 2.3.5. Seja M n uma variedade diferenciável de classe C k . Dados
um ponto p ∈ M e um aberto V ⊂ M contendo p, existe uma função auxiliar
f : M → R em p de classe C k , tal que f (M ) ⊂ [0, 1] e suppf ⊂ V .
Demonstração. Seja (U, ϕ) uma carta local em M , com p ∈ U . Como
ϕ(U ∩ V ) é aberto em Rn , contendo ϕ(p), existe r > 0 tal que B[ϕ(p); r] ⊂
ϕ(U ∩ V ). Considere o difeomorfismo ξ : Rn → Rn de classe C ∞ definido
por
2
ξ(x) = (x − ϕ(p)) ,
r
para todo x ∈ Rn . Assim, ψ = ξ ◦ ϕ : U → ξ(ϕ(U )) é uma carta em M tal
que ψ(p) = 0. Além disso, ξ transforma B[ϕ(p); r] sobre a bola fechada com
centro na origem e raio igual a 2, portanto,
B[0; 2] ⊂ ξ(ϕ(U ∩ V )) = ψ(U ∩ V ).
50
Seja φ uma função auxiliar dada pelo Corolário 2.3.4. Definimos f : M → R
pondo:
φ(ψ(q)) se q ∈ U
f (q) =
.
0
se q 6∈ U
Como B[0; 2] ⊂ ψ(U ∩ V ), a bola aberta B(0; 1) é uma vizinhança aberta
de ψ(p) = 0 contida em ψ(U ∩ V ). Como ψ|U ∩V : U ∩ V → ψ(U ∩ V ) é
um homeomorfismo entre abertos, segue que ψ −1 (B(0; 1)) é uma vizinhança
aberta de p contida em U ∩V . Temos que a função f é constante e igual a 1 em
ψ −1 (B(0; 1)) e, claramente, f (M ) ⊂ [0, 1]. Resta prova que suppf ⊂ V e que
f é de classe C k . Temos que B[0; 2] é um subconjunto compacto de ψ(U ∩V )
e, portanto, ψ −1 (B[0; 2]) é um subconjunto compacto de U ∩ V . Como f
é identicamente nula fora de ψ −1 (B[0; 2]) e M é Hausdorff, o compacto
ψ −1 (B[0; 2]) é fechado e, portanto,
suppf ⊂ ψ −1 (B[0; 2]) ⊂ U ∩ V ⊂ V.
Finalmente, observe que os conjuntos U e M \ψ −1 (B[0; 2]) constituem uma
cobertura aberta de M . A restrição de f a U é de classe C k , pois tal restrição
coincide com φ ◦ ψ. A restrição de f a M \ψ −1 (B[0; 2]) também é de classe
C k , pois tal restrição é identicamente nula.
Apresentaremos agora o conceito de partição da unidade, fazendo uso
das funções auxiliares. Lembremos, inicialmente, que uma família de abertos
{Uα : α ∈ I} de uma variedade diferenciável M é localmente finita se todo
ponto p ∈ M possui uma vizinhança aberta U ⊂ M que intercepta no
máximo um número finito de abertos Uα .
Definição
2.3.6. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e
S
M = α∈I Uα uma cobertura aberta deSM . Uma partição da unidade de
classe C k subordinada à cobertura M = α∈I Uα é uma família {ξα : α ∈ I}
de funções ξα : M → R de classe C k tal que:
(a) ξα (M ) ⊂ [0, 1], para todo α ∈ I.
(b) suppξα ⊂ Uα , para todo α ∈ I.
(c) A família {suppξα : α ∈ I} é localmente finita em M .
P
(c)
α∈I ξα (p) = 1, para todo p ∈ M .
Partições da unidade são usadas, por exemplo, para o estudo de integração em variedades. De fato, usando uma partição da unidade apropriada,
51
podemos escrever a integral de uma função f : M → R como uma soma de
integrais de funções fα que têm suporte contido no domínio de uma carta
local. A integral de uma tal função reduz-se, essencialmente, ao cálculo da
integral da representação dessa função na carta local em questão. Nas seções
seguintes veremos algumas aplicações da partição da unidade.
Observe que se {fα : α ∈ I} é uma família de funções fα : M → R e se a
família {suppfα : α ∈ I} é pontualmente finita, então a soma
X
f=
fα
(2.7)
α∈I
nos dá uma função f : M → R bem definida. De fato, para todo p ∈ M ,
temos que fα (p) = 0, exceto para um númeroPfinito de índices α ∈ I e,
portanto, faz sentido considerar a soma f (p) = α∈I fα (p).
A motivação para a condição (c) da Definição 2.3.6 é dada pelo seguite
lema.
Lema 2.3.7. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e
{fα : α ∈ I} uma família de funções fα : M → R de classe C k . Se a
família {suppfα : α ∈ I} é localmente finita em M , então a função em (2.7)
é de classe C k .
Demonstração. Dado p ∈ M , podemos encontrar um aberto U ⊂ M contendo p tal que U ∩ suppfα 6= ∅ apenas para um número finito de índices
α ∈PI, digamos α1 , . . . , αr . Assim, a restrição de f a U é igual à restrição
de rj=1 fαj a U , que é uma função de classe C k . Portanto, todo ponto de
M possui uma vizinhança aberta tal que a restrição de f a tal vizinhança é
de classe C k .
O lema seguinte constitui o passo principal da prova da existência de
uma partição da unidade subordinada a uma dada cobertura aberta.
Lema S2.3.8. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e
M = i∈I Ui uma cobertura aberta de M . Então existe uma família
{fj : j ∈ J} de funções fj : M → R de classe C k satisfazendo as seguintes
propriedades:
(a) fj (p) ≥ 0, para quaisquer p ∈ M e j ∈ J.
(b) Para todo j ∈ J, existe i ∈ I tal que suppfj ⊂ Ui .
(c) A família {suppfj : j ∈ J} é localmente finita em M .
52
(d)
P
j∈J
fj (p) > 0, para todo p ∈ M .
Demonstração. Como M é localmente compacta e satisfaz o segundo axioma
da enumerabilidade, M admite uma exaustão por compactos M = ∪∞
n=1 Kn ,
i.e., cada Kn é compacto e Kn ⊂ int(Kn+1 ), para todo n ≥ 1 (cf. [12],
Proposição 7.23). Defina Kn = ∅ para n ≤ 0. Para todo n ∈ Z, o conjunto
Cn = Kn \int(Kn−1 ) é compacto. Como M é Hausdorrf, cada compacto Cn
é fechado e, além disso, temos:
M=
∞
[
(Kn \Kn−1 ) =
n=1
∞
[
Cn .
n=1
De fato, dado p ∈ M , se n ≥ 1 é o menor inteiro tal que p ∈ K
Sn então
p ∈ Kn \Kn−1 ⊂ Cn . Sejam dados n ≥ 1 e p ∈ Cn . Como M = i∈I Ui é
uma cobertura, existe i ∈ I tal que p ∈ Ui . Assim, o conjunto int(Kn+1 ) ∩
c
Kn−2
∩ Ui é uma vizinhança aberta de p e, portanto, o Teorema 2.3.5 nos
fornece uma função f(n,p) : M → R de classe C k tal que f(n,p) (M ) ⊂ [0, 1],
c
suppf(n,p) ⊂ int(Kn+1 ) ∩ Kn−2
∩ Ui
e tal que f(n,p) é igual a 1 em uma vizinhança aberta V(n,p) S
de p. Obtemos
dessa forma, para cada n ≥ 1, uma cobertura aberta Cn ⊂ p∈Cn V(n,p) do
compacto Cn ; essa cobertura possui uma subcobertura finita, i.e., existe um
subconjunto finito Fn de Cn tal que:
[
Cn ⊂
V(n,p) .
p∈Fn
Obtivemos então uma família {fj : j ∈ J} de funções fj : M → R de classe
C k , onde
J = {(n, p) : n ≥ 1, p ∈ Fn }.
Por construção temos fj (M ) ⊂ [0, 1], para todo j ∈ J. Além disso, para
todo j ∈ J, existe i ∈ I tal que suppfj ⊂ Ui . Assim, os itens (a) e (b) estão
provados. Provemos agora que a família {suppfj : j ∈ J} é localmente finita
em M . Sejam p ∈ M e n ≥ 1, com p ∈ Kn \Kn−1 . Assim, p ∈ int(Kn+1 ) e
p 6∈ Kn−1 , logo int(Kn+1 )\Kn−1 é uma vizinhança aberta de p. Afirmamos
que int(Kn+1 )\Kn−1 intercepta suppfj apenas para um número finito de
índices j ∈ J. Seja então j ∈ J tal que suppfj intercepta int(Kn+1 )\Kn−1 .
Escrevemos j = (m, q) ∈ J, com m ≥ 1 e q ∈ Fm . Temos que suppfj está
c
contido em int(Km+1 ) ∩ Km−2
e, portanto:
c
(int(Kn+1 )\Kn−1 ) ∩ int(Km+1 ) ∩ Km−2
c
c
= int(Kn+1 ) ∩ Kn−1
∩ int(Km+1 ) ∩ Km−2
6= ∅.
53
c
O fato que Kn+1 ∩ Km−2
6 ∅ implica n + 1 > m − 2. Analogamente
=
c
Km+1 ∩ Kn−1 6= ∅ implica m + 1 > n − 1. Assim, n − 1 ≤ m ≤ n + 2.
Provamos então que:
n+2
[
j ∈ J : (int(Kn+1 )\Kn−1 ) ∩ suppfj 6= ∅ ⊂
{m} × Fm .
m=n−1
Isso prova o item (c). Como cada função fj é não negativa, é suficiente
mostrar que para todo p ∈ M existe j ∈ J com fj (p) > 0. Seja n ≥ 1 tal
que p ∈ Cn . Temos p ∈ V(n,q) para algum q ∈ Fn . Portanto, (n, q) = j ∈ J
e fj (p) = 1.
O teorema seguinte garante a existência de uma partição da unidade.
k
Teorema 2.3.9. Seja M
S uma variedade diferenciável de classe C . À toda
cobertura aberta M = i∈I Ui de M podemos subordinar uma partição da
unidade de classe C k .
Demonstração. Seja {fj : j ∈ J} uma família de funções fj : M → R dada
pelo Lema 2.3.8. Para cada j ∈ J, escolha i = σ(j) ∈ I tal que suppfj ⊂ Ui .
Obtemos, então, uma função σ : J → I. Para cada i ∈ I, definimos uma
função ξe : M → R pondo
X
ξei =
fj ,
j∈σ −1 (i)
onde entendemos que ξe = 0 se σ −1 (i) = ∅. Como a família {suppfj : j ∈ J}
é localmente finita, segue do Lema 2.3.7 que ξei é bem definida e de classe
C k . Note também que ξe ≥ 0, já que fj ≥ 0. Para todo i ∈ I, temos:
[
{p ∈ M : ξei (p) 6= 0} ⊂
suppfj .
j∈σ −1 (i)
Usando novamente o fato que a família {suppfj : j ∈ σ −1 (i)} é localmente finita e levando em consideração que a união de uma família localmente
finita de conjuntos fechados é um conjunto fechado, concluimos que
S
j∈σ −1 (i) suppfj é um conjunto fechado. Logo,
suppξei ⊂
[
suppfj ⊂ Ui .
j∈σ −1 (i)
Provemos que a família {suppξei : i ∈ I} é localmente finita. Seja p ∈
M . Como {suppfj : j ∈ J} é localmente finita, existe um aberto U ⊂ M
54
contendo p que intercepta suppfj apenas para um número finito de índices
j ∈ J. Se i ∈ I é tal que U ∩ suppξei 6= ∅ então U ∩ suppfj 6= ∅, para algum
j ∈ σ −1 (i). Ou seja
{i ∈ I : U ∩ suppξei 6= ∅} ⊂ σ {j ∈ J : U ∩ suppfj 6= ∅} .
Isso prova que {i ∈ I : U ∩ suppξei 6= ∅} é finito e, portanto, a família
{suppξei : i ∈ I} é localmente finita. Segue então do Lema 2.3.7 que a função
ξe =
X
ξei
i∈I
é bem definida e de classe C k . Afirmamos que ξe é uma função positiva. De
fato, como cada função ξei é não negativa, é suficiente provar que, para todo
p ∈ M , existe i ∈ I tal que ξei (p) > 0. Sabemos que existe j ∈ J tal que
fj (p) > 0 e, portanto, ξei (p) > 0 se i = σ(j). Definimos agora
e
ξi = ξei /ξ,
para todo i ∈ I. Segue que ξi : M → R é uma função não negativa de classe
C k , para todo i ∈ I e suppξi = suppξei . Logo a família {suppξi : i ∈ I}
é localmente finita e suppξi ⊂ Ui , para todo i ∈ I. Além disso, tem-se
P
i∈I ξi = 1 e como cada ξi é não negativa temos ξi (M ) ⊂ [0, 1], para todo
i ∈ I. Portanto, {ξi :Si ∈ I} é uma partição da unidade subordinada à
cobertura aberta M = i∈I Ui .
Exercícios
1. Sejam N uma variedade diferenciável de classe C k e M uma subvariedade
fechada de N . Prove que se g : M → R é uma função de classe C k então
existe uma função f : N → R de classe C k tal que f |M = g.
2. Seja f : M → R uma função de classe C k . Se N é outra variedade
diferenciável e π : M × N → M é a projeção sobre o primeiro fator, prove
que
supp(f ◦ π) = (suppf ) × N.
3. Seja M m uma variedade diferenciável de classe C k . Dado p ∈ M , prove
que existe uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , tal que ϕ é a restrição
a U de uma aplicação f : M → Rm de classe C k .
55
2.4
Extensões de aplicações diferenciáveis
Nesta seção demonstraremos um teorema sobre extensão de aplicações
de classe C k numa variedade diferenciável. Mais precisamente, provaremos
uma versão diferenciável do Teorema da Extensão de Tietze, que afirma
ser possível estender toda função real contínua, definida num subconjunto
fechado de um espaço normal, a uma função real contínua em todo o espaço
(cf. Seção 10.2 de [12]).
Apresentaremos, inicialmente, uma versão diferenciável do Lema de
Urysohn (cf. [12], Proposição 8.12).
Lema 2.4.1 (Urysohn). Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k
e F, G ⊂ M subconjuntos fechados e disjuntos. Então existe uma função
ξ : M → R de classe C k , com ξ(M ) ⊂ [0, 1], tal que ξ(p) = 1, para todo
p ∈ F , e ξ(p) = 0, para todo p ∈ G.
Demonstração. Os conjuntos U1 = M \F e U2 = M \G constituem uma
cobertura aberta de M . Assim, pelo Teorema 2.3.9, existe uma partição da unidade de classe C k {ξ1 , ξ2 }, subordinada a esta cobertura, i.e.,
ξi (M ) ⊂ [0, 1] e suppξi ⊂ Ui , i = 1, 2. Disso decorre que suppξ1 é disjunto de F e suppξ2 é disjunto de G. Assim, ξ2 (p) = 0 para todo p ∈ G e
ξ1 (p) = 0, para todo p ∈ F . Como ξ1 + ξ2 = 1, a hipótese ξ1 (p) = 0 implica
ξ2 (p) = 1, para todo p ∈ F . Portanto, a função ξ = ξ2 satisfaz as condições
desejadas.
Teorema 2.4.2 (Tietze). Sejam M m uma variedade diferenciável de classe
C k e f : U → Rn uma aplicação de classe C k definida num aberto
U ⊂ M . Então, para todo fechado F ⊂ M , com F ⊂ U , existe uma aplicação
fe : M → Rn de classe C k tal que fe|F = f |F .
Demonstração. Como M é normal (cf. Exercício 1), existe um aberto V ⊂ M
tal que F ⊂ V e V ⊂ U (cf. Exercício 2). A partir dos fechados disjuntos F
e M \V obtemos, pelo Lema 2.4.1, uma função ξ : M → R tal que ξ(p) = 1,
para todo p ∈ F , e ξ(p) = 0 para todo p 6∈ V . Defina fe : M → Rn pondo
ξ(p)f (p) se
p∈U
e
f (p) =
.
0
se p ∈ M \U
Temos que a restrição de fe aos abertos U e M \V é de classe C k . De fato,
a restrição de fe a U coincide com o produto (ξ|U )f e a restrição de fe a
M \V é nula. Como M = U ∪ (M \V ), temos que fe é de classe C k em M .
Finalmente, como ξ|F ≡ 1, segue que fe|F = f |F .
56
Observação 2.4.3. O Teorema 2.4.2 não é válido para aplicações que tomam valores numa variedade arbitrária. Por exemplo, a aplicação identidade
Id : S 1 → S 1 não pode ser estendida a uma aplicação F : R2 → S 1 , de classe
C 2 . De fato, suponha que exista uma aplicação F : R2 → S 1 de classe, pelo
menos C 2 , tal que F |S 1 = Id. Escrevendo
F (x, y) = (f (x, y), g(x, y)),
tem-se que
f (cos t, sin t) = cos t e g(cos t, sin t) = sin t,
para todo t ∈ R. Assim, se escrevermos
df =
∂f
∂f
dx +
dy
∂x
∂y
e dg =
∂g
∂g
dx +
dy,
∂x
∂y
a integral curvilínea de f dg − gdf sobre S 1 é dada por
Z
Z
(f dg − gdf ) =
(cos t · d(sin t) − sin t · d(cos t))
S1
S1
Z 2π
=
(cos2 t + sin2 t)dt = 2π.
0
Por outro lado, como S 1 = ∂D2 , o Teorema de Green fornece:
Z
Z ∂f
∂g
∂f
∂g
−g
dx + f
−g
dy
(f dg − gdf ) =
f
∂x
∂x
∂y
∂y
S1
S1
ZZ ∂f ∂g ∂f ∂g
= 2
dxdy.
−
∂x ∂y
∂y ∂x
D2
Como a expressão dentro dos parênteses na integral dupla acima é identicamente nula, pois é o determinante cujas colunas são os vetores dF (x, y) · e1
e dF (x, y) · e2 , os quais são colineares por serem tangentes a S 1 no mesmo
ponto F (x, y), obtemos
Z
(f dg − gdf ) = 0,
S1
o que é uma contradição.
57
Exercícios
1. Prove que toda variedade diferenciável é regular e normal.
2. Prove que as seguintes afirmações sobre um espaço topológico X são
equivalentes:
(a) X é normal.
(b) Dados um fechado F ⊂ X e um aberto U ⊂ X, com F ⊂ U , existe um
aberto V ⊂ X com F ⊂ V ⊂ V ⊂ U .
58
2.5
O teorema de mergulho de Whitney
Nesta seção discutiremos o problema de saber se toda variedade diferenciável pode ser vista como subvariedade de algum espaço Euclidiano. Mais
precisamente, dado uma variedade diferenciável M m de classe C k , queremos
exibir um mergulho f : M m → Rn de classe C k , para algum n suficientemente grande. A resposta é positiva e foi provado por Whitney [20] em 1936
em um artigo que se tornou uma das referências no estudo das variedades
diferenciáveis.
Teorema 2.5.1 (Whitney). Qualquer variedade diferenciável M m de classe
C k pode ser mergulhada como uma subvariedade fechada de R2m+1 .
A prova do Teorema 2.5.1 tem sido simplificada e ganhado diferentes
abordagens da prova original de Whitney. Dentre os textos clássicos da
literatura Guillemin [6], Hirsch [8] e Lee [11], uma abordagem mais completa
do assunto pode ser encontrada em [1], onde a prova do Teorema 2.5.1 é
apresentada com detalhes.
O teorema seguinte é uma versão parcial do Teorema de Whitney, válida
apenas para variedades compactas e sem a estimativa sobre a dimensão do
espaço Euclidiano onde mergulhamos a variedade M .
Teorema 2.5.2. Qualquer variedade diferenciável compacta M m de classe
C k pode ser mergulhada em algum espaço Euclidiano.
Demonstração. Para cada ponto p ∈ M , escolha uma carta local (Up , ϕp )
em M , com p ∈ Up . Como M é regular, todo ponto de M possui um sistema fundamental de vizinhanças fechadas (cf. Exercício 1). Assim, existem
abertos Wp , Vp ⊂ M tais que
p ∈ Wp ⊂ W p ⊂ Vp ⊂ V p ⊂ Up .
Pelo Teorema 2.4.2, existe uma aplicação φp : M → Rm de classe C k
que coincide com ϕp no fechado V p . Pelo Lema 2.4.1, existe uma função
ξp : M → R de classe C k que é igual a 1 no fechado W p e é igual
S a zero
no fechado M \Vp . Como M é compacta,
S a cobertura aberta M = p∈M Wp
possui uma subcobertura finita M = ri=1 Wpi . Definimos uma aplicação
f : M → Rn pondo:
f (p) = φp1 (p), . . . , φpr (p), ξp1 (p), . . . , ξpr (p) ,
para todo p ∈ M , onde n = rm + r. Tem-se que f é uma aplicação de classe
C k . Provemos que f é um mergulho. De fato, dados p ∈ M e v ∈ Tp M ,
59
temos:
df (p) · v = dφp1 (p) · v, . . . , dφpr (p) · v, dξp1 (p) · v, . . . , dξpr (p) · v .
Assuma que df (p) · v = 0. Seja s ∈ {1, . . . , r} tal que p ∈ Wps . Como
as aplicações φps e ϕps coincidem no aberto Wps , temos que dϕps (p) · v =
dφps (p) · v = 0. Como ϕps é um difeomorfismo, temos que dϕps (p) é um
isomorfismo, donde concluimos que v = 0. Isso prova que f é uma imersão.
Como M é compacta, para estabalecer que f é um mergulho é suficiente
provar que f é injetora (cf. Exercício 2). Sejam p, q ∈ M com f (p) = f (q).
Disso decorre que
φpi (p) = φpi (q) e ξpi (p) = ξpi (q),
para todo 1 ≤ i ≤ r. Seja s ∈ {1, . . . , r} tal que p ∈ Wps . Temos que
ξps (p) = 1 e, portanto, ξps (q) = 1. Como ξps ≡ 0 em M \Vps , segue que
q ∈ Vps . Como φps coincide com a carta ϕps em Vps , a restrição de φps a Vps
é injetora. Assim, as condições φps (p) = φps (q) e p, q ∈ Vps implicam que
p = q.
Exercícios
1. Prove que um espaço topológico X é regular se, e somente se, todo ponto
de X possui um sistema fundamental de vizinhanças fechadas, i.e., se, e
somente se, para todo p ∈ X e para todo aberto U ⊂ X contendo p existe
um subconjunto fechado contido em U que contém p em seu interior.
2. Seja f : X → Y uma aplicação contínua e bijetora, onde X é um espaço
topológico compacto e Y é um espaço topológico de Hausdorff. Prove que f
é um homeomorfismo.
60
Capítulo 3
Distribuições
3.1
O fibrado tangente
Nesta seção estudaremos o fibrado tangente de uma variedade diferenciável, o espaço natural de se trabalhar quando estamos tratando de questões
que envolvem posição e velocidade.
Seja M m uma variedade diferenciável de classe C k . A cada ponto
p ∈ M , associamos o espaço tangente Tp M , que é um espaço vetorial real
de dimensão m. Denotemos por T M a união disjunta de todos os espaços
tangentes a M . Mais precisamente, definimos:
[
TM =
{p} × Tp M .
p∈M
O conjunto T M é chamado o fibrado tangente de M . Um dos objetivos
desta seção é provar que T M pode ser visto de maneira natural como uma
variedade diferenciável. Antes disso, definimos uma aplicação π : T M → M
da maneira natural:
π(p, v) = p,
para quaisquer p ∈ M e v ∈ Tp M . A aplicação π é a projeção canônica de
T M sobre M . Além disso, π é uma aplicação sobrejetora.
Muitas vezes indentificaremos o espaço tangente Tp M com o subconjunto
{p} × Tp M de T M através da bijeção natural v 7→ (p, v).
Teorema 3.1.1. Seja M m uma variedade diferenciável de classe C k . Então o fibrado tangente T M é uma variedade diferenciável de classe C k−1 e
dimensão 2m.
61
Demonstração. Dado uma carta local (U, ϕ) em M , definimos uma aplicação
ϕ : π −1 (U ) → ϕ(U ) × Rm pondo
ϕ(p, v) = (ϕ(p), dϕ(p) · v),
para quaisquer p ∈ U e v ∈ Tp M . Como ϕ é bijetora e dϕ(p) é um isomorfismo linear para todo p ∈ U , a aplicação ϕ é bijetora. Como ϕ(U ) × Rm é
um aberto de R2m , segue que ϕ é uma carta local em T M . Provaremos que
A = {ϕ : (U, ϕ) é carta de M }
é um atlas de classe C k−1 em T M . Em primeiro lugar, é fácil ver que os
domínios das aplicações de A cobrem T M . Sejam então (U, ϕ), (V, ψ) cartas
em M . Temos:
ϕ π −1 (U ) ∩ π −1 (V ) = ϕ π −1 (U ∩ V ) = ϕ(U ∩ V ) × Rm
e
ψ π −1 (U ) ∩ π −1 (V ) = ψ π −1 (U ∩ V ) = ψ(U ∩ V ) × Rm .
Como ϕ(U ∩V ) e ψ(U ∩V ) são abertos em Rm , segue que ϕ π −1 (U )∩π −1 (V )
e ψ π −1 (U )∩π −1 (V ) são abertos de R2m . Dado (x, h) ∈ ϕ(U )×Rm , tem-se
que ϕ−1 (x, h) = (p, v), onde p = ϕ−1 (x) e v = dϕ(p)−1 · h. Além disso, se
p ∈ V então ψ(p, v) = (ψ(p), dψ(p) · v). Temos:
dψ(p) · v = dψ(ϕ−1 (x)) ◦ dϕ(ϕ−1 (x))−1 · h = d(ψ ◦ ϕ−1 )(x) · h.
Assim, a aplicação de transição ψ ◦ ϕ−1 : ϕ(U ∩ V ) × Rm → ψ(U ∩ V ) × Rm ,
de ϕ para ψ, é dada por
ψ ◦ ϕ−1 (x, h) = (ψ ◦ ϕ−1 )(x), d(ψ ◦ ϕ−1 )(x) · h .
Como ψ ◦ ϕ−1 é de classe C k , segue que ψ ◦ ϕ−1 é de classe C k−1 (cf. Exercí−1
cio 3). Analogamente, a aplicação inversa de ψ ◦ ϕ−1 , que é igual a ϕ ◦ ψ ,
é também de classe C k−1 . Isso prova que A é um atlas de classe C k−1 em
T M . Resta provar que a topologia induzida por A em T M é Hausdorff e
satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade. Antes disso, provemos que a
projeção π é contínua, onde T M é munido da topologia induzida por A. De
fato, se U ⊂ M é o domínio de uma carta ϕ em M , então π −1 (U ) é aberto
em T M , pois π −1 (U ) é o domínio
da carta ϕ. Em geral, se U ⊂ M é um
S
aberto arbitrário, então U = α∈I Uα , onde
S Uα é o domínio de uma carta
em M , para todo α ∈ I. Assim, π −1 (U ) = α∈I π −1 (Uα ) é aberto em T M .
62
Provemos então que a topologia τA é Hausdorff. Sejam (p, v), (q, w) pontos
distintos em T M . Se p 6= q então, como M é Hausdorff, existem abertos disjuntos U, V ⊂ M , com p ∈ U e q ∈ V . Assim, π −1 (U ) e π −1 (V ) são abertos
disjuntos em T M contendo (p, v) e (q, w), respectivamente. Se p = q, seja
(U, ϕ) uma carta em M , com p ∈ U . Como dϕ(p) · v 6= dϕ(p) · w, existem
abertos disjuntos A, B⊂ Rm contendo dϕ(p)
· v e dϕ(p) · w, respectivamente.
Assim, ϕ−1 ϕ(U ) × A e ϕ−1 ϕ(U ) × B são abertos disjuntos em T M contendo (p, v) e (q, w), respectivamente. Provemos agora que a topologia τA
satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade. Como M satisfaz o segundo
axioma da enumerabilidade, temos que o atlas maximal que define a estrutura diferenciável de M contém um atlas enumerável {ϕi : i ∈ N}. Assim,
{ϕi : i ∈ N} é um atlas enumerável para T M e, portanto, T M satisfaz o
segundo axioma da enumerabilidade (cf. Exercícios 4 e 5).
Veremos agora algumas propriedades básicas do fibrado tangente.
Lema 3.1.2. Seja M m uma variedade diferenciável de classe C k . Então a
projeção π : T M → M é uma aplicação de classe C k−1 . Além disso, se
k ≥ 2, então π é uma submersão.
Demonstração. Seja (U, ϕ) uma carta local em M e considere a carta correspondente ϕ em T M . Como π(π −1 (U )) ⊂ U , a representação de π em
relação às cartas locais ϕ e ϕ é dada por
(x, h) ∈ ϕ(U ) × Rm 7→ x ∈ ϕ(U ).
Como a projeção (x, h) 7→ x é uma submersão de classe C ∞ e ϕ, ϕ são
difeomorfismos de classe C k e C k−1 , respectivamente, segue que a restrição
de π a π −1 (U ) é de classe C k−1 e é uma submersão se k ≥ 2. Como ϕ é uma
carta arbitrária, segue a conclusão.
Lema 3.1.3. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e W ⊂ M
um subconjunto aberto. Então T W é um aberto de T M tal que a estrutura diferenciável usual do fibrado tangente da variedade W coincide com a
estrutura diferenciável que T M induz no aberto T W .
Demonstração. Como Tp W = Tp M , para todo p ∈ W , temos que
T W = π −1 (W ). Como π é contínua, segue que T W é aberto em T M .
A estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de W é o atlas maximal
de classe C k−1 que contém as cartas locais da forma ϕ, onde (U, ϕ) é uma
carta de W . Mas se (U, ϕ) é uma carta de W então (U, ϕ) também é uma
carta de M e, portanto, ϕ é uma carta de T M com domínio contido em
63
T W . Logo, ϕ pertence à estrutura diferenciável induzida por T M no aberto
TW.
Lema 3.1.4. Se V é um espaço vetorial real de dimensão n então
T V = V × V . Além disso, a estrutura diferenciável usual de T V coincide com a estrutura diferenciável usual do espaço vetorial real V × V , i.e.,
a estrutura diferenciável que contém os isomorfismos lineares entre V × V e
o espaço Euclidiano R2n .
Demonstração. Para todo p ∈ V , temos Tp V = V e, assim:
[
{p} × Tp V = V × V.
p∈V
Seja agora ϕ : V → Rn um isomorfismo linear. Assim, ϕ é uma carta para a
variedade V e a carta correspondente ϕ : V × V → Rn × Rn é dada por
ϕ(p, v) = (ϕ(p), ϕ(v)).
Logo, ϕ : V × V → R2n é um isomorfismo linear. Portanto, tanto a estrutura
diferenciável usual do fibrado tangente de V quanto a estrutura diferenciável
usual do espaço vetorial real V ×V contém o atlas A = {ϕ : ϕ é carta de V }.
Isso prova que tais estruturas diferenciáveis em T V = V × V coincidem.
Corolário 3.1.5. Se W é um aberto de Rn então T W = W × Rn , e a estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de W coincide com a estrutura
diferenciável induzida por R2n no aberto W × Rn .
Demonstração. Segue diretamente dos Lemas 3.1.3 e 3.1.4.
Proposição 3.1.6. Seja M m uma variedade diferenciável de classe C k , com
k ≥ 2. Para todo p ∈ M , o espaço tangente Tp M é uma subvariedade de
classe C k−1 do fibrado tangente T M . Além disso, a estrutura diferenciável
usual do espaço vetorial Tp M coincide com a estrutura diferenciável induzida
por T M em Tp M .
Demonstração. Como Tp M = π −1 (p) e π é uma submersão de classe C k−1
(cf. Lema 3.1.2), segue que Tp M é uma subvariedade de classe C k−1 de T M .
Dado uma carta (U, ϕ) em M , considere a carta correspondente ϕ em T M .
Temos:
ϕ π −1 (U ) ∩ Tp M = ϕ(Tp M ) = {ϕ(p)} × Rm .
Considere o difeomorfismo φ : R2m → R2m de classe C ∞ definido por
φ(x, h) = (h, x − ϕ(p)).
64
Segue que φ ◦ ϕ : π −1 (U ) → φ(ϕ(U ) × Rm ) é uma carta em T M e:
(φ ◦ ϕ) π −1 (U ) ∩ Tp M = Rm = φ ϕ(U ) ∩ Rm ∩ Rm ,
i.e., φ ◦ ϕ é uma carta de T M que satisfaz a relação (2.1). A restrição de
φ ◦ ϕ a Tp M nos fornece uma carta local em Tp M pertencente à estrutura
diferenciável induzida por T M em Tp M . Tal restrição é dada por
v ∈ Tp M 7→ (φ ◦ ϕ)(p, v) = dϕ(p) · v ∈ Rm .
Mas dϕ(p) : Tp M → Rm é um isomorfismo linear e, portanto, é também uma
carta local pertencente à estrutura diferenciável usual do espaço vetorial real
Tp M . Concluimos então que o atlas {dϕ(p)} em Tp M está contido tanto
na estrutura diferenciável induzida por T M em Tp M como na estrutura
diferenciável usual do espaço vetorial real Tp M .
Exercícios
1. Prove que o fibrado tangente do círculo S 1 , T S 1 , é difeomorfo ao cilindro
S 1 × R.
2. Seja M m ⊂ Rn uma superfície de classe C k . Considere o conjunto
S(M ) = {(p, v) ∈ Rn × Rn : p ∈ M, v ∈ Tp M, kvk = 1}.
Prove que S(M ) é uma superfície de classe C k−1 e dimensão 2m − 1, conhecida como o fibrado tangente unitário de M . Prove que S(M ) é compacto
se, e somente se, M é compacta.
3. Seja f : U → Rn uma aplicação de classe C k definida num aberto U ⊂ Rm .
Prove que a aplicação φ : U × Rm → Rn , definida por φ(p, v) = df (p) · v, é
de classe C k−1 .
4. Um espaço topológico X é chamado um espaço de Lindelöf se toda cobertura aberta de X admite uma subcobertura enumerável. Prove que se
X satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade então X é um espaço de
Lindelöf.
5. Sejam M um conjunto e A um atlas em M . Prove que se A contém um
atlas enumerável para M então a topologia induzida por A em M satisfaz o
segundo axioma da enumerabilidade.
65
3.2
Campos de vetores
Nesta seção discutiremos o conceito de campo vetorial, uma das motivações para o estudo do fibrado tangente de uma variedade diferenciável.
Definição 3.2.1. Seja M uma variedade diferenciável de classe C k . Um
campo vetorial em M é uma aplicação X : M → T M tal que o diagrama
M
X
Id
/ TM
% π
M
comuta.
Em outras palavras, X : M → T M é um campo vetorial se, e somente
se, X é uma inversa à direita da projeção canônica π. Um campo vetorial
em M é também chamado de uma seção do fibrado tangente T M , no sentido
de que
X(p) ∈ Tp M,
para todo p ∈ M . Observe que, se M é de classe C k , um campo vetorial
X : M → T M é, no máximo, uma aplicação de classe C k−1 , pois T M é uma
variedade de classe C k−1 . O conjunto de todos os campos vetoriais de classe
C k−1 de uma variedade diferenciável de classe C k será denotado por X(M ).
Com as operações naturais
(X + Y )(p) = X(p) + Y (p),
(cX)p) = cX(p),
para quaisquer X, Y ∈ X(M ), p ∈ M e c ∈ R, o conjunto X(M ) torna-se um
espaço vetorial real (cf. Exercício 5).
Dados um campo vetorial X : M → T M e uma carta local (U, ϕ) em M ,
podemos escrever
m
X
∂
(p),
X(p) =
ai (p)
∂xi
i=1
para
todo p ∈ U , onde
cada ai : U → R é uma função no aberto U e
n
o
∂
∂
∂x1 (p), . . . , ∂xm (p) é a base de Tp M associada à carta ϕ. Considerando a
carta ϕ : π −1 (U ) → ϕ(U ) × Rm em T M , associada a ϕ, temos:
ϕ(p, X(p)) = (ϕ(p), a1 (p), . . . , am (p)),
66
para todo p ∈ U . Assim,
ϕ ◦ X ◦ ϕ−1 (x) = x, (a1 ◦ ϕ−1 )(x), . . . , (am ◦ ϕ−1 )(x) ,
para todo x ∈ ϕ(U ). Portanto, X é de classe C k−1 se, e somente se, as
funções ai são de classe C k−1 , para todo 1 ≤ i ≤ m.
Lema 3.2.2. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e
X ∈ X(M ). Então, X : M → T M é um mergulho de classe C k−1
Demonstração. Decorre diretamente do Exercício 3, observando que a projeção π : T M → M é uma inversão à esquerda de classe C k−1 para X.
Corolário 3.2.3. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k e
X ∈ X(M ). Então a imagem de X é uma subvariedade de T M de classe
C k−1 e a restrição da projeção π : T M → M a X(M ) é um difeomorfismo
de classe C k−1 da imagem de X sobre M .
Demonstração. Pelo Lema 3.2.2, X é um mergulho de classe C k−1 e, portanto, X(M ) é uma subvariedade de classe C k−1 de T M e X : M → X(M )
é um difeomorfismo de classe C k−1 . Para concluir a prova, basta observar
que π|X(M ) : X(M ) → M é a aplicação inversa de X : M → X(M ).
Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k . Dado uma aplicação
f : M → N de classe C k , definimos uma aplicação df : T M → T N , chamada
a diferencial de f , pondo
df (p, v) = (f (p), df (p) · v),
(3.1)
para quaisquer p ∈ M e v ∈ Tp M . Temos a seguinte
Proposição 3.2.4. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k e
f : M → N uma aplicação de classe C k . Então a diferencial df : T M → T N
é de classe C k−1 .
Demonstração. Sejam (U, ϕ), (V, ψ) cartas locais em M e N , respectivamente, com f (U ) ⊂ V . Considere as cartas correspondentes ϕ em T M e ψ
em T N . Temos que df (π −1 (U )) ⊂ π −1 (V ). Como ϕ e ψ podem ser escolhidas de modo que π −1 (U ) contenha um ponto arbitrário dado em T M , a
prova estará completa se verificarmos que a representação de df em relação
às cartas ϕ e ψ é de classe C k−1 . Seja então (x, h) ∈ ϕ(U ) × Rm e defina
(p, v) = ϕ−1 (x, h), de modo que p = ϕ−1 (x) e v = dϕ(p)−1 · h. Assim,
(ψ ◦ df )(p, v) = ψ(f (p)), (dψ(f (p)) ◦ df (p)) · v .
67
Porém, como
dψ(f (p)) ◦ df (p) · v = dψ(f (p)) ◦ df (p) ◦ dϕ(p)−1 · h,
segue que a representação de df em relação às cartas ϕ e ψ é dada por
ψ ◦ df ◦ ϕ−1 (x, h) = (ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x), d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) · h .
Como ψ ◦ f ◦ ϕ−1 é de classe C k , segue que ψ ◦ df ◦ ϕ−1 é de fato uma
aplicação de classe C k−1 .
Corolário 3.2.5. Sejam M , N variedades diferenciáveis de clase C k e
f : M → N um difeomorfismo de classe C k . Então a diferencial
df : T M → T N é um difeomorfismo de classe C k−1 .
Demonstração. Basta observar que (df )−1 = d(f −1 ) e usar a Proposição
3.2.4.
Teorema 3.2.6. Sejam N n uma variedade diferenciável de classe C k , com
k ≥ 2, e M ⊂ N uma subvariedade de classe C k e dimensão m. Então T M
é uma subvariedade de T N de classe C k−1 . Além disso, a estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de M coincide com a estrutura diferenciável
induzida por T N em T M .
Demonstração. Seja (U, ϕ) uma carta em N satisfazendo a relação (2.1),
i.e., ϕ(U ∩ M ) = ϕ(U ) ∩ Rm . Como ϕ é um difeomorfismo que transforma a
subvariedade U ∩ M de U sobre a subvariedade ϕ(U ) ∩ Rm de ϕ(U ), temos
que, para todo p ∈ U ∩ M , a diferencial dϕ(p) transforma o espaço tangente
a U ∩ M no ponto p no espaço tangente a ϕ(U ) ∩ Rm no ponto ϕ(p). Temos,
então:
dϕ(p)(Tp M ) = Rm ,
para todo p ∈ U ∩ M . Assim,
ϕ(π −1 (U ) ∩ T M ) = ϕ(U ∩ M ) × Rn = (ϕ(U ) ∩ Rm ) × Rn
= (ϕ(U ) × Rn ) ∩ (Rm × Rm ),
onde identificamos Rm × Rm com o seguinte subespaço de R2n :
Rm × Rm = {(x1 , . . . , xm , 0, . . . , 0, h1 , . . . , hm , 0, . . . , 0) ∈ R2n : xi , hi ∈ R}.
Seja φ : R2n → R2n o isomorfismo linear definido por
φ(x1 , ..., xm , 0, ..., 0, h1 , ..., hm , 0, ..., 0) = (x1 , ..., xm , h1 , ..., xm , 0, ..., 0).
68
Temos que φ transforma o subespaço Rm × Rm de R2n sobre o subespaço
R2m de R2n e, portanto, a carta φ ◦ ϕ : π −1 (U ) → φ(ϕ(U ) × Rn ) de T N
satisfaz
(φ ◦ ϕ)(π −1 (U ) ∩ T M ) = φ(ϕ(U ) ∩ Rn ) ∩ R2m ,
i.e., φ ◦ ϕ é uma carta de T N que satisfaz a relação (2.1). Como ϕ pode ser
escolhida de modo que π −1 (U ) contenha um ponto arbitrário dado de T M ,
segue que T M é uma subvariedade de T N de classe C k−1 . Provemos agora
que a estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de M coincide com
a estrutura diferenciável induzida por T N em T M . Para cada carta (U, ϕ)
de N satisfazendo (2.1), denotemos por ϕ0 = ϕ|U ∩M : U ∩ M → ϕ(U ) ∩ Rm
a carta correspondente a ϕ em M . Quando ϕ percorre o conjunto de todas
as cartas de N satisfazendo (2.1), temos que as cartas correspondentes ϕ0
em M constituem um atlas para M , e as correspondentes cartas ϕ0 em T M
constituem um atlas para T M contido na estrutura diferenciável usual do
fibrado tangente de M . Vimos acima que a cada carta ϕ de N satisfazendo
(2.1) está também associada uma carta φ ◦ ϕ satisfazendo (2.1) para T M .
Tal carta restringe-se a uma carta
φ ◦ ϕ|π−1 (U )∩T M : π −1 (U ) ∩ T M → φ(ϕ(U ) × Rn ) ∩ R2m
(3.2)
em T M e quando ϕ percorre o conjunto de todas as cartas de N satisfazendo
(2.1), temos que as correspondentes cartas em (3.2) de T M constituem um
atlas contido na estrutura diferenciável induzida por T N em T M . Para
provar que a estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de M coincide
com a estrutura diferenciável induzida por T N em T M , basta provar que a
carta em (3.2) coincide com a carta ϕ0 . Sejam então p ∈ U ∩ M , v ∈ Tp M
e escreva ϕ0 (p) = (x1 , . . . , xm ) e dϕ0 (p) · v = (h1 , . . . , hm ). Temos:
ϕ(p) = (x1 , . . . , xm , 0, . . . , 0),
dϕ(p) · v = (h1 , . . . , hm , 0, . . . , 0)
e, portanto, a carta em (3.2) de fato coincide com ϕ0 .
Observação 3.2.7. Se N é uma variedade diferenciável de classe C 1 e se
M ⊂ N é uma subvariedade de classe C 1 então não podemos dizer que
T M é uma subvariedade de T N de classe C 0 , pois a noção de subvariedade
introduzida foi apenas para variedades diferenciáveis de classe C k , com k ≥ 1.
No entanto, o argumento apresentado na prova do Teorema 3.2.6 implica
que a estrutura diferenciável de classe C 0 usual do fibrado tangente de M
contém um atlas formado por restrições de cartas de T N . Isso implica que a
topologia de T M , induzida pelo seu atlas, coincide com a topologia induzida
por T N .
69
Corolário 3.2.8. Sejam N uma variedade diferenciável de clase C k , M ⊂ N
uma subvariedade de classe C k e X ∈ X(N ) tal que X(p) ∈ Tp M , para todo
p ∈ M . Então, X|M : M → T M é um campo vetorial de classe C k−1 em M .
Demonstração. A condição X(p) ∈ Tp M , para todo p ∈ M , significa que
X(M ) ⊂ T M . O fato que X|M : M → T M é de classe C k−1 segue então
diretamente do Teorema 3.2.6 e da Observação 3.2.7.
Corolário 3.2.9. Sejam M , N variedades diferenciáveis de clase C k , com
k ≥ 2, e f : M → N um mergulho de classe C k . Então, df : T M → T N é
um mergulho de classe C k−1 .
Demonstração. Como f é um mergulho de classe C k , temos que f (M ) é uma
subvariedade de N de classe C k e a aplicação fe : M → f (M ), que difere
de f apenas pelo contra-domínio, é um difeomorfismo de classe C k . Assim,
pelo Teorema 3.2.6, T f (M ) é uma subvariedade de classe C k−1 de T N e,
portanto, a aplicação inclusão de T f (M ) em T N é um mergulho de classe
C k−1 , sendo T f (M ) munido da estrutura diferenciável induzida por T N .
Como fe é um difeomorfismo de classe C k , temos que dfe : T M → T f (M ) é
um difeomorfismo de classe C k−1 , sendo T f (M ) munido da estrutura diferenciável usual do fibrado tangente de f (M ). Como a estrutura diferenciável
usual do fibrado tangente de f (M ) coincide com a estrutura diferenciável
induzida por T N em T f (M ) e como df : T M → T N é igual a composição
de dfe com a inclusão de T f (M ) em T N , segue que df é um mergulho de
classe C k−1 .
Observação 3.2.10. Dado uma aplicação f : U → Rn de classe C k , definida
num subconjunto aberto U ⊂ Rm , a diferencial de f é definida como a
aplicação df : U → Lin(Rm ; Rn ) tal que, para cada x ∈ U , df associa a
diferencial de f no ponto x, denotada por df (x). Tal aplicação é diferente
da diferencial df : T U → T Rn considerada em (3.1). Para evitar essa
ambiguidade, muitas vezes a diferencial df : T M → T N de uma aplicação
f : M → N é denotada por f∗ e é chamada a aplicação tangente a f .
Preferimos, no entanto, escrever df ao invés de f∗ , reservando a notação f∗
para o que iremos chamar de pull-back de uma aplicação.
Exercícios
1. Dados um ponto p ∈ M e um vetor v ∈ Tp M , prove que existe um campo
vetorial X ∈ X(M ) tal que X(p) = v.
70
2. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k , k ≥ 2, e f : M → N
uma aplicação de classe C k . Prove que:
(a) Se f é um difeomorfismo local então df : T M → T N é um difeomorfismo local.
(b) Se f é uma imersão então df : T M → T N é uma imersão.
(c) Se f é uma submersão então df : T M → T N é uma submersão.
3. Seja f : M → N uma aplicação de classe C k . Se f possui uma inversa à
esquerda de classe C 1 então f é um mergulho.
4. Sejam M uma variedade diferenciável de classe C k , 1 ≤ k ≤ ∞, e X :
M → T M o campo vetorial nulo, i.e., X(p) é o vetor nulo de Tp M , para
todo p ∈ M . Prove que X ∈ X(M ).
5. Seja M uma variedade diferenciável de classe C k . Prove que o conjunto
Γ de todos os campos vetoriais em M , munido das operações:
(X + Y )(p) = X(p) + Y (p)
(cX)(p) = cX(p),
para quaisquer X, Y ∈ Γ, p ∈ M e c ∈ R, é um espaço vetorial real. Prove
também que X(M ) é um subespaço vetorial de Γ.
71
3.3
Derivações
Nesta seção discutiremos o conceito de derivações em variedades diferenciáveis obtendo, em particular, uma nova interpretação para o espaço
tangente. A partir de agora, por questão de simplicidade, assumiremos que
todas as variedades envolvidas são de classe C ∞ e iremos nos referir a uma
variedade diferenciável M de classe C ∞ simplesmente por uma variedade
diferenciável M .
Dado uma variedade diferenciável M , denotemos por C∞ (M ) o espaço
vetorial real das funções f : M → R de classe C ∞ .
Definição 3.3.1. Sejam M uma variedade diferenciável e p ∈ M . Uma
derivação em p é um funcional linear D : C∞ (M ) → R que satisfaz a seguinte
relação:
D(f g) = D(f )g(p) + f (p)D(g),
(3.3)
para quaisquer f, g ∈ C∞ (M ).
A relação (3.3) é usualmente conhecida como a regra de Leibniz. Segue
da Definição 3.3.1 que qualquer derivação se anula nas funções constantes.
De fato, seja D : C∞ (M ) → R uma derivação em p ∈ M . Dados f ∈ C∞ (M )
e c ∈ R, temos
D(f c) = D(f )c + f (p)D(c).
Como D(cf ) = cD(f ), segue que f (p)D(c) = 0. Assim, se f é tal que
f (p) 6= 0, segue que D(c) = 0.
Exemplo 3.3.2. Sejam M uma variedade diferenciável e p ∈ M . Dado um
vetor v ∈ Tp M , definimos uma função v : C∞ (M ) → R pondo
v(f ) = (f ◦ λ)0 (0),
(3.4)
onde λ : I → M é uma curva de classe C ∞ tal que λ(0) = p e λ0 (0) = v.
Afirmamos que v é uma derivação em p. De fato, é fácil ver que v está bem
definida e a linearidade de v segue da linearidade da derivada. Além disso,
dados f, g ∈ C∞ (M ), temos:
v(f g) = (f g ◦ λ)0 (0)
=
0
(f ◦ λ) · (g ◦ λ) (0)
= (f ◦ λ)0 (0) · (g ◦ λ)(0) + (f ◦ λ)(0) · (g ◦ λ)0 (0)
= v(f )g(p) + f (p)v(g).
72
Exemplo 3.3.3. Dado um ponto p ∈ M m , seja (U, ϕ) uma carta em M , com
p ∈ U . Como caso particular do Exemplo 3.3.2 temos, para cada 1 ≤ i ≤ m,
as derivações
∂
(p) : C∞ (M ) → R,
∂xi
n
o
onde ∂x∂ 1 (p), . . . , ∂x∂m (p) denota a base de Tp M associada a ϕ. Assim,
dado f ∈ C∞ (M ), temos:
∂
(p)(f ) = (f ◦ λ)0 (0)
∂xi
= (f ◦ ϕ−1 ◦ ϕ ◦ λ)0 (0)
= d(f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) ◦ d(ϕ ◦ λ)(0)
∂
= d(f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · dϕ(p) ·
(p)
∂xi
= d(f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) · ei
∂(f ◦ ϕ−1 )
(ϕ(p)),
=
∂xi
onde λ : I → U é uma curva diferenciável tal que λ(0) = p e λ0 (0) =
∂
∂xi (p).
Denotemos por Derp (M ) o conjunto de todas as derivações em p de uma
variedade diferenciável M . O lema seguinte caracteriza a estrutura algébrica
de Derp (M ).
Lema 3.3.4. O conjunto Derp (M ), munido das operações
(D + T )(f ) = D(f ) + T (f )
(cD)(f ) = cD(f ),
(3.5)
para quaisquer D, T ∈ Derp (M ), f ∈ C∞ (M ) e c ∈ R, é um espaço vetorial
real.
Demonstração. Provemos, inicialmente, que Derp (M ) é fechado em relação
às operações em (3.5). De fato, sejam D, T ∈ Derp (M ), f, g ∈ C∞ (M ) e
c ∈ R. Temos:
(D + T )(f g) = D(f g) + T (f g)
= D(f )g(p) + f (p)D(g) + T (f )g(p) + f (p)T (g)
= D(f ) + T (f ) g(p) + f (p) D(g) + T (g)
= (D + T )(f )g(p) + f (p)(D + T )(g)
73
e
(cD)(f g) = cD(f g)
= cD(f )g(p) + cf (p)D(g)
= (cD)(f )g(p) + f (p)(cD)(g).
Os axiomas que caracterizam um espaço vetorial são deixados a critério do
leitor.
O Lema 3.3.4 não nos diz qual é a dimensão do espaço vetorial Derp (M ).
O teorema seguinte, além de responder a essa questão, nos garante que as
derivações do Exemplo 3.3.2 são, essencialmente, as únicas derivações em
p ∈ M . Para isso, usaremos o seguinte lema auxiliar.
Lema 3.3.5. Seja f : U → R uma função de classe C ∞ , onde U ⊂ Rm é
um aberto convexo contendo 0 ∈ Rm . Então, existem funções gi : U → R de
classe C ∞ , 1 ≤ i ≤ m, tais que:
f (x) = f (0) +
m
X
xi gi (x),
i=1
para todo x = (x1 , . . . , xm ) ∈ U .
Demonstração. Dado x ∈ U , defina uma função hx : [0, 1] → R pondo
hx (t) = f (tx), para todo t ∈ [0, 1]. Temos:
Z
m
1X
0
i=1
∂f
(tx)xi dt =
∂xi
Z
1
h0x (t)dt = hx (1) − hx (0) = f (x) − f (0),
0
ou seja,
m Z
X
f (x) = f (0) +
i=1
0
1
∂f
(tx)xi dt.
∂xi
Assim, basta definir:
Z
gi (x) =
0
1
∂f
(tx)xi dt,
∂xi
para todo 1 ≤ i ≤ m.
De acordo com a notação do Exemplo 3.3.2, temos o seguinte:
74
Teorema 3.3.6. Sejam M uma variedade diferenciável e p ∈ M . A aplicação φ : Tp M → Derp (M ), definida por
φ(v) = v,
para todo v ∈ Tp M , é um isomorfismo linear.
Demonstração. A linearidade de φ segue da linearidade de (3.4). Dado uma
derivação D ∈ Derp (M ), escolha uma carta (U, ϕ) em M , com U convexo,
p ∈ U e ϕ(p) = 0. Dado f ∈ C∞ (M ), defina h = f ◦ ϕ−1 : ϕ(U ) → R. Como
ϕ(U ) é conexo, segue do Lema 3.3.5 que existem funções gei : ϕ(U ) → R de
classe C ∞ , 1 ≤ i ≤ m, tais que
h(x) = h(0) +
m
X
xi gei (x),
i=1
para todo x = (x1 , . . . , xm ) ∈ ϕ(U ). Como x = ϕ(q), para algum q ∈ U ,
temos:
f (q) = h(ϕ(q))
m
X
= h(0) +
πi (ϕ(q))e
gi (ϕ(q))
i=1
= h(0) +
m
X
ϕi (q)gi (q),
i=1
onde ϕi (q) = πi (ϕ(q)) e gi (q) = (e
gi ◦ ϕ)(q), para todo q ∈ U . Assim,
D(f ) =
=
m
X
i=1
m
X
D(ϕi gi ) =
m
X
D(ϕi )gi (p) + ϕi (p)D(gi )
i=1
(3.6)
D(ϕi )gi (p).
i=1
Observe que
∂h
h(tei ) − h(0)
(0) = lim
t→0
∂xi
t
h(0) + te
gi (tei ) − h(0)
= lim
t→0
t
= lim gei (tei ) = gei (0).
t→0
75
Disso decorre, juntamente com o Exemplo 3.3.3, que:
∂(f ◦ ϕ−1 )
∂h
∂
(p)(f ) =
(ϕ(p)) =
(0) = gei (0) = gi (p).
∂xi
∂xi
∂xi
Fazendo ai = D(ϕi ), segue que (3.6) que
D(f ) =
m
X
i=1
∂
ai
(p)(f ) =
∂xi
m
X
i=1
!
∂
(p) (f ),
ai
∂xi
ou seja,
φ
m
X
i=1
!
∂
(p) (f ) = D(f ).
ai
∂xi
C∞ (M )
Como f ∈
é arbitrária, provamos que φ é sobrejetora. Além disso,
dado v ∈ Tp M , com
m
X
∂
v=
ai
(p),
∂xi
i=1
temos:
v(ϕi ) =
=
m
X
j=1
m
X
j=1
m
X ∂(ϕi ◦ ϕ−1 )
∂
aj
(p)(ϕi ) =
aj
(ϕ(p))
∂xj
∂xj
j=1
aj
∂πi
(ϕ(p)) = ai ,
∂xj
para todo 1 ≤ i ≤ m. Assim, se v = 0 então v(ϕi ) = 0, para todo 1 ≤ i ≤ m,
logo ai = 0, para todo 1 ≤ i ≤ m. Portanto, v = 0 e, assim, φ é injetora.
Do Teorema 3.3.6 obtemos que os vetores tangentes em Tp M podem
ser identificados como derivações em p. Essa noção de derivação pode ser
globalizada, como veremos na definição seguinte.
Definição 3.3.7. Seja M uma variedade diferenciável. Uma derivação em
M é um operador linear D : C∞ (M ) → C∞ (M ) tal que
D(f g) = D(f )g + f D(g),
para quaisquer f, g ∈ C∞ (M ).
76
Exemplo 3.3.8. Dado um campo vetorial X ∈ X(M ), definimos uma aplicação X : C∞ (M ) → C∞ (M ) tal que, para cada função f ∈ C∞ (M ), a
função X(f ) é definida pondo
X(f )(p) = df (p) · X(p),
(3.7)
para todo p ∈ M . Afirmamos que X é uma derivação em M . De fato,
devemos provar, inicialmente, que X(f ) ∈ C∞ (M ), para toda f ∈ C∞ (M ).
Para isso, seja (U, ϕ) uma carta local em M . Assim, para todo p ∈ U ,
podemos escrever
X(p) =
m
X
ai (p)
i=1
∂
(p),
∂xi
(3.8)
onde as funções ai : U → R são de classe C ∞ , para todo 1 ≤ i ≤ m.
Portanto,
X(f )(p) = df (p) · X(p) =
m
X
ai (p)df (p) ·
i=1
∂
(p),
∂xi
para todo p ∈ U . Isso prova que X(f ) é uma função de classe C ∞ no
aberto U . Como U foi escolhido arbitrariamente, tem-se X(f ) ∈ C∞ (M ). A
linearidade de X segue diretamente da linearidade da derivada em funções.
Além disso, segue de (3.7) que
X(f )(p) = X(p)(f ),
para todo p ∈ M . Assim, dados f, g ∈ C∞ (M ) e p ∈ M , temos:
X(f g)(p) = X(p)(f g) = X(p)(f )g(p) + f (p)X(p)(g)
= X(f )(p) · g(p) + f (p)X(g)(p)
= X(f )g + f X(g) (p).
Como p ∈ M é arbitrário, segue a afirmação.
Seguindo a notação do Exemplo 3.3.8, temos a seguinte:
Proposição 3.3.9. Sejam M uma variedade diferenciável e X : M → T M
um campo vetorial. As seguintes afirmações são equivalentes:
(a) X ∈ X(M ).
(b) X(f ) ∈ C∞ (M ), para toda f ∈ C∞ (M ).
77
Demonstração. Do Exemplo 3.3.8, resta provar que (b) ⇒ (a). Suponha
então que X(f ) ∈ C∞ (M ), para toda f ∈ C∞ (M ). Dado p ∈ M , considere
uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , e seja ϕ : π −1 (U ) → ϕ(U ) × Rm
a carta correspondente a ϕ em T M . Temos:
(ϕ ◦ X ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) = ϕ(p), a1 (p), . . . , am (p) ,
para todo p ∈ U , onde as funções ai são dadas como em (3.8). Definindo
ϕi = πi ◦ ϕ, para todo 1 ≤ i ≤ m, temos:
ai (p) =
∂ϕ
(p) · X(p) = dϕi (p) · X(p) = X(ϕi )(p),
∂xi
para quaisquer p ∈ U e 1 ≤ i ≤ m. Como X(ϕi ) é de classe C ∞ em U , segue
que ai ∈ C∞ (U ), para todo 1 ≤ i ≤ m. Isso prova que a representação de X
nas cartas ϕ e ϕ é de classe C ∞ . Portanto, X ∈ X(M ).
Denotemos por Der(M ) o conjunto de todas as derivações em M . De
forma análoga ao Lema 3.3.4, temos que Der(M ) é um espaço vetorial real.
O teorema seguinte é a versão global do Teorema 3.3.6.
Teorema 3.3.10. A aplicação φ : X(M ) → Der(M ), definida por
φ(X) = X,
para todo X ∈ X(M ), é um isomorfismo linear.
Demonstração. A linearidade de φ segue diretamente da linearidade da derivada (3.7). Seja D ∈ Der(M ). Dado p ∈ M , a função Dp : C∞ (M ) → R,
definida por
Dp (f ) = D(f )(p),
para toda f ∈ C∞ (M ), é uma derivação em p, ou seja, Dp ∈ Derp (M ).
Assim, do Teorema 3.3.6, existe v ∈ Tp M tal que v = Dp . Isso define uma
aplicação X : M → T M tal que π ◦ X = Id e X(f ) = D(f ), para toda
f ∈ C∞ (M ), pois
X(f )(p) = X(p)(f ) = Dp (f ) = D(f )(p),
para todo p ∈ M . Como D(f ) ∈ C∞ (M ), temos que X(f ) ∈ C∞ (M ).
Assim, pela Proposição 3.3.9, segue que X é de classe C ∞ , i.e., X ∈ X(M ).
Isso prova que φ é sobrejetora. Finalmente, seja X, Y ∈ X(M ) tais que
φ(X) = φ(Y ). Disso decorre que
X(f )(p) = Y (f )(p),
78
para quaisquer f ∈ C∞ (M ) e p ∈ M . Ou seja, X(p)(f ) = Y (p)(f ), para
quaisquer f ∈ C∞ (M ) e p ∈ M . Isso implica que X(p) = Y (p), para todo
p ∈ M . Assim, pelo Teorema 3.3.6, temos que X(p) = Y (p), para todo
p ∈ M , i.e., X = Y . Portanto, φ é injetora.
Em virtude do Teorema 3.3.10, identificaremos naturalmente cada campo
X ∈ X(M ) como uma derivação em M e, para cada função f ∈ C∞ (M ),
denotaremos simplesmente por X(f ) a função associada.
Proposição 3.3.11. Considere duas derivações D1 , D2 ∈ Der(M ). Então,
a aplicação [D1 , D2 ] : C∞ (M ) → C∞ (M ), definida por
[D1 , D2 ] = D1 ◦ D2 − D2 ◦ D1 ,
é uma derivação em M .
Demonstração. Dados f, g ∈ C∞ (M ), temos:
D1 (D2 (f g)) = D1 D2 (f )g + f D2 (g)
= D1 (D2 (f ))g + D2 (f )D1 (g) + D1 (f )D2 (g) + f D1 (D2 (g))
e
D2 (D1 (f g)) = D2 D1 (f )g + f D1 (g)
= D2 (D1 (f ))g + D1 (f )D2 (g) + D2 (f )D1 (g) + f D2 (D1 (g)).
Cancelando os termos semelhantes, obtemos:
[D1 , D2 ](f g) = D1 (D2 (f ))g + f D1 (D2 (g)) − D2 (D1 (f ))g − f D2 (D1 (g))
= [D1 , D2 ](f )g + f [D1 , D2 ](g).
Isso prova que [D1 , D2 ] ∈ Der(M ).
Corolário 3.3.12. Dados X, Y ∈ X(M ), existe um único campo [X, Y ] ∈
X(M ) tal que [X, Y ](f ) = X(Y (f )) − Y (X(f )), para toda f ∈ C∞ (M ).
O campo vetorial [X, Y ] ∈ X(M ), dado pelo Corolário 3.3.12, é chamado
o colchete de Lie dos campos X e Y e é, usualmente, denotado por
[X, Y ] = XY − Y X.
Proposição 3.3.13. O colchete de Lie satisfaz as seguintes propriedades:
(a) [X, Y ] = −[Y, X],
79
(b) [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y ]] = 0,
(c) [f X, gY ] = f g[X, Y ] + f (X(g))Y − g(Y (f ))X,
para quaisquer X, Y, Z ∈ X(M ) e f, g ∈ C∞ (M ).
Demonstração. Basta identificar os campos acima como derivações e avaliar
nas funções de C∞ (M ).
O item (b) da Proposição 3.3.13 é chamado a identidade de Jacobi. Note
que a aplicação
(X, Y ) ∈ X(M ) × X(M ) 7→ [X, Y ] ∈ X(M )
é bilinear sobre R porém, pelo item (c), não é bilinear sobre C∞ (M ). Além
disso, pelo item (b), segue que X, Y , Z são permutados ciclicamente.
Observação 3.3.14. Dado uma carta local (U, ϕ) em M m , temos os campos
coordenados
∂
∂
,...,
∂x1
∂xm
associados a ϕ, ou seja, para cada p ∈ U , os vetores
∂
∂
(p), . . . ,
(p)
∂x1
∂xm
formam uma base para Tp M . Assim, dados X, Y ∈ X(M ), podemos representá-los, localmente, como
X|U =
m
X
Xi
i=1
∂
∂xi
e Y |U =
m
X
i=1
Yi
∂
.
∂xi
Obtemos, então, a fórmula local para o colchete de X e Y no aberto U :
m X
∂Yi
∂Xi
∂
− Yj
.
[X, Y ] =
Xj
∂xj
∂xj ∂xi
i,j=1
80
(3.9)
Exemplo 3.3.15. No plano R2 , com coordenadas (x, y), considere os cam∂
∂
pos vetoriais X = y ∂y
e Y = x ∂y
. Dado uma função f ∈ C∞ (R2 ), temos:
∂
∂
(f )
[X, Y ](f ) = y , x
∂y ∂y
∂
∂
∂
∂
= y
x (f ) − x
y (f )
∂y
∂y
∂y
∂y
2
2
∂f
∂ f
∂ f
− xy 2
= yx 2 − x
∂y
∂y
∂y
∂
= −x (f ) = −Y (f ).
∂y
Portanto, neste caso, tem-se [X, Y ] = −Y .
Exercícios
1. Sejam D : C∞ (M ) → R uma derivação em p ∈ M e f, g ∈ C∞ (M ) tais
que f ≡ g em um aberto U ⊂ M contendo p. Prove que D(f ) = D(g).
2. Prove que [X, X] = 0, para todo X ∈ X(M ).
3. Dado uma carta local (U, ϕ) em uma variedade diferenciável M m , con∂
sidere os campos coordenados ∂x
, 1 ≤ i ≤ m, associados a ϕ. Prove que
i
i
h
∂
∂
∂xi , ∂xj = 0, para quaisquer 1 ≤ i, j ≤ m.
4. Dado uma variedade diferenciável M , considere um subconjunto aberto
U ⊂ M e um campo X ∈ X(M ). Se X(f ) = 0, para toda função f ∈ C∞ (U ),
prove que X|U = 0.
81
3.4
Curvas integrais e o fluxo local
Nesta seção faremos um estudo mais detalhado do fibrado tangente e
de suas seções, os campos vetoriais. Mais precisamente, veremos que um
campo vetorial em uma variedade diferenciável pode ser interpretado como
uma equação diferencial, no sentido que passaremos a descrever.
Definição 3.4.1. Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ). Uma
curva diferenciável α : I → M é chamada uma curva integral de X se
α0 (t) = X(α(t)), para todo t ∈ I.
Dado uma carta local (U, ϕ) em M , escrevamos
X(p) =
m
X
ai (p)
i=1
∂
(p),
∂xi
para todo p ∈ U . Assim, se α : I → M é uma curva integral de X, com
α(I) ⊂ U , temos:
α0 (t) = X(α(t)) ⇔ dϕ(α(t)) · α0 (t) = dϕ(α(t)) · X(α(t))
m
X
d
(ϕ ◦ α)(t) =
(ai ◦ α)(t)ei .
⇔
dt
i=1
Assim, a condição α0 (t) = X(α(t)), para todo t ∈ I, dá a expressão local
d
(ϕi ◦ α) = ai ◦ α,
dt
para todo 1 ≤ i ≤ m, que constitui um sistema de equações diferenciais
ordinárias de 1a ordem.
O teorema fundamental de existência e unicidade para as soluções de tais
sistemas tem a seguinte consequência neste contexto:
Teorema 3.4.2. Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ). Então, para cada p ∈ M , existe um intervalo aberto I = (a, b) contendo 0 onde
está definida a única curva integral α : I → M de X tal que α(0) = p.
Uma consequência do Teorema 3.4.2 é o seguinte corolário.
Corolário 3.4.3. Sejam α1 : I1 → M e α2 : I2 → M curvas integrais de um
campo X ∈ X(M ) tais que α1 (c) = α2 (c), para algum c ∈ I1 ∩ I2 . Então,
α1 (t) = α2 (t), para todo t ∈ I1 ∩ I2 .
82
Demonstração. Defina o conjunto I = {t ∈ I1 ∩ I2 : α1 (t) = α2 (t)}. Temos
que I 6= ∅, pois c ∈ I. Um argumento simples de continuidade nos dá que I
é aberto e fechado em I1 ∩ I2 . Como estamos supondo que os intervalos I1
e I2 são conexos, segue que I = I1 ∩ I2 .
A proposição seguinte é conhecida como a invariância por translação do
parâmetro.
Proposição 3.4.4. Seja α : I → M uma curva integral de um campo
X ∈ X(M ). Dado uma constante c ∈ R, considere os subconjuntos
Lc (I) = {t − c : t ∈ I} e Rc (I) = {t + c : t ∈ I},
e defina as curvas γ : Lc (I) → M e β : Rc (I) → M , pondo
γ(t) = α(t + c) e β(t) = α(t − c).
Então, γ e β são curvas integrais de X.
Demonstração. De fato, temos:
γ 0 (t) = α0 (t + c) = X(α(t + c)) = X(γ(t))
e
β 0 (t) = α0 (t − c) = X(α(t − c)) = X(β(t)),
provando a afirmação.
Definição 3.4.5. Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ). Um
fluxo local para o campo X em torno de um ponto q ∈ M é uma aplicação
ϕ : (−, ) × U → M de classe C ∞ , onde U ⊂ M é um aberto contendo q,
que satisfaz as seguintes propriedades:
(a) Para cada p ∈ U , a curva λp : (−, ) → M , dada por λp (t) = ϕ(t, p),
é uma curva integral de X, com λp (0) = p.
(b) Para cada t ∈ (−, ), a aplicação ϕt : U → M , dada por
ϕt (p) = ϕ(t, p), é um difeomorfismo sobre sua imagem.
Seja ϕ : (−, ) × U → M um fluxo local para X. Dado p ∈ U , as
curvas λ1 (t) = ϕt+s (p) e λ2 (t) = ϕt (ϕs (p)) são curvas integrais de X, com
λ1 (0) = λ2 (0) = ϕs (p). Assim, pelo Corolário 3.4.3, temos que
ϕt (ϕx (p)) = ϕt+s (p),
83
desde que ambos os lados estejam definidos. Disso também decorre que
ϕs ◦ ϕt = ϕt+s = ϕt ◦ ϕs ,
quando definidas. Esta é a chamada propriedade local de grupo, pois se ϕt
estivesse definida para todo t ∈ R, então
t ∈ R 7→ ϕt ∈ Dif(M )
seria um homomorfismo de grupos. Veremos a seguir algumas condições para
que isso ocorra.
O teorema seguinte nos assegura a existência do fluxo local.
Teorema 3.4.6. Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ). Dado
um ponto q ∈ M , existe um fluxo local ϕ : (−, ) × U → M para X em
torno de q tal que, para cada p ∈ U , a curva λp : (−, ) → M , dada por
λp (t) = ϕ(t, p), é a única curva integral de X, com ϕ(0, p) = p.
A unicidade no Teorema 3.4.6 significa que se (a, b) é um intervalo aberto,
com (a, b) ⊂ (−, ), e se α : (a, b) → U é uma curva integral de X, com
α(0) = p ∈ U , então α(t) = ϕ(t, p)|(a,b) .
Proposição 3.4.7. Seja α : (a, b) → M uma curva integral de X ∈ X(M ).
Suponha que exista uma sequência (tn ) de pontos em (a, b) tal que tn → b e
(α(tn )) possui uma subsequência que converge para p0 ∈ M . Então, existe
δ > 0 e uma curva integral α
e : (a, b + δ) → M de X tal que α
e|(a,b) = α.
Demonstração. Seja ϕ : (−, ) × U → M o fluxo local de X em torno de p0 .
Assim, para todo p ∈ U , a curva λp : (−, ) → M , dada por λp (t) = ϕ(t, p),
é a única curva integral de X, com λp (0) = p. Seja n0 ∈ N tal que tn ≥ 0,
tn ∈ (b − /2, b + /2) e α(tn ) ∈ U , para todo n ≥ n0 . Assim, dado n ≥ n0 ,
defina uma curva β : Rtn (−, ) → M pondo
β(t) = λpn (t − tn ),
onde pn = α(tn ) ∈ U . Então, pela Proposição 3.4.4, β é uma curva integral
de X tal que
β(tn ) = λpn (0) = pn = α(tn ).
Assim, pelo Corolário 3.4.3, segue que β(t) = α(t), para todo t ∈ (a, b) ∩
Rtn (−, ). Defina, então,
α(t),
t ∈ (a, b)
α
e(t) =
.
β(t), t ∈ Rtn (−, )
84
Temos que α
e está bem definida, e está definida no intervalo (a, tn + ) ⊃
(a, b + /2), pois
Rtn (−, ) = tn + (−, ).
Além disso, tem-se α
e|(a,b) = α. Portanto, basta tomar δ = /2.
Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ). Dado um ponto
p ∈ M , considere a família {αi : i ∈ I} formada por todas as curvas integrais
αi : (−
S i , i ) → M de X, com αi (0) = p, para todo i ∈ I. O conjunto
Ip = i∈I (−i , i ) é um intervalo aberto de R contendo 0. Defina uma curva
αp : Ip → M pondo
αp (t) = αi (t),
se t ∈ (−i , i ). Pelo Corolário 3.4.3, αp está bem definida e é uma curva
integral de X, com αp (0) = p, chamada a curva integral maximal de X
passando pelo ponto p.
∂
∂
Exemplo 3.4.8. Em R2 , considere o campo X = x ∂x
− y ∂y
.
α(t) = (x(t), y(t)) é uma curva integral de X se, e somente se,
dx
=x e
dt
Então,
dy
= −y.
dt
Assim, devemos ter x(t) = Aet e y(t) = Be−t , com A, B ∈ R. Portanto, a
curva integral maximal de X, passando pelo ponto p = (p1 , p2 ), é dada por
αp (t) = (p1 et , p2 e−t ),
para todo t ∈ R.
As curvas integrais maximais de um campo X têm a seguinte caracterização:
Proposição 3.4.9. Seja αp : Ip → M a curva integral maximal de
X ∈ X(M ), com αp (0) = p. Se α : (a, b) → M é uma curva integral
de X e existe t0 ∈ (a, b) ∩ Ip tal que α(t0 ) = αp (t0 ), então (a, b) ⊂ Ip e
α = αp |(a,b) .
Demonstração. Defina uma curva β : Ip ∪ (a, b) → M pondo
αp (t),
t ∈ Ip
β(t) =
.
α(t), t ∈ (a, b)
O Corolário 3.4.3 mostra que β está bem definida e é uma curva integral de
X. Como β(0) = αp (0) = p, concluimos que Ip ∪ (a, b) ⊂ Ip , logo (a, b) ⊂ Ip
e α(t) = β(t) = αp (t), para todo t ∈ (a, b).
85
Proposição 3.4.10. Sejam M uma variedade diferenciável e X ∈ X(M ).
Dado um ponto p ∈ M , seja αp : Ip → M a curva integral maximal de X
passando por p. Então:
(a) Se existe um subconjunto compacto K ⊂ M tal que αp (Ip ) ⊂ K, então
Ip = R.
(b) Se existe t0 ∈ Ip tal que X(αp (t0 )) = 0 então Ip = R e αp (t) = p, para
todo t ∈ R.
Demonstração. (a) Suponha que Ip ( R. Assim, existe b = sup Ip (ou
a = inf Ip ). Seja (tn ) uma sequência em Ip , com tn → b. Como K ⊂ M é
compacto e (αp (tn )) é uma sequência em K, existe uma subsequência (tnk )
de (tn ) tal que αp (tnk ) → p0 ∈ M . Assim, pela Proposição 3.4.7, existe δ > 0
e uma curva integral α
e : Ip ∪ (b, b + δ) → M de X tal que α
ep |Ip = αp . Mas
isso contradiz o fato de αp ser maximal.
(b) Defina uma curva β : R → M pondo β(t) = αp (t0 ), para todo t ∈ R.
Temos que
β 0 (t) = 0 = X(αp (t0 )) = X(β(t)),
i.e., β é uma curva integral de X com β(t0 ) = αp (t0 ). Assim, pelo Corolário
3.4.3, temos que β(t) = αp (t), para todo t ∈ Ip ∩ R = Ip . Disso decorre que
β(0) = p e, portanto, β é uma curva integral de X passando por p. Logo,
pela Proposição 3.4.9, temos que R ⊂ Ip . Portanto, Ip = R e αp (t) = p, para
todo t ∈ R.
Corolário 3.4.11. Seja X ∈ X(M ) com suporte compacto. Se αp : Ip → M
é a curva integral maximal de X passando por p então Ip = R.
Demonstração. Seja K = suppX. Temos duas possibilidades: se αp (Ip ) ⊂ K
então, pelo item (a) da Proposição 3.4.10, tem-se que Ip = R; se existe t0 ∈ Ip
tal que αp (t0 ) 6∈ K então X(αp (t0 )) = 0. Assim, pelo item (b) da Proposição
3.4.10 tem-se que Ip = R.
Motivados pelo Corolário 3.4.11, temos a seguinte:
Definição 3.4.12. Um campo vetorial X ∈ X(M ) é dito ser completo se,
para todo p ∈ M , o domínio da curva integral maximal de X passando por
p é todo R.
Segue então diretamente do Corolário 3.4.11 que todo campo X ∈ X(M )
com suporte compacto é completo.
86
Dado um campo vetorial X ∈ X(M ), definimos
D = {(t, p) : t ∈ Ip },
onde Ip é o domínio da curva integral maximal αp de X passando por p.
Definimos também uma aplicação ϕ : D → M pondo
ϕ(t, p) = αp (t),
(3.10)
para todo (t, p) ∈ D. Pelo Teorema 3.4.6, D contém uma vizinhança de
{0} × M no qual ϕ é diferenciável. Este resultado pode ser melhorado, como
mostra a proposição seguinte.
Proposição 3.4.13. A aplicação ϕ : D → M , definida em (3.10), é diferenciável.
Demonstração. Dado p ∈ M , seja C o conjunto formado pelos reais t ∈ Ip
tais que (t, p) é um ponto interior de D e ϕ é diferenciável em uma vizinhança
de (t, p). Temos que C é aberto em Ip e, pelo Teorema 3.4.6, temos que 0 ∈ C,
logo C 6= ∅. Provemos que C também é fechado em Ip . De fato, seja b ∈ Ip
um ponto aderente a C. Pelo Teorema 3.4.6, existem δ > 0 e um aberto
V ⊂ M contendo αp (b) tais que (−δ, δ) × V ⊂ D e ϕ : (−δ, δ) × V → M
é diferenciável. Escolhendo c ∈ C tal que |b − c| < δ e αp (c) ∈ V , existe
> 0 e um aberto W ⊂ M contendo p tal que (c − , c + ) × W ⊂ D é outro
subconjunto no qual ϕ é diferenciável. Em particular, a aplicação ϕc = ϕ(c, ·)
é contínua em W . Assim, existe um aberto U ⊂ M , com p ∈ U ⊂ W , tal
que ϕc (U ) ⊂ V . Então, se q ∈ U temos que λ(t) = ϕ(t − c, ϕ(c, q)) é uma
curva integral de X definida para t − c ∈ (−δ, δ), com λ(c) = ϕ(c, q). Logo,
ϕ(t, q) = ϕ(t − c, ϕ(c, q)), para quaisquer (t, q) ∈ (c − δ, c + δ) × U , o que
mostra que (c − δ, c + δ) × U ⊂ D e ϕ é diferenciável neste conjunto. Como
|b − c| < δ, concluimos que b ∈ C, ou seja, C é fechado em Ip . Portanto,
C = Ip , e a prova está concluida.
A aplicação ϕ : D → M , definida em (3.10), é chamada o fluxo maximal
do campo X. Observe que X é completo se, e somente se, D = R × M .
Seja ϕ : D → M o fluxo maximal de um campo vetorial X ∈ X(M ).
Para cada t ∈ I, defina Dt = {p ∈ M : t ∈ Ip } e considere a aplicação
ϕt : Dt → M definida por
ϕt (p) = ϕ(t, p).
Note que, em geral, o domínio
de ϕt depende de t. Como Ip 6= ∅, para todo
S
p ∈ M , segue que M = t>0 Dt .
87
Teorema 3.4.14. Dado s ∈ I, seja t ∈ I tal que t ∈ Iαp (s) , para todo p ∈ Ds .
Então, t + s ∈ Ip , para todo p ∈ Ds , e vale:
(ϕt ◦ ϕs )(p) = ϕs+t (p),
(3.11)
para todo p ∈ Ds . Decorre, em particular, que ϕt ◦ ϕ−t = Id, logo ϕt é um
difeomorfismo sobre D−t , cujo inverso é ϕ−t .
Demonstração. Dado p ∈ Ds , seja ααp (s) : Iαp (s) → M a curva integral de
X, com ααp (s) (0) = αp (s). Defina uma curva β : Rs Iαp (s) → M pondo
β(t) = ααp (s) (t − s).
Temos que β é uma curva integral de X tal que β(s) = αp (s). Definimos
agora uma curva α : Ip ∪ Rs Iαp (s) → M pondo
αp (t), t ∈ Ip
.
α(t) =
β(t), t ∈ Rs Iαp (s)
A curva α está bem definida e é uma curva integral de X, com α(p) = 0.
Segue então da unicidade que
Rs Iαp (s) ⊂ Ip e α = αp |Rs (Iα (s) ) .
p
Assim, se t ∈ Iαp (s) então t + s ∈ Rs Iαp (s) ⊂ Ip . Além disso, temos:
ϕt+s (p) = αp (t + s) = β(t + s) = ααp (s) (t)
= ϕt (αp (s)) = ϕt (ϕs (p)),
para todo p ∈ Ds . Portanto, ϕt+s = ϕt ◦ ϕs .
No caso em que X ∈ X(M ) é completo, as aplicações ϕt formam um
grupo de difeomorfismos de M parametrizados pelos números reais, e é chamado o grupo a 1-parâmetro de X. Se X não é completo, os difeomorfismos
ϕt não formam um grupo, pois seus domínios dependem de t. Neste caso,
dizemos que a coleção dos difeomorfismos ϕt é um grupo local a 1-parâmetro
de X.
Vimos no Teorema 3.4.14 que todo campo vetorial completo X ∈ X(M )
determina um grupo a 1-parâmetro. Reciprocamente, dado um grupo a 1parâmetro {ϕt : t ∈ R} de difeomorfismos de uma variedade diferenciável
M , definimos uma aplicação X : M → T M pondo
d
(ϕt (p)) (0),
(3.12)
dt
para todo p ∈ M . Isso define um campo X ∈ X(M ), que tem {ϕt : t ∈ R}
como grupo a 1-parâmetro associado.
X(p) =
88
Exercícios
1. Verifique que X ∈ X(M ), onde X é o campo dado em (3.12).
2. Dados um campo X ∈ X(M ) e um ponto p ∈ M , considere a curva
integral maximal αp : Ip → M de X passando por p. Se Ip é limitado, prova
que αp é um mergulho.
3. Considere um campo X ∈ X(Rn ) tal que kX(p)k ≤ c, para todo p ∈ Rn ,
onde c > 0. Prove que X é completo.
4. Prove que se M é compacta, qualquer campo X ∈ X(M ) é completo.
∂
5. Determine as curvas integrais em R2 do campo vetorial X = e−x ∂y
+
e verifique se o campo é completo.
∂
∂x
∂
∂
+ y ∂y
estão definidas em todo
6. Quais curvas integrais do campo X = x2 ∂x
R?
∂
∂
7. Determine as curvas integrais em R2 do campo vetorial X = x2 ∂x
+xy ∂y
.
89
3.5
Campos f -relacionados
Dado uma variedade diferenciável M identificaremos, para cada ponto
p ∈ M , a fibra {p} × Tp M do fibrado tangente T M de M com o próprio
espaço tangente Tp M , através da bijeção natural
v ∈ Tp M 7→ (p, v) ∈ {p} × Tp M.
(3.13)
Assim, se f : M → N é uma aplicação diferenciável, a diferencial
df : T M → T N de f , definida em (3.1), será dada por
df (v) = df (p) · v,
(3.14)
para todo v ∈ Tp M . Com a identificação (3.13), é usual expressar o valor
df (v), dado em (3.14), pondo
df (v) = df (πM (v)) · v,
onde πM : T M → M é a projeção canônica. Preferimos, no entanto, escrever
o valor df (v) como dado em (3.14); na prática esta notação não causará
confusão.
Definição 3.5.1. Seja f : M → N uma aplicação diferenciável. Dizemos
que dois campos vetoriais X ∈ X(M ) e Y ∈ X(N ) são f -relacionados se o
diagrama
M
X
f
TM
/N
df
Y
/ TN
comuta, i.e., df ◦ X = Y ◦ f . Isso significa que df (p) · X(p) = Y (f (p)), para
todo p ∈ M .
Com a identificação estabelecida no Teorema 3.3.10, entre campos vetoriais e derivações, temos o seguinte:
Lema 3.5.2. Dois campos X ∈ X(M ) e Y ∈ X(N ) são f -relacionados se, e
somente se, X(g ◦ f ) = Y (g) ◦ f , para toda g ∈ C∞ (N ).
Demonstração. Dados p ∈ M e g ∈ C∞ (N ), temos:
X(g ◦ f )(p) = X(p)(g ◦ f ) = df (p) · X(p)(g)
90
e
(Y (g) ◦ f )(p) = Y (g)(f (p)) = Y (f (p))(g).
Assim, X(g ◦ f )(p) = (Y (g) ◦ f )(p) para quaisquer p ∈ M e g ∈ C∞ (N ) se,
e somente se, df (p) · X(p)(g) = Y (f (p))(g). Ou seja, X(g ◦ f ) = Y (g) ◦ f ,
para toda g ∈ C∞ (N ) se, e somente se, X e Y são f -relacionados.
Dado uma aplicação diferenciável f : M → N , nem sempre um campo
vetorial Y ∈ X(N ) é f -relacionado com algum campo X ∈ X(M ). A proposição seguinte nos dá uma condição para que isso ocorra.
Proposição 3.5.3. Seja f : M → N uma imersão diferenciável. Dado um
campo vetorial Y ∈ X(N ), com
Y (f (p)) ∈ df (p)(Tp M ),
para todo p ∈ M , existe um único campo X ∈ X(M ) tal que X e Y são
f -relacionados.
Demonstração. Definimos uma aplicação X : M → T M pondo X(p) como
sendo o único elemento de Tp M tal que
df (p) · X(p) = Y (f (p)).
Provemos agora que X é diferenciável. Como f é uma imersão, segue do
Teorema 2.1.4 que, para todo p ∈ M , existem cartas locais (U, ϕ) e (V, ψ)
em M e N , respectivamente, com p ∈ U e f (U ) ⊂ V , tais que
(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x) = (x, 0),
para todo x ∈ ϕ(U ). Fazendo x = ϕ(p), temos (ψ ◦ f )(p) = (ϕ(p), 0), para
todo p ∈ U . Disso decorre que
df (p) = dψ(f (p))−1 ◦ dϕ(p),
para todo p ∈ U . Assim,
df (p) ·
∂
∂
(p) =
(f (p)),
∂xi
∂yi
para quaisquer p ∈ U e 1 ≤ i ≤ m. Em relação à base associada a ψ,
podemos escrever
Y (f (p)) =
m
X
bi (f (p))
i=1
91
∂
(f (p)),
∂yi
(3.15)
para todo p ∈ U . Escrevendo
X(p) =
m
X
ai (p)
i=1
∂
(p),
∂xi
temos:
Y (f (p)) = df (p) · X(p) =
m
X
ai (p)df (p) ·
i=1
=
m
X
i=1
∂
(p)
∂xi
(3.16)
∂
(f (p)).
ai (p)
∂yi
De (3.15) e (3.16), obtemos ai = bi ◦f . Como as funções bi são diferenciáveis,
segue que ai é diferenciável, para todo 1 ≤ i ≤ m. Isso mostra que X ∈
X(M ).
No caso em que f : M → N é um difeomorfismo, para cada campo
Y ∈ X(N ), existe um único campo X ∈ X(M ) que é f -relacionado com Y ,
a saber
X = df −1 ◦ Y ◦ f.
(3.17)
O campo em (3.17) é usualmente denotado por f ∗ Y , e é chamado o pull-back
de Y por f . Analogamente, dado um campo X ∈ X(M ), existe um único
campo Y ∈ X(N ) que é f -relacionado com X, a saber
Y = df ◦ X ◦ f −1 .
(3.18)
O campo dado em (3.18) é usualmente denotado por f∗ X, e é chamado o
push-forward de X por f .
No espaço das funções, o pull-back é definido pondo f ∗ g = g ◦ f , para
toda g ∈ C∞ (N ). O push-forward é definido pondo f∗ h = (f −1 )∗ h = h◦f −1 ,
para toda h ∈ C∞ (M ).
A proposição seguinte é uma das principais propriedades dos campos
f -relacionados.
Proposição 3.5.4. Sejam f : M → N uma aplicação diferenciável e campos
X1 , X2 ∈ X(M ) e Y1 , Y2 ∈ X(N ). Se Xi e Yi são f -relacionados, para i = 1, 2,
então [X1 , X2 ] e [Y1 , Y2 ] são f -relacionados.
92
Demonstração. Como Xi e Yi são f -relacionados, para i = 1, 2, segue do
Lema 3.5.2 que
Xi (g ◦ f ) = Yi (g) ◦ f,
para toda g ∈ C∞ (N ) e i = 1, 2. Assim,
[Y1 , Y2 ](g) ◦ f
= Y1 (Y2 (g)) ◦ f − Y2 (Y1 (g)) ◦ f
= X1 (Y2 (g) ◦ f ) − X2 (Y1 (g) ◦ f )
= X1 (X2 (g ◦ f )) − X2 (X1 (g ◦ f ))
= [X1 , X2 ](g ◦ f ).
Como g ∈ C∞ (N ) é arbitrária, segue do Lema 3.5.2 que [X1 , X2 ] e [Y1 , Y2 ]
são f -relacionados.
Corolário 3.5.5. Se f : M → N é um difeomorfismo, então
[f∗ X1 , f∗ X2 ] = f∗ [X1 , X2 ],
para quaisquer X1 , X2 ∈ X(M ).
Nosso objetivo agora é relacionar o colchete de Lie de dois campos vetoriais com seus fluxos. Para isso, consideremos o seguinte lema auxiliar.
Lema 3.5.6. Seja F : I × M → R uma função diferenciável, onde I é um
intervalo aberto contendo 0 ∈ R. Então, existe uma função diferenciável
h : I × M → R tal que
F (t, p) = F (0, p) + th(t, p),
para quaisquer t ∈ I e p ∈ M .
Demonstração. Defina
Z
1
h(t, p) =
0
∂F
(st, p)ds,
∂s
para quaisquer t ∈ I e p ∈ M .
Teorema 3.5.7. Para quaisquer dois campos X, Y ∈ X(M ), tem-se
1 ∗
ϕt Y − Y ,
t→0 t
[X, Y ] = lim
onde {ϕt } é o grupo local a 1-parâmetro de X.
93
Demonstração. Dado uma função f ∈ C∞ (M ), temos:
ϕ∗t Y (f ) = (dϕ−1
t ◦ Y ◦ ϕt )(f ) = (dϕ−t ◦ Y ◦ ϕt )(f )
= df ◦ (dϕ−t ◦ Y ◦ ϕt ) = d(f ◦ ϕ−t ) ◦ (Y ◦ ϕt )
= (Y ◦ ϕt )(f ◦ ϕ−t ).
Considere a função F : I × M → R definida por
F (t, p) = (f ◦ ϕ−t )(p),
para quaisquer t ∈ I e p ∈ M . Segue do Lema 3.5.6 que
F (t, p) = F (0, p) + th(t, p),
(3.19)
onde h : I × M → R é uma função diferenciável, com
∂F
(0, p).
(3.20)
∂t
Note que, para cada t ∈ I fixado, temos uma função ht : M → R dada por
ht (p) = h(t, p), para todo p ∈ M . Segue, então, de (3.19) que
h(0, p) =
ϕ∗t Y (f ) = (Y ◦ ϕt )(f + tht )
= (Y ◦ ϕt )(f ) + t(Y ◦ ϕt )(ht ).
Dado p ∈ M , temos:
∂F
d
(0, p) = (f (ϕ−t (p)))(0) = df (p) · (−X(p)) = −X(f )(p).
∂t
dt
Assim, segue de (3.20) e (3.21) que
(3.21)
lim(Y ◦ ϕt )(ht )(p) = lim(Y ◦ ϕt )(p)(ht )
t→0
t→0
= lim Y (ϕt (p))(ht ) = Y (p)(h0 )
t→0
(3.22)
= Y (p)(−X(f )) = −Y (X(f ))(p).
Por outro lado,
lim
t→0
1
1
(Y ◦ ϕt )(f )(p) − Y (f )(p) = lim Y (ϕt (p))(f ) − Y (p)(f )
t→0
t
t
1
= lim Y (f )(ϕt (p)) − Y (f )(p)
t→0 t
d
(3.23)
Y (f )(ϕt (p)) (0)
=
dt
= d(Y (f ))(p) · X(p)
= X(p)(Y (f ))
= X(Y (f ))(p).
94
Portanto, segue de (3.22) e (3.23) que
1
(ϕ∗t Y )(f )(p) − Y (f )(p) = X(Y (f ))(p) − Y (X(f ))(p)
t→0 t
= (XY − Y X)(f )(p).
lim
Como f ∈ C∞ (M ) e p ∈ M são arbitrários, o teorema está provado.
Observação 3.5.8. Se X ∈ X(M ) é um campo completo então, para cada
t ∈ R, a aplicação ϕt é um difeomorfismo de M sobre M e
ϕ∗t Y = dϕ−t ◦ Y ◦ ϕt ,
para todo Y ∈ X(M ). No entanto, se X não é completo, ϕt está definido
somente no aberto Dt . Assim, ϕ∗t : X(D−t ) → X(Dt ). Se Y ∈ X(M ) interpretaremos, então, o campo ϕ∗t Y como
ϕ∗t (Y |D−t ) ∈ X(Dt ).
S
Agora, como M ⊂ t6=0 Dt , ambos os valores ϕt (p) e (ϕ∗t Y )(p) fazem sentido
para qualquer p ∈ M , desde que t seja suficientemente pequeno e
(ϕ∗t Y )(p) = dϕ−t (Y (ϕt (p))).
Tendo isso em mente, manteremos a notação
[X, Y ] =
d ∗ ϕ Y (0)
dt t
também para os campos que não são completos, desde que interpretamos,
corretamente, o campo pull-back ϕ∗t Y .
Observação 3.5.9. Considere um campo X ∈ X(M ) e seu grupo local a
1-parâmetro {ϕt }. Dado um ponto p ∈ M , o vetor X(p) é tangente à curva
α(t) = ϕt (p) em t = 0. Isso pode ser interpretado em termos da ação de
X(p) sobre as funções g ∈ C∞ (M ). De fato, como
α0 (t)(g) = (g ◦ α)0 (t),
dizer que X(p) é tangente à curva α(t) em t = 0 significa que
X(p)(g) = α0 (0)(g) = (g ◦ α)0 (0)
1
= lim g(ϕt (p)) − g(p) .
t→0 t
95
A fim de obtermos uma interpretação para o colchete [X, Y ], provaremos
os dois seguintes lemas.
Lema 3.5.10. Sejam f : M → N um difeomorfismo diferenciável e X ∈
X(M ). Se {ϕt } é o grupo local a 1-parâmetro de X então {f ◦ ϕt ◦ f −1 } é o
grupo local a 1-parâmetro de f∗ X.
Demonstração. Dados g ∈ C∞ (N ) e q ∈ N , temos:
(f∗ X)(q)(g) = (df ◦ X ◦ f −1 )(q)(g)
= (df ◦ X)(f −1 (q))(g)
= X(f −1 (q))(g ◦ f )
1
= lim (g ◦ f )(ϕt (f −1 (q))) − (g ◦ f )(f −1 (q))
t→0 t
1
= lim g (f ◦ ϕt ◦ f −1 )(q) − g(q) .
t→0 t
Assim, pela Observação 3.5.9, segue que {f ◦ ϕt ◦ f −1 } é o grupo local a
1-parâmetro de f∗ X.
Corolário 3.5.11. Se f : M → M é um difeomorfismo diferenciável então
f∗ X = X se, e somente se, ϕt ◦ f = f ◦ ϕt , para todo t ∈ I.
Demonstração. Suponha f∗ X = X. Assim, para cada t ∈ I, temos
ϕt (p) = (f ◦ ϕt ◦ f −1 )(p),
para todo p ∈ Dt , ou seja,
(ϕt ◦ f )(p) = (f ◦ ϕt )(p),
para todo p ∈ Dt . Reciprocamente, suponha ϕt ◦ f = f ◦ ϕt , para todo t ∈ I.
Disso decorre que ϕt (p) = (f ◦ϕt ◦f −1 )(p), para todo p ∈ Dt . Fixado p ∈ M ,
defina
α(t) = ϕt (p),
para t suficientemente pequeno. Temos α0 (0) = X(p). Por outro lado, tem-se
α0 (0) = (f∗ X)(p). Como p ∈ M é arbitrário, segue que f∗ X = X.
Lema 3.5.12. Dados X, Y ∈ X(M ), sejam {ϕt } e {ψs } os grupos locais a
1-parâmetro de X e Y , respectivamente. Então, [X, Y ] = 0 se, e somente se,
ϕt ◦ ψs = ψs ◦ ϕt , para quaisquer s, t.
96
Demonstração. Suponha ϕt ◦ ψs = ψs ◦ ϕt , para quaisquer s, t. Fixado t,
segue do Corolário 3.5.11 que
ϕ∗t Y = Y.
(3.24)
Dado p ∈ M , considere uma curva α : Ip → Tp M dada por
α(t) = (ϕ∗t Y )(p).
(3.25)
Do Teorema 3.5.7, temos que α0 (0) = [X, Y ](p). Porém, segue de (3.24) que
α(t) = (ϕ∗t Y )(p) = Y (p), i.e., α é constante. Logo, α0 (0) = [X, Y ](p) = 0.
Como p ∈ M é arbitrário, segue que [X, Y ] = 0. Reciprocamente, suponha
[X, Y ] = 0. Assim,
1 ∗
lim
ϕh Y − Y = 0.
h→0 h
Fixado p ∈ M , considere a curva α(t) dada em (3.25). Então:
1
α(t + h) − α(t)
h→0 h
1
= lim
(ϕ∗t+h Y )(p) − (ϕ∗t Y )(p)
h→0 h
1 ∗ ∗
ϕt (ϕh Y )(p) − (ϕ∗t Y )(p)
= lim
h→0 h
1
∗
∗
= ϕt lim
(ϕh Y )(p) − Y (p)
h→0 h
= ϕ∗t (0) = 0.
α0 (t) =
lim
Disso decorre que α é constante. Em particular, α(t) = α(0), logo ϕ∗t Y = Y .
Assim, do Corolário 3.5.11, segue que ϕt ◦ ψs = ψs ◦ ϕt , para quaisquer
s, t.
A comutatividade dos fluxos, dada pelo Lema 3.5.12, pode ser interpretada da seguinte forma. Sejam X, Y ∈ X(M ). Dado p ∈ M , para todo t
suficientemente pequeno, façamos:
α(t) = (ψ−t ◦ ϕ−t ◦ ψt ◦ ϕt )(p).
Assim, α(t) = p se, e somente se, [X, Y ](p) = 0. O colchete [X, Y ] mede o
quanto o paralelogramo da Figura 3.1 é fechado.
Pelo Exercício 3 temos que, se (U, ϕ) é uma carta local em M , então
∂
∂
,
= 0,
∂xi ∂xj
97
Y
X
[X,Y ]
X
Y
p
Figura 3.1: Variação da comutatividade dos fluxos.
para quaisquer 1 ≤ i, j ≤ m. Veremos a seguir que a condição [X, Y ] = 0 é
também suficiente para a existência de uma carta local (U, ϕ) em M tal que
X = ∂x∂ 1 e Y = ∂x∂ 2 .
Definição 3.5.13. Dizemos que dois campos vetoriais X, Y ∈ X(M ) são
linearmente independentes se X(p) e Y (p) são vetores linearmente independentes em Tp M , para todo p ∈ M .
Teorema 3.5.14. Sejam X1 , . . . , Xk ∈ X(M ) campos linearmente independentes. Se [Xi , Xj ] = 0, para quaisquer 1 ≤ i, j ≤ k então, para todo p ∈ M ,
existe uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , tal que
Xi (q) =
∂
(q),
∂xi
para quaisquer q ∈ U e 1 ≤ i, j ≤ k.
Demonstração. Dado um ponto p ∈ M , considere uma carta (U, ϕ) em M
com as seguintes propriedades:
(a) ϕ(p) = 0 ∈ Rm ;
(b) ϕ(U ) = (−, )m ;
(c) X1 (p), . . . , Xk (p), ∂x∂k+1 (p), . . . , ∂x∂m (p) são vetores linearmente independentes em Tp M .
Defina uma aplicação ψ : (−, )k × (−, )m−k → M pondo
ψ(x, y) = ψ(x1 , . . . , xk , y) = ϕkxk ◦ . . . ◦ ϕ1x1 (ϕ−1 (0, y)),
onde {ϕit } é o grupo local a 1-parâmetro do campo Xi , para 1 ≤ i ≤ k.
Temos:
ψ(x + tei , y) = ϕkxk ◦ . . . ◦ ϕixi +t ◦ . . . ◦ ϕ1x1 (ϕ−1 (0, y))
= ϕit (ψ(x, y)),
98
pois ϕis ◦ ϕjt = ϕjt ◦ ϕis . Assim, para todo 1 ≤ i ≤ k, temos:
d
(ψ(x + tei , y))(0) = Xi (ψ(x, y)).
dt
dψ(x, y) · ei =
Decorre, em particular, que
dψ(0, 0) · ei = Xi (p),
para todo 1 ≤ i ≤ k. Além disso, para k + 1 ≤ i ≤ m, temos:
dψ(0, 0) · ei =
=
d
d
(ψ(0, tei ))(0) = (ϕ−1 (0, tei ))(0)
dt
dt
∂
(p).
∂xi
Decorre, então, da hipótese (c) que dψ(0, 0) : Rm → Tp M é um isomorfismo,
Assim, pelo Teorema 1.6.11, existe um aberto W ⊂ Rm , com (0, 0) ∈ W ⊂
(−, )m , tal que ψ|W : W → ψ(W ) é um difeomorfismo. Assim, a carta
local procurada é ϕ = ψ −1 .
Concluimos então do Teorema 3.5.14 que o colchete [X, Y ] pode ser usado
para comparar a diferença entre as curvas integrais de X e Y e as curvas
coordenadas de uma dada carta local.
Exercícios
1. Sejam f : M → N uma aplicação diferenciável e X ∈ X(M ), Y ∈ X(N )
campos vetoriais f -relacionados. Prove que qualquer curva integral de X é
transformada por f numa curva integral de Y .
99
3.6
O teorema de Frobenius
A teoria das distribuições pode ser vista como uma formulação geométrica
da teoria clássica de certos sistemas de equações diferenciais parciais. As
soluções são subvariedades da variedade em questão, chamadas de subvariedades integrais. O teorema de Frobenius nos dá condições necessárias
e suficientes para a existência de tais subvariedades integrais. Veremos no
capítulo seguinte uma aplicação deste teorema, que consiste em mostrar que
uma subálgebra da álgebra de Lie de um grupo de Lie corresponde a um
subgrupo de Lie.
Definição 3.6.1. Uma distribuição de posto k em uma variedade diferenciável M é uma correspondência D que associa a cada ponto p ∈ M um
subespaço vetorial D(p) ⊂ Tp M de dimensão k.
Decorre da Definição 3.6.1 que para qualquer ponto p ∈ M existe um
aberto U ⊂ M contendo p e k campos vetoriais X1 , . . . , Xk , possivelmente
definidos em U , tais que
D(q) = span{X1 (q), . . . , Xk (q)},
(3.26)
para todo q ∈ U . Diremos que uma distribuição D é diferenciável se é
possível escolher campos vetoriais X1 , . . . , Xk ∈ X(U ) com a propriedade
(3.26), em uma vizinhança U de cada ponto p ∈ M .
Exemplo 3.6.2. Seja M uma variedade diferenciável que admite um campo
vetorial X ∈ X(M ) não-nulo em todo ponto. Assim, o campo X gera uma
distribuição diferenciável D de posto 1, dada por
D(p) = span{X(p)},
para todo p ∈ M .
Exemplo 3.6.3. No espaço Euclidiano Rn , os campos vetoriais
1 ≤ k ≤ n, geram uma distribuição diferenciável de posto k.
∂
∂
∂x1 , . . . , ∂xk ,
Exemplo 3.6.4. Em M = Rn \{0}, definimos uma distribuição D pondo,
para cada p ∈ M , D(p) como sendo o subespaço de Tp M = Rn ortogonal
−
ao vetor posição vp = →
p . Estendendo o vetor vp a um campo vetorial
X1 ∈ X(U ), onde U ⊂ M é um aberto contendo p, e aplicando o algoritmo
de Gram-Schmidt, obtemos n campos vetoriais X1 , . . . , Xn ∈ X(U ) tais que,
para cada q ∈ U , os vetores X1 (1), . . . , Xn (q) formam uma base ortonormal
de Rn . Disso decorre que D é localmente gerada pelos campos X2 , . . . , Xn ∈
X(U ). Portanto, D é uma distribuição diferenciável em M de posto n − 1.
100
Exemplo 3.6.5. No espaço Euclidiano R3 , considere a distribuição D definida do seguinte modo. Para cada ponto p = (a, b, c), defina D(p) como o
plano gerado pelos vetores
∂
∂
(p) + b (p) e
∂x
∂z
∂
(p).
∂y
Assim,
D(p) = {(r, s, br)p : r, s ∈ R},
e a equação deste plano é dada por
z − c = b(x − a),
para cada ponto p = (a, b, c) ∈ R3 .
Definição 3.6.6. Uma distribuição D de posto k em uma variedade diferenciável M é dita ser involutiva se para quaisquer campos vetoriais
X, Y ∈ X(M ), com X(p), Y (p) ∈ D(p), para todo p ∈ M , tem-se que
[X, Y ](p) ∈ D(p), para todo p ∈ M .
Exemplo 3.6.7. No espaço Euclidiano Rm+n , considere a distribuição D
∂
gerada pelos campos coordenados ∂x
, 1 ≤ i ≤ m. Dados campos vetoriais
i
m+n
X, Y ∈ X(R
), com X(p), Y (p) ∈ D(p), para todo p ∈ Rm+n , podemos
escrever
m
m
X
X
∂
∂
X=
e Y =
.
Xi
Yi
∂xi
∂xi
i=1
i=1
Assim, da fórmula (3.9), obtemos que [X, Y ](p) ∈ D(p), para todo p ∈ Rm+n ,
i.e., D é involutiva.
Exemplo 3.6.8. A distribuição D em R3 gerada pelos vetores
X=
∂
∂x1
e Y =
∂
∂
+ ex1
∂x2
∂x3
não é involutiva, pois
∂
,
∂x3
que não é uma combinação linear de X e Y .
[X, Y ] = ex1
Definição 3.6.9. Seja D uma distribuição de posto k em uma variedade
diferenciável M . Uma subvariedade N k ⊂ M é chamada uma subvariedade
integral para a distribuição D se
D(i(x)) = di(x)(Tx N ),
101
para todo x ∈ N , onde i : N → M é a aplicação inclusão. A distribuição D
é chamada integrável se cada ponto de M está contido em uma subvariedade
integral da distribuição.
Exemplo 3.6.10. No Exemplo 3.6.2, a imagem de qualquer curva integral
de X é uma subvariedade integral de D. No Exemplo 3.6.4, por cada ponto
p ∈ Rn \{0}, a esfera de raio kpk centrada na origem é uma subvariedade
integral da distribuição D.
Proposição 3.6.11. Toda distribuição integrável é involutiva.
Demonstração. Seja D uma distribuição integrável de posto k em uma variedade diferenciável M . Considere dois campos X, Y ∈ X(M ) tais que
X(p), Y (p) ∈ D(p), para todo p ∈ M . Como D é integrável segue que, para
cada p ∈ M , existe uma subvariedade N k ⊂ M , contendo p, tal que
D(i(x)) = di(x)(Tx N ),
para todo x ∈ N . Assim, como a inclusão i : N → M é, em particular, uma
e Ye ∈ X(N ) tais que
imersão, segue da Proposição 3.5.3, existem campos X,
e
e
X é i-relacionado com X e Y é i-relacionado com Y . Pela Proposição 3.5.4,
e Ye ] e [X, Y ] são i-relacionados, i.e.,
obtemos que [X,
e Ye ].
[X, Y ] ◦ i = di ◦ [X,
Portanto,
e Ye ](x) ∈ D(q).
[X, Y ](q) = [X, Y ](i(x)) = di(x) · [X,
Como p ∈ M foi escolhido de forma arbitrária, a proposição está provada.
O lema seguinte afirma que toda distribuição involutiva é diferenciável.
Lema 3.6.12. Seja D uma distribuição involutiva de posto k em uma variedade diferenciável M m . Então, para cada ponto p ∈ M , existem um
aberto V ⊂ M contendo p e campos vetoriais X1 , . . . , Xk ∈ X(V ) tais que
X1 (q), . . . , Xk (q) geram D(q), para todo q ∈ V , e [Xi , Xj ] = 0, para quaisquer 1 ≤ i, j, ≤ k.
Demonstração. Dado um ponto p ∈ M , seja (U, ϕ) uma carta local em M ,
com p ∈ U e ϕ(p) = 0. Seja Rm = Rk ⊕ Rm−k uma decomposição em soma
direta tal que dϕ(p)(D(p)) = Rk . Se π : Rm → Rk denota a projeção sobre
o primeiro fator, temos que (π ◦ ϕ)(p) = 0 e d(π ◦ ϕ)(p) transforma D(p)
102
isomorficamente sobre Rk . Segue então, por continuidade, que d(π ◦ ϕ)(q)
transforma D(q) isomorficamente sobre Rk para todo q pertencente a uma
vizinhança V ⊂ U de p. Assim, para cada q ∈ V , existe um único vetor
Xi (q) ∈ Tq M tal que
d(π ◦ ϕ)(q) · Xi (q) = ei ∈ Rk ,
(3.27)
para cada 1 ≤ i ≤ k; basta escolher Xi (q) = d(π ◦ ϕ)−1 (q) · ei . Disso decorre
que Xi ∈ X(V ). Como d(π ◦ ϕ)(q) é isomorfismo, segue que
D(q) = span{X1 (q), . . . , Xk (q)},
para todo q ∈ V . Além disso, segue de (3.27) que Xi é (π ◦ ϕ)-relacionado
com ei , para todo 1 ≤ i ≤ k. Assim, pela Proposição 3.5.4, [Xi , Xj ] é
(π ◦ ϕ)-relacionado com [ei , ej ] = 0, logo
d(π ◦ ϕ)(q) · [Xi , Xj ](q) = 0,
para todo q ∈ V . Como D é involutiva, temos que [Xi , Xj ](q) ∈ D(q),
para todo q ∈ V , logo [Xi , Xj ](q) = 0, para todo q ∈ V , pois d(π ◦ ϕ)(q) é
isomorfismo.
Estamos agora em condições de provar o principal resultado deste capítulo estabelecendo, essencialmente, a recíproca da Proposição 3.6.11.
Teorema 3.6.13 (Frobenius). Toda distribuição involutiva D de posto k em
uma variedade diferenciável M é integrável. Mais precisamente, para cada
ponto p ∈ M , existe uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , tal que para
cada b ∈ Rm−k , os subconjuntos
S b = (π ◦ ϕ)−1 (b) ∩ U = {q ∈ U : ϕi (q) = bi , k + 1 ≤ i ≤ m}
são subvariedades de D, onde π : Rk × Rm−k → Rm−k é a projeção canônica
e ϕi = πi ◦ ϕ. Além disso, se N k é uma subvariedade integral de D, com N
conexa, então N ⊂ S b , para algum b ∈ Rm−k .
Demonstração. Dado p ∈ M , segue do Lema 3.6.12 que existem um aberto
V ⊂ M contendo p e campos X1 , . . . , Xk ∈ X(V ) tais que
D(q) = span{X1 (q), . . . , Xk (q)}
e [Xi , Xj ](q) = 0, para todo q ∈ V . Como os campos X1 , . . . , Xk são linearmente independentes em V , segue do Teorema 3.5.14 que existe uma carta
(U, ϕ) em M , com p ∈ U ⊂ V , tal que
Xi (q) =
∂
(q),
∂xi
103
para quaisquer q ∈ U e 1 ≤ i ≤ k. Assim,
∂
∂
D(q) = span
(q), . . . ,
(q) ,
∂x1
∂xk
para todo q ∈ U . Dado b ∈ Rm−k , defina S b = (π ◦ ϕ)−1 (b) ∩ U , como
no enunciado. Como b é valor regular de π ◦ ϕ, segue que (π ◦ ϕ)−1 (b) é
subvariedade de M , logo S b é subvariedade de M . Além disso, temos
Tq S b = ker d(π ◦ ϕ)(q),
(3.28)
para todo q ∈ S b . Mostremos que Tq S b = D(q). Como ker d(π ◦ ϕ)(q) tem
dimensão k, basta provar que D(q) ⊂ ker d(π ◦ ϕ)(q). Temos:
∂
∂
(q) = π dϕ(q) ·
(q) = π(ei ) = 0,
d(π ◦ ϕ)(q) ·
∂xi
∂xi
para todo 1 ≤ i ≤ k. Isso mostra que D(q) ⊂ ker d(π ◦ ϕ)(q), para todo
q ∈ S b . Segue então de (3.28) que D(q) = Tq S b , para todo q ∈ S b . Portanto,
provamos que, para cada p ∈ M , existe um aberto S b ⊂ M contendo p e
uma imersão i : S b → S b tal que
di(q)(Tq S b ) = Tq S b = D(q),
para todo q ∈ S b , ou seja, D é uma distribuição integrável. Finalmente, seja
N k uma subvariedade integral de D, com N conexa. Então, como
di(x)(Tx N ) = D(i(x)),
para todo x ∈ N , temos:
d(π ◦ ϕ ◦ i)(x)(Tx N ) = π dϕ(i(x)) · di(x)(Tx N )
= π dϕ(i(x))(D(i(x)))
= d(π ◦ ϕ)(i(x))(D(i(x)))
= 0,
para todo x ∈ N . Como N é conexa, segue que (π ◦ ϕ ◦ i)(x) = b ∈ Rm−k ,
para todo x ∈ N e para algum b ∈ Rm−k , logo N ⊂ S b .
Definição 3.6.14. Uma subvariedade integral maximal N de uma distribuição D em uma variedade diferenciável M é uma subvariedade integral conexa
de D que não é um subconjunto próprio de qualquer outra subvariedade integral conexa de D.
104
O teorema seguinte, cuja prova será omitida, é uma versão do Teorema
3.6.13 no contexto maximal. O leitor interessado pode conferir [19, Theorem
1.64].
Teorema 3.6.15. Seja D uma distribuição involutiva de posto k em uma
variedade diferenciável M . Então, por cada ponto p ∈ M , passa uma única
subvariedade integral maximal de D, e qualquer outra subvariedade integral
conexa de D, contendo p, está contida nesta maximal.
Exercícios
1. Prove que os seguintes campos vetoriais definem uma distribuição de posto
2 em R3 que não é involutiva:
X=
∂
∂
+y ,
∂x
∂z
Y =
∂
.
∂y
2. Verifique se a distribuição em R3 , dada pelos campos vetoriais
X = x31
∂
∂
+
,
∂x1 ∂x3
Y =
∂
∂
+
∂x2 ∂x3
é involutiva.
3. Prove que a distribuição em R4 dada pelos campos vetoriais
X=
∂
∂
+x ,
∂y
∂z
Y =
∂
∂
+y
,
∂x
∂w
onde (x, y, z, w) são as coordenadas canônicas de R4 , não admitem subvariedades integrais.
4. Sejam D1 , . . . , Dr distribuições integráveis de posto k1 , . . . , kr , respectivamente, em uma variedade diferenciável M . Suponha que, para cada ponto
p ∈ M,
Tp M = D1 (p) ⊕ . . . ⊕ Dr (p).
Prove que existe uma carta local (U, ϕ) em M , em torno de cada ponto de
M , tal que D1 é gerada por ∂x∂ 1 , . . . , ∂x∂k , etc.
1
Mm
5. Seja f :
D dada por
→
Nn
uma submersão diferenciável. Prove que a aplicação
p ∈ M 7→ D(p) = ker df (p),
é uma distribuição integrável de posto m − n em M .
6. Sejam M ⊂ N uma subvariedade e X, Y ∈ X(N ) tais que X(p), Y (p) ∈
Tp M , para todo p ∈ M . Prove que [X, Y ](p) ∈ Tp M , para todo p ∈ M .
105
Capítulo 4
Variedades quocientes
4.1
Variedades quocientes
Nesta seção veremos algumas condições necessárias para a existência de
uma estrutura diferenciável quociente em M/∼, indicando que na maioria
dos casos tal estrutura, de fato, não existe. Em geral, é difícil exibir condições suficientes gerais para a existência da estrutura diferenciável quociente.
Veremos alguns exemplos onde tal estrutura existe e, na seção seguinte, apresentaremos uma condição suficiente para a existência da estrutura diferenciável quociente num caso bem específico.
Dados uma variedade diferenciável M de classe C k , 1 ≤ k ≤ ∞, e uma
relação de equivalência ∼ em M , denotemos por M/∼ o espaço quociente e
por π : M → M/∼ a aplicação quociente.
Definição 4.1.1. Dizemos que um atlas A de classe C k em M/∼ é uma
estrutura diferenciável quociente de classe C k em M/∼ se (M/∼, A) é uma
variedade diferenciável de classe C k tal que π : M → (M/∼, A) seja uma
submersão de classe C k .
Observação 4.1.2. Se A é uma estrutura diferenciável quociente de classe
C k em M/ ∼ então a topologia induzida por A em M/ ∼ coincide com a
topologia quociente, i.e., a topologia co-induzida pela aplicação quociente π.
De fato, isso segue do fato que uma submersão é uma aplicação aberta e
do fato que toda aplicação contínua, aberta e sobrejetora é uma aplicação
quociente (cf. Exercício 13).
Observação 4.1.3. Se f : X → Y é uma aplicação contínua, aberta e
sobrejetora, e se X satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade então
106
também Y satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade (cf. Exercício 1).
Assim, se A é uma estrutura diferenciável em M/∼ que torna a aplicação
quociente uma submersão, segue automaticamente que a topologia induzida
por A em M/∼ satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade.
O teorema seguinte exprime a propriedade fundamental da estrutura diferenciável quociente.
Teorema 4.1.4. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k ,
f : M → N uma aplicação de classe C k e ∼ uma relação de equivalência em M . Se existe uma aplicação f : M/ ∼→ N tal que f ◦ π = f e
se A é uma estrutura diferenciável quociente de classe C k em M/∼, então
f : (M/∼, A) → N é de classe C k .
Demonstração. Isso segue do Exercício 6 e do fato que π é uma submersão
sobrejetora.
Corolário 4.1.5. Existe no máximo uma estrutura diferenciável quociente
de classe C k em M/∼.
Demonstração. Sejam A1 , A2 estruturas diferenciáveis quociente de classe
C k em M/∼. Temos, então, um diagrama comutativo:
M
π1
π2
w
(M/∼, A1 )
Id
'
/ (M/∼, A2 )
onde π1 e π2 denotam as aplicações quociente. Como π2 é de classe C k ,
segue do Teorema 4.1.4 que Id é de classe C k e, como π1 é de classe C k ,
segue que Id−1 é de classe C k . Logo, Id é um difeomorfismo de classe C k e,
pelo Corolário 1.4.6, concluimos que A1 = A2 .
Exemplo 4.1.6. Sejam M , N variedades diferenciáveis de classe C k e
f : M → N uma submersão de classe C k . Denotemos por ∼ a relação
de equivalência em M determinada por f , i.e.,
x ∼ y ⇔ f (x) = f (y).
Afirmamos que M/∼ admite uma estrutura diferenciável quociente de classe
C k . De fato, pelo Lema de passagem ao quociente, existe uma única aplica-
107
ção f : M/∼→ f (M ) tal que o diagrama
M
π
f
M/∼
f
&
/ f (M )
comuta. Além disso, f é bijetora. Como f é aberta, segue que f (M ) é
aberto em N . Em particular, f (M ) é uma variedade diferenciável de classe
C k , logo existe uma única estrutura diferenciável de classe C k em M/∼ que
torna M/∼ uma variedade diferenciável de classe C k e f um difeomorfismo
de classe C k (cf. Exercício 6). Assim, como f : M → f (M ) é uma submersão
de classe C k , segue que π : M → M/∼ também é uma submersão de classe
C k . Portanto, temos uma estrutura diferenciável quociente de classe C k em
M/∼, a qual é difeomorfa ao aberto f (M ) de N .
Exemplo 4.1.7. Considere a função f : Rn − {0} → R definida por f (x) =
||x||2 , onde || · || é a norma Euclidiana em Rn . Temos que f é uma submersão
de classe C ∞ . Seja ∼ a relação de equivalência em Rn − {0} determinada
por f , i.e.,
x ∼ y ⇔ ||x|| = ||y||.
Segue do Exemplo 4.1.6 que o quociente (Rn − {0})/∼ admite uma estrutura
diferenciável quociente de classe C ∞ e que (Rn − {0})/∼ é difeomorfo ao
intervalo aberto (0, ∞), que é a imagem de f .
O teorema seguinte nos dá uma condição necessária para que um quociente M/∼ admita uma estrutura diferenciável quociente.
Teorema 4.1.8. Sejam M n uma variedade diferenciável de classe C k e ∼
uma relação de equivalência em M . Se existe uma estrutura diferenciável
quociente de classe C k em M/∼ então todas as classes de equivalência correspondentes a ∼ são subvariedades de M e todas elas possuem a mesma
dimensão.
Demonstração. Para todo p ∈ M , a classe de equivalência de p é igual a
π −1 (π(p)). Como π é uma submersão, temos que π(p) é um valor regular
de π e, portanto, π −1 (π(p)) é uma subvariedade de M com dimensão igual
a n − dim(M/∼).
Exemplo 4.1.9. Considere a relação de equivalência ∼ em R2 definida por:
(x, y) ∼ (x0 , y 0 ) ⇔ |x| + |y| = |x0 | + |y 0 |.
108
A classe de equivalência de um ponto (x, y) 6= (0, 0) é um quadrado de centro
na origem e diagonais paralelas aos eixos coordenados. Logo, as classes de
equivalência determinadas por ∼ não são subvariedades de R2 e, portanto,
o quociente R2 /∼ não admite estrutura diferenciável quociente.
Exercícios
1. Sejam X, Y espaços topológicos e f : X → Y uma aplicação contínua,
aberta e sobrejetora. Prove que:
(a) Se B é uma base de abertos para X então {f (B) : B ∈ B} é uma base
de abertos para Y .
(b) Se X satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade então Y também
satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade.
109
4.2
Grupos propriamente descontínuos
Nesta seção descreveremos uma situação particular de variedade quociente, onde esta admite uma estrutura diferenciável quociente. Tal quociente
é descrito em termos de ações de grupos.
Definição 4.2.1. Sejam G um grupo e M um conjunto. Uma ação de G
em M é uma aplicação θ : G × M → M tal que:
(a) θ(e, p)=p,
(b) θ(g1 , θ(g2 , p)) = θ(g1 g2 , p),
para quaisquer g1 , g2 ∈ G e p ∈ M , onde e ∈ G denota o elemento neutro.
Neste caso, dizemos também que o grupo G age no conjunto M .
Exemplo 4.2.2. Um exemplo simples é a ação natural do grupo GL(n) em
Rn . Neste caso, definimos uma ação θ : GL(n) × Rn → Rn pondo
θ(A, v) = A · v.
Nesta ação, identificamos o vetor v ∈ Rn com a matriz v de ordem n × 1.
Assim, esta ação é a multiplicação da matriz A de ordem n × n pela matriz
v de ordem n × 1.
Observação 4.2.3. Uma ação de grupo no sentido da Definição 4.2.1 é
usualmente chamada de uma ação à esquerda. Uma ação à direita de um
grupo G num conjunto M é uma aplicação ρ : G × M → M tal que
(a) ρ(e, p) = p,
(b) ρ(g1 , ρ(g2 , p)) = ρ(g2 g1 , p),
para quaisquer g1 , g2 ∈ G e p ∈ M . A motivação para os nomes ação à
esquerda e ação à direita é a seguinte: se denotarmos θ(g, p) por g · p e
ρ(g, p) por p · g, então as condições satisfeitas por θ e ρ são descritas da
seguinte maneira:
e · p = p,
g1 · (g2 · p) = (g1 g2 ) · p,
p · e = p,
(p · g2 ) · g1 = p · (g2 g1 ),
e
110
respectivamente. Note que se G é abeliano então θ = ρ. Além disso, se
ρ : G × M → M é uma ação à direita, então
θ(g, p) = ρ(g −1 , p)
é uma ação à esquerda de G em M . Por esse motivo, nos restringiremos às
ações à esquerda.
Dados uma ação θ : G × M → M e um ponto p ∈ M , o subgrupo de
isotropia de p, denotado por Gp , é definido por
Gp = {g ∈ G : g · p = p}.
É simples verificar que Gp é de fato um subgrupo de G. Quando Gp = {e}
para todo p ∈ M , dizemos que a ação de G em M é livre ou sem pontos
fixos. A órbita de p pela ação de G, denotada por G(p), é definida por
G(p) = {g · p : g ∈ G}.
Quando a ação θ possui uma única órbita, i.e., para quaisquer p, q ∈ M
existe g ∈ G com q = g · p, dizemos que θ é uma ação transitiva.
Exemplo 4.2.4. Em relação à ação natural de GL(n) em Rn , temos que
0 ∈ Rn é um ponto fixo de GL(n), pois
GL(n)0 = {A ∈ GL(n) : A · 0 = 0} = GL(n).
Além disso, a ação de GL(n) em Rn − {0} é transitiva. De fato, dado
x = (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , x 6= 0, existe uma base {f1 , . . . , fn } de Rn , com
f1 = x. Assim, se {e1 , . . . , en } denota a base canônica de Rn , temos:
fi =
n
X
aij ej ,
j=1
para todo 1 ≤ i ≤ n, logo
x = A · e1 ,
com A = (aij ) ∈ GL(n). Em particular, tem-se x ∈ G(e1 ).
Exemplo 4.2.5. Em relação à ação natural do grupo ortogonal O(n) em
Rn , as órbitas são esferas concêntricas, centradas na origem. De fato, dado
x ∈ Rn , para todo A ∈ O(n), temos
kA(x)k = kxk.
Portanto, a órbita de x ∈ Rn é a esfera centrada na origem de raio kxk.
111
Quando M é um espaço topológico ou uma variedade diferenciável, é
mais natural estudar ações de grupos em M que sejam compatíveis com a
estrutura topológica ou com a estrutura diferenciável de M . Antes, porém,
de particularizarmos nosso estudo, façamos algumas considerações.
Dado um conjunto M , denotemos por Bij(M ) o grupo das bijeções
φ : M → M , munido da operação de composição. Seja θ : G × M → M uma
ação em M . Note que, para todo g ∈ G, a aplicação
θg : M → M,
definida por θg (p) = θ(g, p), é bijetora e sua inversa é igual a θg−1 . Obtemos,
então, uma aplicação
θ : G → Bij(M )
dada por θ(g) = θg , para todo g ∈ G. É fácil ver que θ é um homomorfismo
de grupos. Reciprocamente, dado um homomorfismo θ : G → Bij(M ), a
aplicação
θ(g, p) = θ(g)(p)
define uma ação de G em M .
Definição 4.2.6. Sejam G um grupo e M um espaço topológico. Uma ação
por transformações contínuas de G em M é uma ação θ : G×M → M tal que,
para todo g ∈ G, a bijeção θg : M → M é contínua. Se M é uma variedade
diferenciável de classe C k , dizemos que θ é uma ação por transformações de
classe C k se a bijeção θg : M → M é de classe C k , para todo g ∈ G.
Como θg−1 = θg−1 , temos que se θ é uma ação por transformações contínuas então θg é um homeomorfismo de M , para todo g ∈ G. Analogamente,
se θ é uma ação por transformações de classe C k então θg é um difeomorfismo
de classe C k de M , para todo g ∈ G.
Observação 4.2.7. Se M é um espaço topológico então o conjunto
Homeo(M ) dos homeomorfismos de M é um subgrupo de Bij(M ). Assim, θ
é uma ação por transformações contínuas se, e somente se, o homomorfismo
associado θ toma valores em Homeo(M ). Se M é uma variedade diferenciável
de classe C k então o conjunto Dif k (M ) dos difeomorfismos de classe C k de
M é um subgrupo de Homeo(M ). Assim, θ é uma ação por transformações
de classe C k se, e somente se, θ toma valores em Dif k (M ).
Associado a uma ação θ : G×M → M temos uma relação de equivalência
em M definida por:
p ∼ q ⇔ existe g ∈ G, com q = g · p.
112
(4.1)
É fácil ver que ∼ é de fato uma relação de equivalência em M . Além disso,
se [p] denota a classe de equivalência de p ∈ M , então [p] = G(p).
Lema 4.2.8. Sejam G um grupo, M um espaço topológico e suponha que
seja dada uma ação de G em M por transformações contínuas. Se o quociente
M/G, em relação a (4.1), é munido da topologia quociente então a aplicação
quociente π : M → M/G é aberta.
Demonstração. Seja U ⊂ M um aberto. Para provar que π(U ) é aberto em
M/G, devemos mostrar que π −1 (π(U )) é aberto em M . Temos que
π −1 (π(U )) = {p ∈ M : p ∼ q, para algum q ∈ U }.
Assim,
π −1 (π(U )) =
[
gU,
g∈G
onde gU = {g · p : p ∈ U } = θg (U ). Como cada gU é aberto em M , segue
que π −1 (π(U )) = é também aberto em M .
De agora em diante, se M é um espaço topológico e se G é um grupo
agindo em M por transformações contínuas, assumiremos que M/G está
munido da topologia quociente.
Definição 4.2.9. Sejam G um grupo e M um espaço topológico. Uma
ação de G em M por transformações contínuas é chamada propriamente
descontínua se valem as seguintes propriedades:
(a) Para todo p ∈ M , existe um aberto U ⊂ M contendo p tal que
gU ∩ U = ∅, para todo g ∈ G, g 6= e.
(b) Para quaisquer p, q ∈ M , com q 6∈ G(p), existem abertos U, V ⊂ M ,
com p ∈ U e q ∈ V , tais que gU ∩ V = ∅, para todo g ∈ G.
Dizemos também neste caso que G age de modo propriamente descontínuo em M . O aberto U dado em (a) chama-se uma vizinhança distinguida
de p ∈ M .
Observação 4.2.10. Segue da condição (a) da Definição 4.2.9 que os abertos
gU , g ∈ G, são dois a dois disjuntos. De fato, dados g, h ∈ G, com g 6= h,
temos:
gU ∩ hU = h (h−1 g)U ∩ U = h∅ = ∅,
pois h−1 g 6= e. Analogamente, a condição (b) implica que gU ∩ hV = ∅,
para quaisquer g, h ∈ G. De fato,
gU ∩ hV = h (h−1 g)U ∩ V = h∅ = ∅.
113
O lema seguinte caracteriza a condição (b) da Definição 4.2.9.
Lema 4.2.11. Seja G um grupo agindo por transformações contínuas em
um espaço topológico M . Então a condição (b) é satisfeita se, e somente se,
o espaço topológico M/G é Hausdorff.
Demonstração. Suponha que M/G é Hausdorff. Dados p, q ∈ M , com q 6∈
G(p), então π(p) e π(q) são pontos distintos em M/G, onde π : M → M/G
denota a aplicação quociente.
Assim, existem abertos disjuntos
e
e
e
e) e
U , V ⊂ M/G, com π(p) ∈ U e π(q) ∈ Ve . Portanto, U = π −1 (U
−1
e
V = π (V ) são abertos em M , com p ∈ U e q ∈ V , tais que gU ∩V = ∅, para
todo g ∈ G. Isso prova a condição (b) da Definição 4.2.9. Reciprocamente,
suponha que a condição (b) é satisfeita. Sejam pe, qe ∈ M/G pontos distintos
e p, q ∈ M tais que π(p) = pe e π(q) = qe. Tem-se que q 6∈ G(p) e, portanto,
existem abertos U, V ⊂ M , com p ∈ U e q ∈ V , tais que gU ∩ V = ∅,
e = π(U ) e
para todo g ∈ G. Como π é uma aplicação aberta, segue que U
e , qe ∈ Ve e U
e , Ve
Ve = π(V ) são abertos em M/G. Além disso, tem-se pe ∈ U
são disjuntos. Logo, M/G é Hausdorff.
O lema seguinte resume algumas propriedades básicas das ações propriamente descontínuas.
Lema 4.2.12. Toda ação propriamente descontínua de um grupo G num
espaço topológico M é livre e possui órbitas discretas e fechadas. Além
disso, para que exista uma ação propriamente descontínua de algum grupo
G num dado espaço topológico M é necessário que M seja Hausdorff.
Demonstração. A condição (a) da Definição 4.2.9 implica que a ação de G em
M é livre e que as órbitas dessa ação são discretas (cf. Observação 4.2.10).
O fato de que as órbitas são fechadas segue diretamente da condição (b).
Finalmente, suponha que exista uma ação propriamente descontínua de G
em M . Sejam p, q ∈ M pontos distintos. Se q ∈ G(p), a condição (a) fornece
abertos que separam p de q; se q = g · p, g 6= e, e se U é uma vizinhança
distinguida de p, então q ∈ gU e U ∩ gU = ∅. Se q 6∈ G(p), a condição (b)
fornece abertos disjuntos U, V ⊂ M , com p ∈ U e q ∈ V . Isso prova que M
é Hausdorff.
O lema seguinte nos dá condições suficientes para que uma ação seja
propriamente descontínua.
Lema 4.2.13. Seja M um espaço topológico de Hausdorff. Então, toda ação
livre por transformações contínuas de um grupo finito G em M é propriamente descontínua.
114
Demonstração. Seja dado p ∈ M . Como a ação é livre, os elementos da
família {g · p : g ∈ G} são dois a dois distintos. Como M é Hausdorff,
podemos obter uma família {Ug : g ∈ G} de abertos de M , dois a dois
disjuntos, tal que g · p ∈ Ug , para todo g ∈ G. Como a ação é contínua e G
é finito, podemos escolher o aberto U = Ue , com e · p ∈ U , suficientemente
pequeno de modo que gU ⊂ Ug , para todo g ∈ G. Assim, gU ∩ U = ∅, para
todo g ∈ G. Isso prova a condição (a) da Definição 4.2.9. Para provar a
condição (b), sejam dados p, q ∈ M , com q 6∈ G(p). Para todo g ∈ G, com
q 6= g · p, existem abertos disjuntos Ug , Vg ⊂ M , com g · p ∈ Ug e q ∈ Vg .
Definindo
\
\
U=
g −1 Ug e V =
Vg ,
g∈G
g∈G
segue que U e V são vizinhanças abertas de p e q, respectivamente e, para
todo g ∈ G, tem-se gU ⊂ Ug e V ⊂ Vg , logo gU ∩ V = ∅.
O teorema seguinte nos proporciona uma rica fonte de exemplos de variedades diferenciáis.
Teorema 4.2.14. Seja G um grupo propriamente descontínuo agindo em
uma variedade diferenciável M n de classe C k . Então, o quociente M/G
admite uma única estrutura diferenciável quociente de classe C k . Além disso,
a aplicação quociente π : M → M/G é um difeomorfismo local de classe C k .
Demonstração. Seja (U, ϕ) uma carta local em M tal que gU ∩ U = ∅,
para todo g ∈ G, g 6= e. Então, π(U ) é aberto em M/G e a aplicação
π|U : U → π(U ) é contínua, aberta e bijetora, logo π|U : U → π(U ) é um
homeomorfismo. Assim, a aplicação
ϕ : π(U ) → ϕ(U ) ⊂ Rn
definida por ϕ = ϕ ◦ π|−1
U é um homeomorfismo de um aberto de M/G sobre
um aberto de Rn ; em particular, ϕ é uma carta local em M/G. Provemos
que a coleção A de todas as cartas ϕ em M/G, definidas dessa forma, é um
atlas de classe C k em M/G. De fato, dado pe ∈ M/G, seja p ∈ M com
pe = π(p). O ponto p pertence a um aberto U 0 em M tal que gU 0 ∩ U 0 = ∅,
para todo g ∈ G, g 6= e. Escolha então um aberto U ⊂ U 0 contendo p que
seja domínio de uma carta ϕ. Assim, a carta correspondente ϕ conterá pe
em seu domínio. Isso mostra que os domínios das cartas pertencentes a A
cobrem M/G. Quanto à C k -compatibilidade, sejam (U, ϕ), (V, ψ) cartas em
M , com gU ∩ U = ∅ e gV ∩ V = ∅, para todo g ∈ G, g 6= e. Sejam ϕ, ψ as
115
correspondentes cartas em M/G. O domínio de ψ ◦ ϕ−1 é igual a
ϕ (π(U ) ∩ π(V )) = ϕ π|−1
U (π(U ) ∩ π(V ))
= ϕ U ∩ π −1 (π(V ))
[
= ϕ U ∩
gV
g∈G
=
[
ϕ(U ∩ gV ).
g∈G
Como ϕ(U ∩ gV ) é aberto em Rn , para todo g ∈ G, é suficiente provar que
a restrição de ψ ◦ ϕ−1 a ϕ(U ∩ gV ) é de classe C k , para todo g ∈ G. Seja
x ∈ ϕ(U ∩gV ). Assim, x = ϕ(p), com p ∈ U ∩gV e, portanto, ϕ−1 (x) = π(p).
Temos π(p) = π(g −1 · p) e g −1 · p ∈ V , logo ψ(π(p)) = ψ(g −1 · p). Assim,
ψ ◦ ϕ−1 (x) = ψ(π(p)) = ψ(g −1 · p) = ψ(g −1 · ϕ−1 (x)),
para todo x ∈ ϕ(U ∩ gV ). Como ϕ, ψ e a bijeção de M correspondente à
ação de g são difeomorfismos de classe C k , segue que ψ ◦ ϕ−1 é de classe C k .
Portanto, provamos que A é um atlas de classe C k em M/G. Segue então
que a topologia induzida por A em M/G coincide com a topologia quociente
(cf. Observação 4.1.2). Do Lema 4.2.11 obtemos que a topologia quociente
em M/G é Hausdorff. Além disso, como a aplicação quociente π é contínua,
aberta e sobrejetora, segue do Exercício 1 que a topologia quociente em M/G
satisfaz o segundo axioma da enumerabilidade. Portanto, M/G munido do
atlas maximal de classe C k que contém A é uma variedade diferenciável de
classe C k . Finalmente, relativamente à essa estrutura diferenciável, temos
que cada carta ϕ é um difeomorfismo de classe C k ; como
π|U = ϕ−1 ◦ ϕ,
segue que π|U também é um difeomorfismo de classe C k e, portanto, π é
um difeomorfismo local de classe C k . Em particular, π é uma submersão
de classe C k e, portanto, a estrutura diferenciável em M/G é uma estrutura
diferenciável quociente de classe C k .
Exemplo 4.2.15. Na esfera S n , considere a aplicação antípoda
A : S n → S n dada por A(x) = −x, para todo x ∈ S n . O conjunto
G = {Id, A}, munido da operação de composição, é um subgrupo de Dif(S n ).
Como G é finito e a ação de G em S n é livre, pois A não tem pontos fixos,
segue do Lema 4.2.13 que a ação de G em S n é propriamente descontínua e,
116
pelo Teorema 4.2.14, S n /G admite uma única estrutura diferenciável quociente de classe C ∞ que torna a aplicação quociente π : S n → S n /G um difeomorfismo local de classe C ∞ . Afirmamos que S n /G é difeomorfo ao espaço
projetivo RP n . De fato, considere a aplicação inclusão i : S n → Rn+1 \{0}.
Se p : Rn+1 \{0} → RP n denota a aplicação quociente, defina ϕ = p ◦ i. Temos que ϕ é sobrejetora. Além disso, a relação de equivalência determinada
por ϕ em S n coincide com a relação de equivalência em S n cujas classes de
equivalência são as órbitas de G, ou seja,
y ∈ G(x) ⇔ y = x ou y = −x
⇔ ϕ(x) = ϕ(y),
para quaisquer x, y ∈ S n . Assim, ϕ : S n → RP n é bijetora e, portanto,
induz uma bijeção φ : S n /G → RP n tal que o diagrama
Sn
π
/ Rn+1 \{0}
i
ϕ
S n /G
'
p
φ
/ RP n
comuta. Dado x
e ∈ S n /G, tem-se x
e = π(x), com x ∈ S n . Como ϕ é de classe
∞
C , π é uma submersão sobrejetora de classe C ∞ e ϕ = φ ◦ π, segue do
Corolário 2.1.16 que φ é de classe C ∞ . Além disso, temos:
dϕ(x) = dφ(e
x) ◦ dπ(x).
Como dϕ(x) e dπ(x) são isomorfismos, segue que dφ(e
x) também é um isomorfismo. Assim, pelo Teorema da Aplicação Inversa, φ é um difeomorfismo
local de classe C ∞ e, portanto, um difeomorfismo de classe C ∞ , uma vez
que é bijetora.
Exemplo 4.2.16. Seja Z2 o subgrupo aditivo de R2 formado pelos vetores cujas coordenadas são números inteiros. Temos, então, uma ação
θ : Z2 × R2 → R2 dada por
(m, n) · (x, y) = (x + m, y + n),
para quaisquer m, n ∈ Z e x, y ∈ R. A bijeção θg : R2 → R2 , correspondente
ao elemento g = (m, n) ∈ Z2 , é uma translação e, portanto, temos uma ação
por isometrias. Afirmamos que Z2 é um grupo propriamente descontínuo. De
fato, qualquer vizinhança de diâmetro menor do que um é uma vizinhança
117
distinguida. Quanto à condição (b) da Definição 4.2.9, dados x, y ∈ R2 , com
x 6∼ y, seja > 0 a distância de x à órbita de y. Assim, U = B(x; /2) e
V = B(y; /2) satisfazem a condição (b). Portanto, pelo Teorema 4.2.14,
existe uma única estrutura diferenciável quociente de classe C ∞ em R2 /Z2 ,
que torna π : R2 → R2 /Z2 um difeomorfismo local de classe c∞ . Afirmamos
que R2 /Z2 é difeomormo ao toro S 1 × S 1 . De fato, considere a aplicação
f : R2 → S 1 × S 1 definida por
f (x, y) = (ei2πx , ei2πy ) = (cos(2πx), sin(2πx), cos(2πy), sin(2πy)) .
Temos que f é uma submersão de classe C ∞ , pois a aplicação
t ∈ R 7→ (cos(2πt), sin(2πt)) ∈ S 1
é uma submersão de classe C ∞ . Além disso, a relação de equivalência determinada por f em R2 coincide com a relação de equivalência em R2 cujas
classes são as órbitas de Z2 , ou seja,
f (x, y) = f (x0 , y 0 ) ⇔ x − x0 ∈ Z e y − y 0 ∈ Z
⇔ (x0 , y 0 ) ∈ Z2 (x, y).
Portanto, f induz uma bijeção φ : R2 /Z2 → S 1 ×S 1 de modo que o diagrama
R2
π
f
/ S1 × S1
7
φ
R2 /Z2
comuta. Dado pe ∈ R2 /Z2 , seja p ∈ R2 com pe = π(p). Como f = φ ◦ π, podemos argumentar como no Exemplo 4.2.15 para concluir que φ é diferenciável.
Assim,
df (p) = dφ(e
x) ◦ dπ(p).
Como dπ(p) é um isomorfismo e df (p) é sobrejetora, segue que dφ(e
p) é um
isomorfismo. Logo, pelo Teorema da Aplicação Inversa, φ é um difeomorfismo local de classe C ∞ e, portanto, um difeomorfismo de classe C ∞ , uma
vez que é bijetora.
Exercícios
1. Prove que o grupo ortogonal O(n) age transitivamente na esfera S n−1 e
determine os subgrupos de isotropia.
118
2. Prove que a variedade R/Z é difeomorfa ao círculo S 1 .
3. Prove que o plano projetivo R2 /Z2 é difeomorfo ao toro de rotação T 2 ,
obtido pela rotação de um círculo em torno de um eixo que não o intercepta.
Sugestão: por simplicidade, suponha que tal eixo seja o eixo-z e que o círculo
tenha raio r e centro no ponto (1, 0, 0). Assim, uma parametrização local de
T 2 é dada por
ϕ(s, t) = (1 + r cos s) cos t, (1 + r cos s) sin t, r sin s ,
com 0 < s, t < 2π. Considere a aplicação f : R2 → R3 definida por
f (s, t) = (1 + r cos(2πs)) cos(2πt), (1 + r cos(2πs)) sin(2πt), r sin(2πs) .
Prove que f induz um difeomorfismo de classe C ∞ de R2 /Z2 sobre T 2 .
4. Considere a aplicação f : S 2 → R3 dada por f (x, y, z) = (yz, xz, xy).
Prove que f induz uma aplicação de classe C ∞ de RP 2 em R3 , a qual deixa
de ser uma imersão em 6 pontos, cujas imagens são os pontos dos eixos
coordenados a uma distância 1/2 da origem.
5. Considere a aplicação f : S 2 → R6 dada por
√
√
√
f (x, y, z) = (x2 , y 2 , z 2 , 2yz, 2xz, 2xy).
Prove que f induz um mergulho de classe C ∞ de RP 2 em R4 , chamado o
mergulho de Veronese.
119
4.3
Orientação em espaços vetoriais
Seja E um espaço vetorial real de dimensão n. Dados duas bases
E = {e1 , . . . , en } e F = {f1 , . . . , fn } em E, denotemos por A = (aij ) a
única matriz real n × n invertível tal que
fj =
n
X
aij ei ,
i=1
para todo 1 ≤ j ≤ n. A matriz A chama-se a matriz de passagem da base E
para a base F.
Definição 4.3.1. Dizemos que as bases E e F definem a mesma orientação
em E se det A > 0 e, neste caso, escrevemos E ≡ F.
Esta propriedade define uma relação de equivalência no conjunto de todas
as bases de E. Cada classe de equivalência, segundo esta relação, chama-se
uma orientação no espaço vetorial E.
Seja O uma orientação em E. O é um conjunto de bases de E com as
seguintes propriedades. Duas bases quaisquer em O são igualmente orientadas. Além disso, se E pertence a O e F ≡ E, então F também pertence
a O. Assim, a orientação O fica determinada por qualquer um de seus elementos E. Se as matrizes de passagem de E para as bases F e G são A
e B, respectivamente, então a matriz de passagem de F para G é BA−1 .
Se det A < 0 e det B < 0 então det(BA−1 ) > 0. Ou seja, se F e G não
pertencem à orientação O, então F ≡ G. Isso mostra que a relação ≡ possui
duas classes de equivalência. Em outras palavras, o espaço vetorial E admite
duas orientações.
Definição 4.3.2. Um espaço vetorial orientado é um par (E, O), onde O é
uma orientação em E.
Fixada uma orientação O em E, a outra orientação de E será chamada
a orientação oposta e a denotaremos por −O. No espaço vetorial orientado
E, as bases pertencentes a O serão chamadas positivas, enquanto as outras
de negativas.
Definição 4.3.3. Sejam E, F espaços vetoriais orientados, com mesma dimensão. Dizemos que um isomorfismo linear T : E → F preserva orientação
se transforma bases positivas de E em bases positivas de F . Caso contrário,
dizemos que T inverte orientação.
120
Observe que, para que um isomorfismo T : E → F preserve orientação
basta que T transforme uma base positiva de E numa base positiva de F .
Se T : E → F preserva orientação, então T −1 : F → E também preserva.
Além disso, se T : E → F e S : F → G preservam orientação, o mesmo
ocorre com S ◦ T : E → G.
Exemplo 4.3.4. O espaço Euclidiano Rn será considerado orientado pela
exigência de que sua base canônica seja positiva. Assim, um isomorfismo
linear T : Rn → Rn preserva orientação se, e somente se, sua matriz, em
relação à base canônica de Rn , tem determinante positivo.
Se apenas um dos espaços vetoriais E, F é orientado, a exigência de que
um isomorifismo T : E → F preserve orientação determina, univocamente,
uma orientação no outro espaço.
4.4
Orientação em variedades diferenciáveis
Seja M uma variedade diferenciável. Dizemos que duas cartas locais
(U, ϕ), (V, ψ) em M são coerentes quando U ∩ V = ∅, ou então quando
U ∩ V 6= ∅, a aplicação de transição ψ ◦ ϕ−1 satisfaz
det d(ψ ◦ ϕ−1 )(x) > 0,
para todo x ∈ ϕ(U ∩ V ). Um atlas A na variedade M é chamado coerente se
quaisquer duas cartas locais em A são coerentes. Diremos que a variedade M
é orientável se M possui um atlas coerente. Observe que todo atlas coerente
A na variedade M está contido em um único atlas coerente maximal. De
fato, basta considerar o atlas constituído de todas as cartas de M que são
coerentes com todas as cartas de A.
Definição 4.4.1. Uma variedade orientada é um par (M, A), onde M é uma
variedade diferenciável e A é um atlas coerente maximal. O atlas A, neste
caso, é chamado uma orientação para M .
Exemplo 4.4.2. O espaço Euclidiano Rn é uma variedade orientável, pois o
atlas em Rn determinado pela aplicação identidade é coerente. A orientação
definida por este atlas é chamada a orientação canônica de Rn .
Exemplo 4.4.3. Todo subconjunto aberto U de uma variedade orientável
M também é orientável. De fato, fixado um atlas coerente A em M , o
atlas em U definido pelas restrições a U das cartas de M também é um atlas
coerente, logo define uma orientação em U , chamada de orientação induzida.
121
Observação 4.4.4. Uma orientação A em uma variedade diferenciável M
determina uma orientação em cada espaço tangente Tp M , no sentido da
Seção 4.3: {v1 , . . . , vm } é base positiva de Tp M se {dϕ(p) · v1 , . . . , dϕ(p) · vm }
é uma base positiva de Rm , onde (U, ϕ) é uma carta local em A, com p ∈ U .
Além disso, esta orientação independe da escolha da carta. De fato, seja
(V, ψ) outra carta em A, com p ∈ U ∩ V . Então,
dψ(p) = d(ψ ◦ ϕ−1 ◦ ϕ)(p) = d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) ◦ dϕ(p).
Como ϕ e ψ são coerentes, o isomorfismo d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)) preserva orientação, logo {dψ(p) · v1 , . . . , dψ(p) · vm } também é uma base positiva de
Rm .
Observação 4.4.5. Reciprocamente, suponha que seja dada uma orientação
Op em cada espaço tangente Tp M de uma variedade diferenciável M de tal
modo que, para cada p ∈ M , exista uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U ,
tal que dϕ(q) : Tq M → Rm preserva orientação, para todo q ∈ U . Então, o
atlas A formado por tais cartas é um atlas coerente em M e, portanto, M é
orientável. De fato, se (U, ϕ), (V, ψ) são cartas em M , com p ∈ U ∩ V , então
det d(ψ ◦ ϕ−1 )(x) = det dψ(q) ◦ dϕ−1 (x) > 0,
para todo x ∈ ϕ(U ), com q = ϕ−1 (x), pois dψ(q) ◦ dϕ−1 (x) é a composta de
dois isomorfismos que preservam orientação.
Proposição 4.4.6. Seja f : M → N um difeomorfismo local entre duas
variedades orientadas, M e N . Então, o conjunto
A = {p ∈ M : df (p) preserva orientação}
é um aberto em M .
Demonstração. Sejam A, B os atlas que definem as orientações em M e
N , respectivamente. Dado p ∈ A, sejam (U, ϕ) ∈ A e (V, ψ) ∈ B, com
p ∈ U e f (U ) ⊂ V . Como df (p) preserva orientação, o mesmo ocorre com o
isomorfismo d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)). Por continuidade da função determinante,
existe um aberto W ⊂ Rm , com ϕ(p) ∈ W ⊂ ϕ(U ), tal que d(ψ ◦ f ◦ ϕ−1 )(x)
preserva orientação, para todo x ∈ W . Portanto, df (q) preserva orientação,
para todo q ∈ ϕ−1 (W ) ⊂ U . Isso mostra que ϕ−1 (W ) é um aberto em M
tal que p ∈ ϕ−1 (W ) ⊂ A, i.e., A é aberto.
Observação 4.4.7. Segue de forma inteiramente análoga que o conjunto
B = {p ∈ M : df (p) inverte orientação}
também é um aberto em M .
122
Corolário 4.4.8. Seja f : M → N um difeomorfismo local entre variedades orientadas. Se M é conexa, então ou f preserva orientação ou inverte
orientação.
Corolário 4.4.9. Em uma variedade orientável conexa M existem, exatamente, duas possíveis orientações.
Demonstração. Sejam A, B orientações em M . A aplicação identidade
Id : (M, A) → (M, B)
é um difeomorfismo. Assim, como M é conexa, segue do Corolário 4.4.8 que
ou bem Id preserva orientação, e neste caso tem-se A = B, ou Id inverte
orientação, e neste caso tem-se A = −B.
Corolário 4.4.10. Suponhamos que em uma variedade diferenciável M existam cartas locais (U, ϕ), (V, ψ) tais que em dois pontos distintos de ϕ(U ∩V )
a mudança de coordenadas ψ ◦ ϕ−1 tenha determinante, nestes dois pontos,
com sinais contrários. Então, M não é orientável.
Observe que, nas condições do Corolário 4.4.10, a interseção U ∩ V é
necessariamente desconexa.
Proposição 4.4.11. Seja M m ⊂ Rn uma superfície e suponha que existem
n−m campos normais contínuos η1 , . . . , ηn−m : M → Rn que são linearmente
independentes. Então, M é orientável.
Demonstração. Para cada ponto p ∈ M , definimos uma orientação em Tp M
do seguinte modo: uma base {v1 , . . . , vm } de Tp M é positiva se, e somente
se,
{v1 , . . . , vm , η1 (p), . . . , ηn−m (p)}
é uma base positiva de Rn . Dado uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U
e U conexo, compondo ϕ com um isomorfismo de Rn que inverte orientação,
se necessário, podemos supor que a base
∂
∂
(q), . . . ,
(q), η1 (q), . . . , ηn−m (q)
∂x1
∂xm
de Rn seja positiva, para todo q ∈ U . Portanto, para cada p ∈ M , podemos
escolher uma carta local (U, ϕ) em M , com p ∈ U , tal que dϕ(q) : Tq M → Rm
seja um isomorfismo que preserva orientação, para todo q ∈ U . Logo, pela
Observação 4.4.5, segue que M é orientável.
123
Quando a codimensão de M é igual a 1, i.e., n − m = 1, vale a recíproca
da Proposição 4.4.11 (cf. Exercício 2). Mais precisamente, temos o seguinte:
Teorema 4.4.12. Uma hipersuperfície M ⊂ Rn+1 é orientável se, e somente se, existe um campo contínuo de vetores normais η : M → Rn+1 , com
η(p) 6= 0 para todo p ∈ M .
Uma aplicação simples do Teorema 4.4.12 é analisar a orientabilidade da
esfera através da aplicação antípoda.
Exemplo 4.4.13. Consideremos a aplicação antípoda A : S n → S n , dada
por A(p) = −p, para todo p ∈ S n , e examinemos se A preserva ou inverte a orientação de S n . A orientação de S n , definida pelo campo posição
η(p) = p, em conformidade com o Teorema 4.4.12, faz com que uma base
{v1 , . . . , vn } de Tp S n seja positiva se, e somente se, det(v1 , . . . , vn , p) > 0,
onde (v1 , . . . , vn , p) é a matriz (n+1)×(n+1) cujas colunas estão aí indicadas.
Portanto, escolhida uma base positiva {v1 , . . . , vn } de Tp S n , o isomorfismo
dA(p) = −Id preserva orientação se, e somente se,
det(−v1 , . . . , −vn , −p) = (−1)n+1 det(v1 , . . . , vn , p) > 0,
ou seja, se, e somente se, n é ímpar. Portanto, a aplicação antípoda A
preserva a orientação de S n quando n é ímpar e inverte quando n é par.
Proposição 4.4.14. Seja f : M → N um difeomorfismo local. Se N é
orientável então o mesmo vale para M .
Demonstração. Seja B uma orientação em N . Dado p ∈ M , sejam (V, ψ) ∈
B, com f (p) ∈ V , e U ⊂ M um aberto contendo p, com f (U ) ⊂ V , tais
que f |U : U → f (U ) seja um difeomorfismo. Então, ϕ = ψ ◦ f |U é uma
carta local em M . Além disso, a coleção A formada por tais cartas locais é
um atlas coerente em M . De fato, sejam ϕ1 , ϕ2 ∈ A e ψ1 , ψ2 ∈ B tais que
ϕ1 = ψ1 ◦ f e ϕ2 = ψ2 ◦ f . Então,
−1
ϕ2 ◦ ϕ−1
= ψ2 ◦ ψ1−1 .
1 = (ψ2 ◦ f ) ◦ (ψ1 ◦ f )
Como ψ1 e ψ2 preservam orientação, o determinante jacobiano de ϕ2 ◦ ϕ−1
1
é positivo, logo A é coerente.
Exemplo 4.4.15. Seja S n a esfera unitária. Definimos uma aplicação
f : S n × R → Rn+1 pondo f (x, t) = et x. Temos que f é um difeomorfismo do cilindro S n × R sobre o aberto Rn+1 \{0} de Rn+1 . Como Rn+1 \{0}
é orientável, segue da Proposição 4.4.14 que S n × R é orientável. Assim,
usando o Exercício 1, concluimos que S n é orientável.
124
Dado uma função diferenciável f : U → R, onde U ⊂ Rn é um subconjunto aberto, lembremos que o gradiente de f num ponto x ∈ U , denotado
por gradf (x), é o vetor em Rn definido por
hgradf (x), vi = df (x) · v,
para todo v ∈ Rn . Em particular, para v = ei , temos hgradf (x), ei i =
logo
∂f
∂f
gradf (x) =
(x), . . . ,
(x) ,
∂x1
∂xn
∂f
∂xi (x),
para todo x ∈ U . Seja c ∈ R um valor regular para f . Assim, M = f −1 (c)
é uma superfície em Rn . Dados x ∈ M e v ∈ Tx M , seja λ : (−, ) → U
uma curva diferenciável tal que λ(0) = x, λ0 (0) = v e λ(t) ∈ M , para todo
t ∈ (−, ). Assim, como f (λ(t)) = c, para todo t, temos:
n
X
∂f
0 = (f ◦ λ) (0) = df (x) · v =
(x) · v = hgradf (x), vi,
∂xi
0
i=1
ou seja, o gradiente de f no ponto x é ortogonal ao espaço tangente Tx M .
Esta observação pode ser usada, neste contexto, da seguinte forma:
Proposição 4.4.16. Sejam f : Rn → Rm uma aplicação diferenciável e
c ∈ Rm um valor regular para f . Então, M = f −1 (c) é uma superfície
orientável.
Demonstração. A superfície M = f −1 (c) tem em cada um de seus pontos p
o espaço vetorial normal gerado pelos m vetores linearmente independentes
gradf1 (p), . . . , gradfm (p),
onde f1 , . . . , fm : Rn → R são as funções coordenadas de f . Assim, segue da
Proposição 4.4.11 que M é orientável.
Exercícios
1. Sejam M , N variedades diferenciáveis. Prove que a variedade produto
M × N é orientável se, e somente se, cada uma das variedades M e N é
orientável.
2. Prove o Teorema 4.4.12.
3. Prove que todo grupo de Lie G é orientável.
125
4.5
Orientação via ação de grupos
Nesta seção apresentaremos alguns exemplos de variedades não-orientáveis. Mais precisamente, daremos uma condição necessária e suficiente para
que uma variedade quociente seja orientável. Comecemos com o seguinte
lema auxiliar, que é a recíproca da Proposição 4.4.14.
Lema 4.5.1. Seja f : M → N um difeomorfismo local sobrejetor. Se M
é orientável e conexa, então N é orientável se, e somente se, para quaisquer p, q ∈ M , com f (p) = f (q), o isomorfismo df (p) ◦ df (q)−1 preserva
orientação.
Demonstração. Suponha que, para quaisquer p, q ∈ M , com f (p) = f (q), o
isomorfismo df (q)−1 ◦ df (p) preserva orientação. Dado x ∈ N , defina uma
orientação Ox em Tx N exigindo que o isomorfismo df (p) : Tp M → Tx N
preserva orientação, onde p ∈ f −1 (x). A hipótese de que df (q)−1 ◦ df (p)
preserva orientação, para quaisquer p, q ∈ M , com f (p) = f (q), implica que
a orientação Ox assim definida independe da escolha do ponto p ∈ f −1 (x).
Além disso, se (U, ϕ) é uma carta pertencente a orientação de M , com p ∈ U
e tal que f |U : U → f (U ) seja um difeomorfismo, então ψ = ϕ ◦ f |−1
U é uma
carta en N , com x ∈ f (U ), tal que dψ(y) preserva orientação, para todo
y ∈ f (U ). Logo, pela Observação 4.4.5, N é orientável. Reciprocamente,
suponha N orientável. Como M é conexa, segue do Corolário 4.4.8 que ou
f preserva orientação ou inverte orientação. Em qualquer caso, obtemos
que df (q)−1 ◦ df (p) preserva orientação, para quaisquer p, q ∈ M tais que
f (p) = f (q).
Teorema 4.5.2. Sejam M uma variedade orientável conexa e G um grupo
propriamente descontínuo de difeomorfismos de M . Então, M/G é orientável se, e somente se, todo difeomorfismo g ∈ G preserva orientação.
Demonstração. A aplicação quociente π : M → M/G é um difeomorfismo
local sobrejetor. Observe que π(p) = π(q) se, e somente se, q = g(p), para
algum g ∈ G. Como π ◦ g = π, para todo g ∈ G, temos que dπ(q) ◦
dg(p) = dπ(p), ou seja, dπ(q)−1 ◦ dπ(p) = dg(p). Portanto, segue do Lema
4.5.1 que M/G é orientável se, e somente se, todo elemento g ∈ G preserva
orientação.
Exemplo 4.5.3. A variedade quociente R2 /Z2 , por ser difeomorfa ao toro
S 1 × S 1 , é orientável. Podemos ver também a orientabilidade de R2 /Z2
através do Teorema 4.5.2. De fato, a ação de Z2 em R2 é por translação e,
126
portanto, é uma ação por isometrias. Como cada translação é um difeomorfismo de R2 que preserva orientação, segue do Teorema 4.5.2 que R2 /Z2 é
orientável. De forma inteiramente análoga se prova que Rn /Zn é orientável.
Exemplo 4.5.4. O espaço projetivo RP n é orientável se, e somente se, n é
ímpar. De fato, do Exemplo 4.2.15, RP n é difeomorfo ao quociente S n /G,
caracterizado pela ação propriamente descontínua do grupo G = {Id, A}
em S n . Como a aplicação antípoda A : S n → S n preserva orientação se,
e somente se, n é ímpar (cf. Exemplo 4.4.13), a conclusão segue então do
Teorema 4.5.2.
Exemplo 4.5.5. O cilindro M = S 1 × R é uma variedade orientável, como
produto de duas variedades orientáveis. Considere a aplicação g : M → M
dada por
g(x, y, z) = (x, −y, z + 1).
Temos que g é um difeomorfismo, cujo inverso é dado por g −1 (x, y, z) =
(x, −y, z − 1). Além disso, g tem as seguintes propriedades:
(a) transforma cada círculo horizontal de S 1 × R no círculo situado uma
unidade acima, refletindo-o em torno de um diâmetro.
(b) gera um grupo cíclico G = {g n : n ∈ Z} de difeomorfismos de M .
Afirmamos que G age em M de forma propriamente descontínua. De fato,
dado p = (x, y, z) ∈ M , considere a vizinhança Vp de p dada por
Vp = S 1 × (z − , z + ),
onde 0 < < 1/2. Da propriedade (a) segue que
g(Vp ) ∩ Vp = ∅,
para todo g ∈ G, g 6= e. Sejam agora p1 = (x1 , y1 , z1 ) e p2 = (x2 , y2 , z2 )
pontos de M que estão em órbitas distintas. Assim, não existe n ∈ Z tal
que z1 = nz2 . Podemos supor, sem perda de generalidade, que z1 e z2 estão
entre dois inteiros consecutivos, n e n + 1. Considere vizinhanças abertas
Vz1 , Vz2 centradas em z1 e z2 , respectivamente, tais que
Vz1 , Vz2 ⊂ [n, n + 1] e Vz1 ∩ Vz2 = ∅.
Assim, pondo
U p 1 = S 1 × V z1
e Up2 = S 1 × Vz2 ,
127
segue que Up1 e Up2 são vizinhanças de p1 e p2 , respectivamente, tais que
g(Up1 ) ∩ Up2 = ∅, para todo g ∈ G. Isso mostra que G é propriamente
descontínuo. Portanto, M/G admite uma estrutura de variedade quociente,
chamada a garrafa de Klein. Finalizamos mostrando que M/G é não-orientável. De fato, o n-ésimo iterado g n é dado por
g n (x, y, z) = (x, (−1)n y, z + n).
Assim,
1
0
0
dg n (x, y, z) = 0 (−1)n 0 ,
0
0
1
cujo determinante jacobiano é igual a (−1)n . Portanto, g n preserva orientação de M se n é par e inverte se n é ímpar. Portanto, segue do Teorema
4.5.2 que a garrafa de Klein é não-orientável.
Exercícios
4. Seja M a faixa do cilindro circular reto dada por
M = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 = 1, −1 < z < 1}.
Verifique que o grupo G = {Id, A}, onde A denota a aplicação antípoda,
age em M de forma propriamente descontínua e, portanto, M/G admite
uma estrutura de variedade quociente, chamada a faixa de Möbius. Prove
também que M/G é não-orientável.
128
Capítulo 5
Integração em superfícies
5.1
Álgebra Multilinear
Dados dois espaços vetoriais reais de dimensão finita, E e F , denotemos
por Lr (E, F ) o espaço vetorial real de todas as aplicações r-lineares ϕ :
E × . . . × E → F . Quando F = R, denotaremos Lr (E, F ) = Lr (E).
Definição 5.1.1. Dizemos que ϕ ∈ Lr (E, F ) é alternada se ϕ(v1 , . . . , vr ) =
0 sempre que a sequência (v1 , . . . , vr ) possuir repetições, ou seja, existirem
i 6= j tais que vi = vj . Dizemos que ϕ é anti-simétrica se
ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vj , . . . , vr ) = −ϕ(v1 , . . . , vj , . . . , vi , . . . , vr ),
para quaisquer v1 , . . . , vr ∈ E.
Proposição 5.1.2. ϕ ∈ Lr (E, F ) é alternada se, e somente se, ϕ é antisimétrica.
Demonstração. Se ϕ é alternada, temos:
0 = ϕ(v1 , . . . , vi + vj , . . . , vi + vj , . . . , vr )
= ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vj , . . . , vr ) + ϕ(v1 , . . . , vj , . . . , vi , . . . , vr ),
logo ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vj , . . . , vr ) = −ϕ(v1 , . . . , vj , . . . , vi , . . . , vr ), ou seja, ϕ é
anti-simétrica. Reciprocamente, se ϕ é anti-simétrica, então
ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vi , . . . , vr ) = −ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vi , . . . , vr ),
logo ϕ(v1 , . . . , vi , . . . , vi , . . . , vr ) = 0.
129
O conjunto das aplicações r-lineares alternadas (anti-simétricas) de E em
F será denotado por Λr (E, F ). Quando F = R, denotaremos Λr (E, F ) =
Λr (E). Note que Λr (E, F ) é um subespaço vetorial de Lr (E, F ). Um elemento α de Λr (E) será chamado forma linear de grau r, ou r-forma linear.
Convencionamos aqui que Λ0 (E) = R.
Exemplo 5.1.3. Dados f1 , . . . , fr ∈ E ∗ , definimos f1 ∧. . .∧fr : E×. . .×E →
R por
(f1 ∧ . . . ∧ fr )(v1 , . . . , vr ) = det fi (vj ) ,
onde fi (vj ) é a matriz r × r cuja i-ésima
linha é fi (v1 ), . . . , fi (vr ) e cuja
j-ésima coluna é f1 (vj ), . . . , fr (vj ) . Da linearidade dos funcionais fi e das
propriedades do determinante tem-se f1 ∧ . . . ∧ fr ∈ Λr (E). A r-forma linear
f1 ∧ . . . ∧ fr é chamada produto exterior dos funcionais lineares f1 , . . . , fr .
Proposição 5.1.4. Seja ϕ ∈ Λr (E, F ). Se v1 , . . . , vr ∈ E são linearmente
dependentes então ϕ(v1 , . . . , vr ) = 0.
Demonstração. Um dos vetores v1 , . . . , vr é combinação linear dos demais,
digamos v1 = α2 v2 + . . . + αr vr . Então,
ϕ(v1 , . . . , vr ) =
r
X
αi ϕ(vi , v2 , . . . , vr ) = 0,
i=2
pois ϕ(v2 , v2 , . . . , vr ) = ϕ(v3 , v2 , v3 , . . . , vr ) = . . . = ϕ(vr , v2 , . . . , vr ) = 0, já
que ϕ é alternada.
Corolário 5.1.5. O produto exterior f1 ∧ . . . ∧ fr é uma r-forma linear
diferente de zero se, e somente se, f1 , . . . , fr são linearmente independentes
em E ∗ .
Demonstração. Note que a aplicação r-linear
(f1 , . . . , fr ) 7→ f1 ∧ . . . ∧ fr
é alternada. Segue-se da Proposição 5.1.4 que, se f1 ∧ . . . ∧ fr 6= 0 então
f1 , . . . , fr são linearmente independentes em E ∗ . Reciprocamente, sejam
f1 , . . . , fr linearmente independentes. Então, podemos estendê-los a uma
base de E ∗ . Seja {v1 , . . . , vn } ⊂ E
a base dual. Então, para 1 ≤ i, j ≤ r,
temos fi (vj ) = δij . Logo, fi (vj ) é a matriz identidade r × r e daí segue
que (f1 , . . . , fr )(v1 , . . . , vr t) = 1. Em particular, f1 ∧ . . . ∧ fr 6= 0.
Corolário 5.1.6. Se r > dim(E) então Λr (E) = {0}.
130
Demonstração. Neste caso, r vetores em E são linearmente dependentes.
Logo, pela Proposição 5.1.4, segue a afirmação.
Dado uma base {f1 , . . . , fn } de E ∗ , denotemos por I = {i1 < . . . < ir }
o subconjunto com r elementos de {1, 2, . . . , n}, cujos membros estão numerados em ordem crescente. O conjunto I é chamado uma r-lista. Existem
n!
r!(n−r)! desses conjuntos I = {i1 < . . . < ir }. Para cada um deles, escrevemos:
fI = fi1 ∧ . . . ∧ fir .
Se {e1 , . . . , en } ⊂ E denota a base dual de {f1 , . . . , fn } e, I = {i1 < . . . < ir }
e J = {j1 < . . . < jr } são r-listas, temos:
1, se I = J
fI (ej1 , . . . , ejr ) =
.
0, se I 6= J
De fato, se I 6= J, existe ik ∈ I tal que ik ∈
/ J. Assim, fik (ej ) = 0, para todo
j ∈ J. Logo,
fI (ej1 , . . . , ejr ) = (fi1 ∧ . . . ∧ fir )(ej1 , . . . , ejr ) = 0,
pois o determinante de uma matriz, cuja k-ésima linha é nula, é zero. Se
I = J, temos
fI (ej1 , . . . , ejr ) = (fi1 ∧ . . . ∧ fir )(ej1 , . . . , ejr ) = 1,
pois o determinante da matriz identidade é 1.
Teorema 5.1.7. Se {f1 , . . . , fn } é uma base de E ∗ , então as r-formas fI =
fi1 ∧ . . . ∧ fir constituem uma base de Λr (E).
Demonstração. Seja α ∈ Λr (E). Para cada I = {i1 < ... < ir }, escremos:
αI = α(ei1 , . . . , eir ),
P
onde {e1 , . . . , en } ⊂ E é a base dual de {f1 , . . . , fn }. A r-forma ϕ = I αI fI
é tal que, para toda r-lista J = {j1 < . . . < jr }, tem-se
X
αI fI (ej1 , . . . , ejr ) = αI = α(ej1 , . . . , ejr ).
ϕ(ej1 , . . . , ejr ) =
I
P
Assim, ϕ = α, ou seja, α = I αI fI . Isso mostra que as r-formas fI geram
Λr (E). Além disso, estas r-formas são linearmente independentes. De fato,
seja
X
ϕ=
αI fI = 0
I
131
uma combinação linear nula. Assim, para todo J = {j1 < . . . < jr }, temos
0 = ϕ(ej1 , . . . , ejr ) = αI ,
provando o Teorema.
Corolário 5.1.8. dim Λr (E) =
n!
r!(n−r)! .
Quando r = n, tem-se dim Λr (E) = 1. Isso significa que, a menos de
um fator constante, há apenas uma n-forma linear sobre um espaço vetorial
de dimensão n.
Toda aplicação linear T : E → F possui uma transposta T ∗ : F ∗ → E ∗ ,
definida por
(T ∗ f )(v) = f (T (v)),
para quaisquer f ∈ F ∗ e v ∈ E. Essa noção se generaliza.
Definição 5.1.9. Para todo r, a aplicação linear T : E → F determina uma
nova aplicação linear T ∗ : Λr (F ) → Λr (E), definida por
(T ∗ α)(v1 , . . . , vr ) = α T (v1 ), . . . , T (vr ) ,
para quaisquer α ∈ Λr (F ) e v1 , . . . , vr ∈ E. A r-forma linear T ∗ α chama-se
o pull-back de α para o espaço E relativo a T .
Determinemos a matriz de T ∗ : Λr (F ) → Λr (E) relativamente à bases
fixadas em E e F . Sejam {e1 , . . . , em } ⊂ E ∗ e {f1 , . . . , fn } ⊂ F ∗ bases
duais, respectivamente, das bases {e1 , . . . , em } ⊂ E e {f 1 , . . . , f n } ⊂ F . Se
a = (aij ) é a matriz n × m de T em relação a essas bases, temos
X
T ∗ fI =
αIJ eJ ,
J
onde
αIJ
= (T ∗ fI )(ej1 , . . . , ejr ) = fI T (ej1 ), . . . , T (ejr )
= det fiλ (T (ejµ )) = det(aiλ jµ )
e I, J são r-listas. Indicando com aIJ a submatriz r × r que consiste em
selecionar da matriz a cada elemento aij tal que i ∈ I e j ∈ J, temos
m!
αIJ = det(aIJ ). A matriz de T ∗ : Λr (F ) → Λr (E) possui r!(m−r)!
linhas e
n!
r!(n−r)!
colunas. Em particular, se r = m = n, então T ∗ : Λr (F ) → Λr (E) é
tal que
T ∗ (f1 ∧ . . . ∧ fn ) = det(a)(e1 ∧ . . . ∧ en ),
132
onde a = (aij ) é a matriz de T : E → F acima considerada.
Dado ω ∈ Λr (E), vejamos como mudam suas coordenadas quando se faz
uma mudança de bases em E. Se {e1 , . . . , em } e {f 1 , . . . , f m } são bases em
E, relacionadas por
m
X
ej =
aij f i , 1 ≤ j ≤ m,
i=1
suas bases duais {e1 , . . . , em } e {f1 , . . . , fm }, em E ∗ , cumprem as relações
fi =
m
X
aij ej , 1 ≤ i ≤ m.
j=1
P
Assim, pelo visto acima, temos fI = J det(aIJ )eJ . Assim, se ω admite
expressões
X
X
ω=
αJ eJ =
βI fI ,
J
I
relativamente às bases {eJ } e {fI }, temos
X
X X
det(aIJ )eJ
ω =
βI fI =
βI
I
I
J
XX
=
(
det(aIJ )βI )eJ .
J
I
Comparando os coeficientes de eJ , obtemos
X
αJ =
det(aIJ )βI .
(5.1)
I
Observação 5.1.10. Convém observar o caso particular em que r = n =
dim(E). Neste caso, se {e1 , . . . , en } e {f1 , . . . , fn } são bases em E ∗ , segue
de (5.1) que
f1 ∧ . . . ∧ fn = det(a)e1 ∧ . . . ∧ en ,
P
onde a = (aij ) é a matriz de passagem, ou seja, fi = nj=1 aij ej .
Definiremos agora o produto exterior de uma r-forma linear por uma sforma linear, obtendo como resultado uma (r+s)-forma linear, com r+s ≤ n.
Mais precisamente, queremos obter uma aplicação bilinear
T : Λr (E) × Λs (E) → Λr+s (E).
133
Então, dados α ∈ Λr (E) e β ∈ Λs (E), definimos
(α ∧ β)(v1 , . . . , vr+s ) =
1 X
(σ)α(vσ1 , . . . , vσr )β(vσ(r+1) , . . . , vσ(r+s) ),(5.2)
r!s! σ
onde a soma é realizada sobre todas as permutações σ de (1, . . . , r + s), e
(σ) é 1 se a permutação é par ou −1 se a permutação for ímpar.
Definição 5.1.11. A (r+s)-forma linear α∧β, definida em (5.2), é chamada
o produto exterior das formas α e β.
Em relação ao produto exterior e ao pull-back de formas lineares, temos
a seguinte:
Proposição 5.1.12. Dados α ∈ Λr (E), β ∈ Λs (E), ω ∈ Λk (E) e T ∈
L(F, E), temos:
(a) (α ∧ β) ∧ ω = α ∧ (β ∧ ω),
(b) α ∧ β = (−1)rs β ∧ α,
(c) ω ∧ (α + β) = ω ∧ α + ω ∧ β, se r = s,
(d) T ∗ (α + β) = T ∗ α + T ∗ β,
(e) T ∗ (α ∧ β) = T ∗ α ∧ T ∗ β.
Demonstração. Todas as relações acima são evidentes quando α, β e ω são
elementos da base, ou seja, são da forma fi1 ∧ . . . ∧ fir , com fi ∈ V ∗ , ∀1 ≤
i ≤ n. O caso geral se reduz a este por linearidade.
Observação 5.1.13. Segue por indução que se α1 , . . . , αm são formas lineares de grau r1 , . . . , rm , respectivamente, e r = r1 + . . . + rm , então
(α1 ∧ . . . ∧ αm )(v1 , . . . , vr ) =
X
1
α1 (vσ(1) , . . . , vσ(r1 ) )
r1 ! · · · rm ! σ
· · · αm (vσ(r−rm +1) , . . . , vσ(r) ),
onde a soma é realizada sobre todas as permutações de (1, . . . , r).
134
5.2
Formas diferenciais em variedades
Definição 5.2.1. Uma r-forma diferencial α em uma variedade diferenciável
M n é uma aplicação que associa a cada ponto p ∈ M um elemento αp ∈
Λr (Tp M ).
Denotemos por Ωr (M ) o conjunto formado por todas as r-formas diferenciais em M . Ωr (M ) admite uma estrutura de espaço vetorial real: dados
α, β ∈ Ωr (M ) e c ∈ R, definimos:
(α + β)(p) = αp + βp , ∀ p ∈ M,
(c β)(p) = c βp , ∀ p ∈ M.
Ω0 (M ) será identificado com o espaço vetorial C ∞ (M ).
Dado p ∈ M , seja (U, ϕ) um sistema de coordenadas em M , com p ∈ U
e ϕ ∼ (x1 , . . . , xn ), tal que {dx1 (p), . . . , dxn (p)} é base de (Tp M )∗ , ∀p ∈ U .
Sabemos que as r-formas lineares
dxI (p) = dxi1 (p) ∧ . . . ∧ dxir (p)
formam uma base do espaço vetorial Λr (Tp M ), ∀p ∈ U . Assim, dado α ∈
Ωr (M ), podemos escrever
X
αp =
ai1 ···ir (p)dxi1 (p) ∧ . . . ∧ dxir (p), ∀p ∈ U,
(5.3)
i1 <...<ir
onde aI são funções definidas em U , chamadas funções coordenadas de α. A
igualdade em (5.3) será as vezes escrita como
X
α |U =
aI dxI .
(5.4)
I
Definição 5.2.2. Dizemos que α ∈ Ωr (M ) é de classe C ∞ se as funções
coordenadas aI , dadas em (5.4), são de classe C ∞ , para toda r-lista I.
A definição acima independe da escolha do sistema de coordenadas. De
fato, seja (V, ψ) outro sistema de coordenadas em M , com U ∩ V 6= φ e
ψ ∼ (y1 , . . . , yn ). Assim, temos
X
αp =
bJ (p)dyJ (p), ∀p ∈ V.
I
135
Denotando por c = (cij ) a matriz de d(ψ ◦ ϕ−1 )(ϕ(p)), segue de (5.1) que
X
bJ (p) =
det(cIJ )aI (p),
I
logo as funções bJ também são de classe C ∞ .
De agora em diante, todas as r-formas diferenciais consideradas serão de
classe C ∞ .
Proposição 5.2.3. Uma variedade diferenciável M n é orientável se, e somente se, existe ω ∈ Ωn (M ) que nunca se anula.
Demonstração. Se M é orientável, denotemos por A = {(Uα , ϕα )/ α ∈ I} o
atlas maximal que define a orientação O de M . Seja {fα }α∈I uma partição
da unidade subordinada a A. Para cada (Uα , ϕα ) ∈ A, seja ωα uma n-forma
diferencial em M tal que, para v1 , . . . , vn ∈ Tp M , p ∈ Uα , tem-se
ωα (p)(v1 , . . . , vn ) > 0 ⇔ [v1 , . . . , vn ] = Op .
Definimos, então,
ω=
X
fα ωα .
α
ω é uma n-forma diferencial em M . Além disso, ∀p ∈ M , se v1 , . . . , vn ∈ Tp M
satisfazem [v1 , . . . , vn ] = Op , então
(fα ωα )(p)(v1 , . . . , vn ) ≥ 0,
e é estritamente maior do que zero em, pelo menos, um aberto Uα . Logo,
ωp 6= 0, ∀p ∈ M . Reciprocamente, suponha que exista uma n-forma diferencial ω em M que nunca se anula. Dado p ∈ M , definimos uma orientação
Op em Tp M como sendo: v1 , . . . , vn ∈ Tp M são tais que
[v1 , . . . , vn ] = Op ⇔ ωp (v1 , . . . , vn ) > 0.
Como ωp 6= 0 ∀p ∈ M , isso define diferenciavelmente, em cada Tp M , uma
orientação Op . Logo, M é orientável.
Definição 5.2.4. Dados α ∈ Ωr (M ) e β ∈ Ωs (M ), definimos uma (r + s)forma diferencial em M , denotada por α ∧ β, como sendo
(α ∧ β)(p) = αp ∧ βp , ∀ p ∈ M,
onde αp ∧ βp é dado como na Definição 5.1.11.
136
A (r + s)-forma diferencial α ∧ β é chamada produto wedge das formas
diferenciais α e β. O produto wedge satisfaz as seguintes propriedades:
Proposição 5.2.5. Dados α ∈ Ωr (M ), β ∈ Ωs (M ) e ω ∈ Ωk (M ), temos:
(a) (α ∧ β) ∧ ω = α ∧ (β ∧ ω),
(b) α ∧ β = (−1)rs β ∧ α,
(c) f α ∧ gβ = f gα ∧ β, ∀ f, g ∈ C ∞ (M ),
(d) ω ∧ (α + β) = ω ∧ α + ω ∧ β, se r = s.
Demonstração. A verificação de tais propriedades é consequência do fato de
que toda r-forma diferencial α é, pontualmente, uma r-forma linear. Como
neste caso as propriedades são válidas, segue o resultado.
Definição 5.2.6. Dados uma aplicação diferenciável f : M → N entre as
variedades M e N , e α ∈ Ωr (N ), definimos uma r-forma diferencial em M ,
denotada por f ∗ α, como sendo
(f ∗ α)(p)(v1 , . . . , vr ) = αf (p) (df (p) · v1 , . . . , df (p) · vr ),
para quaisquer p ∈ M e v1 , . . . , vr ∈ Tp M .
A r-forma diferencial f ∗ α é chamada o pull-back de α por f . Se g ∈
C ∞ (N ), definimos f ∗ g ∈ C ∞ (M ) como sendo a função
g ◦ f : M → R.
O pull-back de formas diferenciais satisfaz as seguintes propriedades:
Proposição 5.2.7. Sejam f : M → N uma aplicação diferenciável, α ∈
Ωr (N ) e β ∈ Ωs (N ). Então:
(a) f ∗ (α + β) = f ∗ α + f ∗ β, se r = s,
(b) f ∗ (α ∧ β) = f ∗ α ∧ f ∗ β,
(c) f ∗ (g α) = f ∗ (g)f ∗ α, ∀ g ∈ C ∞ (N t),
(d) Se ψ1 , . . . , ψr ∈ Ω1 (N ) então f ∗ (ψ1 ∧ . . . ∧ ψr ) = f ∗ ψ1 ∧ . . . ∧ f ∗ ψr ,
(e) (f ◦ g)∗ α = g ∗ (f ∗ α), onde g : P → M é uma aplicação diferenciável.
Demonstração. A verificação de tais propriedades segue a mesma idéia da
Proposição 5.2.5.
O pull-back tem a seguinte interpretação em termos de sistemas de coordenadas. Dado p ∈ M , sejam (U, ϕ) e (V, ψ) sistemas de coordenadas em M
137
r
e N , respectivamente, tais
Pque p ∈ U e f (U ) ⊂ V . Assim, dado α ∈ Ω (N ),
podemos escrever α|V = I aI dyI . Assim,
X
X ∗
f ∗ α |U = f ∗
aI dyI =
f aI dyI
I
X
=
I
∗
∗
f (aI )f (dyi1 ∧ . . . ∧ dyir )
I
X
=
(aI ◦ f )f ∗ (dyi1 ∧ . . . ∧ dyir ).
I
r
Definição
P 5.2.8. Dado α ∈ Ω (M ), escrita em coordenadas locais como
α|U = I aI dxI , definimos uma (r + 1)-forma diferencial em M , denotada
por dα, dada, localmente, por
X
dα|U =
daI ∧ dxI
I
n
XX
∂aI
=
I
i=1
∂xi
dxi ∧ dxI .
A (r + 1)-forma diferencial dα é chamada derivada exterior de α ou, simplesmente, derivada de α. Devemos mostrar que tal definição não depende
da escolha do sistema de coordenadas. Para isso, comecemos estudando
algumas propriedades de dα.
Proposição 5.2.9. A derivada exterior satisfaz as seguintes propriedades:
(1) d(α + β) = dα + dβ, ∀ α, β ∈ Ωr (M ),
(2) d(α ∧ β) = dα ∧ β + (−1)r α ∧ dβ, ∀ α ∈ Ωr (M ), ∀ β ∈ Ωs (M ),
(3) d2 = 0, ou seja, d(dα) = 0, ∀ α ∈ Ωr (M )
P
P
Demonstração. (1) Sejam α|U = I aI dxI e β|U = I bI dxI . Então,
X
X
d(α + β) = d
(aI + bI )dxI =
d(aI + bI ) ∧ dxI
I
=
n
XX
i=1
n
XX
I
=
I
i=1
I
∂
(aI + bI )dxi ∧ dxI
∂xi
n
X X ∂bI
∂aI
dxi ∧ dxI +
dxi ∧ dxI
∂xi
∂xi
I
i=1
= dα + dβ.
Para provar (2) é suficiente, em virtude de (1), considerar o caso em que
α|U = f dxI e β|U = gdxJ .
138
Assim,
α ∧ β|U = f gdxI ∧ dxJ
logo,
d(α ∧ β) = d(f g) ∧ dxI ∧ dxJ
= gdf ∧ dxI ∧ dxJ + f dg ∧ dxI ∧ dxJ
= df ∧ dxI ∧ gdxJ + (−1)r f dxI ∧ dg ∧ dxJ
= dα ∧ β + (−1)r α ∧ dβ.
Da mesma forma, para provar (3), é suficiente considerar α da forma α|U =
f dxI . Então,
n
X
∂f
dα|U =
dxi ∧ dxI ,
∂xi
i=1
de modo que
n
n
X
X
∂2f
dxj ∧ dxi ∧ dxI .
d(dα)|U =
∂xj ∂xi
i=1
j=1
Nesta soma, os termos
∂2f
∂2f
dxj ∧ dxi ∧ dxI e
dxi ∧ dxj ∧ dxI
∂xj ∂xi
∂xi ∂xj
cancelam-se aos pares, logo d(dα) = 0.
Proposição 5.2.10. Suponha que d0 transforma r-formas diferenciais, definidas em U , em (r + 1)-formas diferenciais, definidas em U , e satisfaz:
(1) d0 (α + β) = d0 α + d0 β,
(2) d0 (α ∧ β) = d0 α ∧ β + (−1)r α ∧ d0 β,
(3) d0 (d0 α) = 0,
(4) d0 f = df , ∀ f ∈ C ∞ (M ).
Então, d0 = d em U .
Demonstração. É suficiente provar que d0 α = dα quando α é da forma α|U =
f dxI . Por (2) e (4), temos:
d0 α|U
= d0 (f dxI ) = d0 f ∧ dxI + f ∧ d0 (dxI )
= df ∧ dxI + f d0 (dxI ).
Resta mostrar que d0 (dxI ) = 0, onde
dxI = dxi1 ∧ . . . ∧ dxir = d0 xi1 ∧ . . . ∧ d0 xir ,
139
por (4). Mostremos por indução em r. Supondo verdadeiro para r−1, temos:
d0 (dxI ) = d0 (d0 xi1 ∧ . . . ∧ d0 xir )
= d0 (d0 xi1 ) ∧ d0 xi2 ∧ . . . ∧ d0 xir − d0 xi1 ∧ d0 (d0 xi2 ∧ . . . ∧ d0 xir )
= 0 − 0,
usando (2), (3) e a hipótese indutiva.
A Proposição 5.2.10 mostra que as propriedades (1), (2), (3) e (4) caracterizam d em U .
Corolário 5.2.11. Existe um único operador d que transforma r-formas
diferenciais em M , em (r + 1-formas diferenciais em M , satisfazendo:
(1) d(α + β) = dα + dβ,
(2) d(α ∧ β) = dα ∧ β + (−1)r α ∧ dβ,
(3) d2 = 0,
(4) df = diferencial de f , ∀ f ∈ C ∞ (M ).
Demonstração. Para cada sistema de coordenadas (U, ϕ), temos definido um
único operador d|U . Dados α ∈ Ωr (M ) e p ∈ M , escolhemos qualquer (U, ϕ),
com p ∈ U , e definimos (dα)(p) = (d|U α|U )(p).
Proposição 5.2.12. Dado ω ∈ Ω1 (M ), te-se:
dω(X, Y ) = X(ω(Y )) − Y (ω(X)) − ω([X, Y ]),
para quaisquer X, Y ∈ X(M ).
Demonstração.
Dado um sistema de coordenadas (U, ϕ) em M , temos ω|U =
Pn
a
dx
.
Assim,
por linearidade, podemos supor que ω é da forma ω =
i
i=1 i
∞
f dg, onde f, g ∈ C (U ). Então, dados X, Y ∈ X(U ), temos:
dω(X, Y ) = d(f dg)(X, Y ) = (df ∧ dg)(X, Y )
= df (X)dg(Y ) − dg(X)df (Y )
= X(f )Y (g) − X(g)Y (f ).
(5.5)
Por outro lado,
Xω(Y ) − Y ω(X) − ω([X, Y ]) = X(f dg(Y )) − Y (f dg(X)) − f dg([X, Y ])
= X(f )Y (g) − Y (f )X(g).
Logo, de (5.5) e (5.6), segue o resultado.
140
(5.6)
Proposição 5.2.13. Sejam f : M → N uma aplicação diferenciável e ω ∈
Ωr (N ). Então,
f ∗ dω = df ∗ ω.
Demonstração. Dado p ∈ M , seja (V, ψ) um sistema de coordenadas em N ,
com f (p) ∈ V . Por linearidade, podemos assumir que ω|V = gdxi1 ∧. . .∧dxir .
Usaremos indução sobre r. Quando r = 0, temos:
f ∗ (dg)(p)(v) = dg(f (p))(df (p) · v) = d(g ◦ f )(p) · v
= d(f ∗ g)(p)(v).
Supondo válido para r − 1, temos:
d (f ∗ ω) = d (f ∗ (gdxi1 ∧ ... ∧ dxir ))
= d f ∗ gdxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 ∧ f ∗ dxir
= d f ∗ gdxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 ∧ f ∗ dxir
= f ∗ d gdxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 ∧ f ∗ dxir
= f ∗ dg ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 ∧ dxir
= f ∗ (dω) .
141
5.3
Integrais de formas diferenciais
De agora em diante, estaremos supondo que M n é uma variedade diferenciável fechada e orientada. Seja ω ∈ Ωn (M ) tal que K = supp (ω) ⊂ U ,
onde (U, ϕ) é um sistema de coordenadas positivo de M . Se
ω = f du1 ∧ ... ∧ dun
é a representação
local de ω em U ⊂ M , onde f ∈ C ∞ (U ), a n-forma
∗
diferencial ϕ−1 ω ∈ Ωn (Rn ) é dada por
ϕ−1
∗
ω = f ◦ ϕ−1 det dϕ−1 dx1 ∧ ... ∧ dxn .
Definimos, então,
Z
Z
f du1 ∧ ... ∧ dun =
K
f ◦ ϕ−1 det dϕ−1 dx1 ∧ ... ∧ dxn ,
(5.7)
ϕ(K)
ou seja,
Z
Z
ϕ−1
ω=
∗
ω.
(5.8)
ϕ(U )
M
Observação 5.3.1. A definição dada em (5.8) independe da escolha do
sistema de coordenadas. De fato, seja (V, ψ) outro sistema de coordenadas
positivo de M , com K ⊂ U ∩ V . Queremos mostrar que
Z
Z
∗
−1 ∗
ω=
ψ −1 ω.
ϕ
ψ(V )
ϕ(U )
Para isso, consideremos o difeomorfismo h = ψ◦ϕ−1 : ϕ (U ∩ V ) → ψ (U ∩ V ).
Temos:
∗
∗
∗
∗
∗ ϕ−1 ω = ψ −1 ◦ ψ ◦ ϕ−1 ω = ψ ◦ ϕ−1 ◦ ψ −1 ω = h∗ ψ −1 ω .(5.9)
Como ψ −1
∗
ω ∈ Ωn (Rn ), podemos escrever
ψ −1
∗
ω = f dy1 ∧ ... ∧ dyn ,
para alguma função f ∈ C ∞ (ψ (V )). Assim,
∗ h∗ ψ −1 ω (x) = f (h (x)) det (dh (x)) dx1 ∧ ... ∧ dxn .
142
Pelo Teorema de Mudança de Variáveis em Rn , temos
Z
Z
Z
∗
ψ −1 ω =
f=
(f ◦ h) |det (dh)| .
ψ(V )
h(ϕ(K))
Como det (dh (x)) > 0, ∀ x ∈ ϕ (U ∩ V ), temos
Z
Z
Z
(f ◦ h) |det (dh)| =
(f ◦ h) det (dh) =
ϕ(K)
ϕ(K)
h∗
ψ −1
∗ ω (5.11)
.
ϕ(U )
Logo, segue de (5.9), (5.10) e (5.11) que
Z
Z
Z
−1 ∗
∗
−1 ∗
ϕ
ω=
h
ψ
ω =
ϕ(U )
(5.10)
ϕ(K)
ϕ(U )
ψ −1
∗
ω,
ψ(V )
como queríamos mostrar.
Note que a escolha de uma orientação para M fixa um sinal para a integral
de ω, o qual muda com a mudança da orientação.
Seja agora ω uma n-forma diferencial em M de modo que K = supp (ω)
não está contido em um domínio de um sistema de coordenadas de M . Neste
caso, seja {U1 , ..., Um } uma cobertura para M , formada por domínios de
sistema de coordenadas positivos de M . Considere f1 , ..., fn uma partição
da unidade estritamente subordinada à cobertura {U1 , ..., Um }.
Dado 1 ≤ i ≤ m, consideremos a n-forma diferencial em M , fi ω. Temos
supp (fi ω) ⊂ Ui , ∀ 1 ≤ i ≤ m,
e
m
X
fi ω = ω.
i=1
Neste caso, temos a seguinte
Definição 5.3.2. A integral de ω sobre M é definida por
Z
ω=
M
m Z
X
i=1
fi ω.
(5.12)
M
Observação 5.3.3. A definição dada em (5.12) independe da cobertura
{U1 , ..., Um } e da partição da unidade escolhida. De fato, seja {V1 , ..., Vk }
outra cobertura de M por domínios de sistema de coordenadas positivos de
143
M , e seja g1 , ..., gk uma partição da unidade estritamente subordinada à esta
cobertura. Queremos mostrar que
k Z
X
j=1
gj ω =
M
m Z
X
fi ω.
M
i=1
Para isso, defina ωij = fi gj ω. Temos
m
X
k
X
ωij = gj ω e
i=1
ωij = fi ω.
j=1
Além disso, supp (ωij ) ⊂ Ui ∩ Vj . Assim,
k Z
X
j=1
gj ω =
M
k Z
X
j=1
=
m
X
ωij =
M i=1
m Z
X
k
X
ωij =
m Z
X
i=1
ωij =
M
j=1 i=1
M j=1
i=1
k X
m Z
X
m X
k Z
X
i=1 j=1
ωij
M
fi ω,
M
como queríamos.
Proposição 5.3.4. Seja f : M → N um difeomorfismo positivo entre as
variedades diferenciáveis fechadas e orientadas M e N , e seja ω ∈ Ωn (N ).
Então
Z
Z
ω=
f ∗ ω.
N
M
Demonstração. Suponhamos inicialmente que supp (ω) ⊂ V , para algum
sistema de coordenadas positivo (V, ψ) de N . Seja U = f 1 (V ) e defina
ϕ = ψ ◦ f . Então, (U, ϕ) é um sistema de coordenadas positivo de M e
supp (f ∗ ω) = f −1 (supp (ω)) ⊂ f −1 (V ) = U.
Temos
Z
f ∗ω =
M
Z
ϕ−1
∗
(f ∗ ω)
(5.13)
ϕ(U )
e
Z
Z
ψ −1
ω=
N
ψ(V )
144
∗
ω.
(5.14)
∗
∗
∗
Porém, como ϕ (U ) = ψ (V ) e ϕ−1 (f ∗ ω) = f ◦ ϕ−1 ω = ψ −1 ω,
segue de (5.13) e (5.14) que
Z
Z
f ∗ω =
ω.
M
N
Para o caso geral, considere {V1 , ..., Vm } uma cobertura de N , formada por
domínios de sistema de coordenadas positivos (Vi , ψi ) de N . Seja g1 , ..., gm
uma partição da unidade estritamente subordinada à esta cobertura. Então,
como supp (gi ω) ⊂ Vi , ∀ 1 ≤ i ≤ m, segue do caso anterior que
Z
Z
f ∗ (gi ω) , ∀ 1 ≤ i ≤ m.
gi ω =
M
N
Defina fi = gi ◦f , 1 ≤ i ≤ m. Então, f1 , ..., fm é uma partição da unidade estritamente subordinada à cobertura {U1 , ..., Um } de M , onde Ui = f −1 (Vi ),
1 ≤ i ≤ m, são os domínios dos sistemas de coordenadas positivos de M
dados por ϕi = ψ ◦ f . Temos
f ∗ (gi ω) = (gi ◦ f ) f ∗ ω = fi f ∗ ω, f orall 1 ≤ i ≤ m.
Assim,
Z
ω=
N
m Z
X
i=1
N
gi ω =
m Z
X
i=1
∗
f (gi ω) =
M
m Z
X
i=1
M
∗
Z
fi f ω =
f ∗ ω.
M
Lembremos que se M n é uma variedade diferenciável com bordo, então
∂M é uma variedade diferenciável de dimensão n − 1. Além disso, uma
orientação em M induz uma orientação em ∂M . Temos, então, o seguinte
Teorema 5.3.5 (Stokes). Sejam M n uma variedade diferenciável compacta,
orientada e com bordo, e ω ∈ Ωn−1 (M ). Se i : ∂M → M é a aplicação de
inclusão, então
Z
Z
i∗ ω =
∂M
dω.
M
Demonstração. Suponhamos inicialmente que supp (ω) ⊂ U , onde (U, ϕ) é
um sistema de coordenadas positivo de M , com ϕ (U ) aberto num semiespaço H ⊂ Rn . Analisemos, então, os seguintes casos:
Caso 1: U ∩ ∂M = φ. Neste caso, ω = 0 em ∂M , logo i∗ ω = 0. Assim,
Z
i∗ ω = 0.
∂M
145
∗
R
Queremos mostrar que M dω = 0. Como ϕ−1 ω ∈ Ωn−1 (Rn ), podemos
escrever
n
X
∗
b i ∧ ... ∧ dxn ,
ϕ−1 ω =
ai dx1 ∧ ... ∧ dx
i=1
onde ai ∈
C ∞ (ϕ (U )).
d ϕ−1
Assim,
∗
ω=
n
X
∂ai
dx1 ∧ ... ∧ dxn .
∂xi
(−1)i−1
i=1
Estendemos as funções ai ao semi-espaço H, pondo
ai (x1 , ..., xn ) , se (x1 , ..., xn ) ∈ ϕ (U )
ai (x1 , ..., xn ) =
.
0
, se (x1 , ..., xn ) ∈ H − ϕ (U )
Como ϕ (supp (ω)) ⊂ ϕ (U ), as funções ai assim definidas são diferenciáveis
em H. Seja agora
n
Y
Q=
[ci di ]
i=1
um bloco n-dimensional tal que ϕ (U ) ⊂ Q. Então,
Z
Z
dω =
M
ϕ
−1 ∗
Z
dω =
ϕ(U )
n
X
−1 ∗
d ϕ
ϕ(U )
Z
ω=
ϕ(U )
n
X
i=1
i−1
(−1)
∂ai
∂xi
!
Z
dx1 ∧ ... ∧ dxn
∂ai
dx1 ∧ ... ∧ dxn
∂x
i
Q
i=1
Z Z di
n
X
∂ai
i−1
b i ∧ ... ∧ dxn
=
(−1)
dxi dx1 ∧ ... ∧ dx
∂xi
c
Q
i
i
i=1
Z
n
X
i−1
b i ∧ ... ∧ dxn
=
(−1)
[ai (x1 , ..., di , ..., xn ) − ai (x1 , ..., ci , ..., xn )] dx1 ∧ ... ∧ dx
=
i=1
(−1)i−1
Qi
= 0,
pois ai (x1 , ..., di , ..., xn ) = ai (x1 , ..., ci , ..., xn ) = 0, ∀ 1 ≤ i ≤ n.
Caso 2: U ∩ ∂M 6= φ. Pela definição de orientação induzida, a restrição de ϕ
a ∂M é um sistema de coordenadas positivo em ∂M . Dado x ∈ ϕ (U ) ∩ ∂H,
x = (0, x2 , ..., xn ), temos
∗
ϕ−1 |ϕ(U )∩∂H i∗ ω = a1 (0, x2 , ..., xn ) dx2 ∧ ... ∧ dxn .
146
Como no Caso 1, estendemos
as funções ai a H e consideremos o bloco
Qn
n-dimensional Q = i=1 [ci , di ], com d1 = 0, tal que ϕ (U ) ⊂ Q. Então,
Z
Z
n
X
∂ai
i−1
dω =
(−1)
dx1 ∧ ... ∧ dxn
M
Q ∂xi
i=1
Z
[a1 (0, x2 , ..., xn ) − a1 (c1 , x2 , ..., xn )] dx2 ∧ ... ∧ dxn +
=
Q1
+
n
X
i−1
Z
b i ∧ ... ∧ dxn .
[ai (x1 , ..., di , ..., xn ) − ai (x1 , ..., ci , ..., xn )] dx1 ∧ ... ∧ dx
(−1)
Qi
i=2
Como a1 (c1 , x2 , ..., xn ) = 0 e ai (x1 , ..., di , ..., xn ) = ai (x1 , ..., ci , ..., xn ) = 0,
2 ≤ i ≤ n, obtemos
Z
Z
Z
dω =
a1 (0, x2 , ..., xn ) dx2 ∧ ... ∧ dxn =
i∗ ω.
M
Q1
∂M
Finalmente, para o caso em que supp (ω) não está contido em nenhum sistema de coordenadas de M , seja {U1 , ..., Um } uma cobertura de M formadas
por domínios de sistemas de coordenadas positivos de M , e seja f1 , ..., fm
uma partição da unidade estritamente subordinada a esta cobertura. As
(n − 1)-formas ωi = fi ω, 1 ≤ i ≤ n, satisfazem as condições dos casos anteriores. Além disso,
m
X
ωi = ω,
i=1
assim
dω =
m
X
dωi .
i=1
Portanto,
Z
Z
dω =
M
m
X
dωi =
M i=1
Z
=
∂M
i∗
m
X
m Z
X
dωi =
i=1
M
!
Z
ωi
m Z
X
i=1
=
i∗ ωi
∂M
i∗ ω.
∂M
i=1
Corolário 5.3.6. Seja ω ∈ Ωn−1 (M ) tal que supp (ω) ∩ ∂M = φ. Então,
Z
dω = 0.
M
147
Demonstração. De fato, como supp (ω) ∩ ∂M = φ segue que ω = 0 em ∂M .
Assim, i∗ ω = 0. Portanto, pelo Teorema de Stokes, temos
Z
Z
i∗ ω = 0.
dω =
∂M
M
Corolário 5.3.7. Se M é fechada então para toda ω ∈ Ωn−1 (M ) tem-se
Z
dω = 0.
M
Definição 5.3.8. Seja ω ∈ Ωr (M ). Dizemos que ω é fechada se dω = 0, e
é exata se existe α ∈ Ωr−1 (M ) tal que dα = ω.
Se ω ∈ Ωr (M ) é exata então ω é fechada, pois se ω = dα, para alguma
α ∈ Ωr−1 (M ), então
dω = d (dα) = d2 α = 0.
A recíproca não é verdadeira, como mostra o seguinte
Exemplo 5.3.9. Seja ω ∈ Ωn (S n ) a forma volume de S n . Assim, dω = 0.
x
,
Considerando a projeção radial f : Rn+1 − {0} → S n , dada por f (x) = kxk
∗
definimos α = f ω. Temos
α (x) (v1 , ..., vn ) = ω (f (x)) (df (x) · v1 , ..., df (x) · vn )
x v1 − c1 x
vn − cn x
= det
,
, ...,
, ci ∈ R
kxk
kxk
kxk
1
=
det (x, v1 , ..., vn )
kxkn+1
n+1
X
1
b i ∧ ... ∧ dxn+1 .
=
(−1)i+1 xi dx1 ∧ ... ∧ dx
kxkn+1 i=1
Como dω = 0, tem-se
dα = df ∗ ω = f ∗ dω = 0,
ou seja, α é fechada. No entanto,
α não é exata. De fato, se α = dβ, para
alguma β ∈ Ωn−1 Rn+1 − {0} , segue do Teorema de Stokes que
Z
Z
Z
α=
dβ =
i∗ β = 0,
M
M
∂M
148
para qualquer hipersuperfície M n ⊂ Rn+1 − {0} fechada. Porém,
Z
α>0
M
pois α|S n é a forma volume de S n , logo α é positiva e sua integral também.
Portanto, α não é exata.
Observação 5.3.10. Dados f : M → N uma aplicação diferenciável e
ω ∈ Ωr (N ), a igualdade f ∗ dω = df ∗ ω mostra que se ω é fechada (resp.
exata) em N então f ∗ ω é fechada (resp. exata) em M . De fato,
ω fechada em N
⇒ dω = 0 ⇒ df ∗ ω = f ∗ dω = 0
⇒ f ∗ ω fechada em M.
ω exata em N
⇒ ω = dα, α ∈ Ωr−1 (N )
⇒ f ∗ ω = f ∗ dα = df ∗ α
⇒ f ∗ ω é exata em M.
Teorema 5.3.11. Sejam ω ∈ Ω1 (M ), p, q ∈ M e γ1 , γ2 curvas diferenciáveis
homotópicas, ligando p e q. Então
Z
Z
ω=
ω.
γ1
γ2
Em particular, se γ é homotópica a um ponto então
R
γ
ω = 0.
Para uma prova deste teorema, o leitor pode consultar []. Estamos interessados aqui no seguinte
Corolário 5.3.12. Sejam M n uma variedade diferenciável simplesmente conexa e ω ∈ Ω1 (M ) fechada. Então, ω é exata.
Demonstração. Fixemos um ponto base q ∈ M e definimos f : M → R por
Z
f (p) = ω,
γ
onde γ é uma curva diferenciável ligando p e q. Segue do Teorema 5.3.11 que
f está bem definida. Mostremos que ω = df . De fato, se q0 é outro ponto
base, obtemos uma nova função f0 : M → R dada por
Z
f0 (p) =
ω,
γ0
149
onde γ0 é uma curva diferenciável ligando p e q0 . Denotando por c = f0 (q)
e usando o fato que M é simplesmente conexa, temos
f = f0 + c.
Assim, df = df0 , logo é suficiente provar que df = ω no ponto base q fixado.
Seja
(U, ϕ) um sistema
o de coordenadas de M , com q ∈ U e ϕ (q) = 0. Se
n
∂
∂
é a base de Tq M associada a (U, ϕ), denotemos por
∂x1 (q) , ..., ∂xn (q)
{dx1 (q) , ..., dxn (q)} sua base dual. Temos
ω (q) =
n
X
ai (q) dxi (q) .
i=1
Escrevendo f em coordenadas locais como F = f ◦ ϕ−1 , temos
F (x) = f ϕ−1 (x) =
Z X
n
ai ϕ−1 (x) dxi , x = ϕ (p) , p ∈ U,
α i=1
onde α é uma curva diferenciável ligando x e 0 em Rn . Então,
1
(F (0, ..., h, ..., 0) − F (0, ..., 0))
h→0 h
Z
1 h
= lim
ai ϕ−1 (0, ..., xi , ..., 0) dxi = ai ϕ−1 (0, ..., 0) ,
h→0 h 0
∗
para todo 0 ≤ i ≤ n. Isso mostra que dF (0) = ϕ−1 ω (0), logo df (q) =
ω (q), como queríamos.
∂F
(0) =
∂xi
lim
Nosso objetivo agora é provar o Lema de Poincaré, que afirma que toda rforma fechada em uma variedade contrátil é exata. Para isso, necessitaremos
de dois lemas auxiliares.
Lema 5.3.13. Toda r-forma ω em M × R pode ser escrita de modo único
como
ω = ω1 + dt ∧ α,
(5.15)
onde ω1 satisfaz ω1 (v1 , ..., vr ) = 0 se algum vi pertencer a ker (dπ), onde
π : M × R → M é a projeção canônica, e α ∈ Ωr−1 (M × R) com uma
propriedade análoga.
150
Demonstração. Dado p ∈ M , seja (U, ϕ) um sistema de coordenadas em M ,
com p ∈ U . Se ϕ = (ϕ1 , ..., ϕn ) e t : M ×R → R é a projeção sobre o segundo
fator, então (ϕ1 ◦ π, ..., ϕn ◦ π, t) é um sistema de coordenadas em M × R.
Denotando xi = ϕi ◦ π, podemos escrever
X
X
bj1 ...jr−1 dxj1 ∧ ... ∧ dxjr−1 ∧ dt
ω =
ai1 ...ir dxi1 ∧ ... ∧ dxir +
j1 <...<jr−1
i1 <...<ir
=
X
ai1 ...ir dxi1 ∧ ... ∧ dxir + dt ∧
X
(5.16)
bj1 ...jr−1 dxj1 ∧ ... ∧ dx
jr−1
j1 <...<jr−1
i1 <...<ir
= ω1 = dt ∧ α.
Como xi = ϕi ◦ π, 1 ≤ i ≤ n, temos dxi = dϕi ◦ dπ. Assim, se v ∈ ker (dπ)
então dxi (v) = 0, ∀ 1 ≤ i ≤ n. Logo, ω1 e α, acima definidas, satisfazem as
propriedades exigidas. Além disso, se a decomposição em (5.15) vale em toda
variedade M , localmente ela é da forma (5.16), logo é única. Para provar a
existência, definimos ω1 e α em cada vizinhança coordenada por (5.16). Na
interseção de duas tais vizinhanças, elas coincidem pela unicidade, assim ω1
e α podem ser definidas a toda variedade M , verificando (5.15).
Dado t ∈ R, seja it : M → M × R a aplicação de inclusão, it (p) = (p, t).
Definimos uma aplicação I : Ωr (M × R) → Ωr−1 (M ) por
Z 1
Iω (p) (v1 , ..., vr−1 ) =
α (p, t) (dit (p) · v1 , ..., dit (p) · vr ) dt,
0
onde α é dada na decomposição (5.15). Temos, então, o seguinte
Lema 5.3.14. Para qualquer r-forma ω em M × R, temos
i∗1 ω − i∗0 ω = d (Iω) + I (dω) .
Demonstração. Dado p ∈ M , seja (x1 , ..., xn , t) o sistema de coordenadas em
M ×R, como no Lema 5.3.13. Como I é linear, temos dois casos a considerar:
(a) Se ω = f dxi1 ∧ ... ∧ dxir então dω = ∂f
∂t ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir + termos sem dt.
Então
Z 1
∂f
I (dω) (p) =
dt dxi1 ∧ ... ∧ dxir = (f (p, 1) − f (p, 0)) dxi1 ∧ ... ∧ dxir
0 ∂t
= (i∗1 ω) (p) − (i∗0 ω) (p) .
Como Iω = 0, vale o Lema neste caso.
(b) Se ω = f dt ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir então i∗0 ω = 0 = i∗1 ω. Por outro lado,
n
X
∂f
dω =
dxj ∧ dt ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 .
∂xj
j=1
151
Assim,
I (dω) (p) = −
n Z
X
1
0
j=1
∂f
dt dxj ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir−1
∂xj
e
1
Z
d (Iω) (p) = d
f dt dxi1 ∧ ... ∧ dxir−1
0
=
n Z
X
0
j=1
1
∂f
dt dxj ∧ dxi1 ∧ ... ∧ dxir−1 ,
∂xj
o que mostra o caso (b), e a prova do Lema.
Teorema 5.3.15 (Lema de Poincaré). Sejam M n uma variedade diferenciável contrátil e ω ∈ Ωr (M ) fechada. Então, ω é exata.
Demonstração. Como M é contrátil, existe uma aplicação H : M × R → M
tal que
H (p, 1) = p, ∀ p ∈ M
H (p, 0) = p0 , ∀ p ∈ M.
Assim,
H ◦ i1 : M → M
é a identidade,
H ◦ i0 : M → M
é a aplicação constante p0 ,
logo
ω = (H ◦ i1 )∗ = i∗1 (H ∗ ω) = i∗1 ω,
0 = (H ◦ i0 )∗ = i∗0 (H ∗ ω) = i∗0 ω.
Porém, como d (H ∗ ω) = H ∗ (dω) = 0, segue do Lema 5.3.14 que
ω − 0 = i∗1 (H ∗ ω) − i∗0 (H ∗ ω)
= d (I (H ∗ ω)) .
152
5.4
Cohomologia de de Rham
Denotemos por Z r (M ) e B r (M ) os subespaços vetoriais de Ωr (M ) formados pelas r-formas fechadas e pelas r-formas exatas, respectivamente.
Como B r (M ) é um subespaço vetorial de Z r (M ), definimos
r
HR
(M ) = Z r (M ) /B r (M ) .
r (M ) é chamado a cohomologia de de Rham r-dimensional da variedade
HR
M.
r (M ) é uma classe de equivalência [ω], onde ω é uma
Um elemento de HR
r-forma fechada de M , sendo duas r-formas fechadas, ω1 e ω2 , equivalentes
se a diferença entre elas é exata, ou seja,
ω1 ∼ ω2 ⇔ ω1 − ω2 = dα, α ∈ Ωr−1 (M ) .
r (M ), podemos escrever
Assim, dado [ω] ∈ HR
[ω] = ω + dα/ α ∈ Ωr−1 (M ) .
r (M ), definimos as operações de soma e multiplicação por escalar
Em HR
r (M ) e t ∈ R, definimos
como sendo: dados [ω] , [α] ∈ HR
[ω] + [α] = [ω + α] ,
t · [ω] = [tω] .
r (M ) um espaço vetorial. O elemento neutro de
Tais operações tornam HR
r
HR (M ) é a classe [dα] das r-formas exatas em M . De fato, dado [ω] ∈
r (M ), temos
HR
[ω] + [dα] = [ω + dα] = [ω] .
Exemplo 5.4.1. Seja M uma variedade diferenciável conexa. Então
0
HR
(M ) ' R.
De fato, temos B 0 (M ) ' {0}, pois não existem 0-formas exatas. Além
disso, como Ω0 (M ) = C ∞ (M ) e M é conexa tem-se f = constante para
0 (M ) ' R.
toda f ∈ Z 0 (M ). Logo, HR
Exemplo 5.4.2. Se M é uma variedade diferenciável contrátil, então
r
HR
(M ) ' {0} , ∀ r > 0.
De fato, do Lema de Poincaré, temos que Z r (M ) = B r (M ), r > 0.
153
5.5
Operadores lineares
Fixemos um espaço vetorial real, V , n-dimensional, orientado, com um
produto interno g. Como g é não-degenerado, a aplicação
v ∈ V 7→ g (v, ·) ∈ V ∗ .
(5.17)
é um isomorfismo. Assim, podemos definir um produto interno, g ∗ , em V ∗
como sendo
g ∗ (f, h) = g (vf , vh ) , ∀ f, h ∈ V ∗ ,
(5.18)
onde f = g (vf , ·) e h = g (vh , ·), com vf , vh ∈ V . Exigindo que o isomorfismo
em (5.17) seja positivo, determinamos univocamente uma orientação em V ∗ .
O produto interno de V ∗ , descrito em (5.18), induz, por sua vez, um
produto interno g r em Λr (V ). Mais precisamente, se {f1 , ..., fn } é uma base
de V ∗ , definimos
g r (fi1 ∧ ... ∧ fir , fj1 ∧ ... ∧ fjr ) = det (g ∗ (fik , fjl ))
(5.19)
e estendemos bilinearmente a todo espaço Λr (V ). Note que se {f1 , ..., fn } é
uma base ortonormal de V ∗ , temos
1, se I = J
r
∗
g (fi1 ∧ ... ∧ fir , fj1 ∧ ... ∧ fjr ) = det (g (fik , fjl )) =
,
0, se I 6= J
onde I = {i1 < ... < ir } e J = {j1 < ... < jr } são r-listas. Assim, o produto
interno dado em (5.19) torna o conjunto {fi1 ∧ ... ∧ fir / i1 < ... < ir } uma
base ortonormal de Λr (V ), no caso em que {f1 , ..., fn } é uma base ortonormal
de V ∗ .
Definição 5.5.1. A forma volume de V é a n-forma linear volg (V ), definida
por
volg (V ) = θ1 ∧ ... ∧ θn ,
onde {θ1 , ..., θn } é uma base ortonormal positiva de V ∗ .
A forma volume está bem definida, ou seja, não depende da escolha da
base ortonormal positiva {θ1 , ..., θn }. De fato, se {f1 , ..., fn } é outra base de
V ∗ , segue de (??) que
θ1 ∧ ... ∧ θn = det (A) f1 ∧ ... ∧ fn ,
154
(5.20)
Pn
onde A = (aij ) é a matriz mudança de base, ou seja, θi =
j=1 aij fj .
∗
Em particular, se {f1 , ..., fn } é base ortonormal positiva de V , tem-se A ∈
SO (n), ou seja, det (A) = 1. Portanto, volg (V ) está bem definido.
Dada uma base arbitrária {f1 , ..., fn } de V ∗ , seja {e1 , ..., en } sua base
dual. Denotando por g = (gij ) a matriz que representa o produto interno g
na base {e1 , ..., en }, ou seja,
gij = g (ei , ej ) ,
descrevemos volg (V ) em termos da base {f1 , ..., fn } e da matriz g. A matriz
(gij ) é a matriz
Pn que representa o isomorfismo dado em (5.17). De fato, se
g (ei , ·) = j=1 aij fj , então
gij = g (ei , ej ) =
n
X
!
aik fk
(ej ) =
n
X
aik fk (ej ) = aij .
k=1
k=1
ij
Denotemos por g
a matriz inversa de (gij ), isto é, g ij é a matriz que
representa o isomorfismo inverso do isomorfismo dado em (5.17). Ela é também a matriz que representa o produto interno g ∗ na base {f1 , ..., fn }. De
fato,
!
n
n
n
X
X
X
∗
ik
jl
g (fi , fj ) = g
g ek ,
g el =
g g ik ek , g jl el
k=1
n
X
ik jl
l=1
k,l=1
g g gkl = g ij .
=
k,l=1
P
Finalmente, se A = (aij ) é a matriz mudança de base, ou seja, θi = nj=1 aij fj ,
temos:
! n
!
n
n
n
X
X
X
X
fi =
g ∗ (fi , θj ) θj =
g ∗ fi ,
ajk fk
ajl fl
(5.21)
j=1
=
n X
n
X
j=1
g ∗ (fi , fk ) ajk ajl fl =
l=1 j,k=1
Isso implica que
k=1
n
X
g ik ajk ajl = δil ,
j,k=1
155
n
X
l=1
n
X
l=1
j,k=1
g ik ajk ajl fl .
p
logo g −1 At A = I e, portanto, |det (A)| = det (g). Assim,
p
vol (V ) = ± det (g)f1 ∧ ... ∧ fn ,
(5.22)
onde o sinal é “+” (resp. “−") se a base {f1 , ..., fn } é positiva (resp. negativa).
Definição 5.5.2. O operador de Hodge Riemanniano ∗g : Λr (V ) → Λn−r (V )
é o operador linear definido pela relação
α ∧ ∗g β = g r (α, β) vol (V ) , ∀ α, β ∈ Λr (V ) .
(5.23)
Dado {f1 , ..., fn } uma base de V ∗ , denotemos por α = fi1 ∧ ... ∧ fir . De
(5.20), temos
α ∧ ∗g α = g r (α, α) vol (V ) = g r (α, α) det (A) f1 ∧ ... ∧ fn .
Assim,
∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) = (−1)σ g r (α, α) det (A) fj1 ∧ ... ∧ fjn−r ,
(5.24)
onde (i1 , ..., ir , j1 , ..., jn−r ) é uma permutação de (1, ..., n), e σ é 0 ou 1 dependendo se a permutação for par ou ímpar, respectivamente. Segue, em
particular, que se {f1 , ..., fn } é uma base ortonormal positiva de V ∗ , então
∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) = (−1)σ fj1 ∧ ... ∧ fjn−r ,
ou seja,
fi1 ∧ ... ∧ fir ∧ ∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) = vol (V ) .
Além disso,
∗g (vol (V )) = 1 e ∗g (1) = vol (V ) .
Proposição 5.5.3. O operador de Hodge satisfaz ainda as seguintes propriedades:
(a) ∗g (∗g α) = (−1)r(n−r) α, ∀ α ∈ Λr (V ).
(b) g n−r (∗g α, ∗g β) = g (α, β), ∀ α, β ∈ Λr (V ).
Demonstração. Para provar o item (a), basta verificar nos elementos da base
de Λr (V ). Seja {f1 , ..., fn } uma base ortonormal positiva de V ∗ . Como
fi1 ∧ ... ∧ fir ∧ ∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) = vol (V )
e
∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) ∧ ∗g (∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir )) = vol (V )
156
segue que
fi1 ∧ ... ∧ fir ∧ ∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) = ∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir ) ∧ ∗g (∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir )) ,
logo
∗g (∗g (fi1 ∧ ... ∧ fir )) = (−1)r(n−r) fi1 ∧ ... ∧ fir .
A propriedade (b) segue diretamente de (a) e da definição de ∗g . De fato,
dados α, β ∈ Λr (V ), temos:
g n−r (∗g α, ∗g β) vol (V ) = ∗g α ∧ ∗g ∗g β = (−1)r(n−r) ∗g α ∧ β
= (−1)r(n−r) (−1)r(n−r) β ∧ ∗g α = g (β, α) vol (V )
= g (α, β) vol (V ) ,
logo g n−r (∗g α, ∗g β) = g (α, β).
Lema 5.5.4. Sejam {f1 , ..., fn } uma base positiva de V ∗ e {e1 , ..., en } sua
base dual1 . Então,
∗g (fi ) =
n
X
p
det (g)
(−1)k g ik f1 ∧ ... ∧ fbk ∧ ... ∧ fn .
k=1
Demonstração. Usando (5.22) e a definição do operador ∗g , temos:
p
fk ∧ ∗g (fi ) = g ∗ (fk , fi ) vol (V ) = g ik det (g)f1 ∧ ... ∧ fn
p
det (g)g ik f1 ∧ ... ∧ fn ,
=
logo
n
X
p
∗g (fi ) = det (g)
(−1)k g ik f1 ∧ ... ∧ fbk ∧ ... ∧ fn .
k=1
1
Aqui, estamos identificando V ∗∗ com V .
157
5.6
O operador Laplaciano
Seja (M, g) uma variedade Riemanniana n-dimensional, fechada2 e orientada. Temos, portanto, o operador ∗ definido em cada fibra Λr (Tp M ), para
cada p ∈ M , em relação a g e sua forma volume vol (M ). Mais precisamente,
dado p ∈ M , temos o operador estrela de Hodge ∗ : Λr (Tp M ) → Λn−r (Tp M )
dado por
α ∧ ∗β = gp (α, β) vol (Tp M ) , ∀ α, β ∈ Λr (Tp M ) ,
(5.25)
onde gp é o produto interno em Λr (Tp M ) induzido por g.
O operador ∗ transforma r-formas diferenciais em (n − r)-formas diferenciais em MP
. De fato, dado α ∈ Ωr (M ), podemos escrevê-la, localmente,
como α|U = I aI dxI . Sem perda de generalidade, podemos supor que o
sistema de coordenadas (U, ϕ) é positivo, e por linearidade podemos supor
α = aI dxi1 ∧ ... ∧ dxir . Assim,
∗α = (−1)σ aI dxj1 ∧ ... ∧ dxjn−r ,
onde (i1 , ..., ir , j1 , ..., jn−r ) é uma permutação de (1, 2, ..., n), e σ é 0 ou 1 de
acordo se a permutação é par ou ímpar, respectivamente.
Assim, temos um operador linear
∗ : Ωr (M ) → Ωn−r (M ) ,
tal que para quaisquer α ∈ Ωr (M ) e p ∈ M , (∗α) (p) é dado pela relação
(5.25). Além disso, de acordo com a Proposição 5.5.3, o operador ∗ satisfaz
∗ (∗α) = (−1)r(n−r) α, ∀ α ∈ Ωr (M ) .
Como M é fechada, definimos um produto interno h,i em Ωr (M ) por
integrando o produto interno pontual em relação a forma volume vol (M ).
Mais precisamente, definimos
Z
hα, βi =
gp (α (p) , β (p)) vol (M ) .
(5.26)
M
Como M é orientada, podemos escrever o produto interno dado em (5.26)
em termos de integração de n-formas e o operador ∗, ou seja,
Z
hα, βi =
α ∧ ∗β, ∀ α, β ∈ Ωr (M ) .
(5.27)
M
2
Isso significa que M é compacta e ∂M = φ.
158
Podemos estender o produto interno em (5.27) a um produto interno h,i
definido na soma direta
Ω (M ) =
n
X
Ωr (M ) ,
r=0
simplesmente por exigindo que os espaços Ωr (M ) sejam mutuamente ortogonais.
Definição 5.6.1. O operador codiferencial é o operador linear δ : Ωr (M ) →
Ωr−1 (M ), definido por
δα = (−1)n(r+1)+1 ∗ d ∗ α, ∀ α ∈ Ωr (M ) .
No espaço Ω0 (M ) = C ∞ (M ), o operador δ é definido simplesmente
como sendo o funcional linear nulo. Além disso, é imediato verificar que
δ 2 = 0,
(5.28)
r
∗δ = (−1) d∗,
r+1
δ∗ = (−1)
(5.29)
∗ d.
(5.30)
A definição do operador co-diferencial independe da variedade M estar
orientada ou não. Isso porque o operador ∗ surge duas vezes, logo a definição
independe da escolha da orientação de cada fibra Tp M .
Dizemos que α ∈ Ωr (M ) é co-fechada se δα = 0.
Proposição 5.6.2. O operador δ é o adjunto do operador diferencial d em
Ω (M ), ou seja,
hdα, βi = hα, δβi .
Demonstração. Da bilinearidade de h,i e da ortogonalidade dos espaços Ωr (M ),
é suficiente considerar os casos em que α ∈ Ωr−1 (M ) e β ∈ Ωr (M ). Neste
caso,
d (α ∧ ∗β) = dα ∧ ∗β + (−1)r−1 α ∧ d ∗ β
= dα ∧ ∗β − α ∧ ∗δβ.
Integrando e usando o Teorema de Stokes, temos:
Z
Z
Z
0 =
d (α ∧ ∗β) =
dα ∧ ∗β −
M
M
= hdα, βi − hα, δβi .
159
M
α ∧ ∗δβ
Definição 5.6.3. O operador Laplaciano ∆ : Ωr (M ) → Ωr (M ) é o operador linear definido por
∆ = dδ + δd.
Segue da definição que no espaço C ∞ (Rn ), o Laplaciano satisfaz
∆f = −
n
X
∂2f
i=1
∂x2i
.
Dizemos que α ∈ Ωr (M ) é harmônica se ∆α = 0.
Corolário 5.6.4. ∆ é auto-adjunto, ou seja,
h∆α, βi = hα, ∆βi , ∀ α, β ∈ Ωr (M ) .
(5.31)
Demonstração. Segue diretamente da Proposição 5.6.2. De fato,
h∆α, βi = h(dδ + δd) α, βi = hdδα, βi + hδdα, βi
= hδα, δβi + hdα, dβi = hα, dδβi + hα, δdβi
= hα, (dδ + δd) βi = hα, ∆βi .
Corolário 5.6.5. α ∈ Ωr (M ) é harmônica se, e somente se, α é fechada e
co-fechada.
Demonstração. É claro da definição de ∆ que se dα = 0 e δα = 0 então
∆α = 0. Reciprocamente, se ∆α = 0, segue da Proposição 5.6.2 que
0 = h∆α, αi = hdδα, αi + hδdα, αi = hδα, δαi + hdα, dαi ,
logo δα = 0 e dα = 0.
Observação 5.6.6. Se M não é compacta, uma r-forma fechada e co-fechada
é ainda uma r-forma harmônica. No entanto, uma r-forma harmônica não é,
necessariamente, fechada e co-fechada. Por exemplo, a 0-forma f : R → R,
dada por f (x) = x, é harmônica, como se verifica facilmente, mas não é
fechada, pois df = 1.
Corolário 5.6.7. Se, além disso, M é conexa e f ∈ C ∞ (M ) é harmônica
então f é constante.
160
Demonstração. Seja (U, ϕ) um sistema de coordendas em M , com ϕ (U ) =
B1 (0). Como f é harmônica segue do Corolário 5.6.5 que df = 0. Assim,
definindo ψ = f ◦ ϕ−1 , temos dψ = 0. Como ϕ (U ) é conexo em Rn , ψ
é constante em ϕ (U ), logo f é constante em U . Assim, f é constante em
qualquer domínio de sistema de coordenadas U ⊂ M . Como M é conexa,
segue que f é constante.
161
5.7
O Teorema da Decomposição de Hodge
Dado 0 ≤ r ≤ n, denotemos por
H r (M ) = ker (∆) = {α ∈ Ωr (M ) /∆α = 0}
o espaço vetorial das r-formas harmônicas.
Se α, β ∈ Ωr (M ), e ∆β = 0, segue da equação (5.31) que
h∆α, βi = hα, ∆βi = 0.
Assim, o espaço vetorial H r (M ) é ortogonal à imagem de ∆. O resultado
fundamental sobre formas harmônicas estabelece que esses dois subespaços
ortogonais de r-formas geram o espaço todo das r-formas:
Teorema 5.7.1 (Hodge, 1935). Para cada inteiro r, com 0 ≤ r ≤ n, o
espaço vetorial H r (M ) das r-formas harmônicas tem dimensão finita e o
espaço vetorial Ωr (M ) de todas as r-formas diferenciais em M pode ser
escrito como uma decomposição em soma direta ortogonal
Ωr (M ) = ∆ (Ωr (M )) ⊕ H r (M ) .
(5.32)
Para uma prova deste resultado, que é de natureza completamente analítica, o leitor pode consultar []. Estudaremos a seguir algumas consequências
do teorema.
A decomposição ortogonal de Ωr (M ), dada em (5.32), nos dá duas aplicações projeções H r e hr , como mostra o diagrama abaixo.
H r (M )
8
Hr
Ωr (M )
hr
&
∆ (Ωr (M )) .
Para qualquer α ∈ Ωr (M ), a forma hr (α) = α − H r (α) é unicamente ∆β
para alguma β ∈ Ωr (M ). Escrevemos, então,
G (α) = única β tal que ∆β = α − H r (α) .
Mais precisamente, temos a seguinte
162
Definição 5.7.2. O operador de Green G : Ωr (M ) → ∆ (Ωr (M )) é operador linear definido por G (α) sendo igual a única solução da equação
∆β = α − H r (α) .
Proposição 5.7.3. O operador de Green comuta com d, δ e ∆.
Demonstração. Seja T : Ωr (M ) → Ωs (M ) um operador linear tal que T ∆ =
∆T . Mostremos
GT = T G. De fato, por definição de G, temos G =
−1 que
∆|∆(Ωr (M ))
◦ hr . O fato que T ∆ = ∆T implica que T (H r (M )) ⊂
H s (M ), logo T (∆ (Ωr (M ))) ⊂ ∆ (Ωs (M )). Segue, então, que
T ◦ hr = hr ◦ T,
(5.33)
T ◦ ∆|∆(Ωr (M )) = ∆|∆(Ωs (M )) ◦ T,
(5.34)
e em ∆ (Ωr (M )),
e assim, em ∆ (Ωr (M )),
T ◦ ∆|∆(Ωr (M ))
−1
= ∆|∆(Ωs (M ))
−1
◦ T.
(5.35)
Segue de (5.33), (5.34) e (5.35) que G comuta com T . Assim, G comuta com
∆. Como ∆ comuta com d e δ, segue o resultado.
Teorema 5.7.4. Cada classe de cohomologia de de Rahm em uma variedade
Riemanniana fechada e orientada contém um único representante harmônico.
Demonstração. Dado ω ∈ Ωr (M ), segue do Teorema 5.7.1 e da definição do
operador de Green que
ω = dδGω + δdGω + H r ω.
Como G comuta com d, temos
ω = dδGω + δGdω + H r ω.
Se ω é fechada, a expressão acima fica
ω = dδGω + H r ω.
Assim, obtemos uma r-forma H r ω = ω − dδGω tal que H r ω ∈ [ω] e que é
harmônica. Para provar a unicidade, sejam ω1 , ω2 ∈ Ωr (M ) harmônicas tais
que ω1 − ω2 = dα, com α ∈ Ωr−1 (M ). Assim,
dα + (ω1 − ω2 ) = 0.
163
Além disso, como
hdα, ω1 − ω2 i = hα, δω1 − δω2 i = hα, 0i = 0,
concluímos que dα = 0 e ω1 − ω2 = 0, logo ω1 = ω2 .
r (M )) < +∞.
Corolário 5.7.5. Para cada 0 ≤ r ≤ n, tem-se dim (HR
r (M ) conDemonstração. Segue do Teorema 5.7.4 que cada classe [ω] ∈ HR
tém um representante harmônico, ω
e . Logo ω
e ∈ H r (M ). Assim, se a dir
mensão de HR (M ) é infinita, isso implicaria que a dimensão de H r (M ) é
infinita, contradizando o fato de que dim (H r (M )) < +∞.
Dada uma variedade diferenciável M n fechada e orientada, definimos
uma função bilinear
n−r
r
(M ) → R
HR
(M ) × HR
(5.36)
por
Z
([ω] , [ψ]) 7→
ω ∧ ψ,
(5.37)
M
r (M )
onde ω e ψ são formas fechadas, representantes das classes [ω] ∈ HR
n−r
e [ψ] ∈ HR (M ), respectivamente. A função bilinear dada em (5.36) está
bem definida. De fato, se ω1 é outro representante da classe [ω], então
ω1 = ω + dα, para alguma α ∈ Ωr−1 (M ). Do Teorema de Stokes, segue que
Z
Z
Z
ω1 ∧ ψ =
ω∧ψ+
dα ∧ ψ
M
M
M
Z
Z
Z
=
ω∧+
d (α ∧ ψ) =
ω ∧ ψ.
M
M
M
n−r
Analogamente se ψ1 é outro representante da classe [ψ] ∈ HR
(M ). Note
que a definição da função bilinear em (5.36) depende da orientação de M .
Teorema 5.7.6 (Dualidade de Poincaré). Seja M n uma variedade Riemanniana fechada e orientada. Então,
n−r
r
HR
(M ) ∼
(M ))∗ .
= (HR
Demonstração. É suficiente provar que a função bilinear dada em (5.36)
r (M ), devemos encontrar uma classe
é não-singular. Dado 0 6= [ω] ∈ HR
n−r
[ψ] ∈ HR (M ), [ψ] 6= 0, tal que ([ω] , [ψ]) 6= 0. Podemos assumir, de
164
acordo com o Teorema 5.7.4, que ω é o representante harmônico de [ω].
Como [ω] 6= 0, segue que ω 6= 0. Como ∗∆ = ∆∗, segue que ∗ω também é
harmônica e, portanto, fechada pelo Corolário 5.6.5. Assim, ∗ω representa a
n−r
classe [∗ω] ∈ HR
(M ). Além disso,
Z
([ω] , [∗ω]) =
ω ∧ ∗ω = kωk2 > 0.
M
Logo, (5.36) é uma função bilinear não-singular e, portanto, segue o resultado.
Corolário 5.7.7. Se M n é uma variedade diferenciável compacta, conexa e
orietável, então
n ∼
HR
= R.
165
Capítulo 6
Grupos de Lie
6.1
Grupos de Lie e homomorfismos
A teoria dos grupos de Lie foi inicialmente desenvolvida por Sophus Lie
no final do século XIX, e hoje é uma das classes mais importantes de variedades diferenciáveis. Grupos de Lie são variedades diferenciáveis que também
são grupos no qual as operações de grupo são diferenciáveis. Nesta seção
apresentaremos as definições básicas ilustrando com alguns exemplos conhecidos.
Definição 6.1.1. Um grupo de Lie é uma variedade diferenciável G, munida
de uma estrutura de grupo, tal que a multiplicação
(g, h) ∈ G × G 7→ gh ∈ G
(6.1)
g ∈ G 7→ g −1 ∈ G
(6.2)
e a inversão
são aplicações diferenciáveis.
Decorre da definição que, para cada g ∈ G, as translações Lg : G → G e
Rg : G → G, dadas por
Lg (h) = gh e Rg (h) = hg,
para todo h ∈ G, são difeomorfismos. De fato, sabemos que tais aplicações
são bijeções, cujas inversas são dadas por
(Lg )−1 = Lg−1
e (Rg )−1 = Rg−1 .
166
Resta provar que tais aplicações são diferenciáveis. Considerando em G×G a
estrutura de variedade produto (cf. Exemplo 4) segue que, para cada g ∈ G,
as aplicações ig : G → G × G e jg : G → G × G, dadas por
ig (h) = (g, h) e jg (h) = (h, g),
(6.3)
são mergulhos diferenciáveis. Como a translação à esquerda Lg é a composta
da multiplicação (6.1) com ig , segue que Lg é diferenciável. Analogamente,
Rg é diferenciável, pois é a composta da multiplicação (6.1) com o mergulho
jg . Note que a inversão (6.2) também é um difeomorfismo.
Exemplo 6.1.2. Um exemplo simples de grupo de Lie é o espaço Euclidiano
Rn , onde a operação de grupo é a adição usual em Rn . De forma análoga,
qualquer espaço vetorial real é um grupo de Lie sob a operação de soma de
vetores.
Exemplo 6.1.3. O conjunto C\{0}, sob a operação de multiplicação de
números complexos, é um grupo de Lie. De fato, C\{0} é uma variedade
diferenciável, parametrizada por uma única carta (C\{0}, ϕ), dada por
ϕ(z) = (x, y),
onde z = x + iy. Usando essas coordenadas, o produto é dado por
(z, z 0 ) 7→ (xx0 − yy 0 , xy 0 + yx0 ),
e a inversão é dada por
z 7→ z
−1
=
x
−y
,
x2 + y 2 x2 + y 2
.
Exemplo 6.1.4. O círculo S 1 = {z ∈ C : kzk = 1} é um grupo de Lie
abeliano sob a operação de multiplicação de números complexos.
Exemplo 6.1.5. Consideremos o grupo linear GL(n) formado pelas matrizes
reais invertíveis n × n. Observe inicialmente que GL(n) é um subconjunto
aberto de M (n), logo é uma variedade diferenciável. Além disso, em relação
2
à multiplicação de matrizes, GL(n) é um grupo. Seja ϕ : M (n) → Rn
a carta em M (n) que associa a cada matriz sua ij-ésima coordenada, i.e.,
para cada matriz A ∈ M (n), tem-se ϕij (A) = aij . Assim, se A, B ∈ GL(n)
então ϕij (AB −1 ) é uma função racional de ϕij (A) e ϕij (B) com denominador
não-nulo, o que prova que a aplicação
(A, B) ∈ GL(n) × GL(n) → AB −1 ∈ GL(n)
é diferenciável. Portanto, GL(n) é um grupo de Lie.
167
Exemplo 6.1.6. Se G e H são grupos de Lie, então a variedade produto
G × H, munida da operação produto
(g1 , h1 ) · (g2 , h2 ) = (g1 g2 , h1 h2 ),
também é um grupo de Lie, usualmente chamada de grupo de Lie produto.
Segue então do Exemplo 6.1.4 que o toro T 2 = S 1 × S 1 é um grupo de Lie
produto.
Lema 6.1.7. Sejam G um grupo de Lie e H ⊂ G um subgrupo abstrato que
também é uma subvariedade de G. Então, com sua estrutura diferenciável
de subvariedade, H também é um grupo de Lie.
Demonstração. Como H é subvariedade de G, segue que H × H é subvariedade de G × G, logo a aplicação inclusão i : H × H → G × G é um
mergulho diferenciável. Se m : G × G → G é a multiplicação em G, então
a composta φ = m ◦ i : H × H → G é uma aplicação diferenciável, com
φ(H ×H) ⊂ H. Novamente, como H é subvariedade de G, segue do Corolário
2.2.4 que a aplicação φ, com contra-domínio H, é diferenciável. Isso prova
que a multiplicação em H é diferenciável. Analogamente se prova que a
inversão em H também é diferenciável.
Exemplo 6.1.8. O grupo ortogonal O(n) é um subgrupo de GL(n). Além
disso, pelo Exemplo 1.1.12, O(n) é subvariedade de GL(n). Assim, pelo
Lema 6.1.7, segue que O(n) é um grupo de Lie.
Exemplo 6.1.9. Considere a restrição da função det ao grupo ortogonal
O(n). Analogamente ao caso de GL(n), obtemos que det : O(n) → R é
uma submersão diferenciável. Ou seja, todo real não-nulo é valor regular de
det |O(n) . Disso decorre que o conjunto
SO(n) = {X ∈ O(n) : det X = 1}
é uma subvariedade de O(n), pois SO(n) = (det)−1 (1). Além disso, SO(n) é
um subgrupo de O(n). Portanto, pelo Lema 6.1.7, decorre que SO(n) é um
grupo de Lie, chamado o grupo ortogonal especial.
Definição 6.1.10. Seja φ : G → H um homomorfismo algébrico entre os
grupos de Lie G e H. Dizemos que φ é um homomorfismo de grupos de Lie
se φ é uma aplicação diferenciável1 .
1
Poderíamos supor, sem perda de generalidade, que φ fosse apenas contínuo pois todo
homomorfismo algébrico entre grupos de Lie que é contínuo é automaticamente diferenciável (cf. [19, Teorema 3.39]).
168
No caso em que φ tem uma inversa que também é um homomorfismo
de grupos de Lie, dizemos que φ é um isomorfismo de grupos de Lie. Se
φ : G → H é um homomorfismo de grupos de Lie segue, por definição, que
φ(gh) = φ(g)φ(h),
para quaisquer g, h ∈ G. Assim, φ(e) = e e φ(g −1 ) = φ(g)−1 , para todo
g ∈ G.
Exemplo 6.1.11. A aplicação de inclusão i : SO(n) → GL(n) é um homomorfismo de grupos de Lie.
Exemplo 6.1.12. A aplicação
cos θ sin θ
0
0 ∈ SO(n)
eiθ ∈ S 1 7→ − sin θ cos θ
0
0
In−2
é um homomorfismo de grupos de Lie, de S 1 sobre SO(n).
Exemplo 6.1.13. A aplicação φ : R → S 1 , dada por φ(t) = eit , é um
homomorfismo de grupos de Lie.
Proposição 6.1.14. Se φ : G → H é um homomorfismo de grupos de Lie,
então φ tem posto constante. Em particular, ker(φ) é uma subvariedade
fechada de G, que também é um grupo de Lie.
Demonstração. Dado um elemento g ∈ G, temos:
φ(g) = φ(hh−1 g) = φ(h)φ(h−1 g)
= Lφ(h) (φ(h−1 g))
= Lφ(h)◦φ (h−1 g).
Assim,
dφ(g) = dLφ(h) (φ(h−1 g)) ◦ dφ(h−1 g).
Como Lφ(h) é um difeomorfismo, sua matriz jacobiana tem posto máximo
em todo ponto, logo o posto de φ é o mesmo nos pontos g e h−1 g, para
qualquer h ∈ G. Portanto, φ tem posto constante. Pelo Teorema 2.2.15,
ker(φ) = φ−1 (e) é uma subvariedade fechada de G, com dimensão igual a
dim G − rank(φ). Do Lema 6.1.7, concluimos que ker(φ) é um grupo de
Lie.
169
Exemplo 6.1.15. O grupo linear especial SL(n) é um grupo de Lie. De
fato, considere a aplicação φ : GL(n) → R\{0} definida por
φ(A) = det(A),
para toda matriz A ∈ GL(n). Temos que φ é um homomorfismo de grupos
de Lie tal que SL(n) = φ−1 (1). Logo, pela Proposição 6.1.14, segue que
SL(n) é um grupo de Lie.
Exercícios
5. Prove que SO(2) é um grupo de Lie compacto, conexo e unidimensional.
Mais precisamente, SO(2) é difeomorfo a S 1 .
6. Verifique que a esfera tridimensional S 3 é um grupo de Lie. Mais precisamente, S 3 é o grupo de Lie dos quatérnios de norma unitária (S 1 e S 3 são
as únicas esferas que admitem estrutura de grupo de Lie).
7. Dados um grupo de Lie G e um elemento g ∈ G, prove que a aplicação
de conjugação Cg : G → G, dada por Cg (h) = ghg −1 , para todo h ∈ G, é
um isomorfismo de grupos de Lie, que satisfaz Cg = Lg ◦ Rg−1 .
8. Sejam G um grupo de Lie conexo e U ⊂ G um aberto contendo o elemento
identidade e ∈ G. Prove que U gera G, i.e., todo elemento de G é um produto
de elementos de U .
9. Sejam φ, ψ : G → H homomorfismos de grupos de Lie que coincidem
numa vizinhança da identidade. Se G é conexo prove que φ = ψ.
6.2
Álgebras de Lie
O ponto central da teoria desenvolvida por Lie é a relação existente entre
um grupo de Lie e sua álgebra de Lie dos campos vetoriais invariantes à
esquerda. A importância do conceito de álgebra de Lie (abstratamente) é
que existe uma álgebra de Lie especial de dimensão finita associada com
cada grupo de Lie, e as propriedades do grupo de Lie são refletidas em
propriedades de sua álgebra de Lie..
Dado uma variedade diferenciável M , temos o espaço vetorial real X(M )
formado por todos os campos vetoriais diferenciáveis X : M → T M . O
colchete de Lie de dois campos X, Y ∈ X(M ), denotado por [X, Y ], é o
campo vetorial tal que [X, Y ] = −[Y, X] e que satisfaz a identidade de Jacobi
170
(cf. Proposição 3.3.13). Na realidade, o espaço vetorial real X(M ), munido
da aplicação R-bilinear
(X, Y ) ∈ X(M ) × X(M ) 7→ [X, Y ] ∈ X(M ),
é apenas um exemplo de uma estrutura algébrica abstrata extremamente
importante, como veremos a seguir.
Definição 6.2.1. Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial a (sobre um corpo
K), munido de uma aplicação K-bilinear a × a → a, denotada usualmente
por (v, w) 7→ [v, w], tal que
[v, w] = −[w, v]
e que satisfaz a identidade de Jacobi
[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0,
para quaisquer u, v, w ∈ a.
Uma álgebra de Lie a é chamada abeliana se [v, w] = 0, para quaisquer
v, w ∈ a. Um subespaço b ⊂ a é chamado uma subálgebra de Lie se b é
fechado sob a operação do colchete, i.e., [u, v] ∈ b, para quaisquer u, v ∈ b.
Exemplo 6.2.2. Como vimos na introdução desta seção, o espaço vetorial
X(M ), associado a uma variedade diferenciável M , é uma álgebra de Lie sob
a operação do colchete de Lie em campos vetoriais.
Exemplo 6.2.3. Qualquer espaço vetorial torna-se uma álgebra de Lie se
todos os colchetes são definidos sendo iguais a zero. Neste caso, obtemos
uma álgebra de Lie abeliana.
Exemplo 6.2.4. O espaço vetorial M (n) de todas as matrizes reais n × n
torna-se uma álgebra de Lie pondo
[A, B] = AB − BA,
para quaisquer A, B ∈ M (n).
Exemplo 6.2.5. O espaço Euclidiano R3 , com a operação bilinear
[v, w] = v × w,
onde × denota o produto vetorial de R3 , é uma álgebra de Lie.
171
Definição 6.2.6. Sejam a, b álgebras de Lie sobre um corpo K. Uma aplicação K-linear σ : a → b é um homomorfismo de álgebras de Lie se
σ([v, w]) = [σ(v), σ(w)],
(6.4)
para quaisquer v, w ∈ a. Um isomorfismo de álgebras de Lie é um isomorfismo linear σ : a → b que satisfaz (6.4).
A álgebra de Lie X(M ) tem dimensão infinita, a menos que M tenha
dimensão igual a zero. Estamos interessados agora em certas álgebras de Lie
de dimensão finita que são subálgebras de X(M ).
Definição 6.2.7. Dado um grupo de Lie G, dizemos que um campo vetorial
X (não necessariamente diferenciável) em G é invariante à esquerda se, para
cada g ∈ G, X é Lg -relacionado com X, i.e., dLg ◦ X = X ◦ Lg . Isso significa
que dLg (h) · X(h) = X(gh), para quaisquer g, h ∈ G.
De forma análoga temos a noção de invariância à direita. Mais precisamente, um campo vetorial X em G é invariante à direita se, para cada
g ∈ G, X é Rg -relacionado com X, i.e., dRg ◦ X = X ◦ Rg . O conjunto de
todos os campos vetoriais invariantes à esquerda em um grupo de Lie G será
denotado por g.
Para que um campo vetorial X em G seja invariante à esquerda, basta
que dLg (e) · X(e) = X(g), para todo g ∈ G. De fato, dado h ∈ G, temos:
dLg (h) · X(h) = dLg (h) · dLh (e) · X(e)
= d(Lg ◦ Lh )(e) · X(e) = dLgh (e) · X(e)
(6.5)
= X(gh).
Proposição 6.2.8. Dado um grupo de Lie G, o conjunto g dos campos
vetoriais invariantes à esquerda de G é um espaço vetorial, e a aplicação
φ : g → Te G definida por
φ(X) = X(e),
(6.6)
é um isomorfismo linear. Consequentemente, dim g = dim Te G = dim G.
Demonstração. A prova que g é um espaço vetorial é simples e deixada à
critério do leitor. Para ver que φ é injetora, sejam X, Y ∈ g tais que φ(X) =
φ(Y ). Assim, dado g ∈ G, temos:
X(g) = dLg (e) · X(e) = dLg (e) · Y (e) = Y (g).
Como g ∈ G é arbitrário, temos que X = Y . Além disso, φ é sobrejetora. De
fato, dado v ∈ Te G, considere o campo vetorial X em G dado por X(g) =
dLg (e)·v, para todo g ∈ G. Segue de (6.5) que X é invariante à esquerda.
172
Observe que na Definição 6.2.7 não exigimos que X seja diferenciável.
Isso se justifica pela seguinte:
Proposição 6.2.9. Todo campo vetorial invariante à esquerda em um grupo
de Lie G é diferenciável.
Demonstração. Seja X ∈ g. A fim de provar que X ∈ X(G), basta mostrar
que X(f ) ∈ C ∞ (G), para qualquer f ∈ C ∞ (G). Como
X(f )(g) = X(g)(f ) = dLg (e) · X(e)(f ) = X(e)(f ◦ Lg ),
para qualquer g ∈ G, basta mostrar que g ∈ G 7→ X(e)(f ◦ Lg ) é uma função
diferenciável. Denote por m : G × G → G a multiplicação em G e, para cada
g ∈ G, considere os mergulhos ig e jg definidos em (6.3). Seja Y ∈ X(G)
tal que Y (e) = X(e). Então,
(0, Y ) é um campo vetorial diferenciável em
G × G, e (0, Y )(f ◦ m) ◦ je é uma função diferenciável em G que satisfaz:
(0, Y )(f ◦ m) ◦ je (g) = (0, Y )(g, e)(f ◦ m)
= 0(g)(f ◦ m ◦ je ) + Y (e)(f ◦ m ◦ ig )
= X(e)(f ◦ m ◦ ig ) = X(e)(f ◦ Lg ).
Assim, g ∈ G 7→ X(e)(f ◦ Lg ) é uma função diferenciável em G, provando a
proposição.
Proposição 6.2.10. O espaço vetorial g é fechado sob a operação do colchete
de Lie e, portanto, g torna-se uma álgebra de Lie.
Demonstração. Segue da Proposição 6.2.9 que todo campo vetorial invariante à esquerda é diferenciável, logo o colchete de Lie de tais campos está
definido. Assim, se X, Y ∈ g, segue da Proposição 3.5.4 que [X, Y ] é Lg relacionado com [X, Y ], para todo g ∈ G, logo [X, Y ] ∈ g. O fato de que g é
uma álgebra de Lie segue então da Proposição 3.3.13.
Definição 6.2.11. A álgebra de Lie de um grupo de Lie G é definida como
a álgebra de Lie g dos campos vetoriais invariantes à esquerda em G.
Alternativamente, poderíamos definir a álgebra de Lie de G como o espaço tangente Te G, exigindo que o isomorfismo φ, definido em (6.6), seja um
isomorfismo de álgebras de Lie.
Seja φ : G → H um homomorfismo de grupos de Lie. Como φ transforma
a identidade de G no elemento identidade de H, a diferencial dφ(e) é uma
transformação linear de Te G sobre Te H. Através da identificação natural do
173
espaço tangente à identidade com a álgebra de Lie, esta transformação linear
dφ(e) induz uma transformação linear de g sobre h, que também denotaremos
por dφ. Assim,
dφ : g → h,
onde se X ∈ g, então dφ(X) é o único campo vetorial invariante à esquerda
em H tal que
dφ(X)(e) = dφ(X(e)).
(6.7)
Com esta identificação, temos a seguinte:
Proposição 6.2.12. Sejam G, H grupos de Lie com respectivas álgebras de
Lie g e h, e φ : G → H um homomorfismo de grupos de Lie. Então
(a) X e dφ(X) são φ-relacionados, para cada X ∈ g.
(b) dφ : g → h é um homomorfismo de álgebras de Lie.
Demonstração. (a) Como dφ(X) ∈ h, temos dLφ(g) ◦dφ(X) = dφ(X)◦Lφ(g) ,
para todo g ∈ G. Além disso, como φ é um homomorfismo, temos φ(gh) =
φ(g)φ(h), para quaisquer g, h ∈ G, i.e., φ ◦ Lg = Lφ(g) ◦ φ, para todo g ∈ G.
Assim,
dφ(X)(φ(g)) = dφ(X) ◦ Lφ(g) (e) = dLφ(g) ◦ dφ(X) (e)
= d(Lφ(g) ◦ φ)(e) · X(e) = d(φ ◦ Lg )(e) · X(e)
= dφ(g) · X(g).
Como g ∈ G é arbitrário, segue que dφ(X) ◦ φ = dφ ◦ X, i.e., X e dφ(X) são
φ-relacionados.
(b) Dados X, Y ∈ g, queremos provar que
dφ([X, Y ]) = [dφ(X), dφ(Y )].
(6.8)
Pela Proposição 3.5.4, temos que [X, Y ] é φ-relacionado com [dφ(X), dφ(Y )].
Em particular, temos que
[dφ(X), dφ(Y )](e) = dφ([X, Y ](e)).
Porém, pela definição em (6.7), dφ([X, Y ]) é o único campo vetorial invariante à esquerda em H cujo valor no elemento identidade é dφ([X, Y ](e)).
Assim, vale a igualdade (6.8) e a proposição está provada.
174
Exercícios
10. Prove que se G e H são grupos de Lie, então a álgebra de Lie g × h é, a
menos de identificações, a álgebra de Lie de G × H.
11. Sejam G um grupo de Lie e X ∈ g.
(a) Prove que X é completo.
(b) Prove que o fluxo maximal ϕ : R × G → G de X é dado por
ϕ(t, g) = Rαe (t) (g),
onde αe (t) é a curva integral maximal de X passando por e.
(c) Denotemos por Adg : g → g a diferencial da conjução Cg no elemento
identidade (cf. Exercício 7). Prove que, se X, Y ∈ g, então
[X, Y ](e) =
d
Ad
(Y (e)).
dt αe (t)
(d) Conclua que se G é abeliano então [X, Y ] = 0, para quaisquer X, Y ∈ g.
6.3
Exemplos clássicos
Nesta seção apresentaremos alguns grupos de Lie clássicos e suas respectivas álgebras de Lie. Tais grupos e álgebras serão constituídos por matrizes
reais (ou por operadores lineares sobre R). Os espaços vetoriais considerados
serão sempre de dimensão finita.
Exemplo 6.3.1. A reta real R é um grupo de Lie com a operação de soma de
números reais. Os campos vetoriais invariantes
à esquerda são simplesmente
d
d
os campos vetoriais constantes λ dt , λ ∈ R, onde o símbolo dt
representa o
vetor constante igual a 1 em R. O colchete de quaisquer dois de tais campos
vetoriais é nulo.
Exemplo 6.3.2. Consideremos o grupo linear GL(n). Observe, inicial2
mente, que como M (n) ' Rn , temos que Te M (n) ' M (n). Denotemos
por α : Te M (n) → M (n) o isomorfismo linear que identifica tais espaços
vetoriais. Como GL(n) é aberto em M (n), segue que Te GL(n) = Te M (n).
Denotando por gl(n) a álgebra de Lie de GL(n), definimos uma aplicação
β : gl(n) → M (n) pondo
β(X) = α(X(e)),
175
para todo X ∈ gl(n). O leitor pode verificar facilmente que β é um isomorfismo de álgebras de Lie. Portanto, podemos considerar M (n) como a
álgebra de Lie de GL(n).
Exemplo 6.3.3. Consideremos o grupo linear especial SL(n). O espaço tangente a SL(n) no elemento identidade coincide com o subespaço de M (n) das
matrizes de traço nulo (cf. Exercício 2). Assim, a álgebra de Lie de SL(n),
denotada por sl(n), pode ser identificada com o subespaço das matrizes reais
n × n de traço nulo.
Exemplo 6.3.4. Dado um espaço vetorial real V de dimensão n, denotemos por Lin(V ) o espaço vetorial de todos os operadores lineares em V .
Denotemos também por Aut(V ) o conjunto dos automorfismos de V , i.e.,
o subespaço de Lin(V ) constituido pelos operadores lineares não-singulares
de V . O espaço vetorial Lin(V ) torna-se uma álgebra de Lie definindo um
colchete pondo
[T1 , T2 ] = T1 ◦ T2 − T2 ◦ T1 ,
(6.9)
para quaisquer T1 , T2 ∈ Lin(V ). Uma base fixada no espaço V determina um
difeomorfismo φ : Lin(V ) → M (n) tal que φ(Aut(V )) = GL(n). Disso decorre que Lin(V ) induz uma estrutura de variedade diferenciável em Aut(V ),
como subconjunto aberto, que é um grupo de Lie sob a operação de composição. Através da identificação natural de Lin(V ) com Te Lin(V ) = Te Aut(V ),
a estrutura de álgebra de Lie de Aut(V ) induz uma estrutura de álgebra de
Lie em Lin(V ), que coincide com aquela descrita em (6.9).
Exemplo 6.3.5. O grupo de Heisenberg tridimensional, denotado por Nil3 ,
é o subgrupo de M (3) definido por
1 x z
0 1 y
Nil3 =
: x, y, z ∈ R ,
(6.10)
0 0 1
com a multiplicação usual de matrizes. Assim, identificando a matriz (6.10)
com a terna (x, y, z) ∈ R3 , temos:
(x, y, z) · (x0 , y 0 , z 0 ) = (x + x0 , y + y 0 , z + z 0 + xy 0 ).
O elemento identidade de Nil3 é 0 = (0, 0, 0) e o elemento inverso de (x, y, z)
é (x, y, z)−1 = (−x, −y, xy − z). Dados a, b ∈ Nil3 , com a = (x, y, z) e
b = (x0 , y 0 , z 0 ), o comutador [a, b] dos elementos a e b é igual a
[a, b] = aba−1 b−1 = (0, 0, xy 0 − yx0 ),
176
onde xy 0 − yx0 6= 0, em geral. Por exemplo, se a = (1, 0, 0) e b = (0, 1, 0),
temos [a, b] = (0, 0, 1) 6= 0. Isso mostra que Nil3 não é abeliano. Por outro
lado, dados a, b, c ∈ Nil3 , o duplo comutador de a, b, c é igual a
[[a, b], c] = (0, 0, 0),
ou seja, Nil3 é um grupo de Lie nilpotente com índice de nilpotência igual a 2.
Cada ponto (x, y, z) ∈ Nil3 pode ser visto como uma translação (à esquerda)
da identidade a esse ponto como sendo:
(x, y, z) · (0, 0, 0) = (x, y, z),
ou seja, L(x,y,z) (0) = (x, y, z). Então, as direções coordenadas Euclidianas
são transladadas para:
(x, y, z) · (s, 0, 0) = (x + s, y, z),
(x, y, z) · (0, s, 0) = (x, y + s, z + xs),
(x, y, z) · (0, 0, s) = (x, y, z + s).
Diferenciando (em relação a s), obtemos os campos vetoriais:
∂
,
∂x
∂
∂
E2 =
+x ,
∂y
∂z
∂
,
E3 =
∂z
E1 =
(6.11)
que são campos vetoriais invariantes à esquerda, por construção. Portanto,
a álgebra de Lie de Nil3 , denotada por nil3 , é gerada pelos campos vetoriais
E1 , E2 , E3 , dados em (6.11), cujos colchetes de Lie são dados por:
[E1 , E2 ] = E3
e [E3 , E2 ] = [E3 , E1 ] = 0.
Exemplo 6.3.6. O grupo de Lie Sol3 é o produto semi-direto R n R2 , onde
z ∈ R age em R2 através da aplicação ρz definida por
ρz (x, y) = (ez x, e−z y),
(6.12)
para quaisquer x, y ∈ R. Para cada z ∈ R, ρz é um isomorfismo linear de R2 .
Identificando Sol3 com R3 , de modo que o plano-xy corresponda ao subgrupo
normal R2 , a multiplicação do grupo Sol3 , induzida por (6.12), é dada por
(x, y, z) · (x0 , y 0 , z 0 ) = (x + ez x0 , y + e−z y 0 , z + z 0 ),
177
(6.13)
para quaisquer (x, y, z), (x0 , y 0 , z 0 ) ∈ R3 . Claramente, (0, 0, 0) é o elemento
identidade de Sol3 , e o elemento inverso é
(x, y, z)−1 = (−e−z x, −ez y, −z).
A ação à esquerda do grupo Sol3 nas direções coordendas Euclidianas produz:
(x, y, z) · (s, 0, 0) = (x + ez s, y, z),
(x, y, z) · (0, s, 0) = (x, y + e−z s, z),
(x, y, z) · (0, 0, s) = (x, y, z + s).
Diferenciando em relação a s, obtemos os campos vetoriais:
∂
,
∂x
∂
E2 = e−z ,
∂y
∂
E3 =
,
∂z
E1 = ez
(6.14)
que são campos invariantes à esquerda, por construção. Portanto, a álgebra
de Lie do grupo de Lie Sol3 , denotada por sol3 , é gerada pelos campos
vetoriais E1 , E2 , E3 dados em (6.14), cujos colchetes de Lie são dados por
[E3 , E1 ] = E1 ,
[E3 , E2 ] = −E2 ,
[E1 , E2 ] = 0.
(6.15)
O grupo Sol3 é um grupo de Lie solúvel. De fato, de (6.15), a álgebra derivada
Dsol3 é dada por
Dsol3 = [sol3 , sol3 ] = span{E1 , E2 }.
Novamente, usando (6.15), a álgebra derivada D2 sol3 é igual a
D2 sol3 = span{[E1 , E2 ]} = {0}.
Portanto, Sol3 é um grupo de Lie solúvel, com índice de solubilidade igual a
2.
Exercícios
12. Prove que a álgebra de Lie do grupo ortogonal O(n) coincide com o
subespaço de M (n) formado pelas matrizes anti-simétricas.
178
6.4
Uma aplicação do teorema de Frobenius
Nesta seção usaremos o teorema de Frobenius para estabelecer uma correspondência entre subgrupos de Lie de um dado grupo de Lie e subálgebras
de sua álgebra de Lie.
Definição 6.4.1. Seja H um subgrupo abstrato de um grupo de Lie G. Se
H é um grupo de Lie tal que a aplicação inclusão i : H → G é uma imersão,
diremos que H é um subgrupo de Lie de G.
Proposição 6.4.2. Se H é um subgrupo abstrato de um grupo de Lie G,
que também é uma subvariedade de G, então H é um subgrupo de Lie de G.
Demonstração. As aplicações de multiplicação e inversão, H × H → H e
H → H, são as restrições das aplicações de multiplicação e inversão, respectivamente, de G. Como H é subvariedade de G, tais aplicações de restrição
são diferenciáveis.
Nas condições da Proposição 6.4.2, pode-se provar, além disso, que H é
um subconjunto fechado de G (cf. Exercício 13). Pode-se provar também,
porém este é um fato não-trivial, que um subgrupo abstrato H de um grupo
de Lie G é uma subvariedade se, e somente se, H é um subconjunto fechado
de G (cf. [19, Theorem 5.81]).
Exemplo 6.4.3. O círculo S 1 , mergulhado no toro T 2 = S 1 × S 1 como
S 1 × {1}, é um subgrupo fechado de T 2 .
O lema seguinte diz essencialmente que qualquer vizinhança do elemento
identidade gera um grupo de Lie conexo.
Lema 6.4.4. Sejam G um grupo de Lie conexo e U uma vizinhança de e.
Então,
∞
[
G=
U n,
n=1
onde
Un
consiste de todos os n-produtos de elementos de U .
Demonstração. Seja V ⊂ U um subconjunto aberto contendo e tal que
V = V −1 ; por exemplo, considere V = U ∩ U −1 . Seja
H=
∞
[
Vn ⊂
n=1
∞
[
n=1
179
U n.
H é um subgrupo abstrato de G. De fato, por construção, temos que e ∈ H.
Além disso, dados g, h ∈ H, tem-se g = an e h = bm , com a, b ∈ V , para
alguns m, n ∈ N. Assim,
gh = an bm ∈ an V m ⊂ V n V m ⊂ H.
H também é um subconjunto aberto de G pois se h ∈ H então hV ⊂ H é um
aberto contendo h. Finalmente, para cada g ∈ G, a classe lateral à esquerda
gH é um aberto em G, pois H é aberto em G. Assim, como
[
G\H =
gH
g6∈H
é um aberto em G, sendo união de abertos, segue que H é fechado em G.
Como G é conexo e H 6= ∅, H deve ser todo o grupo G, provando o lema.
Teorema 6.4.5. Sejam G um grupo de Lie, com álgebra de Lie g, e h uma
subálgebra de Lie de g. Então, existe um único subgrupo de Lie conexo H de
G, cuja álgebra de Lie coincide com h.
Demonstração. Dado g ∈ G, denotemos por D(g) o subespaço de Tg G formado por todos os vetores da forma X(g), onde X é um campo vetorial
invariante à esquerda, com X(e) ∈ h. Assim, vg ∈ D(g) se, e somente se,
vg = dLg (e) · v, para algum v ∈ h. Como h é uma subálgebra de Lie de g,
temos:
[vg , wg ] = [dLg (e) · v, dLg (e) · w] = dLg (e) · [v, w] ∈ D(g),
para quaisquer vg , wg ∈ D(g), onde v, w ∈ h. Assim,
g ∈ G 7→ D(g) ⊂ Tg G
é uma distribuição involutiva e, pelo Teorema 3.6.13, é integrável. Seja H a
subvariedade integral maximal conexa contendo o elemento identidade e (cf.
Teorema 3.6.15). Observe que, para cada h ∈ G, temos
dLg (h)(D(h)) = D(gh),
i.e., D é invariante por translações à esquerda. Assim, Lg transforma a
variedade integral maximal pelo ponto h difeomorficamente sobre aquela
que passa pelo ponto gh. Em particular, se g ∈ H, então Lg−1 transforma H
sobre a variedade integral maximal contendo o ponto Lg−1 (g) = e. Assim,
pela maximalidade, concluimos que Lg−1 (H) = H. Portanto, se g, h ∈ H,
180
então também g −1 h ∈ H. Disso segue que H é um subgrupo abstrato de
G. De forma inteiramente análoga à prova do Lema 6.1.7, podemos concluir
que a multiplicação m : H × H → H é diferenciável, provando assim que
H é um subgrupo de Lie de G. Além disso, se e
h denota a álgebra de Lie
e
de H, então di(h) = h, onde i : H → G é o homomorfismo inclusão, pois
Te H = D(e) = h. Quanto à unicidade, seja K outro subgrupo de Lie
conexo de G com dj(k) = h, onde j : K → G é a inclusão. Assim, K deve
ser uma variedade integral de D contendo o elemento identidade e e, pela
maximalidade de H, tem-se que K ⊂ H. Seja φ : K → H a aplicação
inclusão. Note que, como i é injetora, φ é a única aplicação diferenciável tal
que j = i ◦ φ. Assim, φ é um homomorfismo de grupos de Lie injetor. Como
dφ(g) é injetora, para todo g ∈ K, segue que φ é um difeomorfismo em uma
vizinhança de e, logo φ é sobrejetora, pelo Lema 6.4.4. Portanto, φ é um
isomorfismo de grupos de Lie, e os subgrupos K e H são equivalentes. Isso
prova a unicidade.
Corolário 6.4.6. Existe uma correspondência injetora entre subgrupos de
Lie conexos de um grupo de Lie e subálgebras de sua álgebra de Lie.
Corolário 6.4.7. Sejam G, H grupos de Lie com respectivas álgebras de Lie
g e h. Se φ : g → h é um homomorfismo de álgebras de Lie, então existe uma
vizinhança U do elemento identidade e ∈ G e uma aplicação diferencável
F : U → H tal que
G(gh) = F (g)F (h),
para quaisquer g, h ∈ U , com gh ∈ U , e tal que
dF (e) · v = φ(v),
para todo v ∈ g.
Demonstração. Seja k ⊂ g × h definida por
k = {(v, φ(v)) : v ∈ g}.
O fato que φ é um homomorfismo implica que k é uma subálgebra de Lie de
g × h. Assim, pelo Teorema 6.4.5, existe um subrupo de Lie conexo K de
G × H com álgebra de Lie k. Considere a aplicação inclusão i : K → G × H
e defina um homomorfismo ρ : K → G pondo ρ = πG ◦ i, onde πG e φH
denotam as projeções sobre G e H, respectivamente. Dado v ∈ g, temos
dρ(v, φ(v)) = v,
181
ou seja, dρ(e, e) : T(e,e) K → Te G é um isomorfismo linear. Assim, pelo
Teorema da Aplicação Inversa, existe uma vizinhança V de (e, e) ∈ K tal
que ρ|V é um difeomorfismo sobre uma vizinhança U de e ∈ G. Defina um
homomorfismo ψ : K → H pondo ψ = πH ◦i. Temos que dψ(e, e)·(v, φ(v)) =
φ(v), para todo v ∈ g. Seja então
F = ψ ◦ ρ|−1
V .
Como F está definida unicamente em termos da inclusão e das projeções,
segue que F (gh) = F (g)F (h), para quaisquer g, h ∈ U , com gh ∈ U . Se
v ∈ g, então dρ(v, φ(v)) = v implica que d(ρ|−1
V ) · v = (v, φ(v)), logo
dF (e) · v = dψ(e, e) ◦ d(ρ|−1
V )(e) · v = dψ(e, e)(v, φ(v))
= φ(v),
como queríamos.
Exercícios
13. Seja H um subgrupo abstrato de um grupo de Lie G, que também é
uma subvariedade de G. Prove que H é um subconjunto fechado de G.
182
Referências Bibliográficas
[1] Adachi, M., Embeddings and Immersions, Translations of Mathematical
Monographs, AMS, v. 124, 1993.
[2] Berger, M., Gostiaux, B., Differential Geometry: Manifolds, Curves and
Surfaces, Springer-Verlag, 1088.
[3] Boothby, W. M., An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry, Pure and Applied Mathematics, Academic Press,
1986.
[4] Donaldson, S. K.; Kronheimer, P. B., The geometry of four-manifolds,
Clarendon Press, New York, 1990.
[5] Freedman, M.; Quinn, F., Topology of 4-manifolds, Princeton University
Press, Princeton, 1990.
[6] Guillemin, V., Pollack, A., Differential Topology, Prentice Hall, Inc.,
New Jersey, 1974.
[7] Helgason, S., Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces,
Graduate Studies in Mathematics, vol. 34, AMS, 2001.
[8] Hirsch, M. W., Differential Topology, Springer-Verlag, New York, GTM
33, 1976.
[9] Kervaire, M. A., A manifold which does not admit any differentiable
structure, Comment. Math. Helv. 34 (1960) 257–270.
[10] Lee, J. M., Manifolds and Differential Geometry, Graduate Studies in
Mathematics, vol. 107, AMS, 2009.
[11] Lee, J. M., Introduction to Smooth Manifolds, Springer, GTM 218, 2006.
183
[12] Lima, E. L., Elementos de Topologia Geral, Livros Técnicos e Científicos
Ed. S.A., 1976.
[13] Lima, E. L., Curso de Análise, Vol. 2, Projeto Euclides, Instituto de
Matemática Pura e Aplicada, 1999.
[14] Milnor, J., On manifolds homeomorphic to the 7-sphere, Ann. of Math.,
64 (1956), 399–405.
[15] Moise, E. E., Geometric Topology in Dimensions 2 and 3, SpringerVerlag, New York, 1977.
[16] Munkres, J. R., Elements of Algebraic Topology, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1984.
[17] Munkres, J. R., Obstructions to the smoothing of piecewise differentiable
homeomorphisms, Annals of Math., 72 (1960) 521–554.
[18] Spivak, M. A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, vol.
1, Publish or Perish, Inc., 1999.
[19] Warner, F. W., Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups,
Springer-Verlag, 2000.
[20] Whitney, H., Differentiable manifolds, Ann. of Math, (2) 37 (1936),
645 – 680.
184