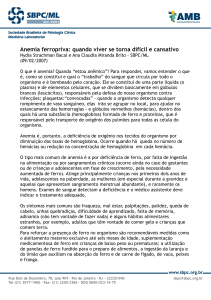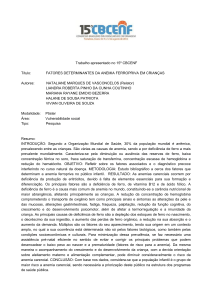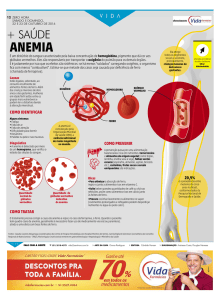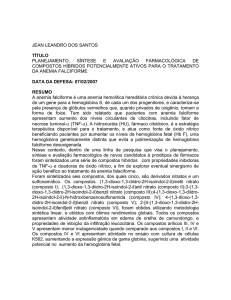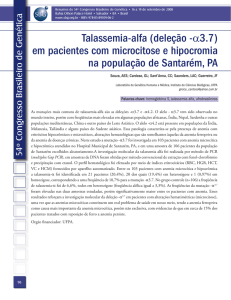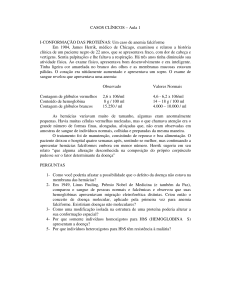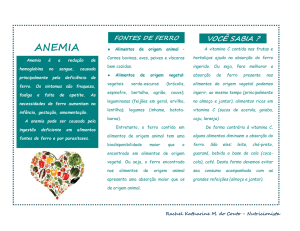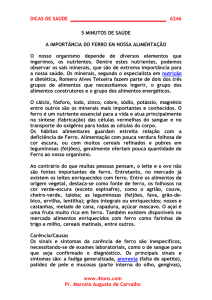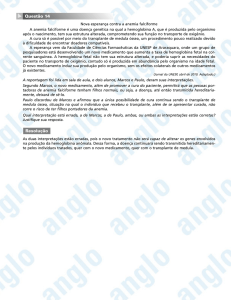14
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
ANEMIA INDUZIDA POR ANTI-HISTAMÍNICOS
ANEMIA INDUCED BY ANTIHISTAMINES
RODRIGUES FILHO, Otávio e S. 1; ARAÚJO, Miguel A. M.2
Resumo
A pesquisa tem por objetivo compilar material bibliográfico que permita demonstrar a classe acadêmica as
interações tóxicas de alguns agentes anti-histamínicos que podem causar anemia nos pacientes, e alertar também
sobre os malefícios da automedicação. Trata-se de uma pesquisa descritiva utilizando como ferramenta a revisão
bibliográfica. Serão utilizados artigos e outras publicações de caráter científico, com no máximo de 15 anos de
publicação. Através da pesquisa podemos concluir que vários agentes anti-histamínicos comumente
comercializados podem causar toxicidade ao sistema hematopoiético, além de outras agressões ao organismo.
Este conhecimento permite que o profissional de saúde possa intervir ou auxiliar o paciente quanto à utilização
inadequada destes tipos de fármacos ou acompanhá-los visando diminuir os danos e buscando o pronto
restabelecimento da saúde.
Palavras-chave: anemia; anti-histamínicos; hematologia; reações adversas; auto-medicação.
Abstract
The study aims to compile bibliographic information, that to demonstrate for the academic class the toxic
interactions of some anti-histamines which can cause anemia in patients, and also warn about the harm of selfmedication. This is a descriptive study using the tool to bibliographic review. Will be used articles and other
publications of scientific character with a maximum of 15 years of publication. Through the research, we can
conclude that a number of anti-histamine commonly marketed can cause toxicity to the hematologic system and
other assaults to the body. This knowledge allows the health professionals may engage or assist the patient as the
inappropriate use of these drugs or accompany them to reduce the damage and looking for the speedy recovery
of health.
Key words: anemia, anti-histamines; erythrocytes; adverse-reactions; self-medications.
1
Discente do curso de Farmácia do Centro Universitário da Grande Dourados, Dourados / MS.
Docente do curso de Farmácia do Centro Universitário da Grande Dourados, Dourados / MS.
[email protected]
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
2
15
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
Introdução
Considera-se como anemia a alteração
fisiológica que designa o estado de
incapacidade do tecido eritropoiético em
manter normal a concentração de
hemoglobina. A sintomatologia inclui
fadiga, causado pelo déficit energético
devido ao transporte ineficiente de oxigênio
pelos eritrócitos, palidez de pele e mucosas,
anorexia e indisposição, além do
comprometimento imunológico. Gestantes,
idosos e crianças com nutrição inadequada,
pacientes oncológicos constituem grupos de
risco específicos (PRADO, 1995).
Pacientes anêmicos são freqüentes, e
alguns fatores são predisponentes ao
surgimento de alguns tipos da doença.
Estima-se que no mundo, cerca de 2.150
bilhões de pessoas, aproximadamente 40%
da população do planeta, têm baixos níveis
de hemoglobina, principalmente por
carências nutricionais. Caracteriza-se como
uma doença presente em todo o mundo,
sendo considerada agravo à saúde pública
inclusive no Brasil, e ainda, uma doença que
apresenta profundas alterações fisiológicas
(BRICKS, 2003).
Há diversas formas e causas de
anemia, dentre elas, cita-se como fatores
nutricionais a deficiência de ferro, causadora
de anemia ferropriva, cianocobalamina
(anemia perniciosa) ou acido fólico (anemia
megaloblástica) na alimentação, sendo que
estes podem ser repostos mediante
administração farmacêutica de compostos
polivitamínicos. Há ainda deficiências
protéicas, enzimáticas (deficiência de
glucose-6-fosfato-desidrogenase), alterações
genéticas
(talassemia,
eliptocitose,
esferocitose), fatores ambientais, causas
externas (hemorragias) ou indução por
drogas (CARDOSO; PENTEADO, 1994).
O trabalho de Goodman & Gilman
(1996), cita diversas interações tóxicas de
medicamentos com eritrócitos, podendo
levar a casos de anemia. Este motivo
respalda o objetivo do trabalho, pois a falta
de conhecimento pode gerar a ocorrência de
episódios da doença, causados por uma
terapêutica inadequada ou desacompanhada
pelo profissional de saúde.
Antialérgicos ou anti-histamínicos são
fármacos largamente utilizados para
combater os sintomas desencadeados pela
alergia,
uma
reação
anormal
de
sensibilidade do organismo a algum agente
potencial (antígeno). Doenças típicas e
sazonais como a rinite alérgica, resfriados e
gripe,
afecções
oftálmicas,
otorrinolaringológicas e dermatológicas, são
próprias
para
aplicação
destes
medicamentos. O tratamento inclui desde a
retirada do alérgeno até a farmacoterapia
com acompanhamento adequado. Mas sabese que muitos desses pacientes recorrem a
uma autoterapia, resultando muitas vezes em
intoxicações, que causam morbidade
dispendiosa e agravos que podem atingir
vários níveis de complicação (PAIM, 2000;
KOROKOLVAS, 2006).
São vários os medicamentos ou drogas
que podem causar alterações na população
eritróide. Muitos desses medicamentos não
necessitam da apresentação de receita
médica para a sua aquisição, fato que
favorece a auto-medicação, e é bastante
comum em nosso meio. Também é notório o
hábito da população recorrer aos próprios
balconistas das farmácias em busca de
aconselhamento e tratamento para as
afecções mais freqüentes. Isto pode
favorecer a uma utilização indevida e
prolongada que pode culminar com a
toxicidade nos tecidos, como nas células
sanguíneas, e comprometer o sistema
imunológico do paciente. Causa grande
desperdício de recursos e o uso inadequado
pode acarretar riscos também para a
comunidade. Além disso, toda e qualquer
intoxicação medicamentosa pode ser evitada
ou abrandada com o acompanhamento
técnico (BALBANI et al. 1997).
Cerca de 40% das pessoas que
compram medicamentos no Brasil, o fazem
por impulso, sem necessidade de tal
terapêutica. A cada 25 minutos ocorre uma
intoxicação medicamentosa no país. Os
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
16
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
antialérgicos representam grande parte
destas vendas, e mesmo quando por
prescrição, sem acompanhamento adequado,
podem promover reações adversas tais como
anemia (JESUS, 2001).
As altas taxas de consumo dos
medicamentos antialérgicos respaldam a
realização do trabalho, no intuito de
fornecer material técnico sobre os antihistamínicos e sua reações adversas,
principalmente de discrasias sanguíneas.
O Eritrócito
A célula vermelha, eritrócito ou
hemácia é caracterizada como a unidade
vermelha do sangue circulante. Tem a forma
de um disco bicôncavo e é a célula mais
numerosa
do
tecido
sanguíneo
e
representante de praticamente metade do
volume sanguíneo. Tem a função de
transporte de oxigênio via hemoglobina,
uma estrutura composta por um íon de ferro
que se acopla a quatro unidades de oxigênio
em trocas gasosas no pulmão. O oxigênio
absorvido tem a função de gerar energia
através do metabolismo normal do corpo.
Ao fim da liberação de oxigênio no tecido
que necessita, este retorna com dióxido de
carbono como subproduto de transformação
metabólica (ZAGO, 2004).
As hemácias são originadas no sistema
hematopoiético, localizado na região canal
medular dos ossos. Em crianças, esta se
localiza em todos os ossos, sendo que nos
adultos apenas nos ossos de formação
esponjosa. A produção em adultos é da
ordem de aproximadamente três bilhões de
células por dia. Os glóbulos vermelhos se
originam de células hematopoiéticas
pluripotentes, chamadas stem cells, que
formam um complexo com excelente
capacidade de renovação. Isto demonstra a
eficácia
do
equilíbrio
do
tecido
hematopoiético. (MANUAL MERCK,
2007; VERRASTRO, 2002).
Figura 1 – Curva de dissociação do oxigênio na hemoglobina
Fonte: HOFFMAN (2005)
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
17
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
Hemoglobina
A molécula de hemoglobina, que é
responsável pelo transporte de oxigênio na
hemácia, é composta pelo grupamento heme
e quatro unidades protéicas sintetizadas de
globina. No centro da molécula, esta
disponível um íon de ferro, que apresenta
duas valências livres para ligação com
oxigênio. O ferro presente nesta estrutura
corresponde a maior parte de ferro
circulante no organismo, representando
cerca de dois gramas. A evolução molecular
adaptou a molécula tetrâmera de
hemoglobina de uma forma ideal para
desempenho de sua função. (VERRASTRO,
2002; HOFFMAN, 2005). Na figura 1,
podemos observar as situações da saturação
do oxigênio na hemoglobina, demonstrada
pela proporção existente entre a pressão do
oxigênio e a saturação da hemoglobina, ou
seja, quanto maior a carga de oxigênio,
maior a saturação da hemoglobina, e viceversa.
Anemia
A anemia já é um distúrbio conhecido
há muito tempo. Acredita-se que seja um
agravo à saúde relatado há mais de três mil
anos. Um manual terapêutico egípcio,
chamado de Papirus Ebers, datado de
aproximadamente 1500 a.C. caracteriza uma
doença que apresenta dispnéia, palidez, e
edema, fazendo-nos acreditar que se trata de
uma doença semelhante ou propriamente
uma anemia (STUART-MACADANS,
1995). No quadro 1, podemos verificar os
valores hematológicos normais para homens
e mulheres.
É caracterizada por sintomas inerentes
ao déficit energético causado, uma vez que,
fisiologicamente pode ser definida como
uma redução do transporte de oxigênio aos
diversos tecidos do corpo, resultante de
diferentes tipos de agressões aos eritrócitos.
Seus sintomas incluem palidez na pele,
mucosas e conjuntivas, fraqueza, falta de
apetite e distúrbios imunológicos. Os
agravos estão ligados a hipoxia nos tecidos,
e se tornam fisiologicamente importantes
quando há aumento da freqüência cardíaca
para compensar a falta de oxigênio no
organismo. (SINGI, 2001).
Monteiro et al. (2000), em seu estudo,
afirmam que são poucos e dispersos os
estudos sobre ocorrência e prevalência de
anemias específicas, sendo relevante notar
que nenhum dos inquéritos nacionais sobre
saúde e nutrição já realizados no país incluiu
em seu protocolo de investigação a dosagem
da concentração da hemoglobina. Também
de modo geral, a maior prevalência da
patologia encontrada, é sabidamente na
infância, pois constitui distúrbio nutricional
mais característico dessa fase. Isto
demonstra a dificuldade de se obter dados
seguros sobre a prevalência e ocorrência de
anemia induzida por drogas.
Na prática, pode-se dizer que um
paciente é anêmico quando apresenta menos
de 11 g de hemoglobina por 100 ml de
sangue (11 g/dl) para a mulher e a criança, e
menor que 12 g/100 ml (12 g/dl) para o
homem. (VERRASTRO et al., 2002).
Diagnóstico, Tratamento e Prevenção
Reações adversas à compostos dos
medicamentos são comuns e constituem um
perigo para a prática de saúde refletindo em
altíssima morbidade e custos elevados.
Estima-se que somente nos EUA, os custos
oriundos de processos alérgicos, dos mais
variados tipos, atinjam anualmente a marca
de 18 bilhões de dólares para o sistema de
saúde local. A reversão do quadro envolve a
identificação da droga causadora e a
suspensão de seu tratamento. Em casos em
que não é possível a retirada da droga, devese controlar a administração e fornecer
meios para que o paciente tenha o mínimo
possível de complicações durante o período
de tratamento. Pode ser utilizada como
terapia de suporte a administração conjunta
de medicamentos para suprimir os sintomas
causados inerentes à astenia. Além disso, em
muitos casos, o paciente tem os sintomas,
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
18
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
mas não imagina que está acometido pelo
processo anêmico e leva muito tempo até
buscar auxílio médico. Isto reflete em
maiores complicações e dificuldade para a
manutenção do tratamento, além de poder
comprometer o sistema imunológico do
paciente (ADKINSON, 2006).
A realização de uma cuidadosa
anamnese clínica pode revelar a exposição à
agentes químicos, infecções ou outras
patologias. O diagnóstico laboratorial do
paciente anêmico compreende além do
hemograma completo, algumas análises
Quadro 1 – Valores normais hematológicos
Medição
diferenciais, entre elas, podemos citar a
dosagem de ferro sérico, índice de saturação
da transferrina, eletroforese de hemoglobina,
dosagem de folato e cianocobalamina e
análise morfológica das células. Outros
testes para determinação são solicitados
conforme a suspeita da etiologia por parte
do profissional médico. A anemia drogainduzida pode ser prevenida utilizando-se
racionalmente o fármaco e monitorando-se
qualquer reação adversa que o paciente
possa se queixar. (PITA et al, 2001).
Faixa Normal[*]
Hemoglobina
Homens: 13.5–17.5
Mulheres: 12–16
Hematócrito
Homens: 40–52
Mulheres: 36–48
Unidade
g/dL
%
× 106/μL de
sangue
Contagem Células Vermelhas
Homens: 4.5–6.0
Mulheres: 4.0 – 5.4
Média de volume celular (MCV)
81–99
fL
Média de volume de hemoglobina (MCH)
30–34
pg
Concentração Média de volume de
hemoglobina (MCHC)
30–36
g/dL
Contagem de reticulócitos (em número absoluto 40,000–100,000
No./μL de
sangue
Porcentagem de reticulócitos
% of RBCs
0.5–1.5
Fonte: GOLDMAN (2007) *Os valores apresentados acima podem variar clinicamente conforme características
do paciente, tais como idade, patologias, métodos e instrumentos laboratoriais, além de constantes físicas, como
elevação sobre o nível do mar.
Classificações
A classificação dos tipos desta
patologia obedece ao tipo de agressão
sofrida pelos eritrócitos. Em suma, a
caracterização permite ao profissional de
saúde visualizar qual o tipo de alteração
causou o déficit de hemoglobina circulante.
O número insuficiente de células
precursoras de eritrócitos na medula óssea
pode ocasionar anemia hipoplástica
congênita, além das anemias aplásticas
congênita, induzidas por agentes físicos e
químicos ou distúrbios hormonais tais como
hipotireoidismo. Doenças infecciosas e
desnutrição podem provocar anemia por
diminuição da função celular na medula.
Perdas de volume sanguíneo culminando
com hipovolemia também são causas de
redução de hemoglobina circulante. As
hemólises podem ser induzidas por
anomalias congênitas ou co-fatores como
indução medicamentosa, toxinas bacterianas
ou venenos químicos, além da talassemia.
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
19
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
Ações auto-imunes, reações de rejeição
transfusional e a doença hemolítica do
recém nascido também fazem parte da
etiologia da doença. (BRASILEIRO FILHO,
1994)
Medicamentos
tais
como
hipoglicêmiantes, barbitúricos ou antihistamínicos,
além
de
drogas
quimioterápicas, podem comprometer a
estrutura da hemácia causando uma anemia
hemolítica. Certas drogas ou substâncias
químicas podem provocar um efeito
oxidante sobre os eritrócitos, causando um
tipo de alteração na massa medular,
induzido individualmente por drogas como
antibióticos,
antiinflamatórios,
anticonvulsivantes, entre outras. Cerca de
20% dos casos de anemia aplásica são
intermediados por fatores ambientais,
incluindo intoxicação medicamentosa e
exposição em escala industrial a agentes
químicos, tais como benzeno e arsênico.
(YOUNG, 2002 apud BURITICÁ, 2004)
Outra forma caracterizante é a
anemia megaloblástica. Esta produz
eritrócitos desconfigurados, e é causada pela
deficiência de absorção de folatos e
cianocobalamina. Esta disfunção pode ser
gerada por medicamentos como o
metotrexato, substância que é utilizada
como anti-folato, principalmente em
tratamento antineoplásico (PR VadeMécum, 2009; PAPINI-BERTO; BURINI,
2001).
A avaliação dos casos de anemia na
clínica é fundamental, assim como conhecer
seu agente causador, pois é uma patologia
freqüente, que causa elevadas taxas de
morbidade
e
conseqüências
comprometedoras a saúde do paciente. O
profissional de saúde deve estar atento
quanto ao quadro sintomático e o
desenvolvimento do tratamento, e no caso
do farmacêutico, a atenção prestada quanto
à utilização correta do medicamento é um
auxílio eficaz na prevenção de novos
episódios da doença (ADKINSON, 2006).
Histamina Como Indutora do Processo
Alérgico
A partir de 1907, iniciaram-se os
estudos sobre a histamina, sendo sintetizada
pela primeira vez neste ano por Windaus e
Vogt. Em 1910 suas funções biológicas
foram caracterizadas por Barger e Dale. A
histamina é encontrada em vários tipos de
tecidos,
com
concentração
variante
conforme
o
órgão,
biológicamente
sintetizada nos mastócitos, armazenada em
grânulos de heparina, e com capacidade de
reconhecimento químico por diversos tipos
de compostos. Apresenta-se quimicamente
na forma de cátion monovalente formando
pontes de hidrogênio intermoleculares. A
histidina é precursora da histamina nos
mastócitos e origina esta através de
descarboxilação.
Químicamente
é
representada como a molécula 5imidazoletilamina
ou
betaaminoetilimidazol, como podemos verificar
na figura 2. (RANG; DALE, 2004)
A histamina produz efeitos sobre
diversos órgãos, como vasodilatação dos
capilares, contração muscular lisa e
produção dos fenômenos alérgicos e choque
anafilático. Quando formada, a histamina é
armazenada ou inativada pelo próprio
sistema imune. Quando não é sintetizada
pela enzima acetaldeído-desidrogenase e se
acumula nas sinapses neuronais gera os
sintomas comuns à ação alérgica. È
justamente a falta desta enzima que
desencadeia todo o processo irritativo.
Ocorrências deste tipo são freqüentes, e são
sintomas de problemas comuns, tais como
rinites alérgicas, dermatites, intoxicações
alimentares e processos sazonais como os
resfriados (KOROKOLVAS, 2006).
Agentes Anti-histamínicos
Os agentes anti-histamínicos opõemse às ações da histamina, diminuindo os
efeitos irritativos causados por esta
substância. A ação biológica da histamina
ocorre pela ativação de receptores celulares
específicos. São três os receptores para
histamina: (H1, H2 e H3). A ligação de
histamina com receptores H1 promove
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
20
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
contração do músculo liso das vias aéreas e
do trato gastrintestinal, aumento da secreção
de muco e permeabilidade vascular
estendida. A ligação com receptores H2
inibe a citotoxicidade de células T e libera
lisozimas, porém aumenta a ação de células
T supressoras, e a ativação de receptores de
sistema de complemento nos eosinófilos
humanos e a quimiocinese de neutrófilos e
eosinófilos. Os receptores do tipo H3 estão
situados na pré-sinapse dos ramos nervosos
histaminérgicos
e
trabalham
como
autoceptores que modulam a síntese e a
liberação de histamina pelo sistema
neuronal. Em suma, os receptores H1 e H2
são os de maior importância farmacológica.
Os receptores H1 estão mais relacionados à
sintomas de urticária, prurido, distúrbios das
vias nasais e sedação, e os receptores H2
relacionam-se com distúrbios gastrointestinais. (HOWLAND et al., 2007)
Figura 2 – Molécula de Histamina
Fonte: HATCH & MAY (2008). Observamos que a molécula se apresenta como um cátion monovalente
formador de pontes de hidrogênio.
A primeira substância descoberta com
propriedades antihistamínicas foi a beta-5isopropil-2-metilfenoxietil-dietilamina,
sintetizada em 1933 e testada quatro anos
depois. Estudos tecnológicos sugerindo a
substituição isostérica do oxigênio etéreo
por um grupo amino, visando-se obter
agentes antialérgicos mais potentes e de
ação
mais
rápida,
resultaram
na
fenbenzamina, que foi o primeiro
medicamento a ser utilizada no tratamento
de crises alérgicas. A pirilamina, um
derivado da fenbenzamina, introduzida no
mercado em 1944, período pré 2º Guerra
Mundial e ícone do desenvolvimento
farmacotécnico, é ainda utilizada em
dezenas de associações, embora seu uso
venha sendo reduzido bruscamente a cada
ano devido o surgimento de drogas mais
modernas. (SILVA, 2006)
Em 1966, os pesquisadores Ash e
Schild, para explicar a ação dual
potencializada da histamina (vasodilatação
capilar e produção de suco gástrico),
investigaram a hipótese da existência de
dois receptores específicos para cada tipo de
histamina: H1 e H2. Isso gerou pesquisas e
estudos no sentido de se descobrir
antagonistas do receptor H2, pois os antihistamínicos clássicos bloqueiam somente
os sintomas de urticária resultantes do
estímulo ao receptor H1. Alguns anos após,
em 1972, após sínteses e ensaios testes de
cerca de 650 novos compostos químicos
resultantes da modificação molecular da
histamina, James Black (estudioso famoso
também pela síntese do antihipertensivo
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
21
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
propranolol)
e
seus
colaboradores,
descobriram que um deles, a burimamida
bloqueia especificamente o receptor H2,
cujo estímulo altera a produção de secreção
gástrica, diminuindo o pH estomacal. Há
alguns anos, dentre muitos outros novos
compostos sintetizados visando-se a
obtenção de antagonistas do receptor H2, a
metiamida, a cimetidina e a ranitidina
manifestaram essa mesma atividade, que é
bloquear seletivamente o receptor H2. A
ranitidina, em estudos experimentais, como
o de Beati et al. (2009), mostrou-se quatro
vezes mais ativa do que a Cimetidina,
devido suas alterações moleculares.
(KATZUNG et al., 1998).
Os sintomas que são de alta
abrangência no organismo refletem na
grande utilização dos anti-histamínicos.
Medicamentos
paliativos
atuam
na
biossíntese da histamina ou no bloqueio
canal dos receptores H1 ou também, no caso
dos glicocorticóides, no bloqueio do ácido
araquidônico. Também são utilizados como
terapia
adjuvante
psiquiátrica
ou
neurológica (prometazina), antieméticos
(dimenidrinato),
rinites,
resfriados,
dermatites, entre outros. Destacam-se pela
representatividade comercial, além dos
supracitados
fármacos
como
a
dexclorfeniramina,
fenilefrina,
fexofenadina, loratadina, cetirizina, entre
outros. A classificação dos anti-histamínicos
obedece a capacidade de penetração no
Sistema Nervoso Central. Os de primeira
geração, que são largamente utilizados por
apresentarem preços mais acessíveis
atravessam a membrana encefálica, causam
também reações como sonolência e
distúrbio de visão. Também são indicados
para tratamento e prevenção de cinetose
(distúrbio causado por movimento externo,
que causa náusea e êmese em seus
portadores). Os compostos mais modernos
de segunda geração não atravessam esta
membrana e não causam alterações
psicomotoras consideráveis (GONÇALVES
et al, 2007).
Os antihistamínicos inibidores dos
receptores H1 agem inibindo a resposta da
musculatura lisa à molécula de histamina.
São
classificados
como
inibidores
reversíveis competitivos. Esta atividade
bloqueadora foi descoberta em 1937 por
Bovet e Staub. A permeabilidade capilar,
broncoconstrição, são facilmente revertidos
pelos antagonistas H1. A maioria dos
medicamentos desta classe é bem absorvida
via tópica, oral ou parenteral. Os picos de
concentração plasmática são atingidos entre
duas e três horas e a duração de ação varia
conforme o tipo de fármaco utilizado,
podendo ir de quatro horas até vinte e quatro
horas, como no caso da loratadina
(GOODMAN; GILMAN, 1996).
Drogas indutoras de anemia
Várias outras drogas podem induzir
anemia, por diversos fatores, como
degradação do sistema G6PD, indução de
hemólise ou bloqueio na produção de
hemoglobina, entre outros. Segundo o
quadro 2, podemos verificar que algumas
das drogas degradantes do sistema G6PD
são frequentemente associadas à agentes
anti-histamínicos, tais como o ácido
acetilsalicílico e o sulfametoxazol. Também
as anemias hemolíticas podem ser causadas
por fatores além dos agentes intrínsecos,
mas também por agentes químicos (NOBLE
et al., 2001; PORTO et al., 2008).
Anti-histamínicos Causadores de Anemia
Dentre as reações adversas mais
comuns verificadas na administração de
anti-histamínicos, verificamos sedação,
distúrbios
renais,
lesões
hepáticas,
gastointestinais e oculares. Os distúrbios
hematológicos mais freqüentes relacionamse com anemia aplástica ou hemolítica,
agranulocitose, eosinofilia e leucopenia.
Fato comum entre as bulas e monografias de
alguns fármacos para o tratamento de
alergias é a citação de palidez, indisposição,
astenia e anorexia, além de outras reações.
Estes efeitos estão ligados à ação
simpaticomimética do fármaco que deprime
o sistema nervoso central, mas também
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
22
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
podem estar relacionados com o possível
surgimento de um quadro anêmico,
acentuado pela anorexia. (MCPERSON;
PINCUS, 2006).
Quadro 2 – Fármacos degradantes de G6PD
Drogas
Sulfonamidas (sulfametoxazol)
Antimaláricos (cloroquina)
Nitrofurais (nitrofurantoína)
Analgésicos (ácido acetil-salicílico)
Diuréticos (tiazídicos, acetazolamida)
Anti-histamínicos
Agentes hipoglicemiantes (clorpropramida)
Diversos (naftaleno, vitamina K, quinidina, probenicida, isoniazida)
FONTE: Noble et al. (2001)
A literatura relata que a maioria dos
distúrbios hematológicos estão ligados à
administração de anti-histamínicos de ação
anti-H1, e em alguns casos dos anti-H2,
como a cimetidina, sendo que o mecanismo
da agressão não está completamente
esclarecido. Van der Klauw e cols. (1998),
em um estudo de 20 anos de
acompanhamento de pacientes que utilizam
Medula óssea normal
alguns fármacos, dentre eles a cimetidina,
verificaram 206 casos de agranulocitose e
outras discrasias sanguineas, tais como a
anemia, em usuários na Holanda. Abaixo na
figura 3, podemos verificar o estado das
medula óssea na ocorrência de anemia
aplástica, onde visualizamos a degradação
eritrocítica
(HOFFMAN,
2005;
GENNARO; SILVA, 2007):
Medula óssea aplástica
Figura 3 – Comparação da medula óssea na Anemia Aplástica
Fonte: NAOUM (2000)
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
23
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
Quadro 3 – Drogas que devem ser evitadas por portadores de deficiência de G6PD
Astemizol
Clorfeniramina
Hidroxizina
Azatadina
Dexclorfeniramina
Loratadina
Bronfeniramina
Difenidramina
Mequitazina
Cetirizina
Dimetidina
Oxatomida
Ciproeptadina
Elastina
Terfenadina
Ácido Acetilsalicílico
Ácido para-aminosalicílico
Paracetamol
Fonte: Luzhato; Mehta, (1995).
A
G6PD
(glicose-6-fosfatodesidrogenase) é uma enzima que é
fundamental na estabilidade das hemácias.
Pacientes com deficiência de G6PD, tem um
favorecimento na ruptura da membrana dos
eritrócitos, causando anemia hemolítica.
Esta deficiência é um fator genético ligada
ao cromossomo X, prevalente também em
mulheres. As complicações podem envolver
icterícia neonatal, insuficiência renal aguda
ou anemia hemolítica crônica, sendo que
alguns casos podem desenvolver seqüelas
neurológicas ou até mesmo levar o
indivíduo a morte. Wilson et al. (1997), em
um estudo randomizado de pacientes
doadores de sangue, chegaram ao resultado
de 0,71% da população com deficiência de
G6PD. As drogas descritas no quadro 3 são
anti-histamínicos e, na última linha,
visualizam-se
os
analgésicos
mais
comumente associados à antialérgicos em
formulações conhecidas como antigripais.
Estes fármacos devem ser evitados por
pacientes que se encontram nesta situação,
pois podem tornar a anemia mais agressiva.
(LUZHATO; METHA, 1995)
Associações Medicamentosas
Tratamento de Alergias
para
o
Não apenas os anti-histamínicos
específicos podem causar anemia, mas
também outros fármacos associados para o
tratamento sintomático de gripes e
resfriados, como vasoconstritores (utilizados
para reduzir a produção de muco, promover
efeito secativo na mucosa nasal e
descongestionar), analgésicos e antipiréticos
(para aliviar sintomas como dor muscular,
cefaléias e febre). Alguns exemplos, como o
ácido acetilsalicílico, que é utilizado com
diversos
fins
terapêuticos,
mas
principalmente
como
analgésico
e
antipirético, é comumente associado à
outros antialérgicos para promover uma
terapia combinada no caso da gripe. Em
altas concentrações, o fármaco sozinho pode
desenvolver anemia, mas principalmente em
pacientes com deficiência de G6PD
(glicose-6-fosfato-desidrogenase),
baixas
concentrações podem agravar o estado do
mesmo. Os fármacos vasocontritores, tais
como
nafazolina,
pseudoefedrina,
bronfeniramina, entre outros que são
combinados na terapia anti-gripal também
são relatados como indutores de anemia.
Agentes simpaticomiméticos como a
fenilefrina podem ainda induzir aumento do
índice de pressão arterial através de sua ação
estimulante do sistema nervoso simpático
(PR VADE MECUM, 2009; PLAVNIK,
2002).
Um estudo de Heineck (et al, 1998),
demonstrou que em números totais de
quantidade e valores, a venda de
medicamentos contendo associações de
fármacos é muito maior do que a utilização
de produtos contendo princípios ativos
isolados. Além disto, a pesquisa confirma
que muitas das vezes, não há necessidade da
utilização de um composto farmacêutico
pelo paciente. Em uma análise prévia em
compêndios farmacêuticos e bulários,
podemos encontrar grande quantidade de
marcas que incluem em suas formulações
alguns dos fármacos citados neste trabalho,
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
24
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
que além de anemias, podem gerar outras
reações e ainda potencializar o estado do
distúrbio hematológico deste paciente (PR
VADE-MECUM, 2009).
Atribuições do Profissional de Saúde
Frente ao Paciente
O atendimento completo ao paciente
anêmico compreende a valorização do
quadro clínico, do histórico, levando em
conta a gravidade e o desenvolvimento do
mesmo. Cita-se ainda como dever do
profissional da saúde a correção da anemia
nos casos graves, com procedimentos
terapêuticos multidisciplinares orientados,
revertendo suas possíveis conseqüências
fisiopatológicas.
Também
cabe
ao
profissional zelar para a redução dos
episódios de auto-medicação, contribuindo
com a saúde pública (VERRASTRO, 2002;
RAPAPORT et al, 1994).
Um acompanhamento profissional de
qualidade ao paciente é fundamental, uma
vez que é um agravo de fácil tratamento,
mas com conseqüências de alta gravidade
quando não corretamente tratadas. Em
muitos dos casos, não se avalia a hipótese da
ligação dos sintomas adversos sentidos pelo
paciente com um possível quadro de
anemia, porém, como estes produtos são
para farmacoterapia paliativa, o paciente
quando não corretamente acompanhado e
orientado pode fazer uso do medicamento de
forma contínua, agravando seu estado
patológico, devendo o profissional de saúde
e, principalmente o farmacêutico, estar
atento na sintomatologia e terapia de seu
paciente. (OLIVEIRA et al., 2002)
Conclusões
Pela revisão bibliográfica permitiu-se
constatar
que
vários
medicamentos
comumente utilizados em processos
alérgicos e outros fármacos associados na
terapia para alívio sistemático de outros
sintomas relacionados às alergias podem
causar, além de outros distúrbios em vários
sistemas
do
organismo,
discrasias
sanguíneas, entre elas as anemias por
diferentes tipos de indução nos pacientes
tratados. Em geral, pacientes sem
acompanhamento costumam utilizar a
medicação frequentemente, mesmo quando
não há necessidade clínica. Esta medicação
pode ser adquirida sem controle em
farmácias e drogarias, seja por prescrições
antigas, como por indicações de balconistas
e terceiros ou até mesmo pela influência da
publicidade exposta na mídia e no próprio
salão de vendas das drogarias. Mesmo os
medicamentos isentos de prescrição podem
ocasionar não só casos de anemia, mas
também outras patologias, que podem ser
brandas ou ter conseqüências severas, caso
não corretamente tratadas.
Estudos recentes demonstraram que
36% da população pesquisada faz aquisição
de medicamentos constantemente sem
prescrição médica e que, 57% destes o
fazem sem o acompanhamento de nenhum
profissional de saúde. Além disto, o estudo
constata que 73% das pessoas pesquisadas
que utilizam medicamentos sem prescrição,
consomem antialérgicos e analgésicos, que
podem estar incluídos entre os causadores
de anemia.
O fato é que o uso constante é um
fator determinante para o surgimento da
patologia. Por hábito, grande parcela dos
indivíduos que utilizam medicamentos antihistamínicos
sem
acompanhamento,
dificilmente também recorrem ao serviço de
saúde quando percebem reações adversas ao
medicamento. Os profissionais da saúde
devem estar atentos ao surgimento de
reações e sinais clínicos que possam estar
relacionados à terapia medicamentosa.
Alguns pesquisadores, como Heineck
et al. (1998), sugerem que há uma ineficácia
nas associações medicamentosas de venda
livre no Brasil em relação à segurança de
seu uso contínuo e necessidade de uso pela
população geral. Posto isto, sugerem que
sejam revistos o controle sobre a
dispensação de tais fármacos. Já a ANVISA,
através de seus protocolos, entende que a
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
25
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
associação de tais medicamentos, nas
concentrações atualmente estabelecidas,
podem ser vendidos sem a necessidade de
maior controle.
Estes aspectos reforçam a necessidade
do acompanhamento técnico especializado
dos profissionais de saúde, desde o
diagnóstico e a prescrição correta pelo
médico até a dispensação pelo farmacêutico,
e o acompanhamento por ambos, sempre
focando o pronto restabelecimento da saúde
do paciente e a melhoria de sua qualidade de
vida, através de cuidados técnicos e
orientação.
Atualmente
busca-se
o
desenvolvimento de uma nova classe de
anti-histamínicos (que possa ser considerada
a terceira geração destes fármacos). Esta
classe deverá possuir pelo menos três prérequisitos básicos que a diferenciem dos
demais: ausência de toxicidade cardíaca e
hematológica, interações medicamentosas e
efeitos sobre o SNC. Estas drogas seriam, a
princípio, mais seguras e eficazes. Para que
este fato possa se tornar realidade, serão
necessários novos estudos que possam
avaliar as possíveis interações degradantes
das moléculas destes anti-histamínicos, ou
de suas conformações, com os vários tecidos
do organismo. Estas pesquisas poderão
desenvolver novos medicamentos que
apresentem menos reações adversas e maior
eficácia terapêutica, contribuindo para a
segurança da saúde pública e beneficiando
milhões de usuários em todo o planeta.
Referências Bibliográficas
ADKINSON JR, N, F. Middleton’s allergy:
principles and practice. Philadelphia: Elsevier,
2006, 6 th ed.
BARUFFI, H. Metodologia científica e a ciência do
direito: roteiro básico para elaboração de
trabalhos acadêmicos e monografias jurídicas.
Dourados: HBedit, 1997.
BALBANI, A, P, S. et al. Tratamento de rinite
alérgica em crianças: prescrição leiga de
medicamentos e intoxicações. São Paulo: Divisão
de Clínica Otorrinolaringológica e Centro de
Assistência Toxicológica (CEATOX) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, 1997.
BATISTA FILHO, M; FERREIRA, L. O. C.
Prevenção e tratamento da anemia nutricional
ferropriva: novos enfoques e perspectivas. Cad. de
Saúde Pública, vol 12, n 3, Rio de
Janeiro, Jul/Set, 1996.
BEATI, A. A. G. F. Estudo da degradação de
ranitidina via H2O2 eletrogerado/Fenton em um reator
eletroquímico com eletrodos de difusão gasosa.
Química Nova, vol 32, n 1, São Paulo: 2009.
BURITICÁ, L. Hospital Universitário San Vicent
De Paúl. Protocolos de hematología. Medellín: 2004.
BRASILEIRO FILHO, G. Patologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1994, 5ºed.
BRICKS, L, F,. Uso judicioso de medicamentos em
crianças. Jornal de pediatria, vol. 79, Mai/Jun.
2003.
CARRASCO, C.G; Avaliação do uso de
medicamentos e outras características
relacionadas à saúde pública pela população do
município de Anápolis. Trabalho de Conclusão de
Curso. Curso de Farmácia: UEG, 2005.
CARDOSO, M. A; PENTEADO, M. V. C.
Intervenções nutricionais na anemia. Cadernos de
Saúde Pública, n 2, Rio de Janeiro, Abr/Jun 1994
DAVIES, D. M. Textbook os adverse drug
reactions. Oxford: University Press, 2000, 7 th ed.
DI FIORE, M, S, H. Atlas de Histologia. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, 7º ed.
GENNARO, A; SILVA, P. Remington: a ciência e a
prática da farmácia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007.
GIRELLO, A, L; KUHN, T, I, B, B; Fundamentos
da imuno-hematologia eritrocitária. São Paulo:
SENAC, 2002.
GOLDMAN, L. Cecil Medicine. Philadelphia:
Elsevier, 2007, 23th ed. Disponível em:
<mdconsult.com/cecilmedicine/cap92.htm> Data de
acesso em: 13/08/2008.
GONÇALVES, E. et al. Anti-Histamínicos.
Imperatriz: EdFacimp, 2007. Disponível em: <
http://samuellsilva.googlepages.com/seminario_antihistaminicos.pdf> Data de acesso em: 16/03/2008.
GOODMAN, L; GILMAN, A, G. As bases
farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1996, 9º ed.
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
26
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
HATCH, M, C; MAY, P. Bristol University. School
of Chemistry, 2008. Disponível em: <
www.chm.bris.ac.uk/motm/histamine/ >
HEINECK, I. et al. Medicamentos de venda livre no
Brasil. Revista Panamericana de Saúde Pública,
vol. 3, n. 6, june/1998.
HOFFMAN, R. Hematology: Basic principles and
practice. Philadelphia: Elsevier, 2005, 4th ed.
HOWLAND, R. et al. Farmacologia ilustrada.
Porto Alegre: Artmed, 2007, 3º ed.
JESUS, E, M. Propaganda de medicamentos:
ferramentas contra a saúde pública. São Paulo:
Atheneu, 2001.
LUZHATO, L; METHA, A. Glucose-6-phosphate
dehydrogenase deficiency. In: The Metabolic and
Molecular Bases of Inherited Disease, McGraw
Hill: New York, 7th ed., 1995.
de Hematologia e Hemoterapia, vol 22, n.1 São
José do Rio Preto Jan./Abr. 2000.
NOBLE, J. et al. Textbook of Primary Care
Medicine. Philadelphia: Mosby, 2001 3th ed.
OGA, S. Medicamentos e suas interações. São
Paulo: Atheneu, 1994.
OLIVEIRA, M, A. et al. Avaliação da assistência
farmacêutica às pessoas vivendo com HIV/AIDS no
município do Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública,
vol 18, n. 5, set/out 2002.
PAIM, J, S. A crise da saúde pública e a utopia da
saúde coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000.
PAPINI-BERTO, S, J.; BURINI, R, C. Causas da
desnutrição pós-gastrectomia. Arquivos de
gastroenterologia, vol 38, n.4, p. 272-275, Out/Dez.
2001.
KATZUNG et al. Farmacologia básica e clínica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
PITA, M, T. et al. Tratamento de Anemia
Aplástica. Projeto Diretrizes, Sociedade Brasileira
de Hematologia e Hemoterapia, 2001.
KOROKOLVAS, A. Dicionário terapêutico
Guanabara. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006, 13ºed.
PLAVNIK, F, L. Hipertensão arterial induzida por
drogas: como detectar e tratar. Rev. Bras.
Hipertensão, vol 9, n. 2, abril/jun 2002.
MANFREDINI, V, et al,.. A fisiopatologia da
anemia falciforme. Infarma. Publicação do Conselho
Federal de Farmácia, v.19, n.1/2, 2007.
PORTO, C. C. et al. Vade-Mécum de Clínica
Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, 3º
ed.
MANUAL MERCK. São Paulo: Merck SharpDohme Farmacêutica, 17º ed, 2007.
PRADO, F. C. Atualização terapêutica. São Paulo:
Artes Médicas, 1995, 18º ed.
MARTINS, A; SCHIMITZ, V. Indução de anemia
aplástica por cloranfenicol em ratos wistar
machos. Trabalho de conclusão do curso de
Biomedicina – Dourados: Centro Universitário da
Grande Dourados, 2005.
PR VADE MÉCUM. São Paulo: Kairós, 2009.
Disponível em: <www.prvademecum.com/bra>.
MCPERSON, A.; PINCUS, J. Henry's Clinical
Diagnosis and Management by Laboratory
Methods. Sant Louis: W. B. Saunders Company,
2006, 21st ed.
RAPAPORT, S. I., et al. Hematologia: introdução.
São Paulo: Roca, 1998, 6º ed.
MONTEIRO, C, A. Mudanças na composição e
adequação nutricional da dieta familiar nas áreas
metropolitanas do Brasil (1988-1996). Revista de
Saúde Pública, vol. 34, n.3, Jun. 2000.
MONTEIRO, C. A; SZARFAC, S. C. Estudo das
condições de saúde das crianças no Município de São
Paulo, SP (Brasil), 1984-1985. Revista de Saúde
Pública, vol 21, n 3, São Paulo, Jun 2000
NAOUM, P C. Interferentes eritrocitários e
ambientais na anemia falciforme. Revista Brasileira
RANG, H, P; DALE, M, M. Farmacologia. Rio de
janeiro: Elsevier, 2004, 5º ed.
SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006, 7ºed.
SINGI, L, D, A., Verificação do efeito protetor da
norepinefrina e felipressina no sistema
cardiovascular de ratos sob ação de lidocaína e
prilocaína. Departamento de Ciências Biológicas,
UFMG, 2001. SINGER, T. P. Mechanism of drug
action. New York: Academic, 2004, 19th ed.
STUART-MACADAN, P. Diet, Demography, and
Disease: Changing Perspectives on Anemia.
London: Aldine Transaction, 1995, 3 th ed.
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.
27
Interbio v.4 n.2 2010 - ISSN 1981-3775
VAN DER KLAUW, M.M. et al. Drug Associated
agranulocytosis: 20 years of reporting in Netherlands
(1974-1994). Am. Journal of Hematology. n.57,
1998.
VERRASTRO, T, et al.. Hematologia e
hemoterapia: Fundamentos de morfologia,
fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu,
2002, 1º ed.
ZAGO, M, A. Hematologia: fundamentos e prática.
São Paulo: Atheneu, 2004.
ZANINI, A, C. Farmacologia Aplicada. São Paulo,
Atheneu, 1994, 5º ed.
WILSON, R. et al. Prevalencia de la deficiencia de
glucosa - 6 - fosfato deshidrogenasa en donadores
voluntarios de sangre que acuden a los hospitales
nacionales Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza.
Lima - Perú. Revista Médica Herediana, vol 8, n.1,
1997.
RODRIGUES FILHO, Otávio e S.; ARAÚJO, Miguel A. M.