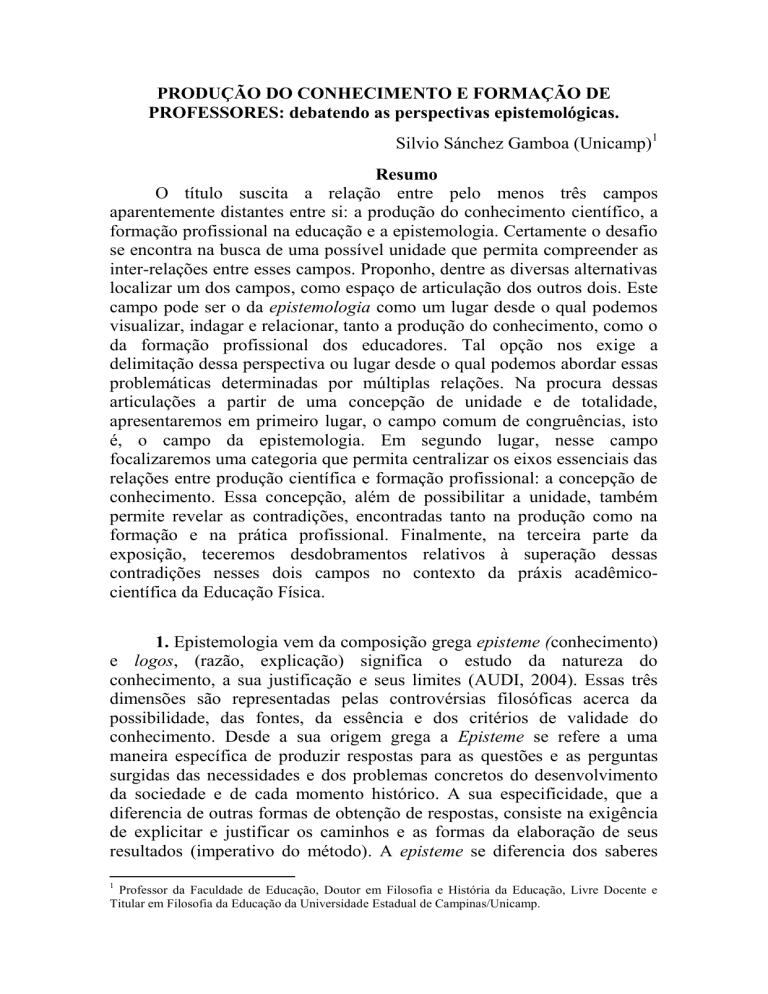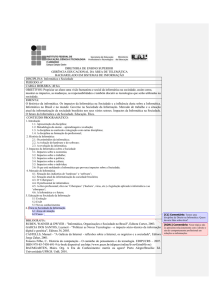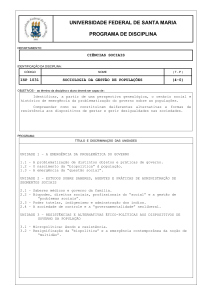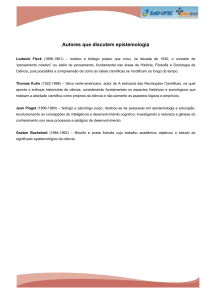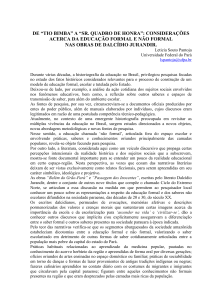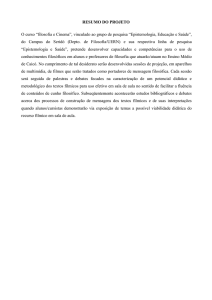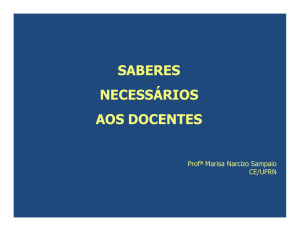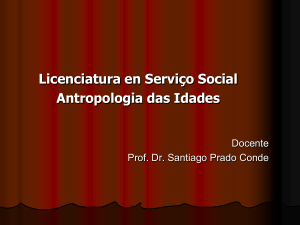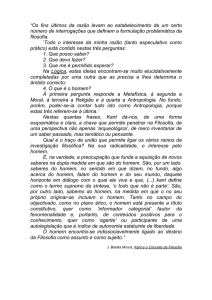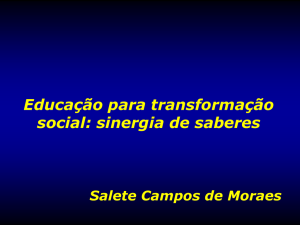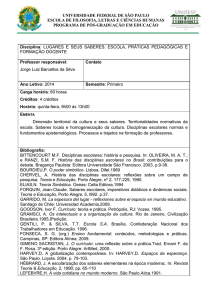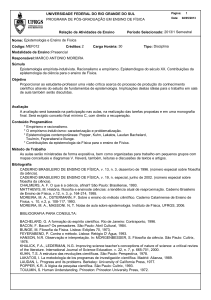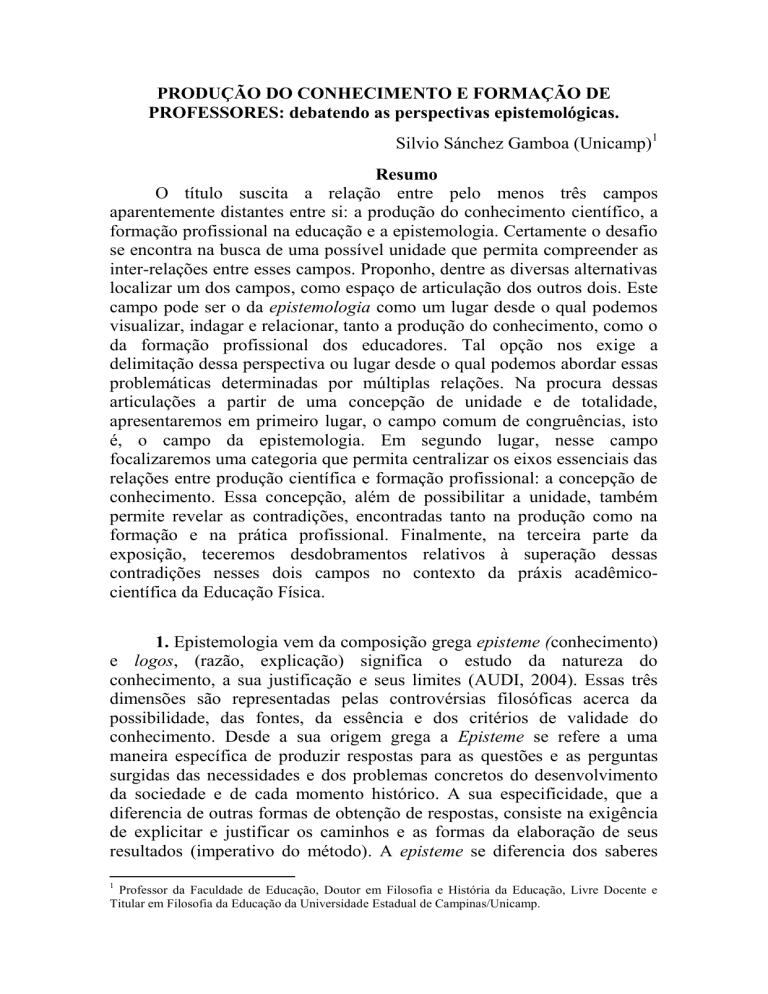
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: debatendo as perspectivas epistemológicas.
Silvio Sánchez Gamboa (Unicamp)1
Resumo
O título suscita a relação entre pelo menos três campos
aparentemente distantes entre si: a produção do conhecimento científico, a
formação profissional na educação e a epistemologia. Certamente o desafio
se encontra na busca de uma possível unidade que permita compreender as
inter-relações entre esses campos. Proponho, dentre as diversas alternativas
localizar um dos campos, como espaço de articulação dos outros dois. Este
campo pode ser o da epistemologia como um lugar desde o qual podemos
visualizar, indagar e relacionar, tanto a produção do conhecimento, como o
da formação profissional dos educadores. Tal opção nos exige a
delimitação dessa perspectiva ou lugar desde o qual podemos abordar essas
problemáticas determinadas por múltiplas relações. Na procura dessas
articulações a partir de uma concepção de unidade e de totalidade,
apresentaremos em primeiro lugar, o campo comum de congruências, isto
é, o campo da epistemologia. Em segundo lugar, nesse campo
focalizaremos uma categoria que permita centralizar os eixos essenciais das
relações entre produção científica e formação profissional: a concepção de
conhecimento. Essa concepção, além de possibilitar a unidade, também
permite revelar as contradições, encontradas tanto na produção como na
formação e na prática profissional. Finalmente, na terceira parte da
exposição, teceremos desdobramentos relativos à superação dessas
contradições nesses dois campos no contexto da práxis acadêmicocientífica da Educação Física.
1. Epistemologia vem da composição grega episteme (conhecimento)
e logos, (razão, explicação) significa o estudo da natureza do
conhecimento, a sua justificação e seus limites (AUDI, 2004). Essas três
dimensões são representadas pelas controvérsias filosóficas acerca da
possibilidade, das fontes, da essência e dos critérios de validade do
conhecimento. Desde a sua origem grega a Episteme se refere a uma
maneira específica de produzir respostas para as questões e as perguntas
surgidas das necessidades e dos problemas concretos do desenvolvimento
da sociedade e de cada momento histórico. A sua especificidade, que a
diferencia de outras formas de obtenção de respostas, consiste na exigência
de explicitar e justificar os caminhos e as formas da elaboração de seus
resultados (imperativo do método). A episteme se diferencia dos saberes
1
Professor da Faculdade de Educação, Doutor em Filosofia e História da Educação, Livre Docente e
Titular em Filosofia da Educação da Universidade Estadual de Campinas/Unicamp.
fundados nas tradições e no senso comum (Doxa ou saber opinativo) e da
razão mítica e das religiões (Mitus), precisamente por revelar as condições,
as formas e os processos (métodos) de elaborar as perguntas e as repostas.
Os saberes oriundos da doxa e do mitus apresentam respostas sem o
imperativo de demonstrar essas condições e os caminhos da sua construção.
Na literatura filosófica moderna o termo “epistemologia” tem diversos
significados, tais como Teoria da Ciência, Filosofia da Ciência, meta-ciência,
denotando um campo específico da Teoria do Conhecimento (Gnoseologia).
Entre o Conhecimento Científico (Epistemologia) e Teoria do Conhecimento
(Gnoseologia) existe uma tensão crítica entre um campo geral (Teoria do
Conhecimento) atrelado à Filosofia e o específico (Conhecimento científico)
relacionado com a ciência. Precisamente a epistemologia contemporânea se
desenvolve na congruência crítica entre filosofia e ciência. Na tensão entre
esses dois campos se desenvolve a epistemologia, reconhecida, também
como meta-ciência. A meta-ciência é um estudo que vem depois da ciência
(segundo nível) e que tem por objeto a própria ciência e a maneira como ela
estuda os seus objetos (primeiro nível), interrogando-a sobre seus princípios,
seus fundamentos, seus métodos, suas condições de validade e seus
resultados.
Nessa perspectiva vários cientistas e filósofos, dentre eles
BACHELARD (1983), PIAGET (1967) e HABERMAS (1982) propõem
uma recuperação do sentido e do conteúdo da “Epistemologia”, como um
campo de tensão entre a ciência e a filosofia. BACHELARD (1983) propõe o
caminho da reflexão sobre as Filosofias implícitas nas práticas explícitas dos
cientistas. Isto é, “dar às ciências a Filosofia que elas merecem” e coloca
como função essencial da Filosofia, a construção de uma epistemologia
aberta que vise à produção dos conhecimentos científicos sob todos os seus
aspectos, lógico, ideológico e histórico. Para PIAGET (1967), os termos
Epistemologia e Teoria do Conhecimento são sinônimos. Piaget define a
Epistemologia como o estudo da constituição dos conhecimentos válidos
(PIAGET, l973). HABERMAS (1982) nas suas pesquisas sobre a
reconstrução da gênese dos diversos tipos de conhecimento detecta os rastros
perdidos de uma reflexão sobre as ciências que esqueceu seu entrelaçamento
com o processo histórico da sociedade. Para superar esse esquecimento,
Habermas propõe reconstituir a relação entre a Filosofia e a Ciência “crítica e
reflexivamente” na epistemologia dialética, entendida esta, como o estudo
sistemático que encontra na Filosofia Materialista seus princípios e na
produção científica seu objeto. Nesse sentido, “A Filosofia preserva-se na
ciência enquanto crítica” (HABERMAS, l982. p.77). Na reflexão crítica
sobre o conhecimento científico, a dialética materialista, como “Lógica e
Teoria do Conhecimento” (KOPNIN, 1978), apresenta uma perspectiva de
unidade na análise da ciência em seus aspectos internos (lógicos,
gnosiológicos e metodológicos) e externos (histórico-sociais). Nesse sentido
a dialética materialista desenvolve a idéia da unidade entre Epistemologia e a
Teoria do Conhecimento nas condições materiais e históricas da produção
das diversas formas do conhecimento. Em todas essas concepções a
epistemologia se refere a um campo de congruência entre a filosofia e a
ciência e tem como centralidade a compreensão do conhecimento.
Tendo como horizonte compreensivo essa tensão entre a ciência e a
filosofia, e tomando como objeto a produção científica e a prática
profissional no campo da Educação Física e como referência os
pressupostos filosóficos sobre o conhecimento (Gnosiologia) e os critérios
de validade científica, assim como as concepções de método e teorias é
possível desenvolver uma epistemologia da Educação Física2.
Considerando essa mesma perspectiva é possível abordar as relações entre
produção do conhecimento e a formação profissional tomando como núcleo
de congruência a concepção de conhecimento3.
2. Uma vez delimitado o campo ou o lugar desde onde abordamos a
relação entre a produção do conhecimento e a formação profissional,
precisamos retomar os eixos de congruência entre os diversos campos
envolvidos, de tal maneira que permitam a reconstituição de uma unidade
na diversidade. Esse eixo unificador que permite desenvolver uma visão de
totalidade é a concepção de conhecimento4. O conhecimento segundo
Bachelard resulta da relação básica entre as perguntas e as respostas. “Para
o espírito científico qualquer conhecimento é uma resposta a uma
pergunta. Se não tem pergunta não pode ter conhecimento científico. Nada
se dá tudo se constrói” (1989: 189).
A relação entre perguntas e respostas pode ser entendida como uma
relação dialética de unidade de contrários. Pela unidade de contrários existe
um estabelecimento recíproco, os aspectos, ou as tendências não podem
existir uns sem os outros. Assim, a identidade dos contrários é um
2
Cf. SANCHEZ GAMBOA, Epistemologia da Educação Física: inter-relações necessárias. Maceió:
edUFAL, 2007.
3
Essa pretensão insere-se numa trajetória de estudos convalidada no seio da entidade científica que
representa no Brasil a área da Educação Física, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte CBCE que
conta dentre seus Grupos de Trabalho Temáticos – GTTs, o de Epistemologia. Nesse contexto a
Epistemologia refere a: “os pressupostos teórico-filosóficos presentes nos diferentes projetos de
delimitação da Educação Física como um possível campo acadêmico-científico (...) os fundamentos
teóricos balizadores dos distintos discursos da Educação Física (...) como interrogação constante dos
sabres constituídos”. Tomado da ementa do Grupo de Trabalho: Epistemologia do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte – CBCE (http//www.cbce.org.br/combrace/index2003).
4
Como vimos na compreensão da epistemologia, esta se refere ao estudo da natureza, justificação e
limites do conhecimento. Nesse sentido tomar esta categoria como essencial permite centralizar as
referências à pesquisa científica, tida como campo da produção do conhecimento e a formação
profissional tida como um campo onde necessária e essencialmente se trata o conhecimento, na forma de
saberes acumulados a serem transmitidos e disseminados ou como processos de produção de novas
respostas para os problemas que a realidade educativa apresenta.
momento da contradição, que é tão necessária, quanto a sua diferença
(CHEPTULIN, 1982: 288).
O processo lógico que compreende os movimentos contrários entre a
gestação das perguntas e a elaboração das respostas sobre um determinado
objeto ou fenômeno, produz o conhecimento sobre esse objeto. O
conhecimento é o resultado da unidade dialética entre as perguntas e
respostas sobre esse mesmo objeto, sob condições materiais, sociais e
históricas específicas. Daí o caráter temporário e determinado desse
resultado5.
O conhecimento elaborado se transforma em constatações científicas,
teses, teorias, ou repostas para os problemas. Estas repostas ganham forma
autônoma e podem ser separadas e deslocadas no espaço e no tempo das
perguntas que lhe deram origem e dos processos que permitiram a sua
elaboração. Tais respostas são dissecadas, afixadas, sistematizadas,
organizadas na forma de informações padronizadas e selecionadas para
serem divulgadas, transmitidas e consumidas em forma de dados,
informações, saberes, teorias, esquemas, fórmulas, receitas, resumos,
livros, publicações, bibliotecas e redes de informação. Nessa fase, o
conhecimento é separado da relação dinâmica entre pergunta - reposta
transformando-se num saber (resposta já dada, já dita) pronto para ser
apropriado, formatado, sistematizado, utilizado e acumulado pela
humanidade. Para seu desenvolvimento posterior precisa resgatar a sua
dinâmica, através da dúvida. As respostas já dadas deverão ser negadas,
indagadas e confrontadas com as novas condições das necessidades e dos
problemas que lhe deram origem. Nesse sentido a dúvida transforma a
reposta numa nova pergunta gerando um novo processo de elaboração de
novos conhecimentos. Essa nova dinâmica de elaboração de novas
perguntas que exigem novas respostas constitui a lógica essencial da
pesquisa.
A dúvida transforma a resposta obtida (síntese), afirmada como saber
constituído na sua negação, na sua forma contrária (antítese), numa nova
pergunta que irá exigir a produção de novas respostas.
Segundo esse entendimento da relação dialética entre perguntas e
respostas, tidas como pólos opostos da mesma dinâmica, é necessário
explicitar as diferenças entre conhecimento e saberes, eles se colocam de
forma oposta e contraditória, no mesmo processo. Enquanto o
conhecimento se refere à parte dinâmica e ao processo de qualificar
perguntas e produzir as respostas novas, os saberes se referem ao produto, à
resposta elaborada, fechada, sistematizada para ser distribuída, divulgada e
consumida. Nesse sentido, conhecimento e saberes, embora contrários na
5
Esta temática sobre a unidade dialética entre o perguntar e o responder encontra-se mais desenvolvida
em Sánchez Gamboa, 2009.
funcionalidade, estão juntos na dinâmica dialética entre perguntas e
respostas sobre um determinado fenômeno, ou objeto.
3. No contexto da organização escolar, os conhecimentos elaborados
e acumulados pela humanidade são apropriados na forma de saberes e
transformados em conteúdos didáticos e matérias curriculares. Nesse
sentido, a denominação de saberes escolares e acadêmicos é a mais
pertinente. A característica dos saberes é a de se apresentarem como
respostas, separadas das suas perguntas originárias, como produtos
separados dos processos de produção. Neste caso, os saberes são respostas
ou “produtos” que não exigem sua relação imediata com as perguntas e os
processos originários da sua elaboração. Entretanto, os saberes escolares e
acadêmicos poderão ser homogeneizados e padronizados num universo
amplo de respostas dadas, sem diferenciar a sua origem, nem os processos
utilizados para a sua elaboração, poderão ser misturados e equiparados
tanto os oriundos da razão mítica, da doxa como da episteme6. Daí a
necessidade no desempenho profissional dos educadores de uma formação
teórica sólida, com base no conhecimento científico e na pesquisa
consolidada, para evitar esses riscos, do esvaziamento dos conteúdos
acumulados pela humanidade, da apologia dos saberes comuns e imediatos,
do empobrecimento dos processos pedagógicos quando voltados para
atividades (ativismo pedagógico) sem referências nas teorias desenvolvidas
ao longo da história da educação (Cf. ANPED, 2006).
Da relação dialética entre saberes e conhecimentos se desdobra num
outro conflito que permeia a prática profissional dos educadores. O conflito
entre o predomínio da pergunta, do produto (saberes) e da pergunta e do
processo (conhecimento) tem gerado diversas controvérsias na prática
educativa, sintetizadas no confronto histórico entre as pedagogias da
pergunta e da resposta7. A diferenciação entre as pedagogias se refere ao
trato com as formas básica da produção e difusão do conhecimento
acumulado pela humanidade (relação pergunta-resposta).
As pedagogias da resposta se caracterizam por se centralizarem na
transmissão ou imposição dos saberes na forma de conteúdos prontos, e na
forma estrema, negando as possibilidades da dúvida, da indagação e do
diálogo entre educando e educadores (pedagogias centradas nos professores
6
Na perspectivas das tendências neo-pragmatistas e pós-modernas esses múltiplos saberes (práticos,
cotidianos, escolares, acadêmicos, curriculares, do professor, do aluno, científicos ou não) são tomados
sem critérios de hierarquia, ou origem na sua transversalidade, ou sua utilidade imediata.
7
A história da educação registra diversos momentos em que esse conflito aparece. Como exemplo
podemos citar as experiências de Sócrates (século V a C), Comenio (Século XVII) Freire e Saviani
(Século XX) que apresentam além do conflito entre as formas do conhecimento, propostas de superação
centralizadas na problematização dos saberes e a partir deles, construir novos conhecimentos.
e no ensino). Já as pedagogias da pergunta, priorizam como ponto de
partida, a dúvida e os questionamentos em torno de problemas,
possibilitando o desenvolvimento de processos polêmicos e dialógicos, e na
forma estrema, negando os saberes acumulados (pedagogias centradas no
aluno e na aprendizagem). A superação desses conflitos exige uma nova
práxis que, sem abandonar os saberes acumulados, resgate a importância da
problematização dos saberes científicos, acadêmicos e escolares e a
necessidade de inserir na prática e na formação básica dos educadores os
domínios relacionados com a pesquisa e a produção do conhecimento, sem
recuar e sem negar os saberes acumulados pela humanidade (Cf.
SAVIANI, 1986).
Para que o profissional da educação consiga essa práxis qualificada
precisa de uma formação que garanta o domínio dos saberes científicos
acumulados e a capacidade de produção de novos conhecimentos. Isto é,
uma formação profissional centralizada nas formas diversas de tratar o
conhecimento. Duas formas vêm se constituindo como prioritárias: o
ensino e a pesquisa. As duas formas fazem relação com o trato com o
conhecimento. No ensino o conhecimento já elaborado e transformado em
saberes científicos e acadêmicos poderá ser transmitido, socializado ou
disseminado; na pesquisa esses saberes serão problematizados perante os
problemas que a realidade apresenta.
Na perspectiva da formação profissional do educador ele precisa do
domínio qualificado dessas duas formas de tratar o conhecimento. A
formação profissional dos educadores centralizada no trato do
conhecimento torna-se necessariamente mais complexa, já que precisa de
respostas válidas para os problemas e necessidades da sua prática social e
para a realização de seus compromissos históricos no sentido de
potencializar a sociedade do futuro. Novas capacidades e potencialidades
precisam ser desenvolvidas para articular o domínio dos saberes
sistematizados e o potencial criativo da pesquisa científica e dos
instrumentais técnicos e teóricos necessários para a produção de novas
respostas para as necessidades históricas da sociedade na fase atual de
profundos processos de transformação. Essa formação profissional exige a
articulação da formação teórica sólida, com base no conhecimento
científico e a formação básica para a pesquisa e a produção do
conhecimento em educação (Cf. SÁNCHEZ GAMBOA, 2009: 18).
4. Conclusões. As relações entre a produção do conhecimento e a
formação profissional, aparentemente distante entre si, ganham unidade
quando abordadas no campo comum da epistemologia, dedicada ao estudo
da natureza, das justificativas e dos limites do conhecimento. A concepção
do conhecimento permite articular, numa perspectiva de unidade e de
totalidade, os elementos essenciais tanto da produção da pesquisa como da
formação profissional, assim como possibilita a explicitação das
contradições implícitas nessa unidade dialética. O conhecimento, entendido
como o processo de produzir respostas para perguntas surgidas nas
condições concretas das necessidades e dos problemas (histórico-sociais)
que a realidade apresenta, revela contradições relativas ao trato ou a
primazia das perguntas (processo da pesquisa) ou das respostas (saberes e
produtos).
No contexto da organização escolar, a prática profissional dos
educadores se depara com conflitos no trato do conhecimento, priorizando
a transmissão de saberes (pedagogias da resposta) ou problematizando os
saberes acumulados e criando condições para a produção de novos
conhecimentos (pedagogias da pergunta). A superação dos conflitos
relacionados com o conhecimento seja na forma de saberes já dados,
respostas prontas a serem disseminadas, socializadas ou consumidas ou,
como novas respostas para os problemas concretos permeiam a formação
profissional que se utiliza de processos de ensino onde seu eixo prioriza a
transmissão de saberes científico-acadêmicos acumulados nos campos
profissionais, mas que também deve desenvolver condições para a
produção de novos conhecimentos como respostas concretas para os
problemas que a prática profissional demanda. Dessa forma a formação do
profissional da educação deverá articular os saberes científicos mais
significativos (saberes clássicos) que oferecem respostas para as
necessidades da prática profissional no campo do domínio de respostas
acumuladas para e da pesquisa.
Na perspectiva política, os responsáveis pelo desenvolvimento da
Educação Física como campo científico e profissional devem lutar pelas
melhores condições de formação profissional, buscando uma maior
qualificação dos educadores contra tendências e diretrizes que reduzem a
prática profissional ao desempenho de tarefas técnicas e ao domínio de
saberes práticos mínimos,, sem a apropriação fecunda dos saberes
científicos acumulados e sem a capacitação criativa no domínio da pesquisa
científica que leve à produção de novas respostas para as necessidades
históricas da sociedade na fase atual de profundas transformações. Dessa
forma a prática profissional se transformará numa prática política
transformadora.
Referências
ANPED et al. Pronunciamento conjunto das entidades da área da educação
em relação às diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação
em pedagogia. Educação e Sociedade. Campinas, vol. 27, n. 97, p. 13611363, set./dez. 2006.
AUDI, R. Dicionário AKAL de Filosofia. Madrid: AKAI, 2004.
BACHELARD, G. Epistemologia, trechos escolhidos. De Dominique
Lecourt, Zahar Editores, 1983.
BACHELARD, G. Epistemologia. Barcelona: Anagrama, 1989.
CHEPTULIN, A. Dialética materialista. São Paulo: Alfa-Omega, 1982.
COMENIO, J. A. Didáctica Magna. Lisboa: Fundação Calauste
Gulbenkian, 1985.
FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1985.
HABERMAS, J. Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
KOPNIN, P. V. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
PIAGET, J. Logique et Connaissance Scientifique. Nature e Methodes de
l'Epistemologie. Paris: Gallimard, 1967.
PIAGET, J. Psicología y Epistemología, Barcelona: Ariel, 1973.
SÁNCHEZ GAMBOA, S. Saberes, conhecimentos e as pedagogias das
perguntas e das respostas: atualidade de antigos conflitos. Práxis
Educativa, Ponta Grossa, 4, jul. 2009. Disponível em:
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/466/4
67. Acesso em: 01 Jun. 2010.
SÁNCHEZ GAMBOA, S. Epistemologia da Educação Física: as interrelações necessárias. Maceió: edUfal, 2007.
SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Autores Associados, 1986.