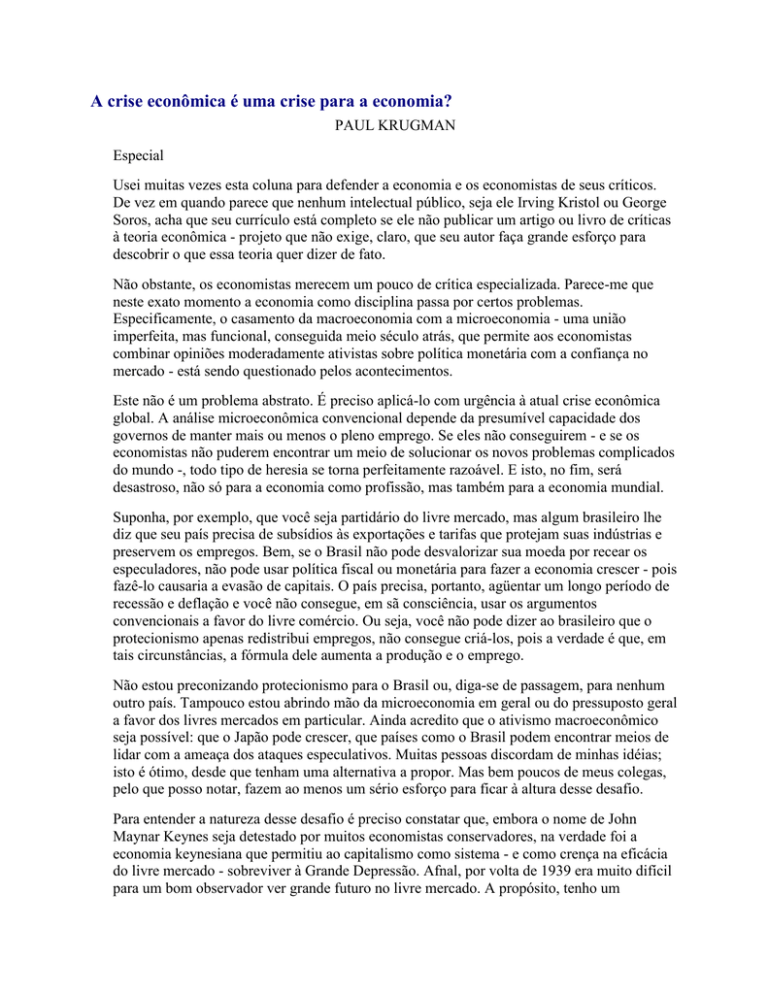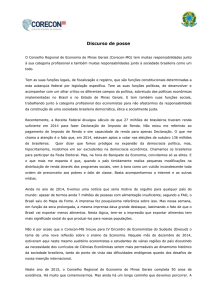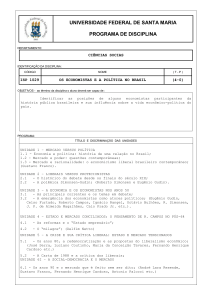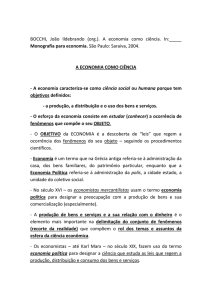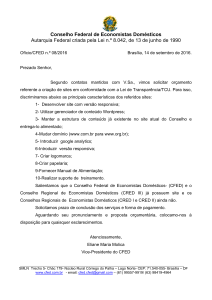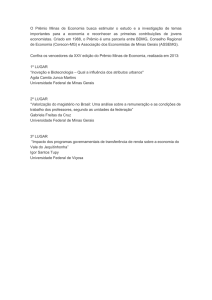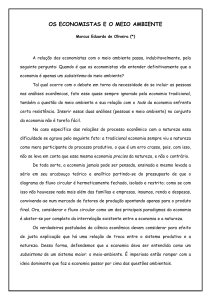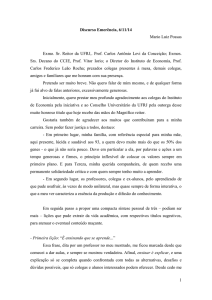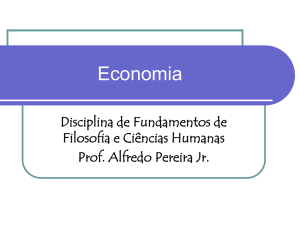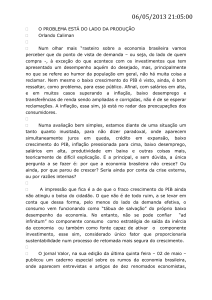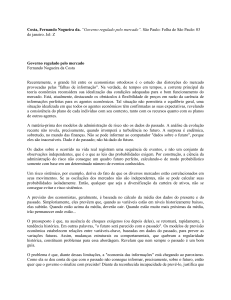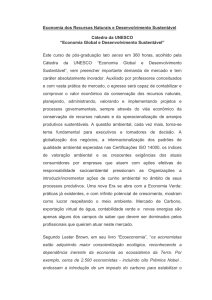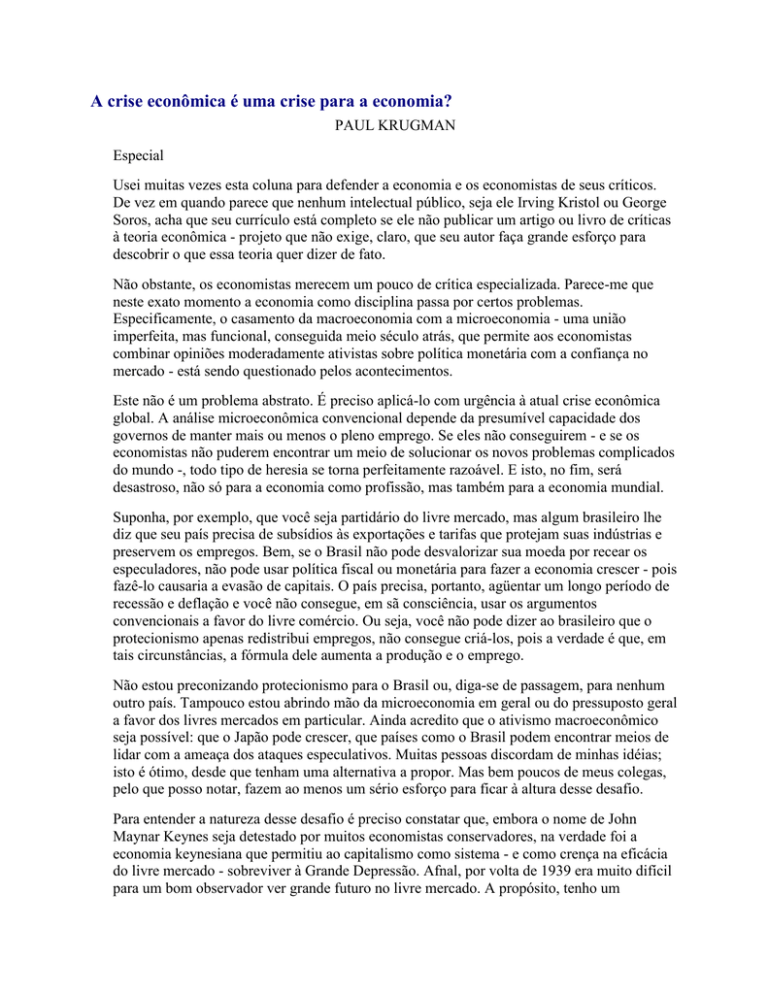
A crise econômica é uma crise para a economia?
PAUL KRUGMAN
Especial
Usei muitas vezes esta coluna para defender a economia e os economistas de seus críticos.
De vez em quando parece que nenhum intelectual público, seja ele Irving Kristol ou George
Soros, acha que seu currículo está completo se ele não publicar um artigo ou livro de críticas
à teoria econômica - projeto que não exige, claro, que seu autor faça grande esforço para
descobrir o que essa teoria quer dizer de fato.
Não obstante, os economistas merecem um pouco de crítica especializada. Parece-me que
neste exato momento a economia como disciplina passa por certos problemas.
Especificamente, o casamento da macroeconomia com a microeconomia - uma união
imperfeita, mas funcional, conseguida meio século atrás, que permite aos economistas
combinar opiniões moderadamente ativistas sobre política monetária com a confiança no
mercado - está sendo questionado pelos acontecimentos.
Este não é um problema abstrato. É preciso aplicá-lo com urgência à atual crise econômica
global. A análise microeconômica convencional depende da presumível capacidade dos
governos de manter mais ou menos o pleno emprego. Se eles não conseguirem - e se os
economistas não puderem encontrar um meio de solucionar os novos problemas complicados
do mundo -, todo tipo de heresia se torna perfeitamente razoável. E isto, no fim, será
desastroso, não só para a economia como profissão, mas também para a economia mundial.
Suponha, por exemplo, que você seja partidário do livre mercado, mas algum brasileiro lhe
diz que seu país precisa de subsídios às exportações e tarifas que protejam suas indústrias e
preservem os empregos. Bem, se o Brasil não pode desvalorizar sua moeda por recear os
especuladores, não pode usar política fiscal ou monetária para fazer a economia crescer - pois
fazê-lo causaria a evasão de capitais. O país precisa, portanto, agüentar um longo período de
recessão e deflação e você não consegue, em sã consciência, usar os argumentos
convencionais a favor do livre comércio. Ou seja, você não pode dizer ao brasileiro que o
protecionismo apenas redistribui empregos, não consegue criá-los, pois a verdade é que, em
tais circunstâncias, a fórmula dele aumenta a produção e o emprego.
Não estou preconizando protecionismo para o Brasil ou, diga-se de passagem, para nenhum
outro país. Tampouco estou abrindo mão da microeconomia em geral ou do pressuposto geral
a favor dos livres mercados em particular. Ainda acredito que o ativismo macroeconômico
seja possível: que o Japão pode crescer, que países como o Brasil podem encontrar meios de
lidar com a ameaça dos ataques especulativos. Muitas pessoas discordam de minhas idéias;
isto é ótimo, desde que tenham uma alternativa a propor. Mas bem poucos de meus colegas,
pelo que posso notar, fazem ao menos um sério esforço para ficar à altura desse desafio.
Para entender a natureza desse desafio é preciso constatar que, embora o nome de John
Maynar Keynes seja detestado por muitos economistas conservadores, na verdade foi a
economia keynesiana que permitiu ao capitalismo como sistema - e como crença na eficácia
do livre mercado - sobreviver à Grande Depressão. Afnal, por volta de 1939 era muito difícil
para um bom observador ver grande futuro no livre mercado. A propósito, tenho um
exemplar de The Managerial Revolution, de James Burnham, lançado em 1941 e hoje
esquecido, que por breve período teve enorme influência. Ele pretendeu ver a ascensão do
comunismo e do fascismo como parte da inevitável substituição do capitalismo por um
Estado "administrador" mais eficiente. Burnham não criticou as economias de livre mercado;
simplesmente julgou-as condenadas ao fracasso e achou ingênuos os que não pensavam
como ele: A primeira e talvez principal prova a favor da opinião de que o capitalismo não vai
durar muito mais tempo é a constante existência, nas nações capitalistas, do desemprego em
massa. ... O capitalismo já não consegue encontrar usos para os fundos de investimento
disponíveis, que permanecem ociosos nos livros contábeis dos bancos. ... A organização
capitalista da sociedade ingressou em seus anos derradeiros.
Opiniões bem pessimistas, que na época pareciam bastante razoáveis. Até onde a maioria das
pessoas que pensavam no assunto conseguia ver que as economias capitalistas eram de fato
incapazes de usar sua poupança e portanto seus recursos. Diante dessa incapacidade
marcante, o argumento tradicional de que livres mercados levam à eficiência
microeconômica - à adequada alocação de recursos entre as empresas e de bens entre os
consumidores - parecia mais irrelevante do que errado.
Mas a economia keynesiana - refiro-me não tanto aos detalhes das idéias de Keynes, mas à
opinião de que as políticas monetária e fiscal podiam ser usadas para combater os paradeiros
econômicos - salvou do esquecimento o capitalismo e a microeconomia. Graças, em grande
parte, ao novo entendimento dos governos de que elevar as taxas de juros, aumentar os
impostos e reduzir os gastos numa recessão é má idéia, a primeira geração do pós-guerra
quase teve o pleno emprego na maioria dos países ocidentais. E, com a garantia de que a
poupança seria investida e haveria demanda suficiente para fazer uso dos recursos da
economia, os economistas puderam voltar em paz para uma questão microeconômica - como
esses recursos seriam usados - e para o amplo pressuposto de que os livres mercados, exceto
em alguns casos específicos, eram a solução.
Veja-se, por exemplo, o debate sobre os efeitos do Acordo de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Embora a maior parte do debate público sobre esse acordo se concentrasse na
suposta perda ou na suposta criação de empregos (seria o "grande sorvedouro" no dizer de
Ross Perot, ao passo que o governo americano dizia que o Nafta ia criar centenas de milhares
de empregos), a maioria dos economistas acreditava que o efeito líquido sobre o emprego
seria nulo. Isto porque, basicamente, o número total de empregos nos Estados Unidos é
determinado pelo presidente do Fed (o BC dos EUA), Alan Greenspan, que está sempre
tentando fazer com que a economia fique o mais próximo possível do emprego sem causar
inflação. Portanto, para os economistas sérios, as verdadeiras questões do Nafta tinham a ver
com aspectos macroeconômicos, como a eficiência e a distribuição da renda - e o interesse
pela eficiência era, de qualquer forma, um firme argumento a favor do livre comércio.
Em resumo, o êxito do ativismo econômico, na teoria e na prática, possibilitou à
microeconomia de livre mercado sobreviver - na teoria e na prática.
Claro que nos anos 70 e no começo dos anos 80 a macroeconomia passou por uma crise. A
experiência da estagflação - a soma da inflação com o desemprego - prejudicou seriamente o
prestígio dos economistas em geral e da macroeconomia em particular, embora em termos
teóricos não fosse uma surpresa tão grande.
Igualmente importante foi a crise interna de confiança: Teóricos das "expectativas racionais",
encabeçados por Robert Lucas, futuro Prêmio Nobel, questionavam a noção de que os
governos tinham meios de fazer algo que reduzisse a instabilidade macroeconômica. Mas, no
fim, as expectativas racionais não conseguiram propiciar uma alternativa viável à
macroeconomia keynesiana. Os chamados economistas neo-keynesianos deram pelo menos
uma pequena contribuição teórica a idéias mais ou menos keynesianas e, em termos práticos,
a base intelectual das modernas políticas monetária e fiscal dos EUA parece-se muito com a
que já estava nas obras didáticas de 20 anos atrás.
Mas agora os economistas estão em dificuldades novamente - dificuldades que parecem uma
versão indistinta do que ocorreu nos anos 30. O mundo não está na depressão nem é provável
uma reprise em plena escala dos anos 30. Mas grandes áreas da economia mundial estão
deprimidas - por um motivo ou por outro, parece que não conseguem ou não querem adotar
política macroeconômica para restabelecer o pleno emprego. Nações com "mercados
emergentes", que têm terrível receio da evasão de capitais, não ousam fazer crescer suas
economias; ao contrário, vemos a principal economia do momento, o Brasil, ser forçada, por
recear os especuladores, a agir de modo totalmente anti-keynesiano: aumentar as taxas de
juros, elevar impostos e reduzir gastos, mesmo quando a economia caminha para a horrível
recessão. Enquanto isso, o Japão - segunda maior economia do mundo e país que, pelos
critérios normais, pode aumentar a demanda sem problemas - se vê exatamente na armadilha
que Burnham descreveu: "já não consegue encontrar uso para os fundos de investimento
disponíveis, que permanecem ociosos nos livros contábeis dos bancos." Portanto os
economistas precisam apressar-se na solução destes problemas, certo? Bem, não exatamente.
Veja-se que as objeções das expectativas racionais à economia keynesiana alcançaram meio
sucesso: Não erigiram uma nova estrutura viável para a teoria e a política macroeconômicas,
mas causaram sério dano à estrutura antiga. E, em conseqüência desse dano, os economistas
nem sequer pensam nas tradicionais questões keynesianas. Em sua maioria, economistas
mais jovens simplesmente ignoram por completo a macroeconomia ou - se trabalham com
questões macroeconômicas - escolhem tópicos "seguros", como o crescimento a longo prazo,
evitando o sofisticado campo minado da pesquisa dos ciclos de negócios. Não posso culpálos, mas aí ficamos com uma perigosa deficiência de novas idéias sobre os meios de lidar
com recessões no momento em que os remédios costumeiros parecem não estar dando certo.
Eu gostaria de achar que outros economistas entendem o que está em jogo. O problema não é
a iminência do colapso mundial; isso pode ocorrer, mas não é o perigo evidente e atual. O
problema é que a teoria e a prática de mais economia ou de menos economia de livre
mercado dependem essencialmente da disponibilidade de soluções para o problema da
instabilidade macroeconômica - e, pela primeira vez em meio século, não se pode confiar que
tais soluções existam.