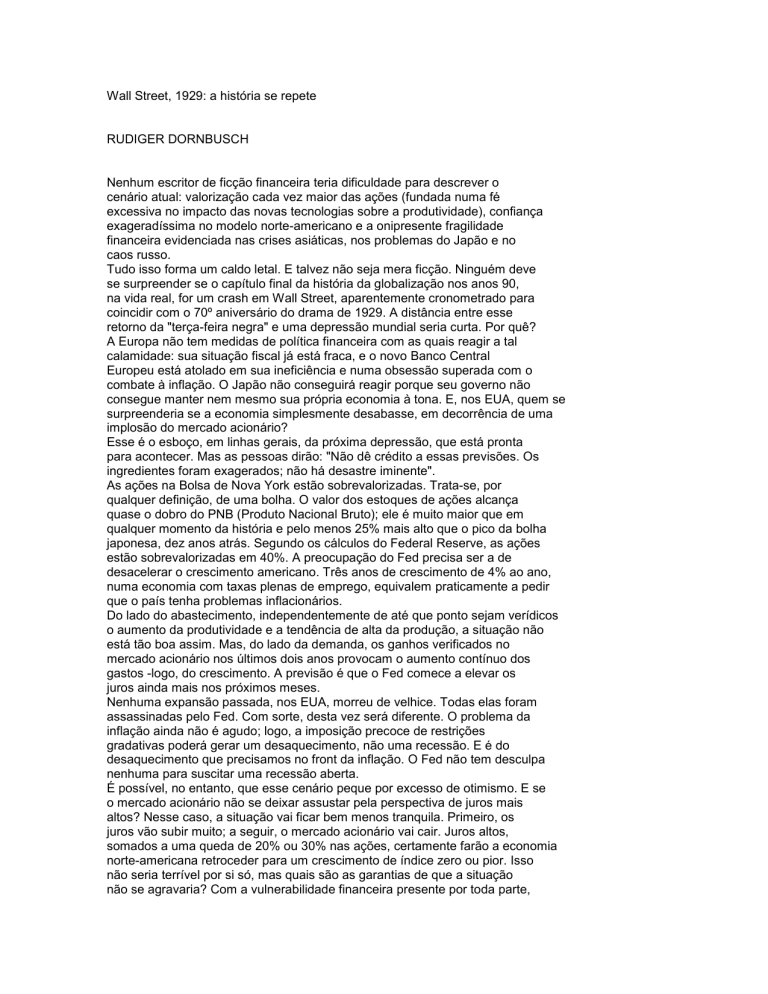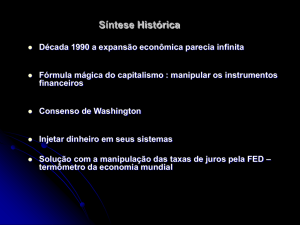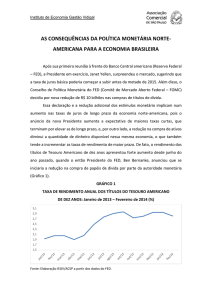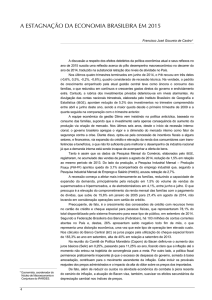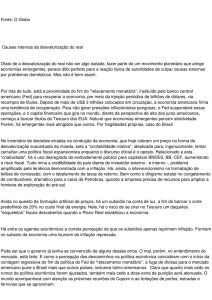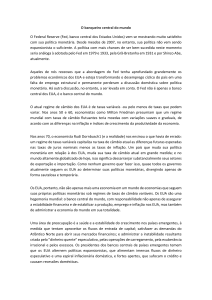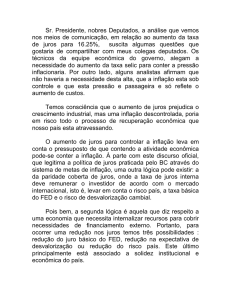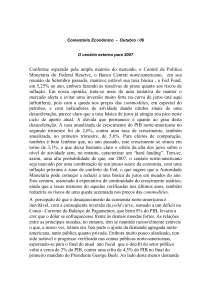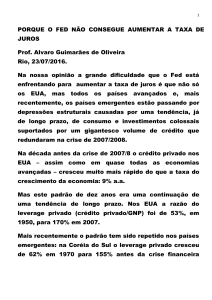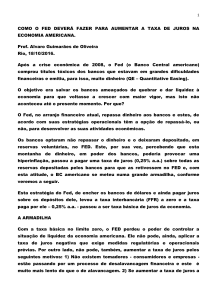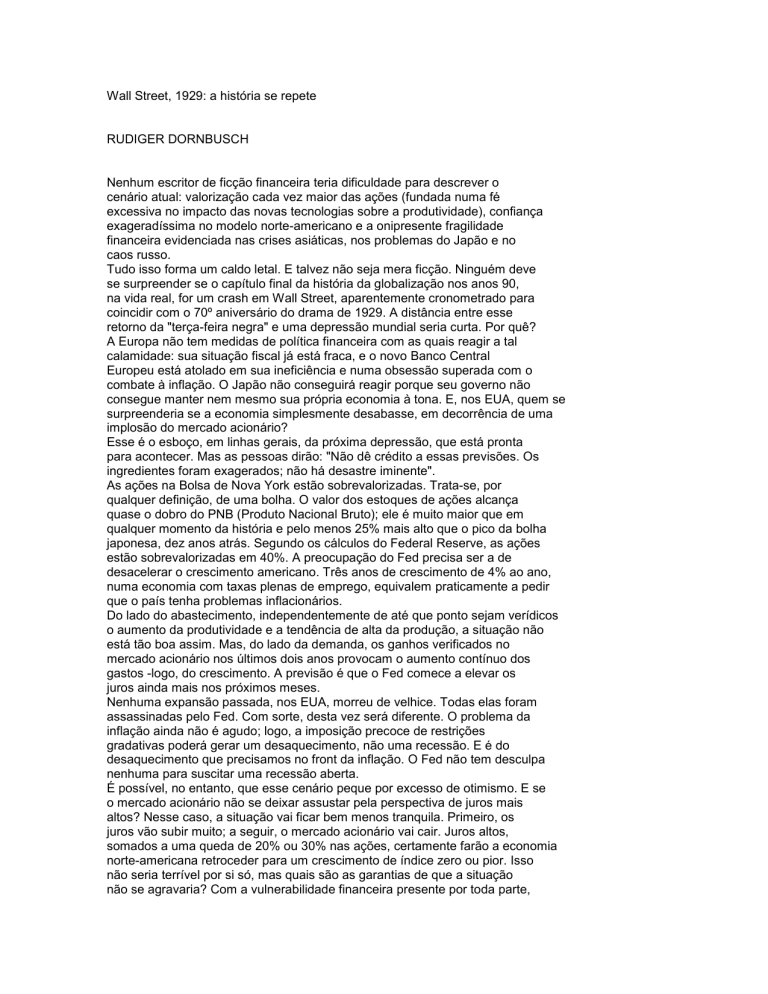
Wall Street, 1929: a história se repete
RUDIGER DORNBUSCH
Nenhum escritor de ficção financeira teria dificuldade para descrever o
cenário atual: valorização cada vez maior das ações (fundada numa fé
excessiva no impacto das novas tecnologias sobre a produtividade), confiança
exageradíssima no modelo norte-americano e a onipresente fragilidade
financeira evidenciada nas crises asiáticas, nos problemas do Japão e no
caos russo.
Tudo isso forma um caldo letal. E talvez não seja mera ficção. Ninguém deve
se surpreender se o capítulo final da história da globalização nos anos 90,
na vida real, for um crash em Wall Street, aparentemente cronometrado para
coincidir com o 70º aniversário do drama de 1929. A distância entre esse
retorno da "terça-feira negra" e uma depressão mundial seria curta. Por quê?
A Europa não tem medidas de política financeira com as quais reagir a tal
calamidade: sua situação fiscal já está fraca, e o novo Banco Central
Europeu está atolado em sua ineficiência e numa obsessão superada com o
combate à inflação. O Japão não conseguirá reagir porque seu governo não
consegue manter nem mesmo sua própria economia à tona. E, nos EUA, quem se
surpreenderia se a economia simplesmente desabasse, em decorrência de uma
implosão do mercado acionário?
Esse é o esboço, em linhas gerais, da próxima depressão, que está pronta
para acontecer. Mas as pessoas dirão: "Não dê crédito a essas previsões. Os
ingredientes foram exagerados; não há desastre iminente".
As ações na Bolsa de Nova York estão sobrevalorizadas. Trata-se, por
qualquer definição, de uma bolha. O valor dos estoques de ações alcança
quase o dobro do PNB (Produto Nacional Bruto); ele é muito maior que em
qualquer momento da história e pelo menos 25% mais alto que o pico da bolha
japonesa, dez anos atrás. Segundo os cálculos do Federal Reserve, as ações
estão sobrevalorizadas em 40%. A preocupação do Fed precisa ser a de
desacelerar o crescimento americano. Três anos de crescimento de 4% ao ano,
numa economia com taxas plenas de emprego, equivalem praticamente a pedir
que o país tenha problemas inflacionários.
Do lado do abastecimento, independentemente de até que ponto sejam verídicos
o aumento da produtividade e a tendência de alta da produção, a situação não
está tão boa assim. Mas, do lado da demanda, os ganhos verificados no
mercado acionário nos últimos dois anos provocam o aumento contínuo dos
gastos -logo, do crescimento. A previsão é que o Fed comece a elevar os
juros ainda mais nos próximos meses.
Nenhuma expansão passada, nos EUA, morreu de velhice. Todas elas foram
assassinadas pelo Fed. Com sorte, desta vez será diferente. O problema da
inflação ainda não é agudo; logo, a imposição precoce de restrições
gradativas poderá gerar um desaquecimento, não uma recessão. E é do
desaquecimento que precisamos no front da inflação. O Fed não tem desculpa
nenhuma para suscitar uma recessão aberta.
É possível, no entanto, que esse cenário peque por excesso de otimismo. E se
o mercado acionário não se deixar assustar pela perspectiva de juros mais
altos? Nesse caso, a situação vai ficar bem menos tranquila. Primeiro, os
juros vão subir muito; a seguir, o mercado acionário vai cair. Juros altos,
somados a uma queda de 20% ou 30% nas ações, certamente farão a economia
norte-americana retroceder para um crescimento de índice zero ou pior. Isso
não seria terrível por si só, mas quais são as garantias de que a situação
não se agravaria? Com a vulnerabilidade financeira presente por toda parte,
como podemos ter a certeza de que os EUA e o mundo inteiro não vão acabar
como o Japão -num dia em primeiro lugar no mundo, no dia seguinte na
sarjeta?
Há bons motivos para crer que os problemas que se avizinham para os EUA
serão mais restritos. Diferentemente do que aconteceu quando a bolha
japonesa estourou, os balanços dos bancos norte-americanos estão bons, e os
valores imobiliários não estão sobrevalorizados. Isso limita os efeitos
negativos da alta nos juros e da queda nos preços das ações. Se as coisas
derem errado, há medidas para tentar remediá-las: um grande superávit
orçamentário constitui um convite a grandes reduções nos impostos -que nos
EUA funcionam, sim, e rapidamente. Se a situação se complicar demais, o Fed
pode voltar a reduzir os juros.
A situação pode se complicar de fato, como sempre acontece quando as
economias ficam superaquecidas. Mas o mais provável, desta vez, é que
pessoas diferentes preconizem receitas diferentes, a serem lembradas se o
prognóstico se revelar equivocado.
O que vem por aí nos EUA não será um espetáculo observado pelo resto do
mundo com um certo sentimento de que "pimenta nos olhos dos outros não
arde". O planeta terá dificuldades para se desligar desses acontecimentos.
Um desaquecimento nos EUA limita as chances de recuperação em todo o mundo e
reduz as esperanças de um crescimento maior, da Ásia à Europa. Na América
Latina (e nos mercados emergentes em geral), haverá muita pressão. Arrocho
financeiro no centro e mercados acionários em queda assustam os investidores
nos países emergentes. Quem vai querer ter investido no Equador ou na
Polônia quando a Bolsa de Nova York sofrer um crash?
Tivemos uma visão prévia de tudo isso há algumas semanas, quando o Fed, pela
primeira vez, assinalou sua preocupação com as perspectivas do crescimento e
da inflação. Também há a questão do câmbio, é claro. Se o que acontecer no
mercado acionário dos EUA for interpretado por muitas fontes como o fim da
fantástica expansão do país, o dólar cairá. Esse não será um grande problema
para os EUA, mas certamente será para a Europa, onde o dólar forte vem
funcionando como programa de emprego. A mesma coisa se aplica à Ásia, onde o
iene já está forte demais para uma economia semimoribunda. As crises
financeiras dos últimos três anos podem ter sido meros prelúdios do que está
por vir.