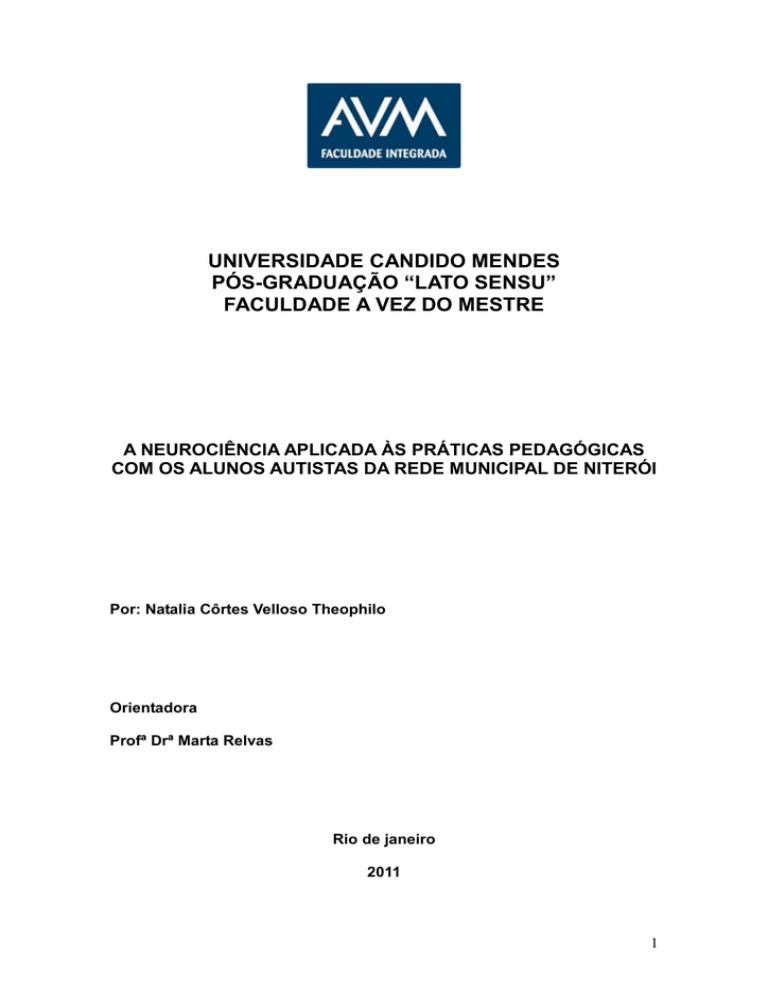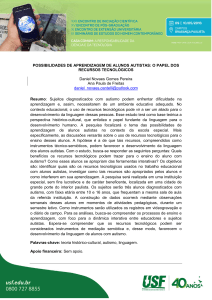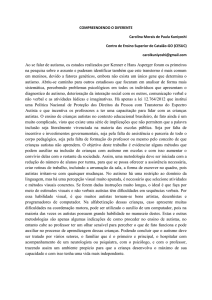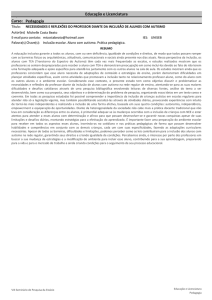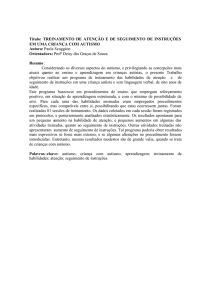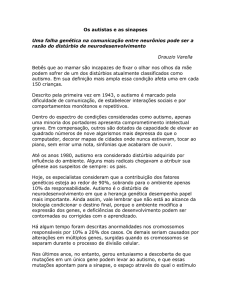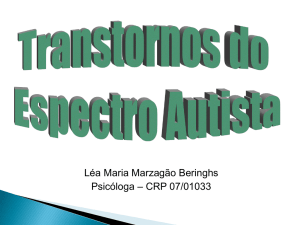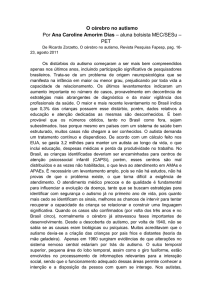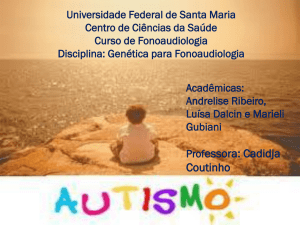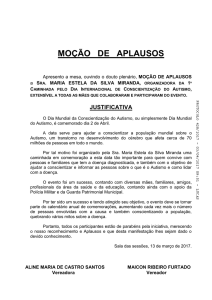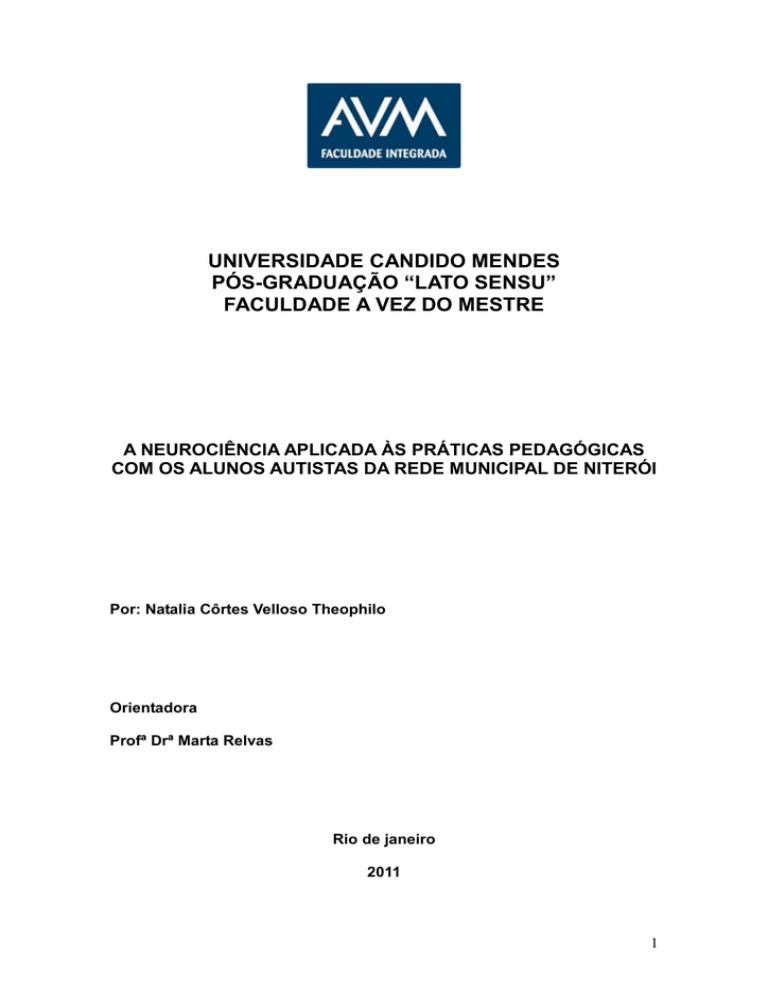
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
FACULDADE A VEZ DO MESTRE
A NEUROCIÊNCIA APLICADA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
COM OS ALUNOS AUTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI
Por: Natalia Côrtes Velloso Theophilo
Orientadora
Profª Drª Marta Relvas
Rio de janeiro
2011
1
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
FACULDADE A VEZ DO MESTRE
A NEUROCIÊNCIA APLICADA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM OS
ALUNOS AUTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção
do
grau
de
especialista
em
Neurociência Pedagógica
Por: Natalia Côrtes Velloso Theophilo
2
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus por tudo o que somos, pela nossa vida e por olhar
sempre por nós.
Aos meus pais, Luiz e Justina, que sempre me estimularam, me deram força,
acreditaram em mim e por estarem sempre presente nessa jornada.
Na minha filha que é a pessoa mais preciosa da minha vida e que me dá ânimo
para seguir sempre em frente.
A professora Marta Relvas que sempre nos incentivou e instigou nossa
curiosidade para esse novo horizonte que se abriu.
A toda equipe de educação especial da Rede Municipal de Niterói por estar
sempre buscando o melhor para seus alunos e profissionais.
A Nelma Pintor que enquanto minha professora ainda na graduação me
instigou a escolher esse caminho e enquanto coordenadora me surpreende
com sua determinação, humildade e dedicação.
A Lucienne Souza que me ajudou muito e sempre com muita simpatia,
disposição e carinho
A minha aluna Daiana Manhães que me faz acreditar e querer sempre superar
obstáculos para dar o melhor de mim a ela.
3
DEDICATÓRIA
A minha família, aos profissionais de educação, a
equipe de educação especial da Fundação Municipal
de Niterói e a todos os alunos especiais.
4
RESUMO
Apesar de a síndrome do autismo ainda ser uma incógnita para a ciência, esta
vem progredindo através de estudos e pesquisas, com o objetivo de, entre
outras coisas, dar subsídios à população para entender e conviver socialmente
com os autistas.
Quando estes cidadãos conseguem ir para uma escola, na maioria das vezes,
esta e sua equipe não estão preparadas para a convivência e para a lida com
tais alunos.
A neurociência entra no campo da educação inclusiva para auxiliar e colaborar,
através de estudos sobre o cérebro, neste árduo trabalho. Ao promover o
conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso central e o que é
comum a todos os cérebros, pode-se lidar melhor com algumas características
pessoais
do
aluno,
explorando
sua
criatividade
neste
processo
de
escolarização.
Compreender como a atividade cerebral processa a aprendizagem e o
comportamento, assim como a influência do meio em que vive e como a base
biológica age no processamento neurológico, facilitará e enriquecerá o trabalho
com alunos autistas.
5
METODOLOGIA
Para a elaboração do trabalho optei pela pesquisa teórica que consiste
em um levantamento de material bibliográfico com dados já analisados por
meio de escritos publicados e meios eletrônicos, utiliza-se livros, revistas
científicas, sites da web e documentos academicamente legitimizados, sobre o
tema que desejo conhecer.
Usei também como base a pesquisa de campo que foi realizada através
de relatos, entrevistas e observações sobre o tema proposto.
6
SUMÁRIO
Introdução ---------------------------------------------------------------------------------------- 8
Capítulo I – Uma abordagem histórica sobre o autismo ---------------------------- 11
Capítulo II – Sistema Nervoso Central -------------------------------------------------- 20
Capítulo III – Neurociência e Autismo --------------------------------------------------- 30
Bibliografia -------------------------------------------------------------------------------------- 40
Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Pesquisa de campo --------------------------------------------------------------------------- 47
7
INTRODUÇÃO
A inspiração para esse trabalho foi construída ao longo da minha
formação, onde passei a me interessar pela história da educação especial que
me despertou algumas inquietações. Inquietações essas que venho, até aqui,
compartilhar com meus possíveis leitores, como uma maneira de proporcionar
um encontro com uma realidade muitas vezes “evitada”, mas, que está
presente na vida e, portanto, como educadora, me sinto responsável por forjar
reflexões que contribuam para estabelecer relações de sentidos entre essa
realidade e o nosso “fazer” docente.
A história nos mostra que as crianças autistas sempre foram excluídas
pela sociedade e sofreram preconceitos pelo fato de apresentarem um
comportamento que foge dos padrões sociais, portanto, considero ser de
grande relevância resgatar essa história a fim de compreender porque, mesmo
com a apresentação dos novos referenciais de educação especial, que nos
indicam a importância de um projeto educativo inclusivo, existem, ainda,
escolas que não aceitam tais crianças.
A educação é uma construção diária e contínua do ser humano em seus
saberes e aptidões.
“Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é,
sobretudo formar a autonomia do sujeito histórico competente,
uma vez que, o educando não é o objetivo de ensino, mas sim
sujeito do processo, parceiro de trabalho, trabalho este entre
individualidade e solidariedade”. (DEMO,1996, p.16)
Lendo a afirmativa acima, observo que a educação é muito mais ampla e
complexa do que as pessoas normalmente especulam. O que nos leva a
8
concluir que privar as crianças autistas da educação, é privá-las do processo
de aprendizagem que ocorre durante toda a vida.
É importante para toda comunidade escolar, encontrar subsídios para
nortear o trabalho com seus alunos autistas dentro de salas de aula dando
oportunidade a todos de desenvolverem habilidades e capacidades inerentes a
cada indivíduo. Por esse motivo, entendo que promover discussões que
mobilizem reflexões sobre as possibilidades de inclusão da criança autista não
só na escola, como na família e na sociedade é vital para se respeitar e
valorizar cada uma delas.
Nesse ponto entra a neurociência com uma ciência relativamente nova
que estuda o SNC e sua complexidade. Dialogando com a pedagogia, pois se
precisa de bases científicas para poder compreender melhor cada aluno.
A construção do conhecimento se dá dentro do cérebro e modifica
conforme o estímulo recebido, por isso a importância de todos os profissionais
da educação saberem pelo menos um pouco sobre tal funcionamento.
O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento com diversas
apresentações clínicas que variam de gravidade e recebem o nome de
transtorno do espectro autismo. O sinal mais comum aos transtornos é o déficit
na interação social, na comunicação e no comportamento.
Como ajudar os autistas a aproximarem-se de um mundo
designificados e de relações humanas significativas? Que
meios podemos empregar para ajudá-los a comunicaremse, atrair sua atenção e interesse pelo mundo das
pessoas para retirá-los do seu mundo ritualizado,
inflexível e fechado em si mesmo? (RIVIÈRE, 1984 apud
BEREHOFF, 1993, p. 15).
As pesquisas científicas têm explorado as alterações estruturais e do
funcionamento cerebral por meio de estudos de neuroimagem e modelos
animais. Além disso, estudos de genética molecular têm procurado explorar o
quadro. Estruturas como amígdala, cerebelo, neurônios espelhos entre outros
tem sido foco de estudos em pessoas com autismo.
9
Muitas vezes, percebo que crianças autistas são excluídas da sociedade
pelo simples fato de serem diferentes. E por serem diferentes, as pessoas não
sabem como lidar e por isso têm medo, por terem medo, produzem
mecanismos de exclusão, negando-lhes o direito de convívio, discriminando-as
alegando justificativas que nada mais são do que uma forma de renegá-las.
Observando as práticas presentes em algumas escolas, apesar de já
termos dado passos bem largos, observo que ainda temos um longo caminho
pela frente, até que esse ideal de escola e inclusão seja alcançado.
10
CAPÍTULO I
UMA ABORGAGEM HISTÓRICA SOBRE O AUTISMO
Historicamente, as pessoas com deficiências foram excluídas da
sociedade e impedidas de desenvolver suas capacidades e habilidades como
indivíduos e cidadãos, eram sempre rotuladas como doentes, incapazes,
estranhas, por influência de uma sociedade que culturalmente se baseia nos
princípios da beleza e da perfeição.
Na Antigüidade, as pessoas deficientes eram mortas quando nasciam
porque eram consideradas um empecilho para a sociedade pelo fato de serem
consideradas inúteis, seres que precisavam ficar fora do convívio de grupos
sociais .
Segundo Barthel (2003) os povos Sirionos (antigos habitantes das
Selvas da Bolívia), que por serem seminômades, não podiam se dar ao luxo de
transportar doentes e deficientes, abandonava-os à própria sorte; os Balis
(nativos da Indonésia), eram impedidos de manter relações amorosas com
pessoas que não fossem aceitas como normal e os astecas, por ordem de
Montesuma (um dos últimos reis astecas), ridicularizavam os deficientes.
Os hebreus viam na deficiência física ou sensorial uma espécie de
punição de Deus e impediam que estas pessoas prestassem qualquer tipo de
serviço religioso.
A Lei das XII Tábuas, na Roma antiga, autorizava os patriarcas a matar
seus filhos defeituosos, o mesmo ocorrendo em Esparta, onde os recémnascidos, frágeis ou deficientes, eram lançados do alto do Taigeto (abismo de
11
mais de 2.400 metros de altitude, próximo de Esparta).
Paradoxalmente, os povos hindus consideravam os cegos com uma
maior sensibilidade interior, justamente pela falta de visão. Sendo assim, este
povo incentivava estas pessoas a ingressarem nas atividades religiosas.
Em alguns povos antigos o deficiente era tido como um estranho, muitas
vezes a deficiência era explicada como manifestação sobrenatural.
Continuando com as referências de Barthel (2003), com a decadência do
Império Romano e o domínio da cultura greco-romana no período da Idade
Média, a crença no sobrenatural cresceu mais ainda. O homem era concebido
como um ser subordinado aos poderes advindos do bem e do mal, e nessa
interpretação, as pessoas deficientes eram vistas como pessoas possuídas
pelo demônio e, assim, eram sujeitas a castigos por grupos cristãos ou, em
raras exceções, receptoras de espíritos divinos adorados e passavam a ser
reverenciados como profetas.
Com o renascimento e a revalorização da cultura greco-romana, a busca
do conhecimento científico deu lugar à preocupação com o indivíduo e com as
soluções científicas para seus problemas. Após o Renascimento e durante o
Modernismo a medicina deu um grande avanço, fazendo com que os
estudiosos fossem a procura de novos horizontes que, até então, eram
desconhecidos.
Contudo, apenas no final do século XVII, foi que, a base dos hospitais
psiquiátricos de Bicêtre, por influência de Pinel, passou a soltar os “loucos” das
correntes e tratar os “doentes” de modo mais humanitário.
Com base nos relatos, observa-se que a história das pessoas com
deficiência foi bastante conturbada e discriminatória e consequentemente, com
as crianças autistas, não foi diferente.
Alguns relatos históricos indicam que sempre existiram crianças autistas.
Na Grécia Antiga elas eram submetidas à eutanásia por não serem
consideradas normais. Existe uma lenda irlandesa que fala das “crianças-
12
fadas” cuja alma era roubada por duendes maus e as mães precisavam evitar
que isso acontecesse (Assumpção Junior, 2005).
Na história do autismo, há pesquisadores que tornaram-se importantes
por suas argumentações sobre a síndrome, o diagnóstico e as possíveis
causas.
O autismo é classificado como um distúrbio do desenvolvimento humano
e vem sendo estudado pela ciência a pelo menos seis décadas, porém,
grandes divergências e questões continuam sem resposta.
Para tratar do assunto, primeiramente é importante analisar a origem da
palavra.
Autismo é uma palavra de origem grega (autós), que significa por si
mesmo. É um termo usado, dentro da psiquiatria, para denominar
comportamentos humanos que se centralizam em si mesmo, voltados para o
próprio indivíduo.
Em 1847 Henry Maudsley foi o primeiro psiquiatra há ter interesse por
crianças com distúrbios mentais graves, descrevendo vários deles, inclusive o
Autismo. Já no século XX, Santis introduz o termo Demetria Precocíssima,
onde descreve casos de início muito precoce.
Em 1906, Plouller introduziu o termo autista na literatura psiquiátrica.
Mas foi em 1911, que Bleuler difundiu o termo autismo para referir-se ao
quadro de esquizofrenia, que consiste na limitação das relações humanas com
o mundo externo.
Na década de 1940, Léo Kanner, um psiquiatra austríaco residente nos
EUA, se dedicou a pesquisa e ao estudo de crianças que tinham um
comportamento um pouco estranho, ou melhor dizendo, bastante diferente das
outras crianças, comportamento esse que se caracterizava por estereotipias
(repetição de gestos, permanência em posições estranhas) e outros sintomas
aliados a uma grande dificuldade de se relacionar com outras pessoas.
13
Em 1943, Kanner, descreveu o autismo pela primeira vez em um artigo
chamado “Alterações autistas do contato afetivo”, onde relatou o caso de onze
crianças estudadas por ele, que apresentavam fortes características de
distúrbio do desenvolvimento. Este informe foi publicado depois de uma
minuciosa investigação sobre a doença. O quadro de “autismo extremo,
obsessividade, estereotipias e ecolalia” dessas crianças estudadas foi
nomeada de “Distúrbios autísticos do contato afetivo”.
Algumas características desses grupos de crianças eram: isolamento
com o mundo externo, atrasos na aquisição do uso de linguagens, tendência a
atividades ritualizadas, problemas com alimentação e incapacidade de
desenvolver relações interpessoais.
Donald T. foi examinado pela primeira vez em outubro de
1938, com a idade de cinco anos e um mês. Antes da chegada
da família, vinda de sua cidade natal, o pai enviou um histórico
de trinta e três páginas datilografadas, que apesar de repleto
de muitos detalhes obsessivos, fornecia uma excelente
exposição dos antecedentes de Donald. Donald nasceu a
termo em oito de setembro de 1933. Pesava aproximadamente
três quilos e duzentos gramas ao nascer. Foi amamentado,
recebendo alimentação suplementar até o fim do oitavo mês;
houve freqüentes mudanças das fórmulas do leite. “Comer”,
dizia o relatório, “foi sempre um problema para ele.” Ele nunca
apresentou um apetite normal. “Ver as crianças comendo
doces ou sorvete nunca foi uma tentação para ele”. A dentição
ocorreu satisfatoriamente. Ele andou aos treze meses. Com
um ano “ele era capaz de cantarolar sussurrando e cantar
várias melodias com perfeição”. Antes dos dois anos, tinha
“uma memória incomum para rostos e nomes, sabia o nome
de um grande número de casas” de sua cidade. “Era
encorajado pela família a aprender de cor e a recitar pequenos
poemas e ele decorou até o Trigésimo Terceiro Salmo e as
vinte e cinco perguntas e respostas do catecismo
presbiteriano”. Seus pais observaram que “ele não estava
aprendendo a fazer perguntas ou respondê-las a não ser que
estas se referissem a rimas ou coisas deste tipo, e que,
portanto, com freqüência ele não faria pergunta alguma,
exceto com palavras isoladas”. Sua pronúncia era clara.
Interessou-se por imagens “e em muito pouco tempo ficou
conhecendo uma prodigiosa quantidade de ilustrações de uma
coleção da Enciclopédia Compton”. Ele conhecia os retratos
dos presidentes “e conhecia a maioria dos retratos de seus
ancestrais e membros da parentela, tanto do lado materno
quanto paterno”. Aprendeu com rapidez o alfabeto inteiro, “na
ordem direta e inversa” e a contar até cem. Desde cedo foi
observado que ele ficava mais feliz quando era deixado só,
praticamente nunca chorou pedindo a mãe, nunca pareceu
14
dar-se conta da volta do pai para casa e era indiferente às
visitas de familiares mais próximos. “O pai fez uma menção
especial ao fato de que Donald nem mesmo prestava a
mínima atenção ao Papai Noel em traje completo.” (Kanner,
1943)
Através do trecho acima, fica claro que o perfil do autismo é definido por
alterações e desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso
da imaginação, além de estar presente em idades muito precoces, tipicamente
antes do três anos.
O autismo angustia e intriga as pessoas, em especial a família, pois o
autista tem ao mesmo tempo uma aparência harmoniosa e um perfil irregular
de desenvolvimento, com o funcionamento de algumas áreas comprometidas e
outras não.
Hans Asperger, um médico também austríaco e formado pela mesma
universidade de Kanner, em 1944 escreveu um artigo com o nome de
Psicopatologia Autística da Infância, onde descreveu casos de crianças
semelhantes a de Kanner. Neste artigo ele falava que a idade comum de
manifestação era aos três anos ou mais e as características marcantes seria a
marcha tardia, fala precoce, grande dificuldade na interação social, pobreza de
contato de olho, limitação de empatia, prejuízo na comunicação verbal, fala
pedante e com pouca modulação e resistência à mudança. O médico não
considerou que houvesse grandes falhas no desenvolvimento cognitivo ou na
linguagem e confirmou falhas nas habilidades motoras. Quando Aspeger
comparou o seu escrito com o de Kanner, pode identificar diversas
semelhanças,
porém
ressaltou
que
suas
crianças
mostravam
maior
inteligência, originalidade e espontaneidade incomuns do pensar.
Diferentemente do que aconteceu com o que Leo Kanner publicou, este
artigo demorou muitos anos para ser lido amplamente. O que se declara sobre
esta demora na difusão desse artigo, foi o fato dele ter sido escrito
originalmente em alemão.
Lorna Wing, tempos depois, analisou cada descrição feita por Aspeger e
15
Kanner e criou o termo Síndrome de Aspeger. Foi a partir daí que começaram a
considerar a possibilidade de compreensão de ambas as descrições como um
conjunto de elementos variáveis em graus e propôs a expressão Espectum ou
Continuum de Desordem Autísticas.
O distúrbio autístico era confundido com a esquizofrenia, portanto,
Kanner fazia questão de diferenciar um do outro. Discordando de Bleuler
quando este afirmou em 1911 por entender não se tratar de uma doença
independente e sim de mais um dos sintomas da esquizofrenia, Bleuler
enfatizava a deteriorização emocional no quadro clínico da esquizofrenia,
ressaltando, no autismo, mais o distúrbio com relação à realidade do que com
ao contato afetivo. Contudo, Leo Kanner, constatou desde o início que o
esquizofrênico se isolava do mundo, mas algum dia ele já penetrou este mundo
o que não acontece com o autista que jamais conseguiu sequer penetar nesse
mundo mencionado por Bleuler.
A partir do seu escrito em 1948 em que constatava que as crianças
autistas eram, em sua maioria, de família que apresentava uma inteligência
acima da média e uma obsessão no ambiente familiar, Kanner, no ano de 1955,
passou a considerar a conduta dos pais em suas crises de personalidade,
como o principal fator para o desenvolvimento da síndrome na criança, ainda
na vida intra-uterina.
Em 1949, Kanner, passou a referir-se ao quadro como “Autismo Infantil
Precoce” e considerou-o como uma psicopatologia. Em 1954, salientava o
autismo como uma psicose, devido à falta de comprovações em exames
laboratoriais. Dois anos mais tarde, insistiu na consolidação conceitual da
síndrome, porém sentia necessidade de aprofundar o caso em nível biológico,
psicológico e social. Já em 1968, acrescentou às suas considerações, a
necessidade do diagnóstico diferencial com deficientes mentais e afásicos.
Trinta anos depois dos seus primeiros casos, propôs que novas expectativas
fossem estudadas por meio da bioquímica, afirmando a pertinência da
síndrome como parte do quadro das psicoses infantis.
Depois de Kanner, muitos outros pesquisadores foram surgindo, como
16
Bruno Bettelheim que construiu para a psicanálise em 1944 a seguinte hipótese
sobre o autismo, segundo AMY (2001):
A criança encontra no isolamento autístico (como os prisioneiros
de Dachau) o único recurso possível a uma experiência
intolerável do mundo exterior, experiência negativa vivida muito
precocemente em sua relação com a mãe e seu ambiente
familiar. É por isso que fala de “crianças vítimas de graves
pertubações afetivas” (o que por sinal é totalmente verdadeiro
para certas crianças que ele acolheu, mas que não eram
necessariamente autistas). (...) Bettelheim abriu as portas a
teorias extremamente culpabilizantes para os pais, que se viram
como a causa primeira do atraso de seus filhos. (p.35-36)
Tomando como base que o desenvolvimento psicológico dos autistas
teria se paralisado quando o bebê ainda estivesse prematuro e com isso o
corpo dele se separou do da mãe por algum momento gerando um grande
trauma, a psicanalista inglesa, Francês Tustin, chama os autistas de “crianças
encapsuladas”. Para ela, a criança autista era tomada de pânico, mesmo
parecendo passivo e indiferente, a criança luta contra suas angústias por meio
de asseguramento com o auxílio de objetos.
Em 1976, no livro publicado com estudo sobre autismo, Ritvo apresentou
a possibilidade de a síndrome ocorrer junto com outras patologias específicas,
em que o autismo seria a derivação de uma patologia exclusiva do Sistema
Nervoso Central.
Nesse contexto, surgem as diferentes posições entre a organicidade e
psicogenicidade.
Enquanto a organicidade afirmava que o autismo era decorrente dos
distúrbios globais de desenvolvimento das habilidades de comunicação verbal
e não verbal e da atividade imaginativa, a psicogenicidade descrevia o autismo
como decorrente de uma desorganização da personalidade no quadro das
psicoses.
17
Em 1986, Gauderer baseando-se na definição da psicogenicidade,
defendeu a síndrome como inadequação do sujeito ao meio social ou uma
doença crônica como se fosse um mal incurável e inabilitável, de origem
orgânica, com fatores neurológicos de deterioração interacional.
Já em 1995, Sacks afirma sua oposição em relação ao autismo à ligação
com a esquizofrenia, como era proposto no início das investigações.
Concordando com Kanner, reafirma que o autista sofre a ausência de influência
externas, vive em total isolamento e seus sintomas se apresentam bem mais
cedo do que aparecem nos casos de esquizofrenia.
Atualmente, Segundo Gilberg (1990), o autismo é considerado como
uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas em consequência de
um distúrbio de desenvolvimento, sendo caracterizado por déficit na interação
social visualizado pela inabilidade em relacionar-se com o outro, usualmente
combinado com déficits de linguagem e alterações de comportamento.
Até 1989, dizia-se, estatisticamente, que a síndrome acometia crianças
com idade inferior a três anos, com predominância de quatro a cada dez mil
nascidas. Manifestava-se, majoritariamente, em indivíduos do sexo masculino,
sendo a cada quatro casos confirmados, três do sexo masculino e um para o
feminino.
Recentemente, Gaspar (1998), um neuropediatra estudioso do autismo,
publicou que a cada dez mil crianças nascidas, vinte são autistas, não se
restringindo à raça, etnia ou grupo social. De causa ainda não especificamente
determinada, o aumento pode ser em virtude, também, de um maior e melhor
diagnóstico e de informações sobre a síndrome que atinge indivíduos de todos
os países do mundo.
Através desse breve percurso histórico, percebe-se que ainda há muito
que caminhar no sentido de entender o fenômeno autista. Por enquanto, o que
se tem de concreto é que se trata de um distúrbio invasivo do desenvolvimento
e que faz parte da constituição desse indivíduo, afetando a sua relação com o
mundo social. Caracteriza-se por alterações na interação social, na
18
comunicação e no comportamento. Podendo se manifestar até mesmo antes
dos três anos e persiste durante a vida adulta.
Existem outros distúrbios do desenvolvimento que se enquadram no
perfil de problemas autísticos, mas que não incluem todas as suas
características. Além disso, esse transtorno não pode ser definido por um grau
de intensidade específico já que se apresenta por um espectro de sintomas
que variam qualitativamente de um sujeito para outro.
19
CAPÍTULO II
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
2.1 – Terminologia anatômica básica
A origem do Sistema Nervoso dá-se na formação do Tubo Neural O
Sistema Nervoso se desenvolve a partir da ectoderme. O folheto ectodérmico
da pele em desenvolvimento invagina-se ao longo da linha média de dorso, da
cabeça à cauda. À medida que o tubo é formado, o ectoderma se separa dele.
Este tubo neural torna-se o encéfalo e a medula espinhal.
As células da crista neural irá se diferenciar em certas células do
Sistema Nervoso Periférico.
O mesoderme circunjacente formará o crânio
(para o encéfalo), a coluna vertebral (circunda a medula espinhal) e os
músculos relacionados. A notocorda (um cordão primitivo de sustentação para
o embrião) será absorvida pela coluna vertebral em desenvolvimento e
resquícios dela permanecerão como o núcleo dos discos invertebrais.
O sistema nervoso central começa como um tubo neural oco, dorsal. A
cabeça ou um terço cefálico do tubo passa por uma proliferação
significativamente maior que os dois terços caudais. Esta porção cefálica
tornar-se-á o encéfalo e a porção caudal, a medula espinhal.
Chama-se sistema nervoso central (SNC), ou neuroeixo, ao conjunto do
encéfalo e da medula espinhal dos vertebrados. Forma, junto com o sistema
nervoso periférico, o sistema nervoso, e tem um papel fundamental no controle
do corpo.
O sistema nervoso é um órgão de alta complexidade anatômica: opaco
por dentro, convoluto e, portanto, cheio de saliências e reentrâncias que
escondem umas às outras, variável entre as espécies animais e
extensamente conectado com estruturas da periferia corporal.
Ao observar a estrutura do sistema nervoso pode ver que eles têm
partes situadas dentro do cérebro e da coluna vertebral e outras distribuídas
por todo corpo. O primeiro nível de classificação do sistema nervoso divide-o
20
em sistema nervoso central (SNC) que é definido como o conjunto dos
componentes do sistema nervoso contidos em caixas ósseas (o crânio e a
coluna vertebral) enquanto, o sistema nervoso periférico (SNP) apresenta seus
elementos distribuídos por todo o organismo. O segundo nível de classificação
dividi o SNC em encéfalo e medula espinhal. Já o terceiro nível de classificação
dividi o encéfalo em cérebro, cerebelo e tronco encefálico (que se divide em:
bulbo, situado caudalmente; mesencéfalo, situado cranialmente; e ponte,
situada entre ambos). Diante desta terceira classificação é possível observar a
diferença conceitual anatômica entre cérebro e encéfalo, embora muitas vezes
os dois termos são usados como sinônimos.
No SNC existem substâncias cinzenta e branca, o que difere é o modo
como ambas se distribuem em cada segmento do SNC. A substância cinzenta
é constituída por corpos celulares e forma centros nervosos enquanto a
substancia branca é constituída por cilindros - eixos revestidos de mielina. Na
espinhal medula a substancia cinzenta ocupa o eixo deste segmento do SNC e
é nesta substancia que vão ter origem os nervos raquidianos. A substancia
branca envolve completamente a substancia cinzenta e vai constituir diversos
feixes, uns ascendentes, que são sensitivos, outros descendentes, que são
motores.
É no sistema nervoso central que está a grande maioria das células
nervosas, seus prolongamentos e os contatos que fazem entre si. No sistema
nervoso periférico estão relativamente poucas células, mas um grande número
de prolongamentos chamados fibras nervosas, agrupados em filetes alongados
chamados nervos.
Os órgãos do SNC que se encontra alojado no canal raquídio são
protegidos por estruturas esqueléticas (caixa craniana, protegendo o
encéfalo; e coluna vertebral, protegendo a medula - também denominada
raque) e por membranas denominadas meninges, situadas sob a proteção
esquelética: dura-máter (a externa), aracnóide (a do meio) e pia-máter (a
interna). Entre as meninges aracnóide e pia-máter há um espaço
preenchido por um líquido denominado líquido cefalorraquidiano ou líquor.
E o SNP é constituído pelos nervos que ligam o SNC a todos os locais do
organismo humanos.
21
O encéfalo é separado por dois hemisférios (hemisfério esquerdo e
hemisfério direito), separados no plano mediano ora por um sulco profundo
(o sulco longitudinal), ora por um sulco superficial quase imperceptível. Os
hemisférios apresentam dezenas de dobraduras que recebem o nome de
giros, circunvoluções ou folhas, separadas por sulcos ou fissuras.
2.2 – Estruturas neurais
Devido à complexidade do padrão de giros no encéfalo humano, os
anatomistas os agrupam em cinco regiões que recebem o nome de lobos, que
mesmo não tendo limites precisos dão uma idéia de localização regional.
Dentre esses cinco lobos, quatro são visíveis externamente (lobo frontal,
parietal, temporal e occipital) e um posicionado no interior de um dos grandes
sulcos do encéfalo, o sulco lateral (lobo da insula). Os hemisférios cerebrais
formam o assim denominado telencéfalo.
O lobo frontal está relacionado com as funções superiores; elaboração
do pensamento, planejameto, programação de necessidades individuais e
emoções, cognição, raciocínio, decisões, escolhas, valores, julgamentos,
iniciação dos movimentos voluntários e aprendizagem. Este lobo recebe
impulsos nervosos dos lobos parietal e temporal por meio de feixes de longas
fibras de associações situadas no giro cíngulo. O lobo frontal inclui três giros
frontais e três sulcos: giro orbital, a maior parte do giro frontal medial e,
aproximadamente, a metade do giro cíngulo; sulco pré-central, sulco frontal
superior, sulco frontal inferior.
O lobo parietal está relacionado à interpretação, à integração de
informações visuais e somatossensitivas primárias, principalmente o tato, a
sensação de dor, a lógica matemática, habilidade espacial, lúdico. Tudo que
chega ao cérebro é nesta área. Neste lobo inclui-se um giro e dois sulcos: giro
pós central, sulco pós central e sulco intraparietal.
O lobo temporal possui funções situadas em porções diferentes. A
parte posterior está relacionada com a recepção e decodificação de estímulos
auditivo (possibilitando o reconhecimento de tons específicos e intensidade do
som) que se coordenam com impulsos visuais; a parte anterios está
22
relacionada com a atividade motora visceral (olfação e gustação) e com
alguns aspectos de comportamentos instintivos, no gerenciamento da
memória. Inclui-se três giros temporais e dois sulcos temporais: giro temporal
superior, giro temporal medial e giro temporal inferior; sulco temporal superior
e sulco temporal inferior.
O lobo occipital é rodeado anteriormente pelo lobo parietal e lobo
temporal em ambas as superfícies lateral e medial do hemisfério. Localiza-se
posteriormente a uma linha imaginária que une a incisura pré-occipital ao
sulco parieto-occipital e repousa sobre a tenda do cerebelo. Este lobo realiza
o processamento da informação visual a partir da recepção dos estímulos que
ocorre nas áreas primárias que leva informações para serem apreciadas e
decodificadas nas áreas secundárias e de associação visual. Inclui-se dois
giros e três sulcos: giro occipital superior, giro occipital inferior, sulco occipital
transverso, sulco occipital lateral e sulco semilunar.
O lobo da insula é uma área adicional do córtex cerebral que não é
normalmente incluída nos cinco lobos clássicos do córtex cerebral é a ínsula,
que se situa sobreposta à zona em que o telencéfalo e o diencéfalo se
fundiram aquando do desenvolvimento embrionário. A ínsula pode ser visível
se se afastar o opérculo que a envolve na zona do sulco lateral, ou se se
retirar parte da zona envolvente. Suas principais funções são fazer parte do
sistema límbico e coordenar emoções, além de ser responsável pelo paladar.
Este lobo só pode ser visto quando se abre o sulco lateral e se removem as
margens dele ou quando se corta o encéflao nos planos adequados. A ínsula
é constituída por quatro giros curtos separados por sulcos rasos (parte
anterior) e por um giro longo que é divido na sua extremidade superior (parte
posterior), um sulco central que separa estas duas porções (anterior e
posterior) e ainda um sulco circular que delimita esta estrutura.
2.3 - Neuroanatomia do Sistema Nervoso Central
Como já foi falado acima, o SNC compreende o encéfalo e a medula
espinhal.
23
O encéfalo encontra-se localizado no interior do crânio, protegido por
um conjunto de três membranas, que são as meninges. A dura–máter, a
camada mais externa, é espessa, dura e fibrosa, e protege o tecido nervoso
do ponto de vista mecânico. A aracnoide, a camada intermédia, é mais fina,
sendo
responsável
pela
produção
do
líquido
cefalorraquidiano.
A pia-máter, a camada mais interna, é muito fina e é a única membrana
vascularizada, sendo responsável pela barreira sangue-cérebro.
O encéfalo é constituído por um conjunto de estruturas especializadas
que funcionam de forma integrada para assegurar unidade ao comportamento
humano e é a mais complexa estrutura biológica conhecida. o encéfalo é um
conjunto de estruturas que estão anatomicamente e fisiologicamente ligadas,
sendo elas:
•
Bulbo raquidiano - a porção inferior do tronco encefálico, juntamente
com outros órgãos como o mesencéfalo e a ponte, que estabelece
comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. É o ponto de
passagem dos nervos que ligam a medula ao cérebro. Contém grupos
de neurónios especializados no controlo de funções fisiológicas vitais,
como o ritmo cardíaco, a respiração, a pressão arterial, ou funções
motoras básicas como engolir. Esta região também influencia o sono e a
tosse.
•
Hipotálamo - é uma região do encéfalo dos mamíferos (tamanho
aproximado ao de uma amêndoa) localizado sob o tálamo, formando
uma importante área na região central do diencéfalo, tendo como função
regular determinados processos metabólicos e outras atividades
autônomas. Desempenha um papel fundamental na regulação da
temperatura do corpo, da fome, da sede, do comportamento sexual, na
circulação sanguínea e no funcionamento do sistema endócrino
(regulação hormonal).
•
Corpo caloso - é uma estrutura do cérebro localizada na fissura
longitudinal que conecta os hemisférios cerebrais direito e esquerdo.
Sua função é permitir a transferência de informações entre um
hemisfério e outro fazendo com que eles atuem harmonicamente.
24
•
Cérebro - é o principal orgão e centro do sistema nervoso composto de
duas grandes classes de células, neurônios e células das glia. É o
centro da maioria das atividades conscientes e inteligentes e é composto
pelos hemisférios cerebrais direito e esquerdo, unidos pelo corpo caloso.
O hemisfério esquerdo é responsável pela linguagem verbal, pelo
pensamento lógico e pelo cálculo. O hemisfério direito controla a
percepção das relações espaciais (distâncias entre objetos), a formação
de imagens e o pensamento lógico, entre outros.
•
Tálamo - é uma região de substância cinzenta (núcleos de neurônios)
do encéfalo. São duas massas neuronais situadas na profundidade dos
hemisférios cerebrais. É a zona onde chegam a maior parte das fibras
sensitivas e aqui as informações sensoriais são retransmitidas para as
respectivas áreas do córtex cerebral.
•
Formação reticular -É uma região evolucionária antiga, que apresenta
uma estrutura intermediária entre a substância branca e a substância
cinzenta. Ocupando a parte central do tronco encefálico, a formação
reticular se projeta cranialmente um pouco para dentro do diencéfalo, e
caudalmente à porção mais alta da medula espinhal. Assim, a formação
reticular é aparentemente uma área difusa com células e fibras que as
cruzam em diferentes direcções e que forma a parte central do tronco
cerebral. É toda a zona do tronco cerebral onde não existe nenhum
núcleo específico e é por alguns autores designada de pântano
neuronal. É uma parte do cérebro que é envolvida em ações como o
ciclo de despertar/sono e a filtragem de estímulos sensoriais para
discriminar os estímulos relevantes dos estímulos irrelevantes. Sua
principal função é ativar o córtex cerebral.
•
Cerebelo - O cerebelo é a maior massa do encéfalo que se encontra
dorsal à ponte e à medula oblonga , formado com essas estruturas a
cavidade do quarto ventrículo. Situa-se abaixo do tentório do cerebelo
na fossa posterior do crânio, separado do cérebro por um folheto da
dura-máter é uma zona dorsal e desempenha um papel importante na
manutenção do equilíbrio e na coordenação da atividade motora. Esta
região recebe ordens do cérebro sobre os músculos e “ajusta-as” para
uma melhor atuação motora.
25
A medula espinhal é a porção alongada do sistema nervoso central, é a
continuação do encéfalo, que se aloja no interior da coluna vertebral em seu
canal vertebral, ao longo do seu eixo crânio-caudal. A medula espinhal tem a
forma de um cordão arredondado e dela se originam 31 pares de nervos
espinhais. A medula pode ser dividida em 6 partes: cervical superior, dilatação
cervical, dorsal, lombar, cone terminal e filamento terminal. Os nervos
espinhais que saem pelas vértebras recebem o nome das vértebras, por
exemplo, os nervos torácicos saem entre as vértebras torácicas.
A medula espinhal não é apenas um condutor de impulsos nervosos. Os
circuitos neuronais medulares são importantes na produção dos movimentos
musculares, pois eles exercem o controle direto sobre os músculos. Ela tem a
função de conduzir impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo,
produzir impulsos e coordenar atividades musculares e reflexos.
2.4 – Funcionamento do Sistema Nervoso Central
Sendo um sistema integrativo por excelência, o sistema nervoso
funciona como um todo, com a cooperação integrada de todos os seus
elementos e o resultados desse funcionamento integrado é mais complexo do
que a simples soma de suas partes constituintes.
O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao
ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais
externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar
respostas que adaptem a essas condições.
É formado principalmente por
neurônios e células glias.
O neurônio é o principal componente do sistema nervoso. Considerada sua
unidade anatomo-fisiológica, estima-se que no cérebro humano existam
aproximadamente 15 bilhões destas células, responsável por todas as funções
do sistema e è formado por:
26
•
corpo do neurônio (soma) constituído de núcleo e pericário, que dá
suporte metabólico à toda célula;
•
axônio (fibra nervosa) prolongamento único e grande que aparece no
soma. É responsável pela condução do impulso nervoso para o próximo
neurônio, podendo ser revestido ou não por mielina (bainha axonial) ,
célula glial especializada,
•
dendritos que são prolongamentos menores em forma de ramificações
(arborizações terminais) que emergem do pericário e do final do axônio,
sendo, na maioria das vezes, responsáveis pela comunicação entre os
neurônios através das sinapses. Basicamente, cada neurônio, possui
uma região receptiva e outra efetora em relação a condução da
sinalização.
Os corpos celulares dos neurônios estão concentrados no sistema nervoso
central e também em pequenas estruturas globosas espalhadas pelo corpo, os
gânglios nervosos. Os dentritos e o axônio, genericamente chamados fibras
nervosas, estendem-se por todo o corpo, conectando os corpos celulares dos
neurônios entre si e às células sensoriais, musculares e glandulares.
O neurônio, que é uma célula extremamente estimulável; é capaz de
perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma
alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o
impulso nervoso.
As células nervosas estabelecem conexões entre si de tal maneira que
um neurônio pode transmitir a outros os estímulos recebidos do ambiente,
gerando uma reação em cadeia.
Além dos neurônios, o sistema nervoso apresenta-se constituído pelas
células glia, ou células gliais, cuja função é dar sustentação aos neurônios e
auxiliar o seu funcionamento. As células da glia constituem cerca de metade do
volume do nosso encéfalo.
Neurônios diferem de outras células em um aspecto muito importante:
eles processam informações. Eles devem desencadear informações sobre o
estado interno do organismo e seu ambiente externo, avaliar esta informação e
coordenar atividades apropriadas à situação e às necessidades correntes das
27
pessoas.
A informação é processada por um evento conhecido como impulso
nervoso. O impulso nervoso é a transmissão de um sinal codificado de um
dado estímulo ao longo da membrana do neurônio, a partir do ponto em que
ele foi estimulado.
O
estímulo
provoca,
assim,
uma
onda
de
despolarizações
e
repolarizações que se propaga ao longo da membrana plasmática do neurônio.
Essa onda de propagação é o impulso nervoso, que se propaga em um único
sentido na fibra nervosa. Dentritos sempre conduzem o impulso em direção ao
corpo celular, por isso diz que o impulso nervoso no dentrito é celulípeto. O
axônio por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, isto é,
para longe do corpo celular; por isso diz-se que o impulso nervoso no axônio é
celulífugo.
A propagação rápida dos impulsos nervosos é garantida pela presença
da bainha de mielina que recobre as fibras nervosas. A bainha de mielina é
constituída por camadas concêntricas de membranas plasmáticas de células
da glia, principalmente células de Schwann. Entre as células gliais que
envolvem o axônio existem pequenos espaços, os nódulos de Ranvier, onde a
membrana do neurônio fica exposta.
Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de se
propagar continuamente pela membrana do neurônio, pula diretamente de um
nódulo de Ranvier para o outro.
Um impulso é transmitido de uma célula a outra através das sinapses. A
sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio
de um neurônio e a superfície de outras células. Estas células podem ser tanto
outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares.
As terminações de um axônio podem estabelecer muitas sinapses
simultâneas. Na maioria das sinapses nervosas, as membranas das células
que fazem sinapses estão muito próximas, mas não se tocam. Há um pequeno
espaço entre as membranas celulares (o espaço sináptico ou fenda sináptica).
Quando os impulsos nervosos atingem as extremidades do axônio da
célula pré-sináptica, ocorre liberação, nos espaços sinápticos, de substâncias
28
químicas denominadas neurotransmissores ou mediadores químicos, que tem
a capacidade de se combinar com receptores presentes na membrana das
célula pós-sináptica, desencadeando o impulso nervoso. Esse tipo de sinapse,
por envolver a participação de mediadores químicos, é chamado sinapse
química. Em alguns tipos de neurônios, o potencial de ação se propaga
diretamente do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, sem intermediação
de neurotransmissores. As sinapses elétricas ocorrem no sistema nervoso
central, atuando na sincronização de certos movimentos rápidos.
Os cientistas já identificaram mais de dez substâncias que atuam como
neurotransmissores, como a acetilcolina, a adrenalina (ou epinefrina), a
noradrenalina (ou norepinefrina), a dopamina e a serotonina.
As diferentes partes do corpo precisam funcionar em conjunto. Para
realizar estas funções, o corpo humano depende de mecanismos de
coordenação e controle das suas funções orgânicas, e que entra em ação o
tempo todo, dependente ou independente da nossa vontade. Quase todo o
mecanismo de coordenação e controle das funções orgânicas funciona graças
ao Sistema Nervoso (SN).
Formado por bilhões de células nervosas, o nosso Sistema Nervoso
funciona como uma grande rede de comunicações, em que as mensagens têm
a forma de sinais químicos e elétricos num movimento incessante pelo corpo.
A noção de Vygotsky sobre o desenvolvimento intelectual dos seres humanos
ocorre em função da interação com o meio pode ser chamada de atividade
psicossocial e para que ela ocorra é necessário ter seus sistemas funcionando
em perfeitas condições para que esta relação com o meio seja plena em todos
os sentidos. O SN é quem comanda esta relação através da sensibilidade
responsável por receber as informações do ambiente (visual, auditiva, táctil,
olfativa, gustativa e magnoelétrica, esta última carece demais estudos físicos
quânticos), através da associação (atenção, memória, praxia, gnosia,
linguagem, reflexos, etc...) e através da motricidade que permite respondermos
ao ambiente (motricidade esquelética, cardíaca e lisa, e secreções e etc...).
29
CAPÍTULO III
NEUROCIÊNCIA E AUTISMO
3.1 – Uma breve introdução
Há mais de 70 anos cientistas de todo mundo se dedicam a estudar
aquela que é uma das mais enigmáticas desordens neurológicas: o autismo.
Embora muitos avanços tenham sido feitos na área clínica, os mecanismos
moleculares, genéticos e neurobiológicos desse distúrbio permanecem em
grande parte desconhecidos. Novos estudos, entretanto, parecem dar
esperança para se recomendar tratamentos e medicamentos mais eficazes em
um futuro próximo.
Segundo Relvas (2009), o autismo é um distúrbio do desenvolvimento
complexo e de origem orgânica (lesão encefálica) e sua causa específica é de
componente genético. Devido a sua complexidade, apresenta etiologias
múltiplas e se caracteriza por graus variados de gravidade. Caracteriza-se por
uma tríade: alteração na comunicação social, no comportamento e na
linguagem.
Os diferentes graus de possibilidades motivaram a expressão
transtornos globais do desenvolvimento (TGDs), que constituem o espectro dos
transtornos autistas.
A revista Mente e Cérebro (2010) diz que o autismo é uma doença
orgânica que afeta a mente e com grandes indícios de que seja genético,
porém sua herança não está completamente elucidada.
Rotta, Ohlweiler e Riesgo (2006), afirmam que se por um lado não se
possa discutir a importância dos fatores biológicos na causa do autismo, por
outro, não existe um marcador biológico para essa patologia tornando o
diagnóstico e o conhecimento de seus limites uma decisão clínica um tanto
arbitrária.
Os critérios utilizados para o diagnóstico do autismo estão presentes no
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da associação
30
Americana de Psiquiatria (DSM-IV) e no Código Internacional de Doenças (CID
10). Cada um desses critérios utilizados para diagnosticar autismo tem um grau
elevado de especificidade em grupos de diversas faixas etárias e entre
indivíduos com habilidades cognitivas de linguagens distintas. As divisões
estabelecidas por ambos, são uma tentativa de atender a necessidade
científica de pesquisa e os serviços que supram tais necessidades.
Continuando com as referências de Rotta, Ohlweiler e Riesgo (2006), o
principal fator proposto pelos critérios para o diagnóstico de autismo e dos
distúrbios relacionados, é o de reduzir as divergências clínicas a respeito das
delimitações desses distúrbios. Essa delimitação se prende a um nível
comportamental (tipologia) ou biológico (etiologia). As pesquisas sobre soa
aspectos biológicos são relacionadas ao estudo das possibilidades etiológicas
que constituem os fatores extrínsecos pré, peri e/ou pós-natais podendo estar
associado ou não em diferentes combinações com aspectos genéticos ou
intrínsecos.
As várias patologias associadas ao autismo, suportam a hipótese de que
as manifestações comportamentais que definem este complexo de sintomas
podem ser secundárias a uma grande variedade de insultos ao cérebro. A
heterogenicidade desse distúrbio pode ser devida a etiologias distintas ou a
uma combinação de fatores, tais como etiologia, predisposição genética e
fatores ambientais.
A idéia predominante é que deve haver uma associação genética e
ambiental que responda pelo transtorno. Alterações anatômicas no cerebelo,
hipocampo, córtex, amígdala, septo e corpos mamilares têm sido descritas em
autistas. (Revista Mente e Cérebro, 2010).
3.2 - Alterações cerebrais
Como podemos observar na figura abaixo, o cérebro do autista possui o
tronco cerebral (região imediatamente acima da medula espinhal) mais curto
que de outras pessoas; o núcleo facial é menor que o normal e junto com o
corpo trapezóide estão mais próximas do núcleo hipoglosso e a oliva inferior
além de não apresentar oliva superior. É como se uma faixa de tecido não
31
existisse. Tais mudanças poderiam ocorrer apenas no início da
gestação.
(MENTE E CÉREBRO, 2010).
Os estudos realizados nas últimas décadas no cérebro de autistas,
revelam alterações anatômicas das regiões cerebrais e sugerem a origem do
transtorno na vida pré-natal. Tais pesquisas apontam que os danos anatômicos
originados na vida perinatal podem desempenhar papel primário na etiologia do
autismo. Contudo, ainda não existe uma causa concreta sobre o autismo.
Embora existam diversos estudos com a intenção de desvendar os
fatores genéticos à doença, a etiologia do autismo continua desconhecida.
Algumas pesquisas fazem uma comparação entre o volume dos lobos
cerebrais de crianças normais e autistas onde foi percebido que o volume da
substância branca nos lobos frontal, temporal e parietal e de substância cinza
nos lobos frontal e temporal se desenvolveram em uma menor velocidade nos
pacientes autistas que tenham de 2 a 11 anos de idade. Nos autistas de idade
superior a essa não ocorre essa diferença.
Um estudo realizado por meio do PET (Positron Emission Tomography)
comparou o fluxo sanguíneo no córtex cerebral de crianças normais e autistas
onde nos autistas teve uma diminuição significativa do fluxo sanguíneo nos
centros de associação auditiva dos lobos temporais, sendo essa alteração
detectada em 76% das crianças autistas estudadas.
32
Aparentemente, nos casos de autismo, o desenvolvimento cerebral
segue um curso anormal nos primeiros anos de vida. Dado que o primeiro ano
de vida é crucial no desenvolvimento cerebral e na aprendizagem, os cientistas
especulam que este período de rápido crescimento cerebral é um fator
preponderante na emergência da sintomatologia das crianças com autismo
(Courchesne et al, 2003). Assim, este crescimento cerebral rápido e
desordenado pode fazer com que se estabeleçam conexões sinápticas de
forma não adaptativa. Consequentemente, as crianças podem perder a
capacidade de relacionar os eventos de forma que estes tenham significado.
Estudos comprovam a existência de alterações neuroanatómicas em
crianças com autismo. As estruturas cerebrais mais afetadas são: hipocampo,
amígdala, cerebelo, córtex cerebral, sistema límbico, corpo caloso, gânglios
basais e tronco cerebral.
Existem défices no hemisfério esquerdo do lobo frontal durante a
realização de tarefas que implicam o uso de funções executivas. Nas tarefas
em que são necessárias funções visuo-perceptivas a lateralização parece
normal (Rinehart et al, 2002). Inversão da assimetria típica no córtex frontal
relacionado com a linguagem (nos indivíduos autistas, é maior do lado direito).
Também foram encontradas diferenças de simetria no giro fusiforme temporal
posterior. Os cientistas sugerem que estas alterações estruturais estão
relacionadas com os défices ao nível social característicos das perturbações do
espectro autista uma vez que estas áreas do cérebro estão relacionadas com a
linguagem e processamento social (Herbert et al, 2003). Investigações recentes
apontam para uma relação entre o aumento do volume do lobo frontal e as
alterações ao nível do cerebelo (Carper & Courchesne, 2002). Estudos
sugerem que a disfunção do lobo frontal influencia a sintomatologia no autismo
(Hashimoto et al, 2002), nomeadamente a pobre integração neuronal no lobo
pré-frontal (Murphy et al, 2002). A disfunção no córtex frontal esquerdo parece
ter implicações ao nível cognitivo e comportamental (Gomot et al, 2002).
Verificou-se disfunção no lobo temporal, manifestada pela tendência de
reações exageradas e comportamentos anormais em resposta a estímulos
auditivos. (Zibovicius et al, 2000). Os estudos que investigam as alterações na
maturação do córtex auditivo nos dois hemisférios mostram que há diferenças
entre os indivíduos com autismo e os grupos de controlo (Roberts et al, 2003).
33
O sistema límbico está relacionado com a memória e aprendizagem. A
amígdala está relacionada com as emoções e comportamento social (Daener
et al, 2002) e com o processamento de estímulos tais como as emoções
sociais (Adolphs et al, 2002). Investigações demonstraram que as células da
amígdala dos indivíduos com autismo são menores e existem menos espaços
entre elas (Bauman & Kemper,2003). O cerebelo ajuda a planearmos o que vai
acontecer a seguir em termos de movimento, pensamentos e emoções. É um
modulador das funções cerebrais e atua no processamento da linguagem,
planejamento motor e sequenciação temporal (Bauman & Kemper, 2003).
Constatou-se o aumento do volume cerebelar nas pessoas com autismo
(Brambilia, et al,. 2003). Os investigadores, também sugerem que o cerebelo
influencia a atenção durante a realização de uma tarefa (Townsend et al, 2001).
Alterações electrofisiológicas sugerem défices na atenção espacial nos
indivíduos com autismo (o que reflete a influência do cerebelo na função dos
lobos frontal e temporal).
3.3 – Neurônios espelhos
Recentes descobertas sobre os neurônios-espelho, um dos achados
mais importantes das neurociências nos últimos tempos. Espalhados por partes
fundamentais do cérebro: região frontal – onde as ações são planejadas,
decididas e executadas. Pode abrigar os neurônios-espelhos que imitam a
ação de outras pessoas, possivelmente relacionados ao aprendizado; região
parietofrontal - Área que conjuga a tomada de decisão da região frontal com os
cinco sentidos humanos. Também está relacionada às emoções.
34
(http://www.katiachedid.com.br/content.php?News&ID=61)
Segundo a revista Mente e Cérebro (2010) Giacomo Rizzolatti e seus
colegas da Universidade de Parma, Itália, descobriram a função dos neurônios
espelhos nos anos 90 ao observar o funcionamento neuronal de um macaco.
Instalaram fios numa área de seu cérebro que é responsável pelo movimento.
Sempre que o macaco pegava ou movia um objeto, determinadas células
cerebrais disparavam. O monitor em que os eletrodos estavam ligados
registrava a área de localização desses neurônios e emitia um sinal. Como era
verão, um dia um aluno entrou no laboratório tomando um sorvete. Quando o
rapaz levou a casquinha à boca, o monitor começou a apitar. Foi quando os
cientistas se espantaram: o macaco permanecia imóvel. A cena voltou a se
repetir com outros alimentos, como amendoins e bananas. Portanto, a resposta
de seus neurônios-espelhos só podia vir da ação de outra pessoa. Os
cientistas perceberam que as células cerebrais disparavam quando o macaco
via ou ouvia alguém fazer algo ou, ainda, quando ele mesmo realizava uma
tarefa. Assim chegaram às primeiras conclusões sobre a capacidade dos
neurônios-espelhos.
Nos macacos, o papel dos neurônios-espelhos limita-se a prever ações
direcionadas: nos seres humanos tudo indica que essa classe de células
nervosas habilita o ser humano a enxergar a si mesmo como seu semelhante o
enxerga, e esse dom é essencial na autopercepção e na introspecção.
No final da década de 90, notou-se que esses neurônios pareciam
desempenhar exatamente as mesmas funções que, nos autistas, estariam
desintegradas. Se esse circuito neuronal estiver de fato associado à
interpretação de intenções complexas, sua ruptura explicaria a falta de
habilidade social que caracteriza pessoas que sofrem deste distúrbio.
A comprovação por exames eletroencefalográficos (EEG) de que a
emissão de impulsos elétricos pelos neurônios no córtex pré-motor suprime as
ondas um revelou-se um excelente método para estudar o sistema de
35
neurônios-espelho em autistas. Para tanto, pesquisadores como Eric
LAltschuler e Jamie Pineda da Universidade da Califórnia, monitoraram ondas
um em crianças autistas e crianças de um grupo de controle: ambos os grupos
foram instruídos para executar movimentos musculares voluntários e em
seguida assistir no vídeos aos mesmos movimentos. O EEG detectou a
supressão das ondas um quando a criança fazia um gesto voluntário, tal como
se nota em crianças sadias. Mas, quando ela observava outra pessoa
desempenhar a ação, não ocorria a supressão. Assim o sistema de comando
motor estava intacto, mas seu sistema de neurônios –espelho, deficiente .
Outros pesquisadores confirmaram tais resultados por meio de
diferentes técnicas de monitoramento da atividade neural. Na Finlândia, Riitta
Hari
descobriu
tal
deficiência
nestes
neurônios
por
meio
da
magnetoencefalgrafia, que mede campos magnéticos produzidos por correntes
eletricas no cérebro. Já Mirella Dapretto da Universidade da Califórnia em Los
Angeles, optou pela ressonância magnética funcional onde registrou redução
da atividade dos neurônios-espelho no córtex pré-frontal de autistas. A técnica
de estimulação magnética transcraniana que induz correntes elétricas no córtex
motor a produzir movimentos musculares, foi a opção adotada por Hugo
Théoret na Universidade de Montreal para estudar a atividade de tais
neurônios.
A atividade dos neurônios-espelho é reduzida no córtex pré motor de
autistas, o que talvez explique a dificuldade deles para perceber intenções
alheias. Disfunções dessas células nervosas no córtex do giro cíngulo anterior
e no córtex insular possivelmente são a causa de sintomas afins, como
ausência de empatia. Deficiências no giro angular podem redundar em
problemas de linguagem. Quem sofre do distúrbio costuma apresentar
alterações estruturais no cerebelo e no tronco encefálico.
36
(Revista Mente e Cérebro)
O resultado de tais estudos é a confirmação incontestável da tese de
que pessoas com autismo sofrem de disfunção do sistema de neurôniosespelho.
3.4 – Linguagem
A criança que tem um processo de desenvolvimento normal, adquire a
linguagem em uma forma espontânea e natural, tornando-se, desde muito
cedo, a principal interveniente no processo de comunicação. A interação entre
o bêbe a os seus pais permite o desenvolvimento de uma primeira linguagem,
com bases sócio/afetivas, que se revela extremamente eficaz no ato de
comunicação. È notório para estudiosos das primeiras relações que os bebês
vê “munidos de um dispositivo” de procura e convocação de outro ser humano.
A região cerebral responsável pela identificação de faces humanos é uma das
únicas que já estão prontas desde o nascimento. O bebê busca pelos rostos
humanos e ao encontrar se coloca em um estado de disposição inata para a
relação e
a comunicação. Como foi visto anteriormente, a interação dos
neurônios espelhos com a área de Broca e motora primária, é entendida como
base para aprendizagem. A observação de ações realizadas por outros é
37
reproduzida internamente, principalmente nos bebês, que para eles é tudo
novo, uma descoberta.
Desde muito cedo, portanto, o conteto com o outro molda a mente
humana, uma combinação não linear e em constante retoalimentação de
características inatas e daquilo que o ambiente o ferece á criança. Mas, isso
não ocorre com os bebês autistas, que na maior parte do tempo desvia do
contato visual. Quando isso não ocorre, o primeiro elo para a constituição da
linguagem está deficiente.
Nos dois primeiros anos de vida ocorre o crescimento mais acentuado
do cérebro: o peso do cérebro duplica, há aumento importante do volume da
substância branca e do graus de mielinização e um aumento menor do volume
da substância cinzenta (Paus et al., Utsunomiya et al., 1999). Além disso, há
aumento importante do volume hipocampal (Saitoh et al., 2001; Utsunomiya et
al., 1999). Até os oito anos de vida ocorre um aumento lento do volume da
substância cinzenta pré-frontal que depois se acelera entre oito e quatorze
anos (Kanemura et al., 2003). A rápida formação de sinapses inicia-se nos
primeiros meses de vida pós-natal e atinge o máximo de densidade
aproximadamente aos três meses no córtex sensorial, e entre dois e três anos
e meio no córter frontal (Huttenlocher and Dabholkar, 1997; Rakic et al., 1994).
È importante salientar que os cuidados dos pais, ambiente, etc. Influenciam e
modelam este desenvolvimento: padrão de formação sináptica, formação dos
espinhos dentríticos, alterações na densidade sináptica regional, emergência
de habilidades frontais.
A linguagem é o sistema de simbolização prototípico. O estudo da
aquisição da linguagem é um excelente paradigma para a compreensão do
desenvolvimento da cognição em seres humanos (Vygotsky, 1998). A função
da linguagem tem maior parte dos substratos neurais localizados no hemisfério
cerebral dominante. Na imensa maioria dos indivíduos (mais de 90%) este é o
hemisfério cerebral esquerdo. A expressão verbal depende da área de Broca
localizada no giro frontal inferior; no córtex das bordas posteriores do sulco
temporal superior encontra-se na área de Wernicke classicamente responsável
pela compreensão e interpretação simbólica da linguagem.
38
Estudos neurocientíficos sobre sutismo têm mostrado anormalidades
cerebrais nos autistas justamente nas regiões liagdas às funções expressivas e
interpretativas da linguagem como a pouca atividade próxima a àrea de
Wernicke e alterações na área 44 de Broca. (Mente e Cerébro, 2010).
Brodin (2005) afirma que tradicionalmente a linguagem no autismo é
descrita como “incapacidade em usar a comunicação interativa”, com
caractarísticas “ecolálicas”. Essa descrição é usada no diagnóstico e
supostamente no prognóstico do desenvolvimento linguístico da criança autista.
39
BIBLIOGRAFIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTISMO. Política nacional de atenção
à pessoa portadora da síndrome do autismo. Em C. Gauderer (Org.), Autismo e
outros atrasos do desenvolvimento: Guia prático para pais e profissionais (pp.
31-34). Rio de Janeiro: Revinter, 1997.
AMY, M.D. enfrentando o autismo . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001
BEREOHFF, Ana Maria P. Autismo uma história de conquistas, Brasília, ano 13,
nº60, out/dez, 1993.
FONSECA V.R.J.R.M. As relações interpessoais nos transtornos autísticos:
uma abordagem interdisciplinar da psicanálise e da etologia. Tese de
doutorado, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo- São Paulo,
2005.
GRANDIN, Temple. Uma menina estranha – Scariano- Companhia das letras ,
1999.
HANKO, G. Las necesidades educativas especiales em las aulas ordinarias –
profesores de apoyo. Buenos Aires: Ediciones Paidós, 1993.
HUNTTENLOCHER, P.R., DABHOLKAR, A.S, 1997. Regional differences in
synaptogenesis in human cerebral cortex. J Comp Neurol 387.
KANEMURA, H., AIHARA, M., AOKI, S., ARAKI, T., NAKAZAWA, S., 2003.
Developmente of the pre frontal lobe in infants and children:
a three-
dimensional magnetic resonance volumetric study. Brain Dev 25.
KANNER, Leo. Distúrbios autisticos do contato afetivo. Crianças Nervosas
(1943) em: www.autismo-br.com.br/home/Inicio.htm - acessado em 22/10/2009
40
LENT, Roberto. Neurociência da Mente e do Comportamento .Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2008.
ORRÚ, Silvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. Rio de Janeiro, Wak editora, 2009.
RELVAS, Marta Pires: Fundamentos Biológicos da Educação: despertando
inteligências e afetividade no processo de aprendizagem- 4º ed- Rio de
Janeiro- Wak Editora, 2009.
RELVAS, Marta Pires: Neurociência e educação: potencialidades dos gêneros
humanos na sala de aula- Rio de Janeiro – Wak Editora, 2009.
RELVAS, Marta Pires, Neurociência e Transtornos de aprendizagem: as
múltiplas eficiências para uma educação inclusiva- 3ºed – Rio de Janeiro- Wak
Editora, 2009.
Revista Mente e Cérebro Especial Doenças do Cérebro volume 2, 2010.
ROTTA, NEWRA TELLECHEA, OHLWEILER, LYGIA, RIESGO, RUDIMAR dos
Santos:
Transtornos
da
aprendizagem:
abordagem
neurobiológica
e
multidisciplinar- Porto Alegre- Artmed, 2006).
SERRA, Dayse. A inclusão de uma criança com autismo na escola regular:
desafios e processos. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado, 2004.
SUPLINO, Maryse. Currículo funcional natural: guia prático para a educação na
área do autismo e deficiência mental – Brasília: secretaria Especial dos Direitos
Humanos, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência; Maceió : ASSISTA, 2005
THEOPHILO, Natalia Côrtes velloso. A Inclusão de crianças autistas nas
escolas regulares. Rio de Janeiro: Monografia da graduação, 2009.
41
UTSUNOMI, H., TAKANO, K., OKAZAKI, M., MITSUDOMI, A., 1999.
Development of the temporal lobe in infants and children: analysis by MR-based
volumetry. AJNR Am J Neuroradiol 20.
Vygotsky, L: Pensamento e linguagem, 2ª – São Paulo, Martins Fontes, 1998.
Sites consultados
http://www.profala.com/artautismo6.htm acessado em 01/01/2011 às 23:45
http://www.autismo-br.com.br/home/D-dsm-IV.htm acessado em 01/01/2011 às 00:21
http://www.revistacefac.com.br/revista81/artigo04.pdf
acessado em 09/01/2011 às
20:54
http://umolhardiferente-to.webs.com/etiologia.htm acessado em 09/01/2011 às 22:15
http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos2005/4publica-estudos-2005-pdfs/linguagem-e-autismo1255.pdf?SQMSESSID=a38ffc79c82bcbe561e1c641326fd16c
acessado
em
15/01/2011 às 23:41
42
ANEXOS
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) publicada pela Organização
Mundial de Saúde
(WHO - World Health Organization)
CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
(CID-10) (WHO 1992)
Pelo menos 8 dos 16 itens especificados devem ser satisfeitos.
a. Lesão marcante na interação social recíproca, manifestada por pelo menos
três dos próximos cinco itens:
1. dificuldade em usar adequadamente o contato ocular, expressão facial,
gestos e postura corporal para lidar com a interação social.
2. dificuldade no desenvolvimento de relações de companheirismo.
3. raramente procura conforto ou afeição em outras pessoas em tempos de
tensão ou ansiedade, e/ou oferece conforto ou afeição a outras pessoas que
apresentem ansiedade ou infelicidade.
4. ausência de compartilhamento de satisfação com relação a ter prazer com a
felicidade de outras pessoas e/ou de procura espontânea em compartilhar suas
próprias satisfações através de envolvimento com outras pessoas.
5. falta de reciprocidade social e emocional.
b. Marcante lesão na comunicação:
1. ausência de uso social de quaisquer habilidades de linguagem existentes.
2. diminuição de ações imaginativas e de imitação social.
3. pouca sincronia e ausência de reciprocidade em diálogos.
4. pouca flexibilidade na expressão de linguagem e relativa falta de criatividade
e imaginação em processos mentais.
5. ausência de resposta emocional a ações verbais e não-verbais de outras
pessoas.
6. pouca utilização das variações na cadência ou ênfase para refletir a
modulação comunicativa.
7. ausência de gestos para enfatizar ou facilitar a compreensão na
comunicação oral.
c. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses
e atividades, manifestados por pelo menos dois dos próximos seis itens:
1. obsessão por padrões estereotipados e restritos de interesse.
2. apego específico a objetos incomuns.
3. fidelidade aparentemente compulsiva a rotinas ou rituais não funcionais
específicos.
4. hábitos motores estereotipados e repetitivos.
5. obsessão por elementos não funcionais ou objetos parciais do material de
recreação.
43
6. ansiedade com relação a mudanças em pequenos detalhes não funcionais
do ambiente.
d. Anormalidades de desenvolvimento devem ter sido notadas nos primeiros
três anos para que o diagnóstico seja feito.
44
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação
Americana de Psiquiatria (DSM-IV, 1994)
CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
A. Um total de seis (ou mais) itens de (1), (2), e (3), com pelo menos dois de
(1), e um de cada de (2) e (3).
1. Marcante lesão na interação social, manifestada por pelo menos dois dos
seguintes itens:
a. destacada diminuição no uso de comportamentos não-verbais múltiplos,
tais como contato ocular, expressão facial, postura corporal e gestos
para lidar com a interação social.
b. dificuldade em desenvolver relações de companheirismo apropriadas
para o nível de comportamento.
c. falta de procura espontânea em dividir satisfações, interesses ou
realizações com outras pessoas, por exemplo: dificuldades em mostrar,
trazer ou apontar objetos de interesse.
d. ausência de reciprocidade social ou emocional.
2. Marcante lesão na comunicação, manifestada por pelo menos um dos
seguintes itens:
a. atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem oral, sem
ocorrência de tentativas de compensação através de modos alternativos
de comunicação, tais como gestos ou mímicas.
b. em indivíduos com fala normal, destacada diminuição da habilidade de
iniciar ou manter uma conversa com outras pessoas.
c. ausência de ações variadas, espontâneas e imaginárias ou ações de
imitação social apropriadas para o nível de desenvolvimento.
3 . Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento,
interesses e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes itens:
a. obsessão por um ou mais padrões estereotipados e restritos de
interesse que seja anormal tanto em intensidade quanto em foco.
b. fidelidade aparentemente inflexível a rotinas ou rituais não funcionais
específicos.
c. hábitos motores estereotipados e repetitivos, por exemplo: agitação ou
torção das mãos ou dedos, ou movimentos corporais complexos.
d. obsessão por partes de objetos.
B . Atraso ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes áreas,
com início antes dos 3 anos de idade:
1. interação social.
2. linguagem usada na comunicação social.
45
3. ação simbólica ou imaginária.
46
PESQUISA DE CAMPO
O último quantitativo realizado em 2010 pela Rede Municipal de
Educação de Niterói constou de 49 alunos com laudo de autismo incluídos no
sistema educacional.
O trabalho realizado com os alunos especiais fica a cargo da equipe de
educação especial que tem como coordenadora a Profª Nelma Pintor. A equipe
sempre faz uma entrevista com os responsáveis pelo aluno, procuram
encaminhar para as diversas entidades parceiras e após isso é feita uma
avaliação que detectará se o aluno é ou não severamente comprometido. Se o
aluno não for severamente comprometido é encaminhado a escola junto com
as coordenadoras responsáveis pelo pólo da escola em que este será inserido
para que junto com a escola tracem um melhor caminho para a sua efetiva
inclusão. Os que são bem comprometidos são encaminhados para o projeto
EIDE, Espaço Integrado de Desenvolvimento de Estimulação, criado pela
coordenadora da Equipe de Educação Especial da Rede Municipal de Niterói,
para atender alunos com comprometimentos severos, onde se desenvolve um
trabalho de estimulação e socialização com os alunos até o momento de
encaminhá-los as escolas municipais e incluí-los em seu grupo de referência,
com o acompanhamento de um professor de apoio e também tendo
atendimento em Sala de Recursos.
A equipe de educação especial conta com uma fonoaudióloga
doutoranda em neurociência chamada Lucienne Souza que desenvolve um
trabalho de articulação da pedagogia com a neurociência e que neste ano de
2011 irá montar um plano de educação individualizado para os alunos autistas.
47
Entrevista realizada com Lucienne Souza
1) Quantos alunos com laudo são atendidos pela rede e como é realizado o
trabalho com eles?
No último quantitativo realizado em 2010 contamos 49 alunos autistas com
laudo, porém existe alguns que ainda estão em avaliação para confirmar ou
não o laudo de autismo. O trabalho com os alunos com pouca severidade é
incluí-los diretamente na escola, onde a equipe de educação especial dá todo o
suporte necessário e resolve juntamente com a escola da necessidade ou não
de um professor de apoio. Já os alunos mais comprometidos vão para o EIDE
e só saem de lá para escola com um professor de apoio eu irá juntamente com
a equipe e a escola determinar um currículo mais efetivo para esse aluno.
2) Onde entra a neurociência neste trabalho?
Na busca pelo entendimento do alunos com sua complexidade (linguagem,
motora, cognitivo, afetivo). A neurociência estuda o micro para se chegar ao
macro o que é fundamental para entender o funcionamento do SNC. Estudo
também como que os medicamentos usados pelos alunos podem afetar os
mecanismos sinápticos e as alterações na população neuronal que podem ou
não se ligar ao quadro de autismo. Sem contar nas leituras constantes sobre tal
assunto.
3) Quais os pontos positivos e negativos da proposta pedagógica da rede para
esses alunos?
Positivos – Valorização da educação especial, dos profissionais, dos alunos e
das salas de recursos. Uma equipe que está sempre aberta ao diálogo e que
oferece oportunidades de formação continuada.
4) Para você, qual o ponto mais difícil na educação especial?
48
Sinceramente é fazer com que a neurociência seja acessível para todos os
professores de educação. Muitos professores querem tudo pronto, não querem
ter trabalho para pensar, ajudar e flexibilizar o currículo dos alunos especiais.
Tento mostrar a pluralidade e fazer com que eles se tornem um professor
pesquisador, mobilizado a entender o aluno.
5) Como que é o seu trabalho enquanto única neurocientista na rede?
Bom, é fazer tudo o que já foi falado anteriormente, como avaliação dos alunos,
ajudar na criação de um currículo individual e possível de intervenções
plausíveis ao desenvolvimento dos alunos assim como a capacitação dos
professores.
49
Relato da professora de apoio Natalia Theophilo sobre sua aluna autista
Este relato descreve como ocorreram os primeiros passos no processo
de inclusão escolar da adolescente autista de 13 anos, até o momento de sua
“descoberta” em seu lar.
Cito a palavra “descoberta”, pois seu mundo era
constituído apenas de sua família, vivendo em sua casa com pouco contato
social, praticamente interagindo apenas com seus familiares, por ter dificuldade
de relacionar-se com outras pessoas.
A aluna Daiana,desde os 3 anos recebia atendimento de fonoaudiologia,
psicologia, terapia ocupacional e brinquedoteca. Aos 9 anos iniciou a atividade
escolar na parte da tarde, porém quando mudaram o seu horário para a parte
da manhã, ela não se adaptou e apresentou um comportamento agressivo.
Devido a isso, não teve continuidade no atendimento e ela permaneceu em
casa até os 13 anos quando ingressou no EIDE.
Em 2009 Daiana chegou ao EIDE com um laudo médico no qual
constava atraso global de desenvolvimento. Entrou na sala toda desajeitada,
balançando o corpo, repetindo palavras e frases simples, chamando por Daniel
(seu pai). Estava nervosa, muito agitada. Parecia ter medo, receio de tudo e de
todos, não permitindo o toque, dificuldade de interação com as pessoas e o
meio. Somente se tranqüilizando no instante em que sua mãe retornou à sala e
assim foi realizada a avaliação inicial, a fim de verificar quais seriam suas
necessidades, habilidades, potencialidades e necessidades educacionais.
Constamos que apresentava compreensão do entorno, certa autonomia e
independência, boa percepção visual e auditiva, boa memória, coordenação
motora desenvolvida. Reconhecia e escrevia seu primeiro nome e algumas
letras, utilizando a letra bastão. Manifestava seus desejos, interesse e vontades
demonstrando satisfação e insatisfação, mudança de humor, ora tranqüila, ora
(quando não conseguindo o que queria) muito agitada, com comportamento
agressivo, dificuldade no convívio social, no estabelecer contato, problema de
relacionamento, porém já obedecia a algumas ordens.
Mostrava um
vocabulário simples, dificuldade de articular alguns fonemas, ecolalia
acentuada, esteriotipias, tinha dificuldade no brincar. Demonstrava interesse e
desejo de estar na escola, talvez pela questão de sua irmã mais nova já
freqüentar a escola.
50
A partir dessa avaliação foi direcionado o trabalho que seria
desenvolvido individualmente, estabelecendo prioridades e metas respeitando
o seu momento, as suas potencialidades, mas também estabelecendo limites,
a fim de determinar quais seriam as habilidades necessárias e úteis a serem
desenvolvidas com a aluna. Partindo do seguinte princípio: estabelecer uma
relação afetiva, melhorar a comunicação e o convívio social, estimulando o
contato físico, o toque, a afetividade e a confiança entre aluna-professora. A
aluna teria 45 minutos de atendimento, duas vezes por semana, pois era o
tempo limite que ela conseguia ficar na sala. Começando com um trabalho
individualizado, depois incluindo num grupo com mais crianças até o momento
de encaminhá-la para a escola, sempre observando o seu comportamento e
mudança de atitudes. Trabalho realizado com persistência e repetição de
ações, pois houve situações difíceis, muitas crises acarretando momentos de
agressividades. E nesses momentos víamos uma mãe envergonhada, triste,
talvez com receio de mais uma vez ouvir a seguinte frase: “__Não podemos
mais ficar com sua filha.” Porém isso não ocorreu, com essa mãe que é muito
comprometida com a condição da filha, mas que não sabia lidar com a
situação.
Daiana participava das atividades com satisfação, rindo, brincando, interagindo
com a mediadora, mas repentinamente mudava de comportamento ficando
irritada,
desconcentrada,
impaciente,
teimosa,
ansiosa,
agressiva,
apresentando um vocabulário pejorativo. Quando as crises eram fortes agredia
a
si
mesma
e
às pessoas ao seu redor. Momento depois voltava ao normal criticando a si
mesma pelo fato ocorrido. A aluna apresentava muitas dificuldades na
socialização, na aceitação do NÃO e do DEPOIS, cuspia, batia e tinha alguns
rompantes de raiva quando quebrava os objetos que estivessem por perto. No
trabalho realizado com a aluna, focava-se muito a tranqüilidade, calma,
serenidade e carinho como forma de deixá-la o mais confortável possível na
realização das suas atividades que enfatizavam bastante a concentração,
memória e coordenação motora, assim como as AVD. Obtivemos respostas
positivas, pois ela começou a identificar, a aceitar, a interagir com as pessoas,
demonstrando gostar do ambiente, as crises diminuíram e assim foi sugerida a
inclusão dela na escola para conviver com alunos de sua idade.
51
No ano passado, a aluna passou a freqüentar a sala de recurso (duas
vezes por semana) da escola municipal a qual está matriculada, porém houve
problemas de adaptação ao ambiente e de comportamento fazendo com que
parasse de frequentar a escola. Situação que fez com que sua mãe a levasse
novamente para casa, pois desacreditou da possibilidade de ver a sua filha na
escola, participando juntamente com os demais alunos e a comunidade escolar.
Assim após algumas conversas com sua mãe, a menina retornou participando
das atividades somente no EIDE.
Atualmente está sendo incluída novamente no espaço escolar com
novas oportunidades.
Já neste ano com a contratação de professores de apoio NEE, o rumo
dessa história começa a mudar.
Primeiramente, a aluna e a nova professora continuam no EIDE para
melhor se conhecerem e construir uma referência. Com o passar do tempo e o
bom entrosamento entre elas, começa a se pensar na inclusão escolar, fato
este, que seria efetivo pouco tempo depois.
“O professor de apoio tem sido descrito na literatura
especializada como um educador que atua com o grupo e
constitui um recurso de auxilio para o colega professor regente,
no sentido de participar do planejamento e da avaliação das
atividades” (HANKO, 1993).
A fala de Hanko nos faz ver o que seria o papel do professor de apoio,
mas que nem sempre acontece, devido aos contratempos da própria educação,
no caso a pública, quanta complexidade do trabalho com alunos que são
severamente comprometidos.
Antes de falar na inclusão escolar é preciso deixar bem claro a diferença
entre inclusão e integração escolar. Integração escolar é a inserção do
indivíduo na escola onde se espera que ele se adapte ao ambiente já
estruturado. Já a inclusão tem um sentido mais amplo, significa o direito ao
exercício da cidadania e a inclusão escolar é apenas uma parcela deste
processo.
“A inclusão educacional trata do direito à educação, comum a
todas as pessoas e o direito de receber a educação, sempre
52
que possível, junto com as demais pessoas nas escolas
regulares”. (SERRA, 2004)
A escola em que a aluna Daiana está matriculada foi um pouco
resistente quando se iniciou o processo de inclusão da aluna. Mas já
esperávamos por isso, pois a maioria das escolas mostra certa resistência
neste quesito.
A aluna tem horário reduzido, pois por enquanto não tem possibilidades
de ficar em horário normal, porém seu horário vai aumentando gradativamente.
Tentamos ficar o máximo de tempo possível dentro de sala, seu conteúdo
curricular é aquilo que a estimula e que se possa dali tirar uma aprendizagem
efetiva, sempre usa a princípio o concreto e as atividades de sucesso são
sempre repetidas, tendo em vista que a aprendizagem se dá por repetição.
O período de concentração da aluna, assim como dos autistas em geral,
é muito pequeno e é bem difícil ela se dispor a fazer o que não quer. Por isso, é
necessário ter paciência e perseverança, para repetir as atividades quantas
vezes forem necessárias, pois aos poucos, o tempo de trabalho irá aumentar.
A aluna possui boa memória e tem interesse em aprender. Demonstra
vontade de aprender a escrever, o que está começando a fazer. Já conhece as
letras, alguns nomes e copia tudo que é escrito. Agora começamos a trabalhar
com a soletração e ela está se saindo muito bem.
Apresenta interesse em trabalhar com nomes próprios de pessoas de
sua convivência e assim aproveito para trabalhar além da escrita, a
matemática, jogos que envolvam os nomes, seu relacionamento com cada um
deles envolvendo o sentimento e por fim a utilização de diversos materiais para
essa escrita e reconhecimento. Acho importante ela estar em contato com
diversos materiais e texturas.
Gosto muito de trabalhar centro de interesse com ela, sempre procuro
perceber o que mais interessou a ela nas atividades propostas, ou alguma
novidade que ela tenha trazido e assim monto atividades em cima disso. Com
isso, sua aprendizagem se dá de forma mais prazerosa e significativa.
Vale ressaltar também a importância da sensibilidade que o professor
deve ter para que o aluno autista não se sinta ansioso e/ou frustrado em
algumas atividades, quando perceber que isso irá acontecer é necessário que
53
se interrompa a atividade proposta. E quando o aluno acertar, fizer bem feito, é
importante também o reforço positivo.
A professora de apoio encontra na professora da sala de recursos uma
companheira de trabalho. O atendimento da aluna na sala de recursos é feita
uma vez por semana e ela demonstra interesse e satisfação em estar lá.
Como se pode perceber a inclusão não é muito fácil é um processo que
demanda tempo, paciência, persistência e qualidade. É um processo no qual
não cabem fórmulas e regras prontas. È viver um dia de cada vez. A inclusão
supõe mudanças e transformações que não ocorrem somente no ambiente
escolar, mas também dentro de cada profissional que lá trabalham. Novas
estruturas na escola precisam ser construídas, como a metodologia, a maneira
de ensinar e aprender, o currículo e a avaliação. A inclusão torna visível o que é
oculto no currículo.
È de fundamental importância à formação inicial e continuada dos
professores que vão estar em contato direto com tais alunos, assim como a
criação de espaços dialógicos na escola para se poder sanar e/ou facilitar a
superação dos medos, das dúvidas, troca de experiências, idéias e da
ressignificação da prática pedagógica.
A educação inclusiva precisa levar em conta os desejos dos seus alunos
e não a rotulação destes.
Para promover a educação à pessoa com autismo, é preciso, antes de
qualquer coisa, promover a transformação na vida pessoal e profissional do
professor como forma de inovar o processo educativo junto ao aluno com
autismo, é preciso acreditar que isso é possível, saber reconhecer os limites e
potenciais de cada um.
“Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é
sobretudo formar a autonomia do sujeito histórico, competente,
uma vez que, o educando não é o objetivo de ensino, mas sim
sujeito do processo, parceiro de trabalho, trabalho este entre
individualidade e solidariedade”. (DEMO, 1996, p.16)
Para que a educação escolar aconteça é necessária uma mudança de postura
em relação à deficiência, uma quebra de paradigmas e reformulação do nosso
54
sistema de ensino, uma educação de qualidade que garanta a permanência a
todos os alunos.
Contudo, mesmo sabendo que a escola está longe de ser inclusiva de
fato, busco diariamente no trabalho com a Daiana, superando qualquer
obstáculo, o seu crescimento pessoal e a aprendizagem efetiva.
55
Relatório do responsável sobre o desenvolvimento da aluna
Segundo Adriana, antes de freqüentar o EIDE, Daiana apresentava um
comportamento bastante agressivo, não se comunicava através de conversas,
apenas gritava muito e tinha grande dificuldade de aceitar o NÃO. Também
tinha muita resistência às pessoas e cuspia muito, sem nenhum motivo.
Aos 13 anos, quando iniciou seu atendimento no EIDE, percebeu uma
grande mudança no comportamento da filha que demonstrava interesse em
estar lá.
No EIDE seu comportamento social teve grandes avanços, sendo
possível sair com a filha sem ter problemas ou frustrações.
A resistência quanto à aceitação do NÃO teve uma melhora, a
importância da conversa e da imposição de limites foi fundamental para esse
desenvolvimento.
Pontua a importância da referência que ela fez a professora Sônia Rosa
para que pudesse desconstruir seu mundo ritualizado e fazer novas
construções satisfatórias na maioria das vezes.
Ao iniciar o processo de inclusão escolar, Adriana se surpreendeu com a
adaptação da filha que sempre apresentou dificuldades com a mudança de
rotina.
Está notando que a filha tem estado mais tranqüila, maleável e
interessada na construção da leitura e escrita.
Mostra satisfação em relação ao trabalho da professora Natalia
Theophilo com sua filha, dando destaque a afetividade que sua filha apresenta
com a professora.
OBS: Noto que há bastantes dificuldades da mãe em relatar os processos de
desenvolvimento da sua filha, as respostas são praticamente a mesma para
todas as perguntas.
Mas é inegável que a responsável está satisfeita tanto com o avanço no
desenvolvimento da sua filha, como com as profissionais que estão a frente
deste trabalho.
56
Algumas fotos da aluna Daiana
Atendimento na sala de recursos
Usando a imaginação
Atividade motora
57
Cognição
Música
Na sala de aula
58
Autorização da mãe para divulgação de imagem e divulgação
59