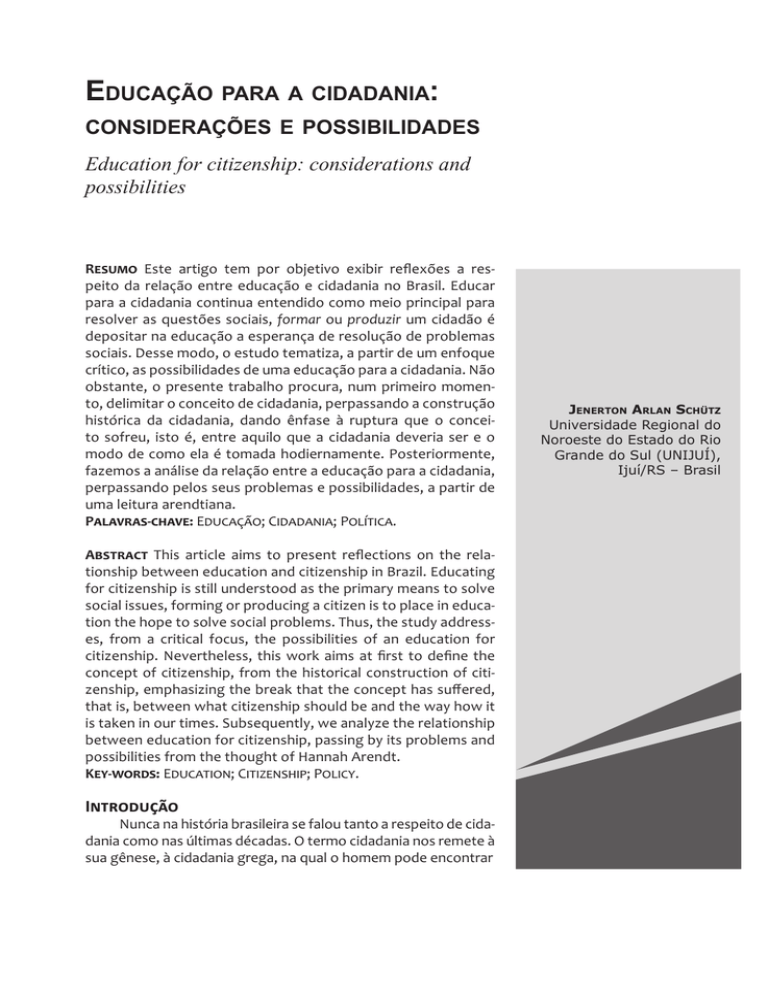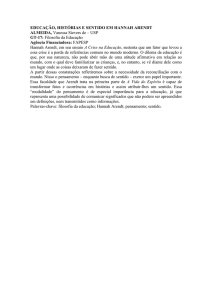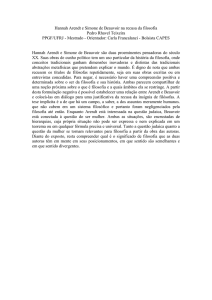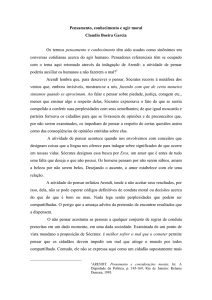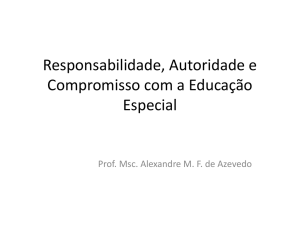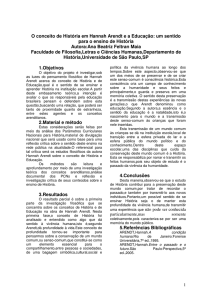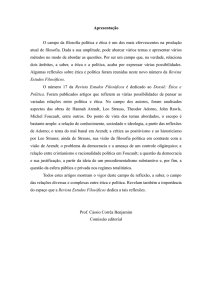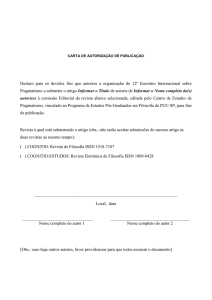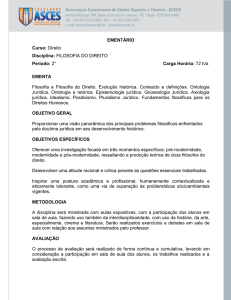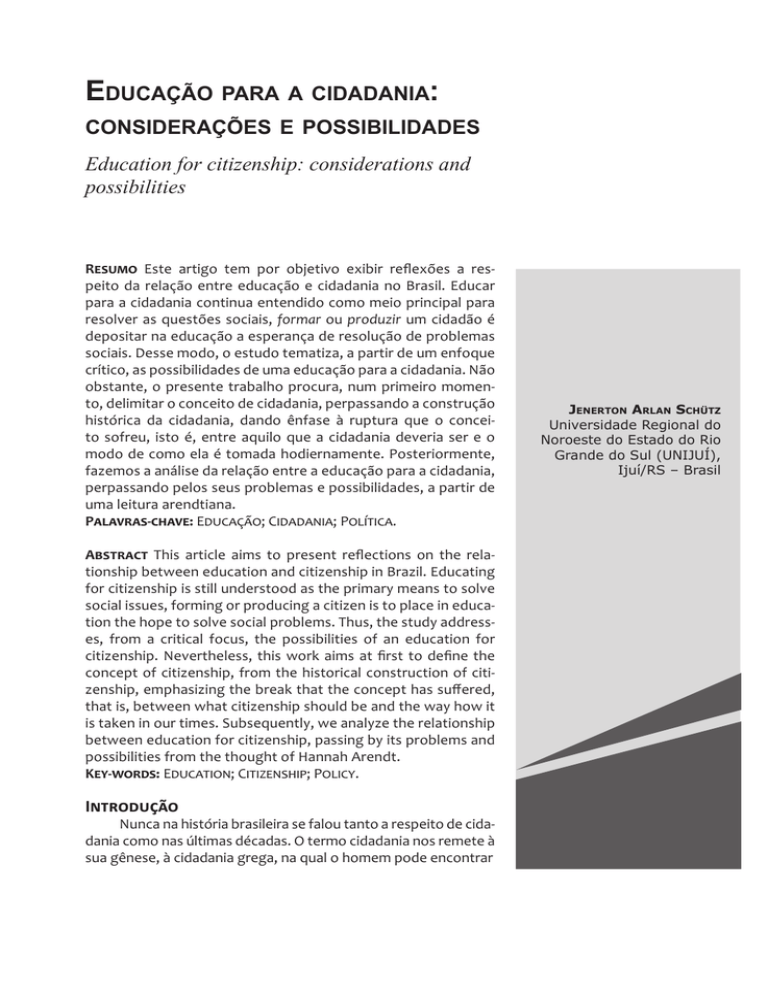
Educação para a cidadania:
considerações e possibilidades
Education for citizenship: considerations and
possibilities
Resumo Este artigo tem por objetivo exibir reflexões a respeito da relação entre educação e cidadania no Brasil. Educar
para a cidadania continua entendido como meio principal para
resolver as questões sociais, formar ou produzir um cidadão é
depositar na educação a esperança de resolução de problemas
sociais. Desse modo, o estudo tematiza, a partir de um enfoque
crítico, as possibilidades de uma educação para a cidadania. Não
obstante, o presente trabalho procura, num primeiro momento, delimitar o conceito de cidadania, perpassando a construção
histórica da cidadania, dando ênfase à ruptura que o conceito sofreu, isto é, entre aquilo que a cidadania deveria ser e o
modo de como ela é tomada hodiernamente. Posteriormente,
fazemos a análise da relação entre a educação para a cidadania,
perpassando pelos seus problemas e possibilidades, a partir de
uma leitura arendtiana.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Política.
Abstract This article aims to present reflections on the relationship between education and citizenship in Brazil. Educating
for citizenship is still understood as the primary means to solve
social issues, forming or producing a citizen is to place in education the hope to solve social problems. Thus, the study addresses, from a critical focus, the possibilities of an education for
citizenship. Nevertheless, this work aims at first to define the
concept of citizenship, from the historical construction of citizenship, emphasizing the break that the concept has suffered,
that is, between what citizenship should be and the way how it
is taken in our times. Subsequently, we analyze the relationship
between education for citizenship, passing by its problems and
possibilities from the thought of Hannah Arendt.
Key-words: Education; Citizenship; Policy.
Introdução
Nunca na história brasileira se falou tanto a respeito de cidadania como nas últimas décadas. O termo cidadania nos remete à
sua gênese, à cidadania grega, na qual o homem pode encontrar
Jenerton Arlan Schütz
Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul (UNIJUÍ),
Ijuí/RS – Brasil
a sua emancipação nas cidades-Estado,1 que
têm por objetivo a participação política dos cidadãos. Apesar de não possuir uma essência
única imanente ao conceito de cidadania, observa-se que a participação e a ação para criar
o seu próprio destino são ideias inerentes ao
conceito. Assim, como podemos pensar a cidadania no âmbito educacional?
Ademais, pensar a cidadania no âmbito
educacional remete pensar sobre as relações
sociais. A história brasileira é marcada por escravidão, elitismo, exclusão, corrupção, ditadura e, durante os anos 70 e 80 a cidadania virou foco ainda de diferentes instâncias sociais
como: partidos políticos, sindicatos, meios de
comunicação e movimentos sociais.
Não obstante, o motivo pelo seu constante uso eclodiu, principalmente, com o
processo de redemocratização da sociedade
brasileira, que perpassou todo o período da
ditadura – que a meu ver mutilou a cidadania
– e, durante esse processo, a educação (década de 70 e 80) ficou centralizada em educar
essencialmente aqueles que foram excluídos
da sociedade, isto é, uma educação para a
cidadania que precisa educar um cidadão formado e também um cidadão que foi e é excluído. “Fertilizou-se”, desse modo, a escola
como um ambiente no qual é possível construir sujeitos que estivessem “engajados” em
lutar pelos direitos dos cidadãos.
Nessa direção, falar em uma escola-cidadã ou ainda em um aluno-cidadão é referir-se
especificamente aos: excluídos, oprimidos e
desfavorecidos do âmbito político, social e
cultural. Desse modo, os educadores populares dos anos 70 e 80 mostraram-se preocu O termo “não se refere ao que hoje entendemos
por ‘cidade’, mas a um território agrícola composto
por uma ou mais planícies camponesas [...] de
modo geral podemos dizer que as cidades-estados
formavam associações de proprietários privados
de terra [...] os conflitos internos [eram intensos e
crescentes] não podiam ser resolvidos no âmbito das
relações de linhagem [...] tinham que ser resolvidos
comunitariamente, por mecanismos políticos, abertos
ao conjunto dos proprietários” (GUARINELLO,
2003, p. 32). Reside aqui, a origem mais remota da
política, como instrumento de decisões coletivas e de
resolução de conflitos.
1
88
pados em educar os excluídos da sociedade,
compreendendo aqueles a serem educados
como um cidadão em ato e, ao mesmo tempo, um excluído.
O que percebemos é a ênfase na necessidade de formarmos cidadãos e, ao mesmo
tempo, é visível a descrença das novas gerações na participação e elaboração de projetos comuns/coletivos. Essa descrença nasce,
segundo Arendt, pelo abandono e descrédito
de uma ação que esteja realmente comprometida com o nascer para a vida política, na
qual o educador assume a responsabilidade de preparar com antecedência as crianças para a renovação de um mundo comum
(ARENDT, 2013).
Para tanto, para que o propósito fosse alcançado, é fundamental, primeiramente, compreender a construção histórica da cidadania,
a fim de considerar a ruptura que o conceito
sofreu, isto é, entre aquilo que a cidadania
deveria ser e o modo de como ela é tomada
hodiernamente. Posteriormente, apresentaremos uma análise da relação direta, na perspectiva de Hannah Arendt, entre educação e
cidadania no contexto brasileiro, perpassando
pelos seus problemas e possibilidades.
A cidadania antiga: grega e romana
O termo cidadania nos remete à sua gênese, à cidadania grega. Mesmo que, não se
possa falar de um regime verdadeiramente
democrático, é fundamental fazer referência aos exercícios democráticos que eram
desenvolvidos pelos cidadãos atenienses, os
mesmos, se reuniam na praça pública – Ágora
– para decidir de modo direto acerca das normas, leis e assuntos de interesse comum.
A polis surge entre os séculos VIII e VII
a.C., para resolver conflitos existentes nas
comunidades gregas, decorrentes da crise administrativa. A dificuldade de resolver os problemas e concentrar o poder nas mãos de um
único ser configurou uma situação totalmente nova, para a qual os gregos conseguiram
uma resposta inédita para o seu tempo. Segundo Vernant (2006, p. 48), “[...] novos problemas surgem: [...] a ordem pode surgir dos
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
conflitos entre grupos rivais, do choque das
prerrogativas e das funções opostas? Como
uma vida comum pode apoiar-se em elementos discordantes?”
Desse modo, o poder da política deve
ser gerado a partir da união entre os homens.
Cada polis tinha um espaço delimitado, uma
identidade a partir de sua fronteira física e legal. Benvenuti (2010, p. 14) afirma que, “[os]
muros [da polis] forneciam o contorno de seu
território; suas leis, suas regras, seu temperamento”. Ganha desse modo uma nova forma,
não mais em torno de um palácio, mas sim,
centralizada na praça pública, organizada ao
seu entorno. Era nesse centro que os cidadãos
livres – homens que possuíam as necessidades da vida e também do lar já atendidas – se
reuniam para desempenhar a atividade política, isto é, a verdadeira cidadania. A Ágora era
o espaço destinado para o encontro mediado
somente pela palavra, discutiam sobre a cidade e o convívio dos homens. Para Arendt
(2004, p. 47), “o que distingue o convívio dos
homens na polis de todas as outras formas de
convívio humano que eram bem conhecidas
dos gregos, era a liberdade. [...] Ser-livre e
viver-numa-polis eram, num certo sentido, a
mesma coisa”. A Ágora era, portanto, o espaço destinado para os assuntos públicos.
Cabe lembrar que o espaço público e
privado estava muito bem distinguido para os
gregos, enquanto no âmbito privado cada homem livre era o senhor, todas definições eram
por ele delegadas, pois a palavra e a autoridade do patriarca estavam imbuídas pelo lugar que ele ocupava. Enquanto adentrava na
Ágora, a posição de autoridade era abandonada, nela todos se relacionavam entre iguais.
Em seu livro A Política, Aristóteles (2007, p.
22), caracteriza ambas as situações da autoridade nos dois âmbitos da vida, “A autoridade
doméstica é uma monarquia, [...] toda família
é governada por um só: a autoridade civil ou
política é aquela que governa homens livres e
iguais”. Na condição de igualdade, surgia na
Ágora o debate, os homens uniam-se em torno de alguma causa e faziam o uso da palavra
com a intenção de persuadir. Não era esse es-
paço um lugar de violência, mesmo que houvesse o conflito de ideias, o discurso baseava-se na união de opiniões.
Porém, não eram todos os indivíduos da
sociedade que tinham o privilégio de poder
influir nos debates, pois o debate da cidadania2 é privilégio de poucos. Segundo Machado
(1998, p. 1-3), “[...] apenas 6 ou 7% dos habitantes da polis eram cidadãos, [praticamente] 60% eram escravos”. Cabe ressaltar que
mulheres, crianças e estrangeiros não eram
considerados cidadãos. Portanto, apenas
uma pequena parcela da sociedade grega
estava apta a decidir por todos os demais. É
importante ressaltar que além de ter vínculo
com a sua cidade, era necessário o cidadão
grego ser homem, livre, e que participasse em
prol dos interesses da polis.
Era cidadão o indivíduo pertencente, por laços de sangue, à classe dos
cidadãos. Neste âmbito, o reconhecimento acontecia independente do
fato do indivíduo ser fruto ou não de
uma relação legítima. A transmissão
da cidadania acontecia, ainda, mesmo que o pai tivesse sido considerado traidor ou desertor, e, portanto
não mais cidadão. Neste caso, seria,
em particular, necessário que a mãe
do indivíduo não fosse estrangeira.
Em nenhuma hipótese era determinada a cidadania pelo critério jus soli.
O reconhecimento da cidadania se
dava oficialmente quando o jovem
completava dezoito anos. Este era
apresentado à Assembleia do Demo
que, em base a sua ascendência, o
reconhecia ou não como cidadão.
Caso positivo, este viria a ser inscrito no registro do Demo (DAL RI JÚNIOR, 2002, p. 28-29).
Etimologicamente, cidadania vem de cidade, e, cidade
vem de civitas, para os antigos romanos, significava
a sociedade política. Assim, cidadania é a ação que
torna “alguém” civil, habitante de uma cidade,
seguidamente, passa a fazer parte de uma civilização.
Para os antigos gregos, o conceito de cidadania
estava ligado intimamente ao de cidade.
2
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
89
Aqueles que eram considerados cidadãos, necessariamente deveriam ser livres.
Desse modo, Arendt (2004, p. 47) adverte
que “[...] o homem precisava ser livre ou se
libertar para a liberdade, e esse ser livre do
ser forçado pela necessidade da vida era o
sentido original do grego schole ou do romano otium, o ócio, como dizemos hoje”. Essa
libertação, diferente de liberdade, deveria ser
atingida por alguns meios, ou seja, o modelo
escravagista era o meio decisivo, pois, outros
eram forçados a assumir a preocupação com
a vida diária. Diferente do sistema atual, isto
é, da exploração capitalista, que visa objetivos econômicos, a exploração do trabalho
escravo na Antiguidade serviu para liberar os
senhores para poder exercer a liberdade da
coisa política.
Destarte, Aristóteles (2007, p. 20-22) afirma que, os escravos “[...] ajudam-nos com sua
força física em nossas necessidades quotidianas” e, desse modo, “[...] existe um interesse
comum e uma amizade recíproca entre o senhor e o escravo, quando é a própria natureza que os julga dignos um do outro”. Assim, o
sentido da coisa política “é os homens terem
relações entre si em liberdade, para além da
força, da coação e do domínio. Iguais com
iguais que só em caso de necessidade, ou seja,
em tempos de guerra, davam ordens e obedeciam uns aos outros” (ARENDT, 2004, p. 48).
Não obstante, a coisa política está centrada em torno da liberdade, compreendida como não ser dominado e não dominar,
sendo um espaço que deve ser realizado por
muitos e onde todos estão entre iguais. A liberação é condição essencial para a cidadania,
porém não basta para que os homens sejam
realmente livres, pois a liberdade só se configura como algo real, quando ocorre a união
entre os iguais na praça pública. Como já
apontamos, as relações desiguais só deixam
possibilidades para a dominação de uns sobre
os outros, ou seja, o oposto da liberdade. Em
Aristóteles (1999), não basta ser apenas um
homem livre; é necessário ter qualidades que
variam conforme as diversas exigências da
Constituição da cidade. Para um governante
90
ser bom ele necessita ter a virtude da prudência prática (phronesis), a partir da qual atinge
o bem comum. Desse modo, tal exigência é
difícil de ser encontrada em um homem comum, “Por isso priva da cidadania a classe
dos artesãos, comerciantes e trabalhadores
em geral” (p. 221). Pois, estes não possuem
tempo livre para participar do governo. Percebe-se a ideia expressa de Aristóteles, desprezando o trabalho manual, que “embruteceria a alma”, tornando o indivíduo incapaz
de exercer deliberações.
Ademais, a liberdade existia apenas para
a polis, sendo que a subjetividade do ser não
decorria da condição humana, mas sim pelo
fato de pertencer à coletividade. Para os gregos, a liberdade era um fenômeno, pois a
polis possibilitava a união dos cidadãos que
eram capazes de trazer e/ou gerar algo novo
e ainda imprevisto, condição proveniente da
igualdade. Segundo Arendt (2010), dois termos se destacam nos fatos experienciados na
política: o termo archein e o termo agere. O
termo archein significa a capacidade de iniciar
ou criar algo totalmente novo, e o termo agere quer dizer colocar algo em andamento. É
justamente nesse significado que a liberdade
carrega consigo que devemos considerar ser
o sentido da política.
É importante ressaltar que, no momento
que existe dominação e sujeição, isto é, uma
relação entre dominadores e dominados, isto
nada tem a ver com política, pois o que permitia a experiência de liberdade aos cidadãos
gregos era o encontro na Ágora, encontro
esse que acontecia entre iguais. O problema
hoje reside no fato de vincularmos “à igualdade o conceito de justiça e não o de liberdade
e, desse modo, compreendemos mal a expressão grega para uma constituição livre, a
isonomia, em nosso sentido de igualdade perante a lei” (ARENDT, 2004, p. 49). Porém, a
isonomia não se refere à igualdade de todos
perante a lei, nem que a lei seja igual para
todos, mas sim, “que todos têm o mesmo
direito à atividade política; e essa atividade na
polis era de preferência uma atividade da conversa mútua” (ARENDT, 2004, p. 49).
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
Por isso, a isonomia refere-se à liberdade
de dialogar. Nesse sentido, quando os gregos
diziam que os escravos e os bárbaros era aneu
logou, isto é, não tinham o domínio da palavra, significava dizer que os mesmos estavam
impossibilitados da conversa livre.
[...] Na mesma situação encontra-se
o déspota que só conhece o ordenar; para poder conversar, ele precisava de outros de categoria igual
à dele. Portanto, para a liberdade
não se precisava de uma democracia igualitária no sentido moderno,
mas sim de uma esfera limitada de
maneira estreitamente oligárquica
ou aristocrática, na qual pelo menos os poucos ou os melhores se
relacionassem entre si como iguais
entre iguais. Claro que essa igualdade não tem a mínima coisa a ver
com justiça (ARENDT, 2004, p. 49,
grifos do autor).
perante a lei. Desse modo, deixam como legado para a civilização o princípio primado da lei
e também as bases do Direito Público Moderno (democracia representativa), que inclusive
é referencial para o homem contemporâneo.
Já em Roma, cabe aos reis e não a um
regime democrático a autonomia para decidir
e também executar leis. O cidadão romano –
traduzido por pólitas para cives – era aquele
que detinha o ius civitatis, distinguindo um
romano de um não romano. Diferente da Grécia, podemos observar a privatização do espaço público3 com a nomeação, na qual funcionários diziam o Direito e também decidiam
os rumos da vida pública romana. Em Roma,
havia várias assembleias populares, entre elas
o comício centurial é o mais relevante. Deste,
participavam:
[...] todos os cidadãos, se bem que
com diferente peso político, conforme as classes de censo e de idade; cabiam-lhes a eleição dos mais
altos magistrados da cidade e a votação de leis, (embora não muito
abundante legislação de tipo privado, seja, em grande parte, obra
da assembleia da plebe (BOBBIO,
1995, p. 1.112).
Não obstante, as bases da democracia
grega segundo Glotz (1980, p. 108):
Orgulhosos de serem cidadãos livres, os atenienses talvez ainda sintam mais orgulhos de serem cidadãos iguais. A igualdade é mesmo,
para eles, a condição da liberdade; é
exatamente por serem todos irmãos
nascidos de uma mãe comum que
não podem ser nem escravos nem
senhores uns dos outros. As únicas
palavras que, na sua língua, servem
para distinguir o regime republicano
dos outros regimes são isonomia,
igualdade perante a lei, e isegoria, direito igual de falar (grifos do autor).
Portanto, a experiência da democracia
direta dos gregos, uma maneira atenuada de
oligarquia, sendo que apenas os cidadãos –
que eram uma pequena parcela da população
– podiam usufruir dos privilégios da igualdade
Dessa forma, diferente do que ocorria
em Atenas – participação direta –, em Roma
o voto era um privilégio das centúrias que
possuíam pesos diferentes nas votações. Portanto, a participação do povo romano é inferior ao do povo ateniense. Mas, na Grécia e
em Roma, “[...] a reação mental e a divisão
social [...] privaram o mundo antigo do poder
de conservar sua civilização, ou de defendê-la
“Os nobres [...] distinguiam mal as funções políticas e
dignidade privada, finanças públicas e bolsa pessoal.
A grandeza [romana] era a propriedade coletiva da
classe governante e do grupo senatorial dirigente, do
mesmo modo as cidades autônomas que formavam
o Império eram coisa dos notáveis locais. As funções
públicas eram tratadas como dignidades privadas,
cujo acesso passava por um elo de fidelidade privada”
(ARIÉS; DUBY, 1991, p. 103).
3
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
91
contra a dissolução interna e a invasão externa da barbárie” (ROSTOVTZEFF, 1967, p. 302).
Observa-se que também em Roma existia a ideia de cidadania como direito de participação, um status de homem livre, em oposição ao não cidadão – escravos e estrangeiros.
Cretella Júnior (1995, p. 101) ensina que a liberdade era o ideal máximo aspirado pela
[...] necessária revisão do conceito
de cidadania todo habitante romano e, possuindo essa, a cidadania
(civitas) era a situação ambicionada.
Somente quem possuía o status libertatis poderia adquirir o status civitatis, eis que aquele era condição
sine qua non para esse. Perdendo-se
a condição de status libertatis (por
exílio, deportação ou por tornar-se
membro de uma cidade estrangeira), perdia-se também a condição
de status civitatis.
Assim, a cidadania romana continha o
pressuposto normativo básico da condição
civil moderna, isto é, reconhecer o pertencimento do indivíduo à comunidade – pela relação de direito entre o cidadão e o Estado –,
sendo excludente no momento em que se diferenciava politicamente aos cidadãos do não
cidadão e, inclusiva no momento em que convivia com as identidades coletivas que participavam da comunidade civil, e não deviam ser
necessariamente identidades universalistas.
Portanto, cidadão significava ser romano, homem e livre, destarte, com direitos do Estado
e com deveres para com ele.
A cidadania na idade média
“Um peso colossal de estupidez esmagou o espírito humano. A pavorosa aventura da Idade Média, essa interrupção de mil anos na história da
civilização, vem menos dos bárbaros
do que do triunfo do espírito dogmático das massas” (Ernest Renan).
92
A Idade Média corresponde a um período extenso de mil anos (de 476 até 1455), a
partir da queda do Império Romano e a tomada da Constantinopla pelos turcos, temos a ascensão do Estado e principalmente da igreja.
A igreja passa a legitimar o poder do Estado,
conferindo-lhe uma causa ou origem divina.
Assim, esta assume a propriedade privada, o
casamento, o governo, o direito e a servidão.
Por causa do sistema feudal – a partir do
século XI – o Estado passa a enfraquecer-se.
Enquanto na Antiguidade, o Estado tinha função de integrar e também realizar as necessidades dos indivíduos, na Idade Média temos
uma concepção negativa de Estado, pois para
este cabe a função de intimidar e vigiar a população, a fim de que, os indivíduos agissem
de forma correta. Não obstante, a igreja cumpria o mesmo papel, ou seja, ela agia com o
objetivo de salvar a alma dos indivíduos, dessa
maneira, era com a igreja que se deveria manter relações. Grosso modo, frente às práticas
políticas que se estabeleceram, com relações
de vassalagem, talha, domínio do senhor feudal, não foi possível o indivíduo exercer sua
liberdade política que corresponde ao projeto
da cidadania. O fato de sobressair relações de
suserania e de vassalagem, muitas vezes em
razão do contrato de vassalagem, muitos senhores – proprietários rurais – tinham a condição de governantes locais.
Assim, constata-se que:
[...] com a decadência e o desaparecimento da civilização greco-romana, o mundo ocidental atravessou
vários séculos de supressão da cidadania. O ‘status civitais’ foi substituído por um complexo de relações
hierárquicas de dominação privada.
O renascimento da vida política fundada na liberdade entre iguais deu-se apenas a partir do século XI, nas
cidades-Estados da península itálica,
[...] com características muito semelhantes às da cidadania antiga: o grupo dos que tinham direitos políticos
era composto de uma minoria bur-
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
guesa, [...] sob a qual labutava toda
uma população de servos e trabalhadores manuais, destituídos de cidadania (COMPARATO, 1989, p. 24).
Percebe-se que a relação política, na Idade Média, era dada por meio da hereditariedade e também pela religião à qual pertencia
o indivíduo na sociedade. Ser proprietário de
terras significava exercer a autoridade pública
e religiosa, além de determinar o “status” e os
privilégios que possuíam por natureza. Desse
modo, eram excluídas das atividades em assuntos públicos todas as classes inferiores.
Dessa forma, Marshall (1967, p. 64) sintetiza que:
Na sociedade feudal, o ‘status’ era
a marca distintiva de classe e a medida de desigualdade. Não havia nenhum código uniforme de direitos
e deveres com os quais todos os
homens – nobres, plebeus, livres e
servos- eram investidos em virtude
da sua participação na sociedade.
Não havia, nesse sentido, nenhum
princípio sobre a igualdade dos cidadãos para contrastar com o princípio de desigualdade de classes.
Ainda nessa perspectiva, Bobbio (1986,
p. 58) aponta que a sociedade feudal é:
[...] o exemplo historicamente mais
convincente de uma sociedade constituída por vários centros de poder,
com frequência concorrentes entre
si, e por um poder central muito
débil que hesitaríamos em chamar
de estado no sentido moderno da
palavra, isto é, no sentido de que
o termo ‘estado’ está referido aos
estados territoriais que nascem exatamente da dissolução da sociedade medieval. A sociedade feudal é
uma sociedade pluralista, mas não
é uma sociedade democrática: é um
conjunto de várias oligarquias.
Assim, nessa sociedade há a predominância entre a relação de domínio e desigualdade. Apenas o grupo que detinha direitos
políticos era entendido como cidadão. Fato
este, encontramos na obra A República de Platão, na qual Platão (1975, p. 113) afirma que:
Na cidade sois todos irmãos, dir-lhe-emos, prosseguindo nesta ficção;
mas o deus que vos formou misturou outro na composição daqueles
de entre vós que são capazes de comandar: por isso são os mais preciosos. Misturou prata na composição
dos auxiliares; ferro e bronze na dos
lavradores e dos outros artesãos.
O trecho anterior, presente na Grécia,
perpassa também toda a era medieval, e só
perde coerência a partir da inauguração das
ideias políticas dos séculos XVII e XVIII. Assim,
as relações presentes na Idade Média são
particulares, sedimentadas no espaço privado dos senhores feudais, deixando evidente
a supressão da cidadania que a Idade Média
encerrou. Portanto, nota-se a ausência de unidade de governo, e a presença de diferentes
tipos de poder. Porém, diante do fracionamento do poder, por sua vez, existia uma aspiração à unidade, isto é, o cristianismo torna-se uma base de aspiração à universalidade,
sendo uma espécie de farol num período sem
unidade política.
A cidadania moderna
As fundamentações do Estado moderno
são decorrentes, desde a sua constituição, da
Idade Média. Como já dito, a ausência de uma
unidade de governo, uma doutrina fundamentada na igreja,4 com o passar dos tempos
mostra-se insuficiente e necessita de alterações. Dessa forma, a igreja encontra em Santo
4
O agostinismo, baseado nas ideias de Platão,
priorizava a fé sobre a razão e o conhecimento.
Porém, no decorrer do tempo, essa teoria mostra-se
insuficiente, e a igreja deveria adaptar a sua ideologia
ao modo de como desempenhava o seu papel político.
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
93
Tomás de Aquino5 uma ideia que deriva da origem divina do poder, desse modo, todos os
reis deveriam submeter-se a um papa. Assim,
os senhores feudais perdem grande parcela
do poder político para o rei, e que só se legitima com a chancela do papa – representante
de Deus na Terra – provedor da igreja e também da nobreza.
A centralização do poder, e a instauração da sociedade moderna, requer várias
transformações econômicas e políticas que
ocorrem nos séculos XVII e XVIII. A partir da
reforma protestante, que divide a Igreja Católica, passa-se a questionar também a realidade, tendo como principal precursor Descartes. Não obstante, valoriza-se a razão em
detrimento da fé, ou seja, as questões não
são mais explicadas a partir da vontade divina
e sim pela razão. Para Bobbio (1992), o poder
do soberano é visto como resultante da vontade popular, além disso, o direito natural é
visto como um resultado ou produto da razão. Desse modo, os Direitos Humanos são todos produtos do homem e direitos históricos.
Nos séculos XV e XVI, a burguesia busca
uma maior participação política, a fim de conquistar espaços que antes eram monopolizados pela nobreza. Esse fato rompe com o estabelecido e projeta uma nova ordem. Bendix
(1996, p. 109-110) tematiza da seguinte forma:
[...] cada cidadão encontra-se em
uma relação direta com a autoridade soberana do país, em contraste
com o Estado Medieval, no qual
essa relação direta é desfrutada
apenas pelos grandes homens do
reino. Por conseguinte, um elemento essencial [...] é a codificação dos
direitos e deveres de todos os adultos que são classificados como cida5
A cristandade busca projetar-se no âmbito político, a
fim de exigir a limitação do poder, que é derivante
de Deus. A distinção entre lei divina e lei humana, ou
entre lei eterna, lei natural e lei humana, a Escolástica
com Santo Tomás de Aquino (Summa Teológica),
segundo Miranda (1977, p. 60), “[...] viria para
enfrentar o problema da lei injusta e a admitir o direito
de resistência em certas condições”.
94
dãos. A questão é o quão exclusiva
ou inclusivamente o cidadão é definido (grifos do autor).
Esse mundo burguês foi inaugurado a
partir de ideias de vários intelectuais, assim,
as ideias eram incompatíveis com as ideias
que se mantinham no mundo medieval, ou
seja, as ideias desses intelectuais contrapõem
a uma compreensão de estado natural, onde
todos nascem livres e com direitos. Entre esses intelectuais, podemos destacar Locke,
Rousseau e Hobbes, que assumem posições
de destaque no que se refere à supremacia
do indivíduo. Nesse momento, apresentamos
as ideias de Hobbes, com sua concepção da
supremacia do homem, onde ele previa que:
[...] somente a autoridade e a razão refreariam o impulso agressivo, insaciável e egoísta do homem
em seu estado natural, e, em assim
sendo, imperiosa seria a organização política de uma sociedade em
que o governo, visando à segurança e ao bem-estar do todo, não encontraria limites de poder (WOLKMER, 1989, p. 58).
Cabe ressaltar que Hobbes foi teórico
do Absolutismo, onde o soberano detinha
poderes absolutos, obrigando apenas os súditos, visto que o soberano não era parte do
contrato. Assim, é inevitável para Hobbes o
homem abdicar de suas liberdades individuais
em favor do Leviatã.
Desse modo, diante do fortalecimento da burguesia, que buscava consolidar o
poder, além de dominar as demais classes e,
construir um Estado próprio, aparece como
uma nova classe hegemônica. Nesse momento, faz-se necessário apresentar as ideias de
outro intelectual importante, John Locke
(1632-1704), que tem sua doutrina baseada no
Estado Constitucional Inglês – formado após
a Revolução de 1688. As ideias de Locke partem do estado natural e também do contra-
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
to original, isto é, o estado de natureza está
regulamentado pela razão, assim sendo, os
direitos naturais substituem-se para estabelecer a liberdade, não podendo ser objeto de
renúncia por parte do contrato original, pois,
devem permanecer no estado de sociedade.
A sociedade é essencial aos homens, o que
implica direitos e obrigações, grosso modo, o
governo só deve conciliar. O que significa que
o homem não deve ser privado dessa condição natural e ser submetido pelo poder de outro sem ter a sua própria aceitação.
Não obstante, pertencem ao homem
em seu estado natural, direitos como: a propriedade privada, o capital e os instrumentos,
que, segundo Locke, seriam extensões naturais da livre disposição que o homem possui
sobre o seu corpo e também o seu trabalho.
Assim, de acordo com Châtelet (1997, p. 59),
os proprietários “[...] reúnem-se e entram em
acordo para definir o poder público encarregado de realizar o direito natural. Este poder
é soberano, no sentido de que os que o instituíram, e na medida em que ele atue segundo
seu fim, são obrigados a obedecer-lhe e a lhe
prestar apoio”.
Assim, para Locke a sociedade deve ser
organizada de forma harmônica, não necessitando recorrer à ordem política, pois, o Estado surge somente quando os direitos naturais
não possuem mais força para vingarem. Nesse sentido, é necessário constituir um poder
que os enuncie, formalize e também garanta,
ao modo de que:
[...] o princípio-Estado é necessário
– com seu aparelho legislativo, judiciários, policial e militar –, mas é uma
forma vazia. Os cidadãos [proprietários] decidem sobre a natureza
do corpo legislativo e do governo e
sobre quais são os que, dentre eles,
merecem confiança para realizar
suas tarefas (CHÂTELET, 1997, p. 60).
Não obstante isso, Châtelet (1997, p. 60)
ressalta que, caso o Estado “[...] fosse fracassar em sua missão e contrariasse os direitos
naturais, seria um dever dos cidadãos desencadear a ‘instrução sagrada’ e formar governos decididos a fazer do Estado um poder
ao serviço das liberdades inscritas em cada
indivíduo”. Enquanto na teoria de Locke, o
indivíduo é dono/proprietário daquilo que ele
consegue conquistar com o seu esforço, ou
seja, com a sua força de trabalho. Portanto,
a riqueza de cada indivíduo é proveniente do
seu trabalho e não um resultado da expropriação de uma propriedade alheia. Não obstante, percebe-se a influência exercida por Locke
sobre os demais intelectuais do período, por
exemplo: Montesquieu formula a separação
dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), influência presente ainda na Declaração da Independência dos Estados Unidos da
América, além disso, está presente também
na Declaração de Direitos da França, perpassando até os nossos dias.
Passados setenta anos após Locke,
Rousseau (1712) retoma as ideias em sua obra
Do Contrato Social (1757). Assim, “Nenhum
homem tem autoridade natural sobre o seu
semelhante [...] a força não produz nenhum
direito” (ROUSSEAU, 1987, p. 27). Do mesmo
modo, o Estado irá assegurar aos cidadãos os
direitos que já possuem por natureza, transformando os direitos considerados naturais em direitos civis. Para Rousseau (1987), a concepção
de cidadania não pode desvincular-se da noção
de liberdade e de igualdade, pois, nenhum homem deve comprar outro pelo fato de ser rico,
ou se vender por ser pobre. Dessa maneira, o
indivíduo deve ser dono de si mesmo e também da sua própria vida e não deve ser senhor
de ninguém. Para tornar o Contrato Social legítimo, é necessário o consentimento de todos
os indivíduos. A partir do contrato, o indivíduo
abdica de sua liberdade natural para conquistar a liberdade convencional, que irá proteger
a todos – cada um abdica de sua liberdade em
favor da comunidade. É importante ressaltar
que o contrato não faz que o povo perca sua
soberania, pois o Estado não é desvinculado
do povo. Por isso, soberano, para Rousseau
(1987) é o coletivo que expressa, por meio das
leis, a sua vontade geral.
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
95
Observa-se, desse modo, que a doutrina
de Rousseau é indivisível e também inalienável, lembra-se que ela não pode ser delegada,
nem representada. Decorre assim a rejeição
da representação, ou ainda a forma de monarquia absoluta, pois, uma vez que o poder
é confiado a um monarca ou a representantes,
o poder soberano passa a ser particularizado,
e não existe mais a vontade geral, e sim vontades particulares. O povo não deve manter uma
relação de dependência com o governo instituído, uma vez que os depositários do poder
não devem ser senhores do povo, mas, seus
auxiliares, caso não cumprirem a função de serem oficiais do povo, podem ser destituídos.
Para Rousseau (1987), a democracia
deve ser direta ou participativa, funcionando
com assembleias integradas por todos os cidadãos. Assim, o cidadão é aquele que faz a
lei e obedece a ela. Desse modo, o soberano –
povo – dita a vontade geral que se expressa na
lei. É de suma importância, distinguir a vontade geral da vontade de todos, pois a soma dos
interesses privados pode não ser do interesse
comum. Portanto, o interesse comum não
é o interesse de todos. Assim, o interesse de
todos e também de cada um deve ser componente do corpo coletivo. Do mesmo modo, se
prevalece o interesse da maioria em determinada ocasião, não significa necessariamente
que se está atendendo ao interesse comum.
Com as mudanças, que ocorrem a partir
das revoluções norte-americana e francesa,
surgem as Constituições, primeiramente nesses países e posteriormente em várias nações
do mundo. Assim, nascem as cartas constitucionais, que declaravam as liberdades e os
direitos, além de se fixar os limites do poder
político. Cabe ressaltar que, com o constitucionalismo, cria-se o Estado de Direito, que
passa a caracterizar-se pela formalização e
está centrado na administração subordinada
à regra de Direito, e não necessariamente ao
povo. Nessas mudanças, a soberania popular é operada via cidadania. Segundo Andrade (1993, p. 114), “[...] tal demarcação é fundamental para o funcionamento do Estado
moderno, ao mesmo tempo em que ‘poten-
96
cializa’ a cidadania política”. Para completar,
Bonavides (1972) destaca que, a partir dessas revoluções apresentadas, consagram-se
os princípios liberais políticos e econômicos,
vencendo assim o liberalismo e não a democracia. A cidadania passa a ser vinculada ao
Estado-nação, que é seu único emissor. É
possível observar na Declaração Francesa dos
Direitos do Homem e do Cidadão (26/08/1789)
o discurso liberal de cidadania.
No Art. 1º. – Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, as distinções sociais somente podem ser fundadas no
bem comum. No Art. 2º. – O objetivo de toda
associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, esses direitos são a liberdade, a propriedade e
a resistência à opressão. Enquanto no Art. 3º.
– O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, nenhum corpo, nenhum
indivíduo pode exercer autoridade que dela
não emane expressamente.
É compreensível que a Declaração não
concebe os direitos naturais, que são inalienáveis e sagrados do homem enquanto fora do
corpo social, porém é perceptível que a Declaração destina a todos os indivíduos do corpo
social os seus direitos e também deveres. Kristeva (1994, p. 157) observa que:
[...] Assim, baseando-se numa natureza humana universal que o
Iluminismo aprendeu a conceber
e a respeitar, a Declaração desliza
da noção universal de ‘os homens’
para de ‘associações políticas’, que
devem conservar os seus direitos e
encontrar a realidade histórica da
‘associação política essencial’ que
é... a nação.
A Declaração Francesa transfere a soberania popular para a Assembleia, assim,
os direitos de cidadania de cunho nacionalista, seriam exercidos somente por nacionais
ou considerados naturalizados e não por estrangeiros que residem no país. O homem
considerado “natural” é um ser político e
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
nacional, o que, posteriormente, pode gerar
indagações, a respeito da situação de povos
apátridas, ou seja, que tiveram seus Estados
destruídos, ou ainda, de povos sem governo
algum que possa defendê-los.
Nesse sentido, Kristeva (1994, p. 159),
invocando de certo modo Hannah Arendt,
reflete:
[...] somos homens, temos direito
aos ‘direitos do homem’ quando
não somos cidadãos? Se o corpo
político nacional deve agir para todos, [...] dá-nos o significado de que
a expansão das ideias da Revolução
Francesa sobre o continente desencadeou a reivindicação dos direitos
nacionais dos povos, não o da universalidade dos homens.
cidadania e o povo, para obter consenso. São
justamente essas mediações que permitem
o Estado de se apresentar como defensor
dos interesses gerais. Ademais, é importante
referir também T. H. Marshall, que, em sua
obra, Cidadania, classe social e status, publicado em 1950, passa a analisar a sociedade e
fazer a divisão dos direitos de cidadania em
três, são eles: Direitos Civis, Direitos Políticos
e Direitos Sociais.6
Desse modo, nas palavras de Marshall
(1967, p. 76):
[...] a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos
aqueles que possuem o status são
iguais com respeito aos direitos e
obrigações pertinentes ao status.
Não há nenhum princípio universal
que determine o que estes direitos
e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma
instituição em desenvolvimento
criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à
qual a aspiração pode ser dirigida.
A insistência em seguir o caminho
assim determinado equivale a uma
insistência por medida afetiva de
igualdade, um enriquecimento da
matéria-prima do status e um aumento no número daqueles a quem
é conferido o status. A classe social,
por outro lado, é um sistema de desigualdade. E esta também, como a
cidadania, pode estar baseada num
conjunto de ideias, crenças e valo-
Ainda, conforme as palavras de Andrade
(1993, p. 59), ele afirma que:
A cidadania é a criação do direito racional formal, atendendo a exigências específicas do modo capitalista
de produção. [...] o primeiro movimento possibilitado pela cidadania,
[...] é o de converter indivíduos atomizados em sujeitos jurídicos, livre
e iguais, capazes de contratar livremente. Se pressuposto é a igualdade abstrata dos sujeitos, prescindindo de qualquer propriedade,
que não seja sua força de trabalho.
Dessa forma, a exploração, realizada através das relações capitalistas
de produção, é ocultada sob uma
dupla aparência: a da igualdade das
partes e a da livre vontade com que
as mesmas podem ou não ingressar
na relação contratual.
A formatação do conceito de cidadania
não para por aqui, em seu significado moderno, tem origem no Estado liberal-constitucional, que busca mediações como a nação, a
Para Marshall (1967), os Direitos Civis – base da
cidadania – referem-se aos direitos individuais,
como: direitos à vida, à liberdade de expressão, à
propriedade e à igualdade frente à lei. Enquanto
os Direitos Políticos consistem em participar das
questões do poder político, de modo que é possível
votar e ser votado – encontrando assim, a essência
no voto. Por sua vez, os Direitos Sociais, garantem
direitos à educação, trabalho, saúde, moradia, enfim,
baseados na ideia de justiça social.
6
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
97
res. É, portanto, compreensível que
se espere que o impacto da cidadania sobre a classe social tomasse a
forma de conflito entre princípios
opostos (grifos do autor).
Nesse sentido, buscar tentativas de
igualar os indivíduos, por intermédio da cidadania, torna-se mais importante do que a
igualdade em rendimentos. Pois, segundo
Marshall (1967), é por meio da educação que
a cidadania operou como um instrumento de
estratificação social, devendo-se ter a consciência de suas consequências.
Assim, na perspectiva de Marshall, uma
vez alcançados os direitos de cidadania, tem-se uma cidadania plena. Além de não fazer
menção à sociedade civil como construtora da
cidadania, porém, é o Estado – e não o povo –,
o titular ou o construtor da cidadania. Parece
que Marshall desconsidera que a construção
da cidadania ocorre por meio dos conflitos entre o Estado e a Sociedade Civil, sendo que a
cidadania cresce pela mediação entre os dois.
Sua visão linear de sociedade também
evidencia a relação entre a concepção de cidadania e o liberalismo, presa ainda pelos
princípios de individualismo e a livre iniciativa
– caminhando para uma versão capitalista –,
privilegiando o consenso que provém de uma
relação onde o Estado mínimo não é colocado para toda a sociedade, só ela é capaz de
mostrar a cidadania como uma concessão ampliada para aqueles que queiram – e estejam
capacitados – adquiri-la, com as migalhas que
o estado de bem-estar lhes oferece.
Educação e cidadania: uma leitura
arendtiana
As menções à educação feitas por Arendt ao longo de sua obra são raras. O sentido
da prática educativa é o objeto central de
apenas um de seus textos, o ensaio A Crise na
Educação, presente na obra Entre o Passado e
o Futuro, Arendt apresenta reflexões sobre
a crise da educação nos Estados Unidos da
América durante a década de 50, que passou
a se tornar “um problema político de primeira
98
grandeza” (ARENDT, 2013, p. 221). Porém, a
autora constata que não é um assunto apenas
local ou isolado e, não pode ser resolvido com
a ajuda de uma nova metodologia. Nesse sentido, “certamente, há aqui mais que a enigmática questão de saber por que Joãozinho não
sabe ler” (ARENDT, 2013, p. 222), para Arendt,
os problemas educacionais são reflexos de
uma crise que acomete o mundo moderno.
As reflexões provocadas por Arendt
são fruto das experiências políticas de seu
tempo. Compreender o sentido da presença
dos homens no mundo, a relação entre eles
e consigo mesmo, é, segundo Arendt (2002,
p. 39), uma “atividade interminável, por meio
da qual [nós] aprendemos a lidar com nossa
realidade, reconciliamo-nos com ela, isto é,
tentamos nos sentir em casa no mundo”. Nesse sentido, compreender é encontrar sentido
por meio da atividade do pensar.7
A tentativa de Arendt para compreender
o mal-estar educacional da década de 50 nos
Estados Unidos resultou no artigo Reflexões
sobre Little Rock,8 no qual a autora aborda o
tema da segregação racial. A Suprema Corte
Norte-americana passa a garantir o direito de
estudantes negros a frequentar as mesmas
escolas com estudantes brancos, começando o processo de segregação no ano de 1957.
Porém, em clima hostil, cartazes agressivos e
algumas agressões por parte de brancos, são
sofridas pelos negros na Little Rock Central
High School. O acontecimento foi noticiado
nos jornais do país. Arendt fica indignada com
a foto de uma estudante negra sendo protegida por um adulto branco (amigo do pai) e
ouvindo gritos e hostilidades.
O fato de ainda serem crianças, são obrigados a enfrentar questões políticas que não
foram resolvidas pelos adultos no espaço pú “O pensar, [...] não age, nem tem algum efeito direto
sobre nosso agir; [...], no entanto, é o único caminho
para atribuirmos algum sentido àquilo que se passa
no mundo, sendo nisso que consiste sua relevância”
(ALMEIDA, 2011, p. 147).
8
O artigo estava pronto, em 1957, por causa de
desentendimentos é publicado somente em 1959.
A última versão de “A Crise na Educação”, de 1961,
omite esse trecho.
7
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
blico. Assim, “Chegamos ao ponto em que se
solicita às crianças que mudem e melhorem o
mundo? E pretendemos [que] as nossas batalhas políticas [sejam] travadas nos pátios das
escolas?” (ARENDT, 2004, p. 272). As crianças
não deveriam ser expostas a situações de luta
pela efetivação da igualdade constitucional,
esta deveria ser resolvida e travada politicamente entre os adultos. A manifestação de
Arendt não é contra a criação de políticas de
integração, ela é contra a delegação feita pela
Suprema Corte Norte-americana, confiando
às crianças a solução de uma questão a ser
discutida e solucionada entre os adultos.9
O espaço de solução dos problemas e
questões sociais é a esfera pública, um espaço de liberdade. Contudo, as crianças ainda
não podem exercer sua liberdade na esfera
pública, sendo livres apenas pelo nascimento,
necessitando da proteção do âmbito privado,
para que não sejam expostas aos problemas
do domínio público. Assim, são crianças e em
fase de crescimento, precisam do resguardo,
pois não estão prontas para fazer parte do
âmbito público, onde tudo está sujeito a se
tornar visível.
Ademais, a integração racial é responsabilidade do âmbito político e não pode ser
atribuída a outro âmbito. A tentativa de estabelecer alguma realidade de mundo a partir
da educação, seja ela qual for, pode apontar
para um problema, isto é:
realmente separadas de seus pais e
criadas em instituições do Estado,
ou doutrinadas na escola [...]. É o
que acontece nas tiranias (ARENDT,
2004, p. 265).
Para Arendt, a tentativa de estabelecer
mudanças políticas por meio da educação
pode ter consequências nefastas. Tornar o
âmbito educacional um meio para fins do âmbito político só pode significar instrumentalizar a educação como se os seus resultados
pudessem ser totalmente previsíveis. A respeito disso a autora escreve:
O papel desempenhado pela educação em todas as utopias políticas,
a partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece natural iniciar
um novo mundo com aqueles que
são por nascimento e por natureza novos. No que toca à política,
isso implica obviamente um grave
equívoco: ao invés de juntar-se aos
seus iguais, assumindo o esforço de
persuasão e correndo o risco do fracasso, há a intervenção ditatorial,
baseada na absoluta superioridade
do adulto, e a tentativa de produzir
o novo como um fait accompli, isto
é, como se o novo já existisse. [...] a
crença de que se deve começar das
crianças se se quer produzir novas
condições permaneceu sendo principalmente o monopólio dos movimentos revolucionários de feitio tirânico que, ao chegarem ao poder,
subtraem as crianças a seus pais10 e
simplesmente as doutrinam. A educação não pode desempenhar papel
nenhum na política, pois na política
lidamos com aqueles que já estão
A ideia de que se pode mudar o
mundo educando as crianças no espírito do futuro, tem sido uma das
marcas registradas das utopias políticas desde a Antiguidade. O problema [...] tem sido sempre o mesmo:
só pode dar certo se as crianças são
“A política baseia-se no fato da pluralidade humana.
Deus criou o homem, mas os homens são um produto
humano e terreno, o produto da natureza humana. [...]
O que é política? [...] para a totalidade do pensamento
científico, existe somente o homem – na biologia,
ou na psicologia, do mesmo modo que na filosofia
e na teologia, e justamente do mesmo modo na
zoologia existe apenas o leão. Só os leões se poderiam
preocupar com os leões” (ARENDT, 2007, p. 83).
9
A crítica dirigia-se principalmente à proposta de
educação soviética. Porém, atualmente as crianças
estão sendo tiradas dos pais, pela dinâmica
competitiva do mercado de trabalho, colocam
seus filhos em turno integral em escolas desde os
primeiros meses de vida da criança. Caberia aqui a
mesma crítica?
10
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
99
educados (ARENDT 2013, p. 225, grifos do autor).
cesso educativo, seja em relação ao
mundo (ALMEIDA, 2011, p. 38).
A passagem citada é paradigmática para
compreendermos a distinção entre educação
e política. Para Arendt, a política é o campo
onde os homens estão entre iguais, com diferentes opiniões e ausência de hierarquias,
tomam decisões coletivas diante dos problemas públicos. É a esfera da liberdade11 pública,
isto é, da isonomia,12 onde, em princípio, todos
possuem direitos iguais à atividade política,
além de partilharem as mesmas responsabilidades pelo mundo comum, preservando-o ou
fazendo as mudanças necessárias.
Os conceitos arendtianos de privado e
público remontam à polis, onde essas duas esferas estavam claramente separadas. Na Antiguidade, anteceder a esfera privada em relação
à esfera pública ocorria na medida em que a primeira precisava estar garantida para que a segunda pudesse surgir e se manter. Portanto, se
a esfera pública é o espaço da política, ela precisa da esfera privada, que é designada por Arendt como pré-política, para continuar existindo.
O exercício da liberdade no espaço público era,
portanto, considerável na medida em que o necessário era confinado à esfera privada.
Assim, enquanto no âmbito público estamos entre iguais:
Desse modo, Arendt (2013, p. 225) afirma que “a palavra educação soa mal em política” e educar na política só pode significar a
pretensão de se “agir como guardião na tentativa de impedir a atividade política”. A educação, embora tenha um compromisso com o
mundo, e ainda que busque a possibilidade de
uma futura participação nos assuntos públicos, “não é o espaço da própria ação política”
(ALMEIDA, 2011, p. 93).
Assim, a educação14 deve apresentar
aos alunos como o mundo é, e não como ele
deveria ser,15 o que supõe que os educadores
saibam como ele é, não do ponto de vista individual, mas ao mundo comum, do qual são
representantes. Arendt (2013, p. 245-246), já
nos alertava em 1950 para o impasse na educação, o fato de, por sua natureza, “não poder [...] abrir mão nem da autoridade, nem
da tradição, e ser obrigada, [...] a caminhar
num mundo que não é estruturado nem pela
autoridade nem tampouco mantido coeso
pela tradição”. Num mundo que se encontra
extremamente instável, onde cada um quer
antes de tudo sobreviver, pois ninguém garante que ele possa ser substituído por outro
a qualquer momento, qualquer responsabilidade que não esteja ligada ao bem-estar individual é uma exigência inaceitável. Podemos
considerar ainda as poucas possibilidades de
A relação pedagógica se caracteriza
por desigualdade entre os alunos e
professores – baseada não somente nos conhecimentos desiguais,
mas também, na responsabilidade
desigual,13 seja frente ao próprio pro A liberdade é “como um dom supremo que somente
o homem, dentre todas as criaturas terrenas, parece
ter recebido, e cujos sinais e vestígios podemos
encontrar em quase todas as suas atividades, mas
que, não obstante, só se desenvolve com plenitude
onde a ação tiver criado seu próprio espaço concreto
onde possa, por assim dizer, sair do seu esconderijo e
fazer sua aparição” (ARENDT, 2013, p. 218).
12
Ver Arendt (2006, p. 48-49).
13
Os jovens não assumem na escola a responsabilidade
pelo mundo, ou seja, não exercem o seu papel de
cidadãos na escola. A escola transmite conhecimentos
e cultiva princípios que vão favorecer a futura
participação dos alunos na esfera pública.
11
100
Em “A crise na educação”, Arendt explica que a
esfera educacional não é parte nem da vida privada,
nem da vida pública, mas constitui uma espécie de
esfera intermediária. A escola é “a instituição que
interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo
com o fito de fazer com que seja possível a transição,
de alguma forma, da família para o mundo” (ARENDT,
2013, p. 238).
15
“[...] a função da escola é ensinar às
14
crianças o mundo como ele é, e não instruílas na arte de viver. Dado que o mundo é
velho, sempre mais que elas mesmas, a
aprendizagem volta-se inevitavelmente
para o passado, não importa o quanto
a vida seja transcorrida no presente”
(ARENDT, 2013, p. 246).
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
participação política e as raras oportunidades
de se tornar visível em espaços comuns, a fim
de, “buscar a felicidade”, para que, de fato, a
ação do cidadão possa fazer diferença.
No livro Sobre a revolução, Arendt (2011,
p. 173) chama a atenção para o interesse dos
franceses e também estadunidenses, em
que ambos sabiam que “não poderiam ser
totalmente ‘felizes’ se sua felicidade se situasse [...] apenas na vida privada”. Concordavam ainda que a esfera pública consistia em
participação em todas as atividades ligadas
às questões, que lhes proporcionava “[...]
um sentimento de felicidade que não iriam
encontrar em nenhum outro lugar” e ainda, “iam às assembleias de suas cidades [...]
acima de tudo porque gostavam de discutir,
de deliberar e de tomar decisões” (ARENDT,
2011, p. 163). Na medida em que essa busca
pela felicidade não teve seu caráter público
claramente definido, passa a funcionar desde
o início como uma forma de confusão entre a
felicidade pública e bem-estar privado, entre
direitos privados e felicidade pública, e ainda
entre a busca pelo bem-estar e ser participante nos assuntos públicos.
Não obstante, a busca pela felicidade
logo se desfez e se passou a transferir “a liberdade pública para a liberdade civil, a participação nos assuntos públicos em favor da
felicidade pública para a garantia de que a
busca pela felicidade privada seria protegida
e incentivada pelo poder público” (ARENDT,
2011, p. 181). Assim, aparece no cenário pedagógico brasileiro a expressão “cidadania”,
uma “expressão xamânica de apelo encantatório” (BRAYNER, 2008, p. 35), como se
essa palavra pudesse agora resolver todas as
nossas apostas sociais e políticas, que não tiveram ênfase durante algumas décadas. Para
Arendt, a ideia de uma educação para a cidadania pode ter consequências drásticas, por
exemplo, o doutrinamento político-ideológico das crianças e ainda a intervenção arbitrária da sociedade.
Ademais, na realidade brasileira, Flávio
Brayner (2008) chama a atenção para o fato
de que tal ideia desempenhou um importan-
te papel nas doutrinas político-pedagógicas
de esquerda. Desse modo, educar para essas
correntes adquiria geralmente:
O sentido de uma formação da
consciência (e não é por acaso que
a expressão freireana conscientização tenha obtido tanto sucesso
entre nós e, muitas vezes, erroneamente entendida como politização), visando o objetivo último de
transformação das relações sociais
(BRAYNER, 2008, p. 36).
Sendo assim, a “consciência histórica e,
ambas, com consciência utópica” (BRAYNER,
2008, p. 36), Arendt considera arriscada toda
ação educativa que propõe a formar para a
consciência ou ainda para a emancipação.
Tais noções carregam um denso conteúdo
ético-político-ideológico, e o que acaba ocorrendo frequentemente é a transformação da
educação em instrumento de alguns grupos
ou movimentos. O problema na relação entre a educação e cidadania,16 observado por
Brayner (2008, p. 44), é “quando a educação
se transforma em mero epifenômeno da luta
de classes e da política em geral”. Arendt diria
que não podemos determinar as ações dos
jovens por meio da educação, nem buscar fornecer diretrizes para a futura ação política.
Não podemos atribuir à educação uma
função “demiúrgica”, como comenta Brayner
(2008, p. 50) a partir de Arendt:
A escola não produz o cidadão. A
escola não ‘produz’ nada! O ‘produto’ final da escola não é algo que podemos identificar como dotado de
características que, desde o início,
seguiria um plano de execução ou
de manufaturação e que chegaria
A cidadania aparece aqui como um dos principais
direitos que deve ser propiciado à comunidade a
partir da política, seus problemas não podem ser
resolvidos em sala de aula, espaço onde a relação
ocorre de forma vertical e também hierárquica entre
professor-aluno.
16
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
101
a uma terminalidade chamada, por
exemplo ‘cidadão’.17
Para Arendt (2013, p. 242), a educação deve possuir uma dimensão
conservadora,18
[...] em política, a atitude conservadora – que aceita o mundo [...]
como ele é, procurando somente
preservar o status quo – só pode
levar à destruição. E isto porque
o mundo está irrevogavelmente
condenado à ação destrutiva do
tempo, a menos que os humanos
estejam determinados a intervir, a
alterar, a criar o novo.
Nesse sentido, nossa esperança “reside
[...] na novidade que cada nova geração traz
consigo” (ARENDT, 2013, p. 243) e, uma educação que pretende fabricar comportamentos políticos, estaria justamente aniquilando
esse potencial.
Mesmo no caso em que se pretendem educar as crianças para virem
a ser cidadãos de um amanhã utópico, o que efetivamente se passa é
que se lhes está a negar o seu papel
futuro no corpo político, pois que,
do ponto de vista dos novos, por
mais novidades que o mundo adulto
lhes possa propor, elas serão sempre mais velhas que eles próprios.
Preparar uma nova geração para
“Cidadão é, verdadeiramente, o que participa na
vida política, através de funções deliberativas ou
judiciais. [...] os cidadãos livres e iguais [...] deveriam
constituir o grupo predominante na vida política”
(ARISTÓTELES, 2001, p. 19-20).
18
“A fim de evitar mal entendidos: parece-me que o
conservadorismo, no sentido de conservação, faz
parte da essência da atividade educacional, cuja
tarefa é sempre abrigar e proteger alguma coisa – a
criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o
novo contra o velho, o velho contra o novo. Mesmo a
responsabilidade ampla pelo mundo que é aí assumido
implica, é claro em uma atitude conservadora”
(ARENDT, 2013, p. 242).
17
102
um mundo novo, só pode significar
que se deseja recusar àqueles que
chegam de novo a sua própria possibilidade de inovar (ARENDT, 2013,
p. 225-226).
Não obstante, a educação deve oferecer competências, pré-requisitos e os alicerces necessários à “visibilidade dos indivíduos no espaço público comum”, referentes
“à participação nos debates que decidem
suas vidas” (BRAYNER, 2008, p. 23-24). No
mesmo sentido, a escola republicana poderia contribuir para que os indivíduos consigam constituir sua opinião singular frente
ao mundo, fornecendo competências mínimas para que os jovens possam futuramente interessar-se e participar das decisões
públicas. Seria uma escola onde o falar, o
pensar e o julgar permitiriam, a cada indivíduo, aparecer no espaço público com palavras e responsabilidade de ação.
Tais competências se situariam, em
primeiro lugar, numa relação com
o mundo da cultura, que permitiria
entender as diferentes sensibilidades, concepções, entendimentos
que ao longo das gerações constituíram um mundo comum. Em
segundo lugar, uma competência que franqueie o acesso a uma
intersubjetividade
responsável
entre interlocutores dispostos a
participar do debate público. Em
terceiro lugar, uma competência
que permita a compreensão e a inserção qualificada num mundo de
vertiginosos avanços e mudanças
tecnológicas. E, por último, uma
competência capaz de interrogar
os próprios fundamentos de nossas certezas sociais (BRAYNER,
2008, p. 110-111).
Na compreensão diacrônica entre a relação educação e cidadania, Brayner (2008,
p.118-119) afirma que:
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
[...] embora a [cidadania] não dependa exclusivamente da [educação] e nenhuma garantia possa ser
fornecida neste sentido (já que o
‘cidadão’ não preexiste à sua aparição na Cidade), o cidadão seria
algo que viria depois, ulterior a um
tempo de entrada no mundo (natalidade) e para o que a educação
poderia auxiliar. Portanto, o alerta de Arendt, de que a
educação nunca deve cercear a espontaneidade – seja na instrumentalização político-ideológico ou ainda na submissão às exigências
do mercado – permanece atualíssimo.
Considerações finais
Após o estudo efetuado, baseando-se
em vários autores, é possível apresentar algumas ideias sobre a relação entre educação
e cidadania, primeiramente, cidadania está
vinculada à prática e também à teoria política
grega, na qual apenas cidadãos – minoria –
discutiam as questões políticas da cidade, deliberando de forma direta. Em Roma, os reis
tinham enorme influência para decidir e também executar leis, mas delegavam esse poder
a uma Assembleia, que era formada por cidadãos em idade militar. Já na percepção medieval, dissolve-se a ideia de Estado, não há mais
uma relação direta entre o poder influenciador dos reis e entre os súditos, poderíamos
dizer que a cidadania, nesse período, inexiste,
pois quase toda a população era formada por
servos, predominando assim uma situação de
dominação e desigualdade.
A partir da Revolução Francesa, surgem
as Cartas Constitucionais e também as Declarações de direitos. Assim, as leis traduzem a
vontade geral. Por um lado, temos um homem com direitos individuais, e por outro, um
cidadão que possui direitos políticos. Marshal
define o conceito de cidadania em três elementos que a constituem: Direitos Civis, Direitos Políticos e Direitos Sociais. Sabe-se que
no Brasil a construção da cidadania sempre
partiu de “cima para baixo”, prevalecendo
os ideais da elite brasileira. E nesse contexto,
aparecem hoje várias apostas em educar um
cidadão, ou educar para a cidadania.
Entendemos que a relação entre educação e cidadania – ou a promessa de educar
para a cidadania –, que segue o modelo de
fabricação (político-ideológico), contraria a
condição humana, pois, de certo modo, busca
controlar um dos lados dessa relação, privando-o da liberdade de ação, arrancando-lhe a
possibilidade do novo. Porém, para que essa
relação seja harmoniosa, é necessário que
não ocorra o apagamento das identidades
que permitem essa relação, e que nós (adultos) resolvemos os problemas desse mundo,
pois é esse o mundo que deixaremos para as
próximas gerações, por isso, somos nós que
devemos cuidá-lo e não apostar “nossas fichas” na formação de cidadãos que por si só é
um projeto acabado. Poderíamos dizer ainda
que devemos apostar em elementos que possibilitam a cada um, por meio da palavra e da
ação, a visibilidade (quando adultos) no espaço comum (público), pois, tornar-se alguém
só ocorre no aparecimento dos homens no
espaço público.
Entendemos que é de nossa responsabilidade (Estado, educadores, pais, instituições escolares...), nos diferentes lugares e
escolhas, responsabilidade “[...] para com
os princípios republicanos e democráticos
da igualdade, da liberdade, da pluralidade”
(GARCIA, 2009, p. 199), oferecer às novas gerações “[...] as condições materiais e espirituais para que possam, quando adultas, assumir
e desenvolver seus pendores e talentos particulares, bem como suas responsabilidades e
iniciativas cidadãs (IBID.)”. Por fim, entendemos que a cidadania, ou o exercício da cidadania, por sua vez, só se consolida quando os
cidadãos aparecem no espaço público, entre
iguais, e nele interferem, por meio da palavra
e ação. Desse modo, compreendemos que
a promessa de transformação social, conscientização, emancipação e educar para a
cidadania, seguindo o modelo de fabricação
(político-ideológico), contraria a promessa
de felicidade (da condição humana), uma vez
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
103
que busca “controlar” e “transformar” um
dos lados dessa importante relação, privando
a liberdade de agir, impossibilitando o novo.
Significa assim, pensar a respeito das
possibilidades, mas também, sobre as limitações da cidadania, exatamente para não
torná-la apenas um dogma, afinal, a relação
sempre guarda um grau indeterminado, o que
exatamente distingue o processo educacional
de uma simples domesticação. As crianças necessitam da educação, por esse fato, ainda
não são adultos e não fazem a política, pois
na política lidamos com aqueles que já foram
educados.19 Nessa perspectiva, por acreditar
no potencial elucidativo desta abordagem,
reconhecendo, muitas vezes, a incomensurabilidade com os conceitos dos autores estudados, na educação (pré-política) não se faz
política, mas é nela que se manifesta a aspiração e se faz a “contribuição” para a vida
política, uma vez que somente os já educados
fazem política. No campo político, todos são
iguais perante a lei, todos podem defender
seus pontos de vista, o que não acontece na
educação, pois é na educação que existe a autoridade do professor que conduz e passa a
orientar aqueles que ainda não têm condições
de fazer uso público da ação/razão.
A dimensão política da educação fica
comprometida quando entra em vigor um
governo totalitário ou tirânico. Como vimos, a
separação entre a educação e a política deve
permanecer para que seja admissível a abertura para a possibilidade da ação futura dos
jovens, imprevisível e também livre, no momento em que estes finalizam o seu processo
de formação. Assim, uma educação que é direcionada para uma realidade que se preten “[...] a linha traçada entre crianças e adultos deveria
significar que não se pode nem educar adultos nem
tratar crianças como se elas fossem maduras [...]. É
impossível determinar mediante uma regra geral onde
a linha limítrofe entre a infância e a condição adulta
recai, em cada caso. Ela muda frequentemente, com
respeito à idade, de país para país, de uma civilização
para outra e também de indivíduo para indivíduo. A
educação, contudo, ao contrário da aprendizagem,
precisa ter um final previsível. Em nossa civilização
esse final coincide provavelmente com o diploma
colegial [...]” (ARENDT, 2013, p. 246).
19
104
de ou se determina alcançar, como se fosse
uma atividade de fabricação, ela perde sua
condição de assunto político.
O fato de Arendt propor a separação entre os dois âmbitos, evidentemente, justifica-se para evitar que as crianças se envolvam
com/em questões que ainda não lhes dizem
respeito, além de querer evitar também
qualquer possibilidade de doutrinação e eliminação da possibilidade de pensar e, logicamente, no futuro, de agir. Desse modo, se
do ponto de vista do adulto (já educado), a
educação antecede necessariamente sua participação política, do ponto de vista da educação, a política também passa a anteceder a
educação de forma necessária. Logo, educar
para a cidadania pode ter consequências drásticas, por exemplo, fazer da escola o palco
político para a resolução dos problemas que
nós adultos não fomos capazes de resolver.
Sendo ainda, uma forma de lhes negar o futuro papel no corpo político, pois, querer preparar uma geração – alunos –, para um amanhã
utópico, é recusar a própria possibilidade de
inovação que está contida em cada aluno, em
cada geração.
Por fim, os cidadãos se constituem
quando aparecem no espaço público (política) – espaço de visibilidade e constituídos entre iguais –, e nele interferem, por meio da palavra e também de sua ação, buscando tratar
de assuntos de interesse comum, o que não
acontece na educação (pré-política) – espaço
de autoridade do professor que é representante do mundo e de relações desiguais em
relação ao conhecimento e à responsabilidade assumida – onde necessitam ser educados
por não serem adultos e não assumirem sua
condição de cidadão.
Nessa direção, podemos concluir que o
projeto de “formar cidadãos” não nos parece
adequado, pois apostar que isso possa ser garantido nos limites de um processo educativo
pode ser excessivo e mesmo não desejável. Nas
conclusões de Arendt, esta seria uma dimensão do agir político, transportar isso para a esfera educacional é “arrancar”, de certo modo,
a oportunidade do novo em cada aluno, uma
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
vez que já se delineou um modelo de cidadão/
sociedade que se quer. É lícito prometer algo
que não se pode garantir por antecipação? Es-
taria, segundo Brayner (2008), parafraseando
Laurence Cornu, transferindo para as crianças
a realização das utopias dos adultos.
Referências
ALMEIDA, Vanessa Sievers de. Educação em Hannah Arendt: entre o mundo deserto e o amor
ao mundo, São Paulo: Cortez, 2011.
ANDRADE, Vera Regina Pereira. Cidadania: do Direito aos direitos humanos, São Paulo: Acadêmica, 1993.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Revisão e apresentação
de Adriano Correia, 11. ed. rev., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
______. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa, 7. ed., São Paulo:
Perspectiva, 2013.
______. A dignidade da política: ensaios e conferências, 3. ed., Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
2002.
______. Responsabilidade e julgamento, São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
______. A Promessa da Política. Tradução de Miguel Serras Pereira, Lisboa: Relógio D’ Água
Editores, 2007.
______. O Que é Política? Trad. Reinaldo Guarany, 6. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
______. Sobre a revolução. Tradução de Denise Bottmann, São Paulo: Companhia das Letras,
2011.
ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada, São Paulo: Cia. Das Letras, 1991.
ARISTÓTELES. A Política, São Paulo: Ícone Editora, 2007.
______. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens, 5. ed., São Paulo: Editora Martin Claret
Ltda., 2001.
______. Política. In: Os Pensadores. Aristóteles – Vida e Obra, São Paulo: Nova Cultura, 1999.
BENDIX, Reinhard. Construção nacional e cidadania; estudos de nossa ordem social em mudança, São Paulo: EDUSP, 1996.
BENVENUTI, E. Educação e política em Hannah Arendt: um sentido político para a separação,
2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
BOBBIO, N.; et al. Dicionário de Política, 8. ed., Brasília: UNB, v. 2, 1995.
______. O futuro da democracia: Uma defesa das regras do jogo, Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1986.
______. A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992.
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1972.
BRAYNER, F. Educação e republicanismo: experimentos arendtianos para uma educação melhor, Brasília: Liber Livro Editora, 2008.
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
105
CHÂTELET, François et al. História das Ideias Políticas, Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro, Rio
de Janeiro: Forense, 1995.
COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia, São Paulo: Brasiliense, 1989.
GARCIA, Claudio Boeira. Considerações sobre a república, democracia e educação. Revista Contexto e Educação, Ijuí, v. 24, n. 82, p. 189-204, 2009.
GLOTZ, G. A Cidade Grega, São Paulo: Difel, 1980.
GUARINELLO, N. Cidades-estado na antiguidade clássica. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. (Orgs.). História da cidadania, São Paulo: Contexto, 2003.
KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos, São Paulo: Rocco, 1994.
MACHADO, José Nelson. O Brasileiro como Cidadão. In: Folha de São Paulo. São Paulo, 30 nov.,
1998, p. 1-3.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status, Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 6. ed., Portugal: Coimbra, v. 1, 1997.
PLATÃO. A República – Diálogos I. Portugal: [s.n], 1975.
ROSTOVTZEFF, M. História de Roma, Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social, São Paulo: Nova Cultura, 1987.
VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego, 16. ed., Rio de Janeiro: Difel, 2006.
WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e Direito, São Paulo: RT, 1989.
Submetido em: 25-2-2016
Aceito em: 3-11-2016
106
Impulso, Piracicaba • 26(66), 87-106, maio-ago. 2016 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767