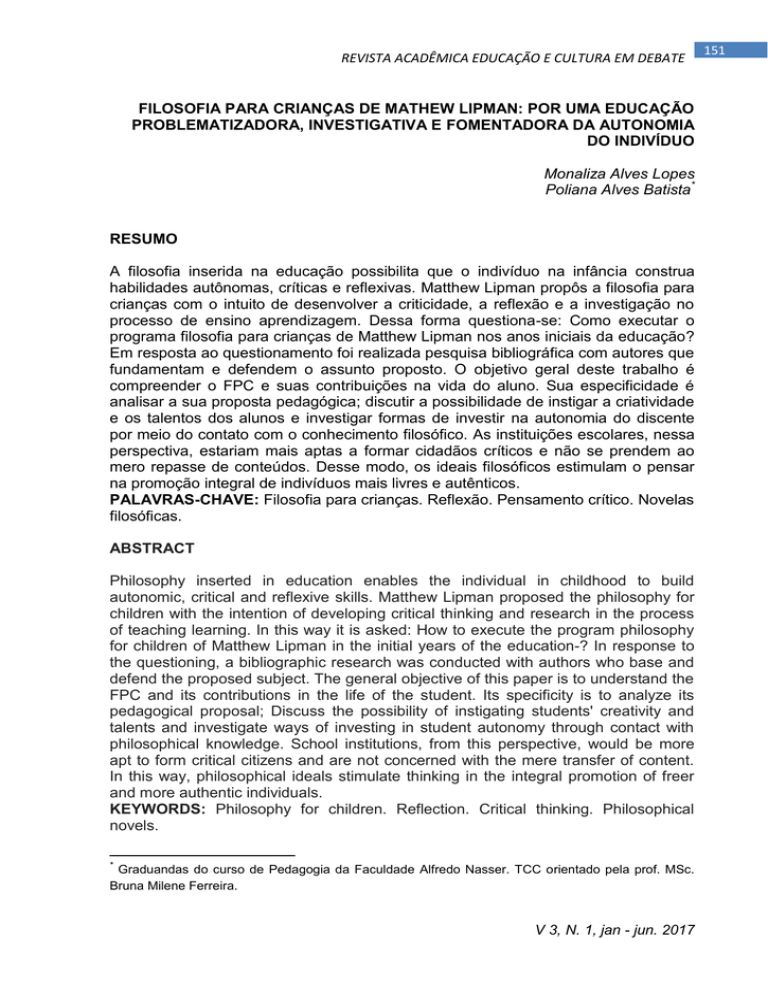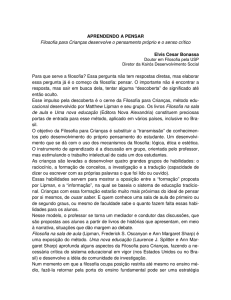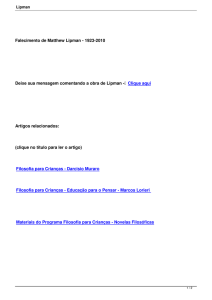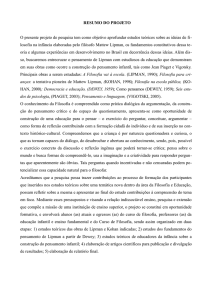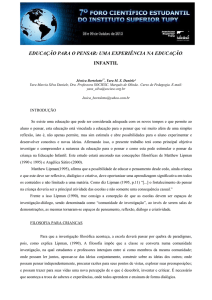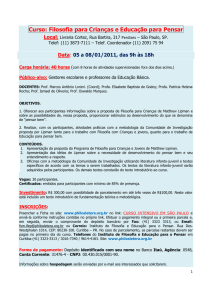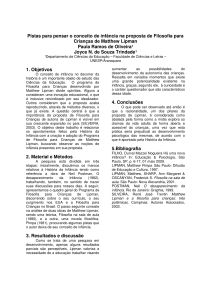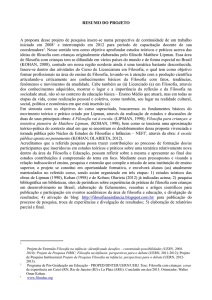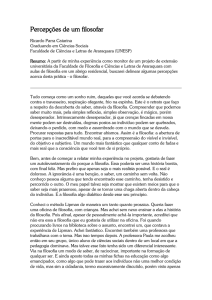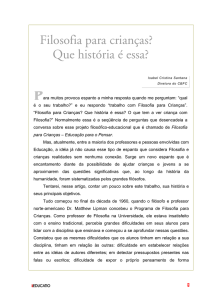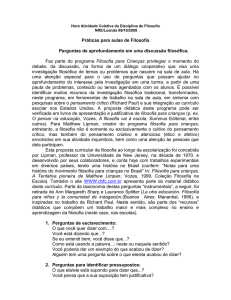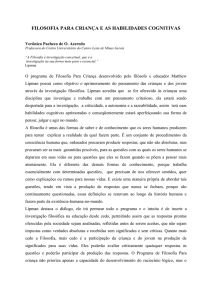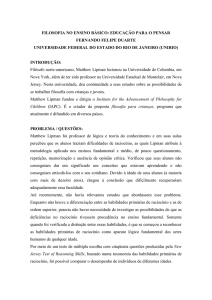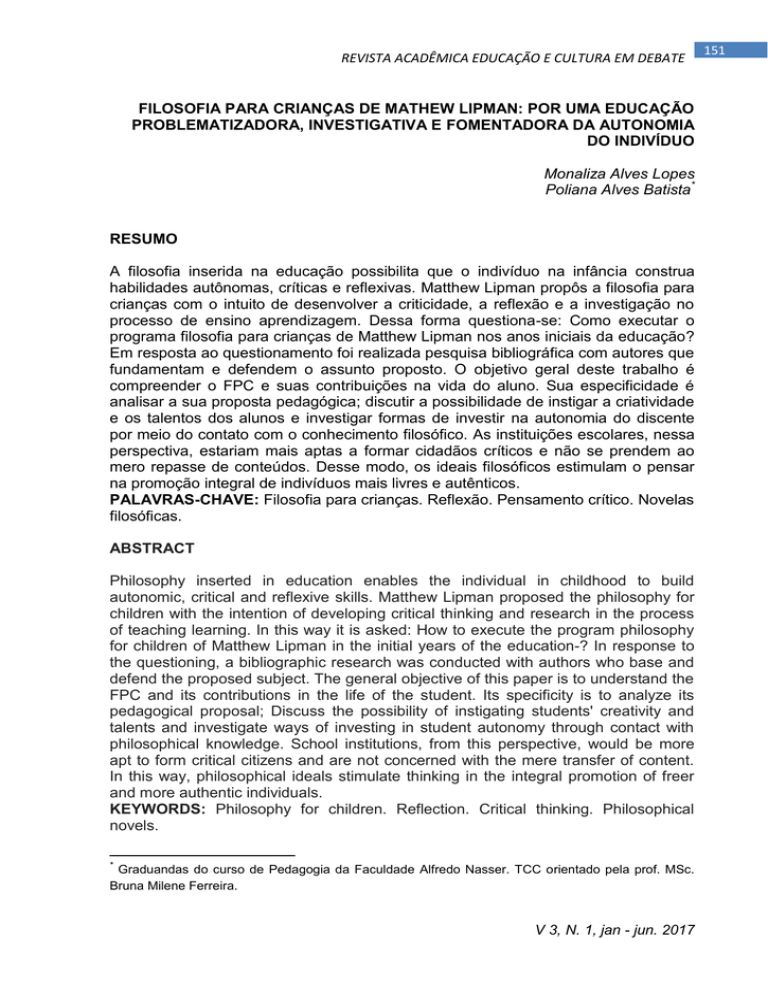
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS DE MATHEW LIPMAN: POR UMA EDUCAÇÃO
PROBLEMATIZADORA, INVESTIGATIVA E FOMENTADORA DA AUTONOMIA
DO INDIVÍDUO
Monaliza Alves Lopes
Poliana Alves Batista*
RESUMO
A filosofia inserida na educação possibilita que o indivíduo na infância construa
habilidades autônomas, críticas e reflexivas. Matthew Lipman propôs a filosofia para
crianças com o intuito de desenvolver a criticidade, a reflexão e a investigação no
processo de ensino aprendizagem. Dessa forma questiona-se: Como executar o
programa filosofia para crianças de Matthew Lipman nos anos iniciais da educação?
Em resposta ao questionamento foi realizada pesquisa bibliográfica com autores que
fundamentam e defendem o assunto proposto. O objetivo geral deste trabalho é
compreender o FPC e suas contribuições na vida do aluno. Sua especificidade é
analisar a sua proposta pedagógica; discutir a possibilidade de instigar a criatividade
e os talentos dos alunos e investigar formas de investir na autonomia do discente
por meio do contato com o conhecimento filosófico. As instituições escolares, nessa
perspectiva, estariam mais aptas a formar cidadãos críticos e não se prendem ao
mero repasse de conteúdos. Desse modo, os ideais filosóficos estimulam o pensar
na promoção integral de indivíduos mais livres e autênticos.
PALAVRAS-CHAVE: Filosofia para crianças. Reflexão. Pensamento crítico. Novelas
filosóficas.
ABSTRACT
Philosophy inserted in education enables the individual in childhood to build
autonomic, critical and reflexive skills. Matthew Lipman proposed the philosophy for
children with the intention of developing critical thinking and research in the process
of teaching learning. In this way it is asked: How to execute the program philosophy
for children of Matthew Lipman in the initial years of the education-? In response to
the questioning, a bibliographic research was conducted with authors who base and
defend the proposed subject. The general objective of this paper is to understand the
FPC and its contributions in the life of the student. Its specificity is to analyze its
pedagogical proposal; Discuss the possibility of instigating students' creativity and
talents and investigate ways of investing in student autonomy through contact with
philosophical knowledge. School institutions, from this perspective, would be more
apt to form critical citizens and are not concerned with the mere transfer of content.
In this way, philosophical ideals stimulate thinking in the integral promotion of freer
and more authentic individuals.
KEYWORDS: Philosophy for children. Reflection. Critical thinking. Philosophical
novels.
*
Graduandas do curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser. TCC orientado pela prof. MSc.
Bruna Milene Ferreira.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
151
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
INTRODUÇÃO
A educação filosófica auxilia na construção do conhecimento dos indivíduos
por intermédio do pensar. O estímulo desde a infância viabiliza o desenvolvimento
crítico, reflexivo e investigativo do aluno. Portanto, o ensino filosófico direcionado
para crianças possibilita o saber como aliado na resolução de conflitos sociais
posteriores.
Matthew Lipman ao identificar a dificuldade de interpretação textual dos
alunos no ensino superior foi instigado a criar algo para intervir nesse cenário.
Elaborou o programa filosofia para crianças com a finalidade de inserir
precocemente o pensamento crítico na formação de indivíduos. Dessa forma, ao
atingir a fase adulta o indivíduo possui estrutura crítica para a defesa de suas
concepções.
O FPC oferece material e treinamento que orientam o professor a executar o
proposto em sala de aula. Também dispõe de livros, as novelas filosóficas, por meio
das quais as crianças são levadas a refletirem sobre os acontecimentos, por
intermédio
da
elaboração
de
problemas
e
hipóteses.
A
resolução
dos
questionamentos é mediada pelo professor e construída pelos alunos. Portanto, a
execução do programa promove a autonomia dos discentes.
1 COMO NASCEU O PROGRAMA FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
Segundo Elias (2005) o programa filosofia para crianças foi proposto por
Matthew Lipman, que nasceu em 1923, na cidade de Vineland, no Estado de Nova
Jersey – Estados Unidos. Concluiu o grau secundário de seus estudos e após sete
anos ingressou na Universidade de Standford no ano de 1945. Conquistou seu
doutorado em Filosofia com uma tese sobre arte em Nova York pela Universidade
de Colúmbia no ano de 1954. Em seguida foi para a França e ministrou cursos de
pós-graduação na Sorbone. Tornou-se professor de Filosofia na Universidade em
que se doutorou. Assim, permaneceu até a década de 60.
De acordo com Elias (2005), ao lecionar na Universidade de Colúmbia a
disciplina Introdução à Lógica e Teoria do conhecimento identificou um déficit
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
152
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
cognitivo dos estudantes para compreender o exposto. Visto que ao analisar os
momentos estudantis e a estrutura física da instituição, observou as dificuldades
existentes e propôs atividades que tirassem as inferências lógicas com o intuito de
desenvolver o raciocínio dos indivíduos. Constatou a importância de trabalhar o
pensamento lógico dos estudantes.
Elias (2005) ressalta que as resistências cognitivas observadas por Lipman
também eram enfrentadas por vários professores e em outras disciplinas ao
ministrarem as aulas, tanto no Ensino Superior quanto no Ensino Médio. Os
conteúdos estudados nas instituições educacionais no contexto vivenciado por
Lipman não apresentavam, em sua maioria, significado para os alunos e
consequentemente resultados com pouco rendimento escolar. Incomodado com a
situação vivida, Lipman buscou interferir nesse cenário através da Filosofia.
Kohan e Wuensch (1999) apresentam o pensamento de Lipman (1992) que
ao perceber as dificuldades existentes teve a ideia de trabalhar com histórias.
Porém, não sabia que tipo de relatos utilizar, então, pensou em desenvolver com
crianças momentos do partejar das ideias, em que se reuniam e dialogavam entre si.
[...] Deveria ser algo que os pequenos descobrissem por si mesmos, com
ajuda dos adultos. As crianças da história deveriam formar, de alguma
maneira, uma pequena comunidade de pesquisa, na qual cada uma
participasse, pelo menos, de alguma medida na busca cooperativa e na
descoberta de modos mais efetivos de pensar. [...] (LIPMAN, 1992, p. 22
apud KOHAN; WUENSCH, 1999, p. 22)
Nas histórias produzidas eram nomeadas as personagens e o livro os
distinguiam um do outro, buscava caracterizá-los de empiristas, intuitivos, analíticos,
céticos, etc. Visto que o intuito era induzir o raciocínio lógico através da escrita e
ressalta que os fundamentos proviam de Dewey. A propósito durante a Segunda
Guerra Mundial possuia um exemplar do livro Inteligência no Mundo Moderno de
Dewey no qual havia uma séria de contribuições teóricas educativas.
2 O PROGRAMA FILOSOFIA PARA CRIANÇAS NO BRASIL
Wuensch (1999), mencionada na coletânea organizada por Kohan e Wuensch
(1999) comenta que por volta dos anos de 1980 chega ao Brasil o Programa
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
153
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
Filosofia para Crianças de Matthew Lipman, na cidade de São Paulo. A proposta
citada iniciou-se através da intervenção de Catherine Young Silva, de origem
americana e naturalizada no território brasileiro, mestre em Filosofia para as crianças
na Montclair State University, Estados Unidos. Ao passo que retornou para o Brasil
com a autorização de traduzir e adaptar os materiais, assim também a preparação
dos professores para executar o Programa Filosofia para Crianças na terra
brasileira.
No Brasil havia um movimento para reintegração da disciplina de Filosofia no
ensino médio. Dado que, os professores da rede estadual e do ensino superior,
estudantes universitários de filosofia viviam em um momento eufórico para
conquistar a inserção da Filosofia no currículo. “A novidade estava justamente na
clara proposta educacional, no fato de ser um programa construído e destinado para
as escolas e dirigido para a educação básica [...]”. (WUENSCH, 1999 apud KOHAN;
WUENSCH, 1999, p. 50).
A precurssora, Catherine, juntamente com professores que apoiaram, criaram
e implantaram o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC) em 1985 com o
objetivo de produzir material traduzido, divulgar e capacitar os professores para
execução do programa nas escolas. Esse projeto se estende em várias regiões
brasileiras, inclusos capitais e interiores, até meados de 1998, atende cerca de
5.000 professores, 550 escolas, 180.000 alunos. Todavia há escolas públicas e
privadas que aderiram trabalhar com os alunos a filosofia mediante a perspectiva
apresentada por Matthew Lipman.
Wuensch (1999), mencionada na coletânea organizada por Kohan e Wuensch
(1999) afirma que no ano de 1985 o Brasil recebeu a visita do professor Lipman que
executou diversas palestras sobre o tema Filosofia para crianças, isto é possível?
Voltou novamente com Ann Margareth Sharp e quinze representantes de centros de
filosofia para crianças de diversos países para organizar e efetivar o II Congresso
Internacional de Filosofia para Crianças e participar do I Seminário Nacional de
Filosofia, Desenvolvimento do Raciocínio e Educação: Uma Relação Possível em
Maringá – PR. Consequentemente desencadeou interesse de educadores na
temática abordada, porém houve filósofos universitários resistentes que não
aprofundaram o estudo. Os grandes desafios do movimento FPC no Brasil foram:
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
154
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
revisar as ideias do programa e levá-las para a sala de aula com o objetivo de
identificar o resultado obtido.
O Programa Filosofia para Crianças proporcionou animação e agitação dos
alunos, também uma série de atividades organizadas pelos professores para o
alcance de objetivos e, além disso, um significativo interesse na evolução da
temática abordada. Por certo que, os professores que abordaram a ideia passaram a
buscar o vínculo da educação reflexiva e dialógica, mediante o proposto pelo
programa, a reação das crianças favoreceu o desempenho eficaz na aprendizagem.
3 O ESPANTO COMO PROPEDÊUTICA DO PENSAR
De acordo com Chauí (2004) no final do século VII e início do século VI a. C.
a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo e da natureza,
com o objetivo de explicar a totalidade das coisas, dado que o estudo filosófico
procura compreender o passado, presente e o futuro. Busca a verdade da existência
humana e suas complexidades.
Segundo Chauí (2004) a tentativa de desvendar os mistérios da criação
humana e tudo que a envolve desencadeou questionamentos e provocou o espanto
em Aristóteles. O estudo do “Ser enquanto Ser” foi nomeado por ele como filosofia
primeira e, posteriormente, metafísica.
O estudo da natureza e da essência das coisas é denominado metafísica.
“[…] a filosofia primeira é o estudo ou o conhecimento da essência das coisas ou do
Ser real e verdadeiro das coisas, daquilo que elas são em si mesmas, apesar das
aparências que possam ter e das mudanças que possam sofrer.” (CHAUÍ, 2004, p.
183)
Cabe ao filósofo desvelar a essência do mundo além das aparências que
levam os fenômenos a sofrerem constantes transformações. Por essa razão é que a
filosofia aristotélica ganha o status de busca da verdade, da qualidade dos objetos,
acima da aparência e das ilusões, o que é conquistado pelo uso da racionalidade.
[…] Aristóteles também usará a mudança como critério de diferenciação dos
seres, porém o fará de maneira completamente nova. […] Movimento não
significado, porém, simplesmente mudança de lugar ou locomoção. Significa
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
155
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
toda e qualquer mudança que um ser sofra ou realize. […] Numa palavra: o
devir, em todos os seus aspectos, é o movimento. (CHAUÍ, 2004, p. 188)
O texto (2004) comenta a defesa de Aristóteles em que a filosofia primeira
estuda o ser e sua essência desde os primórdios de sua existência, o que é
essencial para a construção do saber. O anseio pela verdade instiga o indivíduo a
indagar sobre sua origem e tudo que o envolve. Desse modo, o filosofar constrói
seres críticos e reflexivos como consequência de suas inquietudes. Aristóteles vê o
mundo como essência - mutável ou imutável – e aparência. Aponta que o
movimento ou devir não é ilusório, é, portanto, real.
A filosofia é marcada por momentos de crise do pensamento e das atitudes
cotidianamente sustentados pelo homem. Isto ocorre quando as explicações e
respostas fornecidas pela cultura vigente já não satisfazem alguns indivíduos, no
tocante à compreensão da existência e do próprio mundo. É neste ponto que surge
a crítica, as indagações e o desconforto próprios da atitude filosófica sempre às
voltas com o estranhamento e a curiosidade frente ao que aparentemente parece
banal e corriqueiro.
De acordo com Chauí (2004) a atitude filosófica é vista para Aristóteles como
uma espécie de espanto. Visto que, a indagação advém do reconhecimento de sua
ignorância ao se deixar espantar com o mundo. A criança nasce e constrói vários
questionamentos ao se deparar com o que a rodeia. Por isso, a importância de
estimular o raciocínio do indivíduo de maneira a não tolir seus anseios e possibilitar
o desenvolvimento pleno do ser. O raciocínio proficiente é a chave mestra da
concretização deste projeto e é a filosofia aristotélica a responsável por uma das
tentativas mais promissoras da elaboração de um instrumento condutor do
pensamento filosófico entre os pensadores da antiguidade.
3.1 A lógica aristotélica
Chauí (2004) expõe que segundo Aristóteles a dialética é um conjunto de
argumentos persuasivos que possuem o intuito de convencer o outro da tese
exposta. Entretanto, se contrapõe a este ponto de vista calcado por Platão e propõe
que é viável a análise para o alcance da inferência. Por isso, desenvolveu o
procedimento analítico como instrumento para o conhecimento.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
156
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
[…] Para Aristóteles, a lógica (ou analítica) é um instrumento para o
conhecer. […] A lógica aristotélica oferece procedimentos que devem ser
empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das
quais possamos ter um conhecimento universal e necessário, e seu ponto
de partida não são opiniões contrárias, mas princípios, regras e leis
necessários e universais do pensamento. (CHAUÍ, 2004, p. 107)
De acordo com Chagas (s/d) a lógica aristotélica deveria proporcionar
instrumentos mentais primordiais para embasar qualquer tipo de investigação. A
lógica de Aristóteles tinha como objetivo único a elaboração de uma metodologia
para se chegar a investigação de forma precisa. Portanto, a lógica visa aprimorar as
inferências quanto aos questionamentos provindos do ser.
Conforme Chauí (2004) a analítica é o caminho para distinguir o que é válido
ou não. Visto que é uma ferramenta para todas as áreas de conhecimento. “[…] a
lógica aristotélica é um instrumento para o exercício do pensamento e da linguagem,
oferecendo-lhes meios para realizar o conhecimento e o discurso.” (CHAUÍ, 2004, p.
77)
Segundo Chagas (s/d) a lógica embasa a verdade através do conhecimento
prévio adquirido pelo ser. Aristóteles desenvolveu a lógica provinda do raciocínio,
como silogismos, em que se obtém uma conclusão através das premissas
formuladas.
Chauí (2004) ressalta que Sócrates provocou o movimento do pensar,
elaborava perguntas que exigiam reflexão do indivíduo para além da aparência e a
busca pela essência das coisas. Os questionamentos se referiam a ideias, valores,
práticas e comportamentos que a pólis entedia como certos e verdadeiros. Desse
modo, a racionalidade instigava a formação de conceitos que são verdades
atemporais e universais.
O partejar das ideias, iniciado por Sócrates, promove a construção do
pensamento lógico. O raciocínio produzido possui teor crítico e reflexivo que permite
ao indivíduo não se deixar alienar. Dessa forma, o diálogo filosófico conduzido
juntamente com as crianças contribui significativamente para o exercício da
criticidade em sua vida.
Aranha e Martins (2006) acentua que Sócrates interagia com todas as
pessoas da sociedade, não importava a idade ou classe social. Abordava os
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
157
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
indivíduos com perguntas instigantes e irônicas. Na ocasião, se colocava como não
conhecedor do que era posto. Posteriormente executava a etapa que foi nomeada
maiêutica, enquanto construção de conceitos ou parto das ideias fruto das
indagações que estimulam o pensar. Assim, a reflexão e a crítica se destacavam no
processo de busca do saber.
A maiêutica socrática tem por objetivo perceber a sabedoria como movimento
constante. Visto que, estimula o pensar e visa levar o indivíduo à elaboração de
inferências por meio das quais é possível construir o próprio conhecimento de forma
autônoma. Por isso, a criança deve ser instigada e mediada, a fim de deixar de lado
a passividade diante da aprendizagem que deve representar constantemente o
esforço de elaboração ativa do saber.
3.2 A experiência deweyana e o pensar na educação
Segundo Ferreira (2011) é na interação mente/corpo que Dewey afirma a
comprovação das coisas. Dado que para fornecer a prova de algo considera a
experiência essencial. Esta aprimora o conhecimento e a compreensão de algo
como um todo (sua contextualização). “[...] a experiência toma um papel importante
nas ações de um agente orientando, modificando e interferindo nas ações
humanas.” (FERREIRA, 2011, p. 148)
As percepções do ser humano contribuem de forma significativa para o
aprendizado real. Dado que, o ponto de partida é ação para obtenção do
desenvolvimento cognitivo. As crianças internalizam o que é significativo à elas ao
vivenciar o conteúdo ministrado.
Ao analisar o real geralmente surgem o estranhamento e a dúvida. Desse
modo, na infância é possível perceber a constante especulação com o propósito de
entender ou comprovar noções adquiridas pela criança por meio do contato com a
sociedade. As indagações proferidas pelo infante na tentativa de entender o que é
posto a ele na proposta de Dewey é o momento do estímulo para a promoção da
reflexão e da criticidade humana.
Ferreira (2011) afirma que Descartes concebe a dúvida como estímulo da
busca do conhecimento. Ressalta que o não alcançado no físico é conquistado no
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
158
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
transcendente. Há um dualismo do saber em que o corpo não é o suficiente para
entender as coisas como são. Portanto, somente a mente sustenta a verdade.
Chauí (2004) comenta que Descartes defende o intelecto como fonte do
conhecimento real e propõe um método que direcione o alcance de objetivos que
levem ao saber verdadeiro. Nesta perspectiva, a alienação é um ponto a ser
considerado para que os indivíduos não se deixem levar pelos ideais de outros.
Também
é
necessário
ampliar
o
conhecimento
com
eficácia
mediante
procedimentos que comprovem as inferências alcançadas.
Chauí (2004) ressalta que Descartes sugere regras para a condução do
pensamento lógico e, portanto, coerente. A regra da evidência busca a obtenção da
verdade por meio da não aceitação dos conceitos prontos. Posteriormente, há as
regras da divisão e da ordem, citadas por Descartes, que visam dividir as
complexidades conforme o grau de dificuldade (a gradação entre o simples e o
complexo). E por fim apresenta a regra da enumeração, por meio da qual é feita a
revisão do percurso que construiu o novo conhecimento.
Para Ferreira (2011) a experiência na filosofia de Dewey acontece na
aproximação do ser com a natureza. A assimilação do saber é alcançado através da
mente, a experiência interfere nas ações do indivíduo. O pensamento cartesiano
auxilia este processo à medida que fornece regras para a condução das
investigações e fomenta sempre a dúvida e o debate.
[…] experiência é a ferramenta para os seres humanos adentrarem e
examinarem continuamente a natureza; não é uma singela observação à
distância dos objetos da natureza, mas sim uma forma de nos aproximar
dela, sentindo - a por completo. […] a experiência permite uma
compreensão da natureza extraindo de seus planos mais profundos suas
características ainda não reveladas […]. (FERREIRA, 2011, p. 6 – 7)
De acordo com Ferreira (2011) a filosofia deweyana utiliza a experiência
como instrumento para a assimilação do aprendizado. Visto que, as inquietações
vividas pelo indivíduo o levam a entender as coisas reais. O espírito empírico
atrelado à cognição possibilita a construção de inferências comprovadas.
Para Kant (s/d) a ilustração advém do esclarecimento que o indivíduo
conquista ao se libertar do domínio externo e produzir seus próprios conceitos.
Depender das inferências dos outros aliena o ser. Ao passo que cada um possui
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
159
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
capacidade de construir seus próprios conceitos e se desprender dos ideais
impostos pelas autoridades que visam impor suas concepções e se beneficiarem
disso.
4 MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO E METODOLOGIA DO PFC
Silveira (s/d) ressalta que o material didático do programa FPC busca
estimular o pensar nos diferentes ambientes em que o indivíduo está inserido. Nas
novelas filosóficas os personagens se deparam com situações problema que levam
a pensar em uma solução. Dessa forma o objetivo é garantir o raciocínio eficaz
independente da temática abordada.
O material didático possui características filosóficas que a criança internaliza
como saber real e significativo. Preocupa-se em desenvolver o interesse das
crianças para que haja verdadeiro aprendizado de forma que reforce a participação
de todos os envolvidos. Por isso, as histórias retratadas possuem vínculos com a
realidade dos alunos.
A novela Issao e Guga, que é destinada a crianças de seis a oito anos,
aborda, no decorrer das histórias, temáticas que possuem características
metodológicas e objetivos. Os métodos envolvem os sentidos das coisas e objetivam
construir conceitos e compreender o mundo, seres vivos, seres humanos, direitos,
dentre outros aspectos, que englobam a natureza e a percepção. O livro A
descoberta de Ari dos Telles tem elementos que desenvolvem a investigação
filosófica geral, através do diálogo que envolve temas como objetividade,
comunidade de investigação, origem do mundo, artes, direitos das crianças, ciência,
educação, etc.
O livro Pimpa elaborado por Matthew Lipman (1995) retrata histórias contadas
pela personagem principal, uma menina cujo nome é o título do livro, com idade de
aproximadamente 9 a 10 anos, que é a faixa etária a que se destina esta novela
filosófica. Há em todo o corpo do texto um diálogo com o leitor, cujo intuito é chamar
a atenção para não dispersar a compreensão. É repleto de cenas que envolvem
crianças de acordo com a idade sugerida de leitores em ambientes diversificados
como casa, escola, dentre outros.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
160
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
Começarei dizendo meu nome. Meu nome é Pimpa. [...] A razão pela qual
eu inventei uma história é que cada aluno da classe teve que inventar uma
história. O que eu contar é a história de como a minha história foi inventada.
[...] Nós não sabíamos que íamos ter de inventar uma história até que Seu
Marcos falou sobre a ida ao zoológico. Seu Marcos é o nosso professor. [...]
Ele disse: - Quero que cada um de vocês pense num animal, num pássaro
ou num réptil de que goste mais para ser sua criatura misteriosa. [...] Mais
tarde enquanto estava sentada recomecei a pensar na criatura misteriosa
[...] meu queixo estava apoiado na minha mão e meu cotovelo estava
apoiado na carteira. [...] Meu braço tinha adormecido. Eu ainda não consigo
entender. Se o meu todo estava acordado, como uma parte de mim podia
estar adormecida? [...] Se meu corpo e eu somos um então ele não pode
me pertencer. E se meu corpo e eu são diferentes, então quem sou eu?
(LIPMAN, 1995, p. 3 – 7)
Lipman (1995) busca orientar através do livro Pimpa vários aspectos que
envolvem as crianças. O pensar é estimulado nos diversificados momentos vividos
na infância. Também a interdisciplinaridade é expressa nas histórias que contém
fatores e indagações relacionados ao contexto infantil como, por exemplo, o corpo
humano, família, meio ambiente, higiene pessoal, direitos, etc, vinculados à lógica.
No livro Pimpa é possível perceber as relações lógicas existentes no texto. É
importante lembrar que a lógica é fundamental para aquisição das inferências
essenciais para o desenvolvimento do raciocínio dedutivo. Retrata relações de
tempo e espaço como mostra o trecho em que Pimpa e seu colega de sala, Bruno,
buscam entender esta lógica.
- Ah, Bruno – disse eu – acho que sei o que quer dizer. É como o Beto
disse: Existe a palavra montanha. [...] Depois voltou à lousa, pegou um
pedaço de giz e escreveu:
As montanhas estão longe daqui.
As casas estão perto do lago.
Longe de e perto de são relações espaciais.
Ri, bati palmas e falei: - Também sei fazer isso! – E escrevi:
Hoje é antes do passeio ao zoológico.
Semana que vem será depois do passeio ao zoológico.
Antes de e depois de são relações de tempo. (LIPMAN, 1995, p. 09)
As novelas filosóficas de Matthew Lipman possuem diálogos que promovem a
investigação e a construção de conceitos. Os temas são contextualizados de acordo
com a fase vivida pela criança. Assim, aguçam o interesse do leitor que apreende o
significado da leitura. Dessa forma, desenvolve habilidades na resolução de conflitos
vividos cotidianamente na infância e também no decorrer da sua vida.
Os materiais didáticos direcionados aos alunos e professores possuem o
objetivo de aperfeiçoar quatro principais habilidades: raciocínio, questionamento e
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
161
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
investigação, formação de conceitos e tradução. Estas fazem com que o aluno
desenvolva a sistematização das ideias.
Lipman (1994) ressalta que o professor tem significativa função na condução
das metodologias do programa filosofia para as crianças. Sua atuação consiste em
mediar e sugerir estratégias para se chegar à determinadas conclusões. Além disso,
a interação ocorre em vários ambientes formados pela família, os meios de
comunicação e a comunidade. Então, a escola tem a função de unir os aspectos
sociais e familiares de maneira a formar seres críticos e reflexivos.
De acordo com Lipman (1995) o professor deve lançar perguntas que
estimulem a participação de todos com conteúdos que fazem parte da vivência dos
alunos. Também sugere que sejam elaborados questionamentos ainda não
assimilados pelos discentes e que os levem a investigar a problemática para a busca
da resposta a ser alcançada. Desse modo, a investigação é o caminho que levará a
novos conhecimentos.
Conforme Lipman (1995) a atitude investigativa foi ressaltada por John Dewey
em decorrência de que julgava que o processo para se chegar a determinado
resultado não era visto, mas tão somente os resultados. Por isso, enfatiza a
importância de investigar. O objetivo é estimular o indivíduo a buscar por si só as
respostas para os problemas, o que permite a superação da mera transmissão de
informações por parte do professor.
A comunidade de investigação no programa FPC representa a divisão das
opiniões que são respeitadas de maneira recíproca. Também as ideias de outrem
são influenciadas e desafiadas para a obtenção de razões que ainda não foram
fundamentadas. Outro aspecto é compartilhar o conhecimento aprimorado por cada
um para formar conclusões significativas. Dessa forma, o aluno internaliza o saber e
o utiliza no decorrer da sua vida.
O autor (1995) ressalta que as crianças adquirem e aprimoram suas
habilidades cognitivas quando estimuladas. Visto que, nas habilidades de
investigação o indivíduo associa uma ação com algo vivido ou presenciado ou até
mesmo
com
a
expectativa
de
alcançar
a
resposta
para
determinado
questionamento. Por intermédio da investigação há formação de inferências,
construção de hipóteses, conceitos, analogias, lida-se com a coerência e
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
162
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
contradições, reconhecem-se imprecisões, dentre outros aspectos, assim, o
indivíduo se torna esclarecido no seu cotidiano.
Lipman (1994) ressalta que os pensamentos estudados por vários teóricos
não são verdades absolutas. O contato com a filosofia não pode ser doutrinador,
pelo contrário, é fundamental manter a chama da crítica e a constante indagação
diante dos temas abordados.
[...] Uma meta da educação é livrar os estudantes dos hábitos mentais que
não são críticos, que não são questionados, para que assim possam
desenvolver melhor a habilidade de pensar por si mesmos, descobrir sua
própria orientação perante o mundo e, quando estiverem prontos para isso,
desenvolver seu próprio conjunto de crenças acerca do mundo. [...] O que
importa é que adquiram uma melhor compreensão a respeito do que
pensam e por que pensam, sentem e agem do jeito que fazem e de como
seria raciocinar efetivamente. [...] As atitudes do professor, quaisquer que
sejam, terão um peso considerável para os mais jovens que estão inseguros
quanto ao significado de sua própria experiência. [...] A investigação livre
proporciona uma incomparável estrutura para o desenvolvimento. (LIPMAN,
1994, p. 121 – 124)
Platão e Sócrates desenvolviam habilidades de raciocínio através do diálogo.
Assim, o programa FPC preserva a conversação organizada como fator primordial
para a aquisição da logicidade no processo de construção do conhecimento.
De acordo com Lipman (1994) o raciocínio infantil acontece antes da
aquisição da linguagem. Alguns pensamentos indutivos estão presentes e podem
ser considerados como conclusão de um silogismo. Portanto, a criança possui
inferências que são desenvolvidas por meio do pensamento. O pensar filosófico é
percebido no momento em que a criança questiona todas as coisas, isso acontece
quando ela quer descobrir uma explicação causal para determinado efeito.
O raciocínio é uma habilidade cognitiva que tem o intuito de estimular o
pensar através da compreensão da realidade fundamentada no ponto de vista
filosófico. Através das habilidades de leitura direcionadas é possível promover e
aprimorar o raciocínio.
A lógica se relaciona diretamente com o raciocínio por meio da elaboração de
teses e premissas que auxiliam a sua fundamentação. Ao ler e comparar os pontos
de vista dos autores com o seu cotidiano o estudante forma uma visão crítica das
coisas.
Segundo Lipman (1995) a formação de conceitos é construída mediante a
capacidade cognitiva de cada um. O processo de organização do conhecimento
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
163
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
adquirido é a guinada para a aquisição do conceito. “O pensamento conceitual
envolve relacionar conceitos entre si a fim de formar princípios, critérios,
argumentos, explicações, etc.” (LIPMAN, 1995, p. 72)
A formação de conceitos é construída através dos conhecimentos adquiridos
na comunidade de investigação. Dado que todo conceito tem significado próprio,
pois é formulado conforme o saber prévio dos envolvidos no diálogo. O aluno tem a
oportunidade de expor suas ideias e assim (re) construir novos pressupostos. Por
isso, na comunidade de investigação formam-se indivíduos autônomos.
A interpretação textual é destacada como uma habilidade no programa FPC
que objetiva preservar o significado. O que é novo para o aluno é mediado pelo
professor, como o raciocínio lógico, para a compreensão do que é abordado. Desse
modo, a mudança que possibilita a internalização do conhecimento é uma tradução.
“[...] a tradução é aquela forma que preserva o significado através da mudança.”
(LIPMAN, 1995, p. 73)
A habilidade interpretativa busca desenvolver características pessoais e de
socialização que visam escutar os outros, ser sensível à dimensão afetiva, inferir
visões do mundo, ser empático, aberto intelectualmente, respeitar os outros,
dialogar, por o ego em perspectiva, ter autocontrole, propiciar confiança, etc. Assim,
esta proposta inclui o aluno no meio social e promove a evolução pessoal de valores
essenciais para a vida.
As ideias compartilhadas entre os indivíduos envolvidos na comunidade de
investigação propiciam a liberdade de serem investigadores e questionadores. Visto
que, a interação possibilita o crescimento individual e social. Na ocasião os
estudantes expressam o que sabem e aprendem com o outro de maneira a valorizar
o crescimento individual e coletivo.
5 PAIDÉIA: a construção do intelectual no período clássico e na contemporaneidade
Segundo Silva (2010) no século V a. C. a palavra Paideia era entendida como
“educação dos meninos”. Visto que buscava formar indivíduos em sua integralidade:
formação política, moral, artística corporal e intelectual.
Os gregos chamavam a educação ideal de aristocrática – pretendia cultivar a
aretê, a virtude heroica ligada à força, bravura, coragem e a honra. Características
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
164
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
como beleza e bondade exerciam a função de integrar a estética e a moralidade.
Assim percebe-se que havia preocupação com a mente e o corpo.
A paidéia é o processo de ensino que prepara a criança para a vida adulta. O
alicerce do conhecimento é construído desde a mais tenra idade. Do mesmo modo,
o programa FPC instiga o pensar desde a infância com intervenções que orientam e
possibilitam a formação do saber eficaz que permeia por toda a vida e os diversos
ambientes frequentados pelas pessoas. Dessa forma é possível afirmar que esta
proposta busca, mesmo em um contexto histórico distinto, resgatar elementos
importantes da educação grega na abordagem filosófica junto à criança, no intuito de
promover uma educação mais ampla e eficaz.
Conforme Cabral e Teodósio (2010) a filosofia e a pedagogia nasceram na
Grécia Antiga. A pedagogia provém de do grego paidós (criança) e agogé
(condução), ou seja, condução da criança ao saber. Por isso, até a atualidade há
uma visão de que o pedagogo é responsável por dar continuidade à educação das
crianças de maneira a aprimorar o que já foi ensinado no seio familiar. Neste cenário
surge o desafio de considerar a pedagogia uma ciência. Consequentemente foram
elaboradas obras como O tratado sobre a educação de Luís Vives no século XVI
com o intuito de inserir a pedagogia no campo científico.
De acordo com Saviani (1990) o objeto de estudo da filosofia é o pensamento.
Dado que todo homem pensa, consequentemente é de interesse universal os ideais
filosóficos. A filosofia inserida no ambiente educacional provoca a reflexão acerca
dos problemas que assolam a escola.
Conforme Cabral e Teodósio (2010) a pedagogia abrange os meios da
educação. Dado que, busca compreender os indivíduos inseridos no mundo e as
suas atitudes. A filosofia objetiva entender o que é educação e as razões mínimas
que levam à necessidade de educar.
De acordo com as autoras (2010) a filosofia complementa a pedagogia no
sentido de esclarecer situações que exigem reflexões acerca dos pressupostos que
as envolvem. Dessa forma, “[...] é necessário acompanhar reflexiva e criticamente a
atividade educacional de modo a explicitar os seus fundamentos, esclarecer a tarefa
e a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas e avaliar o significado das
soluções escolhidas.” (SAVIANI, 1990, p. 17 apud CABRAL; TEODÓSIO, 2010, p.7)
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
165
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
Segundo as autoras (2010) para Saviani os conhecimentos dos filósofos
clássicos contribuem para o saber e o progresso educacional. Dessa forma, “[...] a
filosofia seria fundamental para assegurar a promoção da reflexão, não uma reflexão
qualquer, mas uma reflexão radical, rigorosa e global sobre os problemas que a
nossa sociedade apresenta.” (SAVIANI, 2002, p. 29 apud CABRAL; TEODÓSIO,
2010, p. 4)
Conforme Saviani (1990) a teoria clássica referia-se à problemática do
período em que foi escrita, no entanto reflete na busca da compreensão das
questões e dilemas existentes na atualidade, especialmente no tocante ao
desenvolvimento da ciência.
A educação tem como alvo o indivíduo inserido no mundo de maneira a
orientar o seu desenvolvimento que abrange todos os aspectos que o envolve.
Compreender o ser humano e suas complexidades é uma tarefa que cabe aos
princípios filosóficos. Por isso, os ideais clássicos promovem o progresso intelectual
do ser. Desse modo, percebe-se a importância e os reflexos dessas teorias na
contemporaneidade.
Cabral e Teodósio (2010) comentam que é função do professor ser
investigador. O educador precisa se preparar para as adversidades existentes no
meio educacional. Desse modo, suas atitudes são fundamentadas na cientificidade
do saber que exige o espírito empírico e assegura o conhecimento real das coisas.
[...] a formação do educador e o seu papel diante da sociedade deverão
estar pautadas na formação de um educador autônomo e crítico, capaz de
enfrentar os problemas colocados pela realidade educacional de seu tempo
e produzir respostas teóricas e práticas a esses problemas por meio da
pesquisa, o que faz com que o professor seja ele próprio um pesquisador.
(CABRAL; TEODÓSIO, 2010, p. 7)
Saviani (1990) a atividade reflexiva garante a execução do trabalho
pedagógico mediante a finalidade a ser atingida. A crítica leva à excelência das
tarefas e fundamentos nas instituições, como consequência tem-se alunos com nível
elevado no aprendizado, o que amplia seu cotidiano. Esta proposta só pode ser
concretizada com base na preparação precoce de futuros cidadãos mais
conscientes.
Rodrigues (2011) cita a construção do conceito de intelectual orgânico para
Gramsci, a partir do qual o indivíduo utiliza o saber adquirido para promover a
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
166
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
ascensão intelectual de uma classe seja ela dominante ou proletária. O
conhecimento destaca-se como foco para a aquisição da libertação consciente ao
desenvolver ações para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. Desse
modo o ambiente escolar é visto como possível produtor de seres que ao adquirir o
saber possuirão ferramentas para a transformação social.
De acordo com Rodrigues (2011) para Gramsci a escola humanista transmite
o saber completo e constrói indivíduos capazes de pensar na condição vivida em
sociedade, esta proposta, geralmente, se restringe à classe dominante. A classe
trabalhadora, no entanto, tem acesso ao saber para fins profissionais e mecânicos
em que o pensar não é proporcionado. Portanto, os interesses da minoria se perdem
por não haver, na maior parte dos casos, indivíduos instruídos para o alcance dos
objetivos propostos pela sociedade.
Saviani (1990) comenta que a filosofia tem o pensar como essência, volta-se,
assim, para as ações reflexivas e pressupõe essa prática a todo ser racional. Visto
que, a filosofia propõe a construção de respostas na incessante compreensão de
fatos ocorridos em sua existência. Somente o conhecimento filosófico possui
características capazes de promover ações reflexivas que decorrem da vida humana
pelo exercício do pensamento.
A proposta de Lipman no PFC é que o indivíduo na infância seja estimulado a
refletir e desenvolver o pensar de forma racional, a fim de construir seus conceitos
acerca do que lhe é posto. Este será o intelectual orgânico citado por Gramsci no
futuro, dado que a conscientização realizada pelos intelectuais de determinada
classes fomenta a crítica contra a imposição da ideologia dominante e interfere de
forma significativa nas transformações sociais. A criança preparada com habilidades
que promovem o senso crítico de suas concepções, no futuro conscientizará sua
classe quanto às necessidades de se posicionar contra questões que não a
favorecem.
Chauí (1980) afirma que a ideologia representa as ideias da classe dominante
concebidas de modo natural e universal como verdades absolutas. Dessa forma, a
sociedade segue parâmetros que alienam e não permitem o desprendimento do que
é posto. Somente o conhecimento como emancipador dos indivíduos contribui para
o combate à alienação.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
167
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível compreender através da pesquisa realizada que é de
fundamental importância que o programa apresentado por Lipman seja executado
nas escolas, visto que instiga a autonomia do pensamento do aluno. Além disso,
proporciona integração social que favorece o desenvolvimento de uma sociedade
plena.
A necessidade de formar indivíduos autônomos possibilita o exercício
constante da reflexão. As metodologias adotadas no programa FPC de Matthew
Lipman levam os alunos a relacionar o conteúdo ensinado com o seu cotidiano.
Desse modo, o contato com a filosofia proporciona o combate da alienação
propiciada pela reprodução de conteúdos como simples informações transmitidas e
acatadas como se os estudantes fossem meros recipientes vazios.
Com a criticidade em foco o futuro adulto torna-se ativo e participativo, não se
deixará, portanto, levar por pensamentos alheios. Assim, os seres humanos dotados
de autonomia influenciarão nas decisões particulares e globais que possibilitam o
bem estar da população.
O referido trabalho sugere a ampliação de pesquisas que colaborem com o
desenvolvimento eficaz do que é proposto no programa FPC de Matthew Lipman.
Visto que o processo investigativo é primordial para constantes inferências
relacionadas ao processo educacional. Aprofundar o conhecimento é relevante para
a execução da proposta com prioridade, a fim de ampliar e obter resultados com
reflexo na vida dos envolvidos.
REFERÊNCIAS
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando. São
Paulo: Moderna, 2006.
CABRAL, Carmen Lúcia de Oliveiral; TEODÓSIO, Hosiene Araújo. As interfaces
entre filosofia e pedagogia. Congresso Internacional de Filosofia e Educação,
2010.
Disponível
em:
http://www.ucs.br/ucs/tplcinfe/eventos/cinfe/artigos/artigos/arquivos/eixo_tematico9/A
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
168
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
S%20INTERFACES%20ENTRE%20FILOSOFIA%20E%20PEDAGOGIA.pdf. Acesso
em: 11 out. 2013.
CHAGAS, Elza Marisa Paiva de Figueiredo. Apresentando alguns aspectos
históricos do desenvolvimento da lógica clássica, ciência das ideias e dos
Processos da mente. Instituto Politécnico de Viseu, 2004. Disponível em:
<http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/586> Acesso em: 09 set. 2013.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2004.
ELIAS, Gizele G. Parreira. Matthew Lipman e a filosofia para crianças. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Goiás, Goiânia,
2005. Disponível em: <http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_arquivos/9/TDE-2005-1124T134500Z-98/Publico/GIZELE%20GERALDA%20PARREIRA%20ELIAS.pdf>
Acesso em: 18 ago. 2012.
FERREIRA, Nicholas Gabriel Minotti Lopes. O papel da experiência na filosofia de
John Dewey. 6º Encontro de pesquisa na Graduação em Filosofia na Unesp. 4, nº
2, 2011. Disponível em:
<http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/nicholasminot
ti.pdf> Acesso em: 11 set. 2013.
KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: O que é o Iluminismo? Disponível em:
<http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_iluminismo_1784.pdf> Acesso em: 13 set.
2013.
KOHAN, Walter Omar (org.). Lugares da infância: filosofia. Rio de Janeiro: DP&A,
2004.
KOHAN, Walter Omar; Wuensch, Ana Míriam. Filosofia para crianças: a tentativa
pioneira de Matthew Lipman. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico. 7. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2009.
LIPMAN, Matthew. A filosofia vai à escola. 2. ed. São Paulo: Summus, 1990.
______. Filosofia na sala de aula. São Paulo: Nova Alexandria, 1994.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
169
REVISTA ACADÊMICA EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE
______. Pensar na educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
______. Pimpa. São Paulo: CBFC – Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças,
1995.
SAVIANI, Dermeval. Contribuições da filosofia para a educação. Em Aberto.
Brasilia,
ano
9.
n
45.
1990.
Disponível
em:
http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/715/638.
Acesso em: 11 out. 2013.
SILVA, Nathália Lipovetsky e. A paideia grega como contribuição para a
realização da justiça através de uma educação para a cidadania e os direitos
humanos.
Junho/2010.
Disponível
em:
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/4172.pdf. Acesso em: 30
set. 2013.
SILVEIRA, Renê José Trentin. Matthew Lipman e a filosofia para crianças: três
polêmicas. Campinas: Autores Associados, 2003.
______. Programa de filosofia para crianças de Matthew Lipman: uma concepção
liberal
da
educação.
Disponível
em:
https://www.google.com.br/#q=PROGRAMA+DE+FILOSOFIA+PARA+CRIAN%C3%
87AS+DE+MATTHEW+LIPMAN%3A+UMA+CONCEP%C3%87%C3%83O+LIBERA
L+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O. Acesso em: 23 set. 2013.
V 3, N. 1, jan - jun. 2017
170