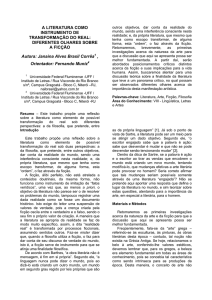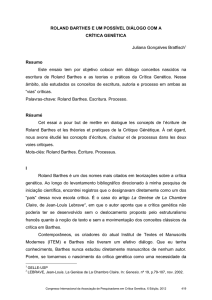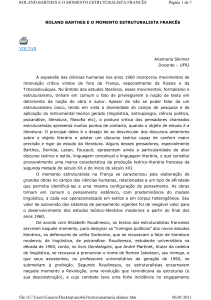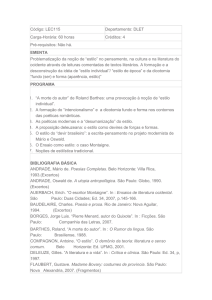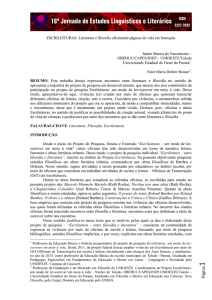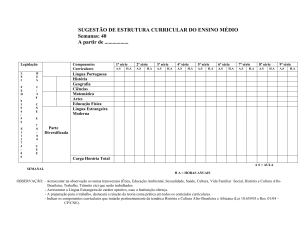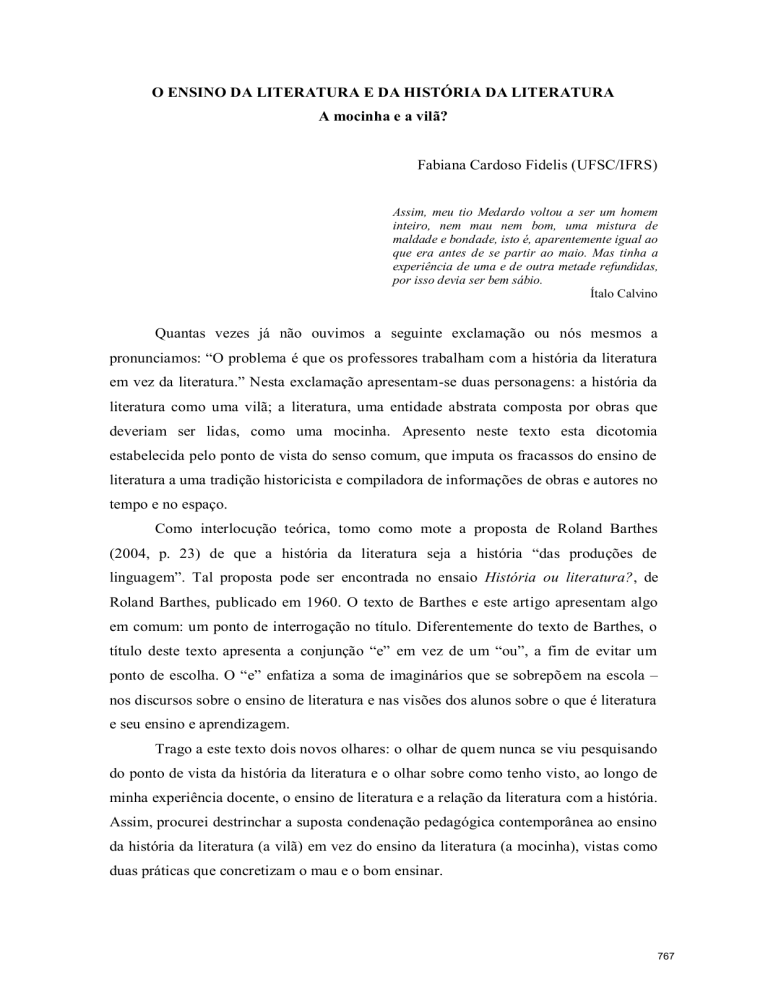
O ENSINO DA LITERATURA E DA HISTÓRIA DA LITERATURA
A mocinha e a vilã?
Fabiana Cardoso Fidelis (UFSC/IFRS)
Assim, meu tio Medardo voltou a ser um homem
inteiro, nem mau nem bom, uma mistura de
maldade e bondade, isto é, aparentemente igual ao
que era antes de se partir ao maio. Mas tinha a
experiência de uma e de outra metade refundidas,
por isso devia ser bem sábio.
Ítalo Calvino
Quantas vezes já não ouvimos a seguinte exclamação ou nós mesmos a
pronunciamos: “O problema é que os professores trabalham com a história da literatura
em vez da literatura.” Nesta exclamação apresentam-se duas personagens: a história da
literatura como uma vilã; a literatura, uma entidade abstrata composta por obras que
deveriam ser lidas, como uma mocinha. Apresento neste texto esta dicotomia
estabelecida pelo ponto de vista do senso comum, que imputa os fracassos do ensino de
literatura a uma tradição historicista e compiladora de informações de obras e autores no
tempo e no espaço.
Como interlocução teórica, tomo como mote a proposta de Roland Barthes
(2004, p. 23) de que a história da literatura seja a história “das produções de
linguagem”. Tal proposta pode ser encontrada no ensaio História ou literatura?, de
Roland Barthes, publicado em 1960. O texto de Barthes e este artigo apresentam algo
em comum: um ponto de interrogação no título. Diferentemente do texto de Barthes, o
título deste texto apresenta a conjunção “e” em vez de um “ou”, a fim de evitar um
ponto de escolha. O “e” enfatiza a soma de imaginários que se sobrepõem na escola –
nos discursos sobre o ensino de literatura e nas visões dos alunos sobre o que é literatura
e seu ensino e aprendizagem.
Trago a este texto dois novos olhares: o olhar de quem nunca se viu pesquisando
do ponto de vista da história da literatura e o olhar sobre como tenho visto, ao longo de
minha experiência docente, o ensino de literatura e a relação da literatura com a história.
Assim, procurei destrinchar a suposta condenação pedagógica contemporânea ao ensino
da história da literatura (a vilã) em vez do ensino da literatura (a mocinha), vistas como
duas práticas que concretizam o mau e o bom ensinar.
767
Para segurar-me em um índice desses olhares, tomo um trecho das Orientações
Curriculares para o Ensino Médio, de 2006, sobre os conhecimentos de Literatura na
área de Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias:
Constata-se, de maneira geral, na passagem do ensino fundamental
para o ensino médio, um declínio da experiência de leitura de textos
ficcionais, seja de livros da Literatura infanto-juvenil, seja de alguns
poucos autores representativos da Literatura brasileira selecionados,
que aos poucos cede lugar à história da Literatura e seus estilos.
Percebe-se que a Literatura assim focalizada – o que se verifica
sobretudo em grande parte dos manuais didáticos do ensino médio –
prescinde da experiência plena de leitura do texto literário pelo leitor.
No lugar dessa experiência estética, ocorre a fragmentação de trechos
de obras ou poemas isolados, considerados exemplares de
determinados estilos, prática que se revela um dos mais graves
problemas ainda hoje recorrentes. (BRASIL, 2006a, p. 63).
No trecho citado, entende-se que, em nome da “história da literatura”, deixa-se
de ensinar a própria literatura; ou seja, não se fazem leituras com os alunos e não se
formam leitores. Tal constatação tornou-se um senso comum aos professores que
criticam os programas da disciplina de Literatura centrados nos períodos literários e no
estudo de obras e autores. Cabe definir então o que é a literatura que se quer ensinar na
escola.
As Orientações Curriculares de 2006 pretendiam resolver problemas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2002, como o:
- foco exclusivo na história da literatura. Apesar de assinalar a
permanência dessa prática viciada no ensino da literatura (“os estudos
literários seguem o mesmo caminho. A história da literatura costuma
ser o foco da compreensão do texto; uma história que nem sempre
corresponde ao texto que lhe serve de exemplo”), não indica como
romper com ela. (BRASIL, 2006a, p. 59).
Destaco: “prática viciada no ensino da literatura” – a do foco exclusivo do
ensino na história da literatura. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio
identificam, portanto, uma vilã, que é viciada e precisa ir para uma casa de recuperação
se tratar.
768
Entretanto, é preciso entender que tal crítica e condenação se referem à forma
como a história da literatura é tratada na disciplina de Literatura1, reduzindo-se à
abordagem dos períodos literários e o enquadramento de obras e autores em tais
períodos. Encontra-se nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio um resumo
desta situação:
Os professores, pressionados por programas panorâmicos, sentem-se
obrigados a cobrir toda a linha do tempo (assim como se sentem
pressionados a cobrir todos os pontos de gramática), fazendo uso da
história da Literatura, ainda que isso não sirva para nada: aulas
“chatas”, alunos e professores desmotivados, aprendizagem que não
corresponde ao que em princípio foi ensinado. (BRASIL, 2006a, p.
76).
A discussão sobre ensinar “x” ou a “história de x” não se restringe à disciplina
de Literatura. As mesmas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que
condenam, no caso da Literatura, o ensino historicista, o incentivam em relação ao
ensino dos conhecimentos de Filosofia:
Cabe insistir na centralidade da História da Filosofia como fonte para
o tratamento adequado de questões filosóficas. [...] É salutar, portanto,
para o ensino da Filosofia que nunca se desconsidere a sua história,
em cujos textos reconhecemos boa parte de nossas medidas de
competência e também elementos que despertam nossa vocação para o
trabalho filosófico. Mais que isso, é recomendável que a história da
Filosofia e o texto filosófico tenham papel central no ensino da
Filosofia, ainda que a perspectiva adotada pelo professor seja
temática, não sendo excessivo reforçar a importância de se trabalhar
com os textos propriamente filosóficos e primários, mesmo quando se
dialoga com textos de outra natureza, literários e jornalísticos, por
exemplo – o que pode ser bastante útil e instigante nessa fase de
formação do aluno. Porém, é a partir de seu legado próprio, com uma
tradição que se apresenta na forma amplamente conhecida como
História da Filosofia, que a Filosofia pode propor-se ao diálogo com
outras áreas do conhecimento e oferecer uma contribuição peculiar na
formação do educando. (BRASIL, 2006b, p. 27).
1
Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2002 incorporam os conteúdos de Literatura
aos estudos da linguagem. As Orientações Curriculares do Ensino Médio, de 2006, defendem a
especificidade da literatura dentro do estudo da linguagem e se propõem a ratificar a importância da
presença da disciplina no currículo do ensino médio (BRASIL, 2006a, p. 49-50). Luís Augusto Fischer
(2011) denuncia o que ele chama de desprezo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pela história
da literatura: “O certo é que o Enem trata o texto literário como apenas um texto entre outros, um poema
de Drummond no mesmo patamar que um anúncio de remédio e um cartaz contra o cigarro, sem nenhum
contexto.”
769
Diante da inserção da disciplina de Filosofia no currículo do ensino médio como
obrigatória 2 e diante das orientações do Ministério da Educação brasileiro para o
currículo da disciplina, Ester Maria Heuser (2010, p. 5) remonta à experiência negativa
do filósofo Gilles Deleuze (apud HEUSER, 2010, p. 5) com seus estudos formais de
Filosofia. Assustado com o que chamou de “história demais”, Deleuze, em vez de
abandonar a história da filosofia, passou a se perguntar sobre como funciona a filosofia
na história, com:
[...] intensidades, fluxos, processos, coisas que não querem dizer nada,
que não têm um significado escondido a ser encontrado, uma verdade
a ser desvendada; coisas que têm ligação com o Fora, com o exterior
do pensamento, com aquilo que impulsiona, provoca, violenta o
pensamento, tira-o do mero exercício de reconhecimento e abre-o para
a possibilidade da criação. (HEUSER, 2010, p. 5).
Ester Maria Heuser (2010, p. 2) aponta ainda para o trabalho coletivo que se faz
necessário diante da nova configuração da disciplina de Filosofia no ensino médio.
Tendo passado o momento de reivindicar sua inclusão, é preciso:
[...] juntos pensar como fazer funcionar a filosofia na escola. Como
fazer da filosofia algo notável, importante e interessante nas escolas,
para os estudantes, aos professores das outras disciplinas e, também,
para nós mesmos, os professores de filosofia?
Uma das perguntas de acima é um tanto quanto nova e pouco feita pelos
professores: Como tornar a aula interessante para o próprio professor? Esse, muitas
vezes, se pergunta sobre como fazer a aula ser mais prazerosa, como tornar a atividade
do aluno mais prazerosa, mas raramente se pergunta sobre como seu trabalho pode ser
mais profícuo e amoroso para consigo mesmo.
O professor costuma pensar em dar uma aula para, em preparar sua aula para
dá-la, sempre se dirigindo ao outro que a receberá. Parece que não faz o que faz, que é
ler, resumir, criar, interpretar, inventar, digerir conhecimentos, textos, imagens, sons e
afetos, para si mesmo. Antes de preparar algo para alguém o professor prepara-se,
transforma-se na composição de sua aula e transforma-se ao conduzi-la. Da mesma forma
que Ezra Pound (2006, p. 81) sugere aos professores que leiam com os alunos – e não
para eles –, cabe lembrar ao professor que sua aula é também para si, que não se trata de
uma doação vocacional e sim de uma troca investida de amor e ódio na relação. Assim, a
2
A Lei n. 11.684, de 2 de junho de 2008, inclui a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias
em todas as séries do ensino médio.
770
melhor parte de ser professor de Literatura é ter a oportunidade (e a obrigação) de ler e
reler com seus alunos obras e livros, que em outras circunstâncias, dificilmente, seriam
lidos. O professor de literatura precisa ser antes um crítico, além de leitor, para
experienciar e vivenciar a leitura dos textos que leu com seus alunos. Isso inclui
aprender a lidar com a história da literatura como algo vivo, e não como uma coleção de
datas e nomes.
Leyla Perrone Moisés (2011) destaca como o ensaio de Roland Barthes, História
ou literatura?, permanece espantosamente vivo depois de cinquenta anos e instiga:
“Todos os críticos literários e professores de literatura deveriam ler com atenção esse
capítulo.” Seguindo a sugestão de Perrone-Moisés, debruço-me no texto de Barthes e
tiro dele alguns elementos para desenhar o retrato da mocinha e da vilã no ensino
escolar de literatura. Mas antes algumas palavras sobre o livro Sobre Racine, de 1963,
em que o capítulo está publicado.
O livro se compõe de três estudos: O homem raciniano, Declamar Racine e
História ou literatura? Diante deste livro pequeno, discreto, ninguém imaginaria que se
levantaria na França um grande debate sobre a crítica literária e que promoveria
perguntas sobre o que é a literatura, como deve ser lida e ensinada, qual a função do
crítico e quais os seus deveres e direitos (PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 31). Tal debate
culmina em fúria expressa, dois anos depois, em 1965, pelo porta-voz da indignação,
Raymond Picard, chamando Roland Barthes de “escroque intelectual”, acusando-o de
subjetivismo e de interpretações abusivas manifestada numa forma estranha de
linguagem. Leyla Perrrone-Moisés (1983, p. 37) explica que a acirrada oposição a
Barthes, na época, devia-se tanto a concepções políticas e a uma crise do ensino, quanto
ao estilo de escrita de Barthes, cheio de “[...] imagens inesperadas, de termos técnicos e
científicos, de neologismos criados por ele.” O que se criticava também era a linguagem
e a forma como Barthes falava de escritores e obras consagrados, que eram um mito
pertencente à academia, como Racine.
Em História ou literatura?, Roland Barthes (2008, p. IX) propõe um interlocutor
implícito:
[...] o historiador da literatura, de formação universitária, a quem se
pede, que empreenda uma verdadeira história da instituição literária
(se quiser ser historiador), ou então que assuma abertamente a
psicologia à qual se refere (se quiser ser crítico).
771
Roland Barthes propõe que o historiador da literatura empreenda a história da
instituição literária, em vez de realizar um estudo de autores e de obras que se sucedem
em uma sequencia temporal. O primeiro problema posto para a realização da tarefa é o
estatuto da literatura como produto histórico, que é ao mesmo tempo “[...] signo de uma
história e resistência a essa história." (BARTHES, 2008, p. 188). É fácil perceber que a
obra escapa à “[...] sua história, a soma de suas fontes, influências ou modelos [...]”
(BARTHES, 2008, p. 188). Sendo assim, Barthes propõe que se deixe ao estudo do que
ele chama de “criação literária” o método de investigação psicológica, evitando-se a
mistura dos dois estudos. Para Barthes (2008, p. 189), a história da literatura não diz
respeito ao que ocorreu com o autor quando escreveu, e sim cabe a ela “[...] perguntar o
que uma obra nos fornece de seu tempo.”.
Então a obra é tomada como “[...]
documento, vestígio particular de uma atividade [...]” (BARTHES, 2008, p. 189). E
prossegue: “[...] a história literária só é possível se sociológica, se interessada nas
atividades e nas instituições, e não nos indivíduos.” (BARTHES, 2008, p. 197).
A definição clichê de Literatura, que perpassa o senso comum, é: “Livro de
literatura é aquele que pertence ao cânone literário e é apresentado como uma obra de
valor dentro da história literária.” Esta clareza tende a impedir os professores de
questionar o que ler e como ler com seus alunos, eximindo-se, por exemplo, de ler obras
contemporâneas, quando o enquadramento dos livros ficcionais nessa definição não fica
tão fácil. Neste ponto de vista limitado, a leitura do livro literário tem a finalidade de
ilustrar o conhecimento cultural de uma civilização – lê-se literatura para aprender a
história literária.
Mesmo tendo como definição de literatura as obras que pertencem ao cânone,
ainda assim é difícil fazer uma seleção para a leitura. É nesse sentido que estabelecer
uma linha do tempo a ser percorrida facilita a seleção de quais obras ler ou sobre as
quais falar. Além disso, sobre essas obras só é permitido falar de uma única forma, já
institucionalizada e consagrada; conhecem-se títulos e autores, mas quase nada do texto
deles; é mais fácil mensurar o “conhecimento” adquirido – tem-se a sensação de algo foi
ensinado e pode-se medir as respostas dos alunos como corretas ou incorretas. A vilã, a
história da literatura, só atrai tanto porque se travestiu de boazinha e facilita a vida do
professor.
Em sua crítica de Racine, Roland Barthes aflora o objeto do amor, investe-o,
pois responde à pergunta da nova crítica: O homem de hoje pode ler os clássicos? Sua
resposta é sim, visto que seu Racine “[...] é uma reflexão sobre a infidelidade, e portanto
772
não está em nada isolado dos problemas que nos interessam imediatamente.”
(BARTHES, 2004, p. 57). Neste ponto, a questão não é o que ler, mas sim como ler. O
interessante não é o livro em si, mas as questões e provocações que podem ser feitas
dele.
O aluno de hoje pode e consegue ler os clássicos? Como conciliar o gosto pela
leitura que ser quer incutir nas crianças e jovens com o ensino de literatura, que se
enquadra dentro de uma disciplina escolar regida institucionalmente e que determina as
leituras a serem feitas (na verdade, os períodos literários a serem conhecidos)? Se os
clássicos só podem ser lidos se forem investidos de amor, como fazer esta investidura
na sala de aula?
Os clássicos e seus escritores precisam tornar-se propriedade individual.
Roland Barthes lê o seu Racine. Não é mais o mesmo Racine que pertencia aos críticos
e à academia, bem como era um mito social, e de quem era permitido falar apenas desse
e daquele jeito. A obra torna-se uma nova quando lida transversalmente, investida de
amor e passa a fazer sentido para quem lê. Para o ensino, pensar desta forma é
geralmente inconveniente, pois o professor está pouco acostumado a sobrepor a sua
leitura, o seu desejo, o seu amor. É muito difícil conciliar relações diferentes com o
texto, que não uniformizem uma resposta esperada.
Nos três anos do ensino médio, o programa usual inicia nas cantigas
trovadorescas em Portugal e vai até a literatura contemporânea brasileira nas suas
inúmeras manifestações. Algumas escolas optam por fazer o caminho inverso; outras
articulam as obras em torno de redes temáticas. Independentemente da metodologia
empregada para organizar o currículo, o professor se vê em meio a um universo de
textos clássicos e história literária sobre os quais tem de dar conta. Os alunos têm
dificuldade para entender por que precisam ler ou conhecer tantas obras antigas e
contextualizá-las histórica e esteticamente. O professor, naturalmente, não poderá se
aprofundar; em alguns casos, nem mesmo teve a oportunidade de ler todos os livros
mencionados no currículo.
Se o professor, ou o currículo escolar a que ele segue, acompanha uma linha do
tempo, não há porque se assustar. Embora, considerando apenas o terceiro ano do
ensino médio, por exemplo, cujo programa regular vai do pré-modernismo aos dias
atuais, sejam no mínimo cinquenta autores, é possível fazer disso uma aventura. O
acúmulo de leituras não se faz nas vésperas da aula a ser ministrada – o percurso
começa na faculdade de Letras ou anteriormente –, mas mesmo assim é muito difícil dar
773
conta de todo o panorama histórico. Já a aventura começa quando o professor se propõe
a ler os textos como seus alunos, mesmo que já os tenha lido anteriormente. Cabe
também, diante da linha do tempo, a pergunta por que ler.
O caminho entre deve ler, o que ler e por que ler diz respeito a um modelo de
pedagogia do ensino de literatura que precisa ser mais problematizado ainda. Diante
dessa problematização, não se trata de desenhar duas personagens planas e estáticas,
mocinha e vilã. Cabe pensar que o ensino de literatura apresenta um cenário complexo,
envolvendo múltiplos atores e, por sua vez, tem também sua própria história.
REFERÊNCIAS
BARTHES, Roland. Sobre Racine. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2008.
BARTHES, Roland. O grão da voz. Tradução de Mario Laranjeira. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
BARTHES, Roland. Aula. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix,
2004.
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares para o ensino médio:
linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da
Educação Básica, 2006a.
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares para o ensino médio:
ciências humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da
Educação Básica, 2006b.
CALVINO, Ítalo. O visconde partido ao meio. In: CALVINO, Ítalo. Os nossos
antepassados. Tradução Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
FISCHER, Luís Augusto. Cinco acusações contra o Enem. Disponível em:
<http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2738:cin
774
co-acusacoes-contra-o-enem-artigo-de-luis-augusto-fischer
&catid=50&Itemid=100017>. Acesso em: 6 set. 2011.
HEUSER, Ester Maria Dreher. História da filosofia: escola de intimidação ou de
criação? Congresso Internacional de Filosofia: debate de ideias e cidadania. 14 a 16
mai. 2008. Disponível em: <http://is.gd/XpLmzH>. Acesso em: 17 nov. 2010.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Entrevista concedida a André Dick. Revista do Instituto
Humanitas
Unisinos.
Disponível
em:
<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2
078&secao=270>. Acesso em: 1 out. 2011.
POUND, Ezra. Abc da Literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes.
São Paulo: Cultrix, 2006.
775
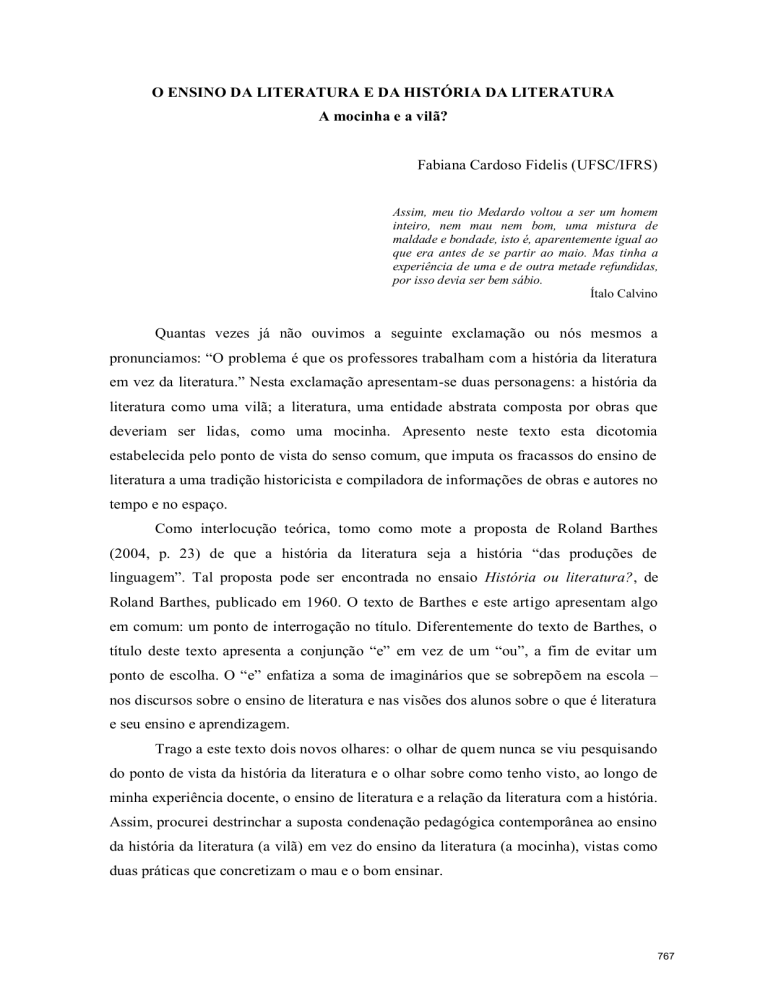
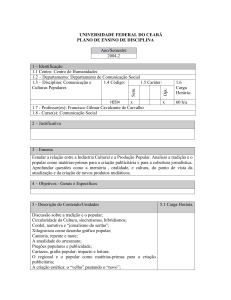

![1 LÉXICO DE BARTHES Rodrigo da Costa Araujo[1] Resenha](http://s1.studylibpt.com/store/data/002112259_1-cfd1ec512c4f0bef4bc99c96235fb61d-300x300.png)