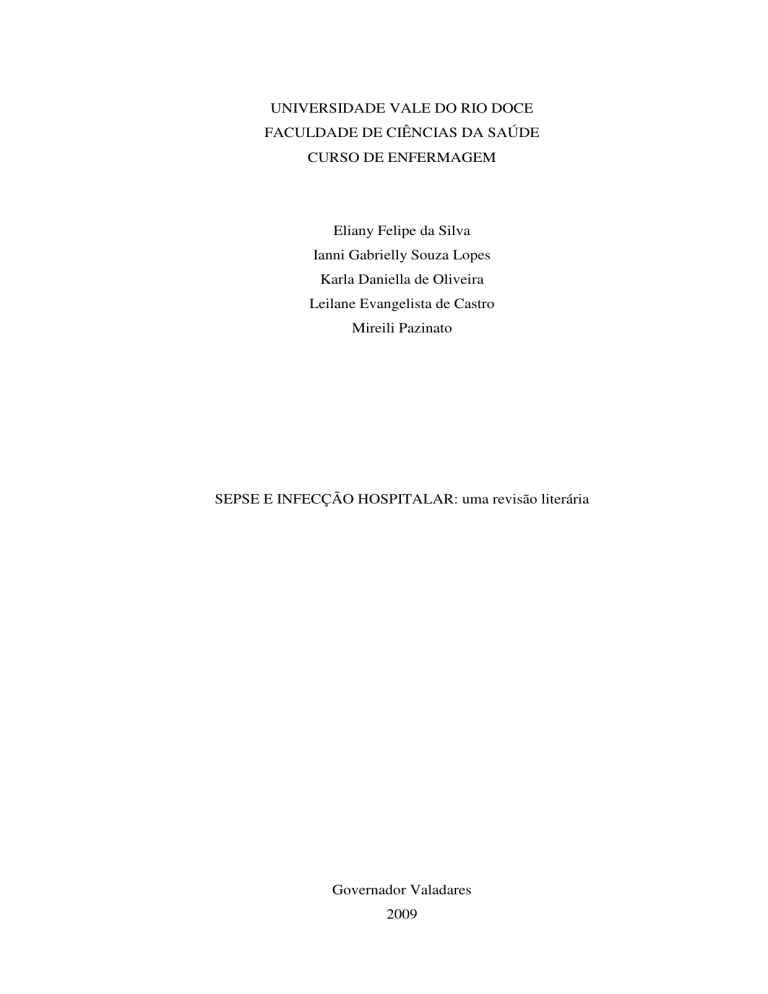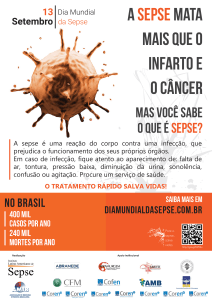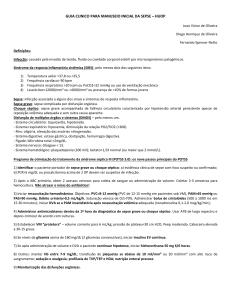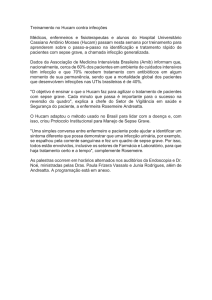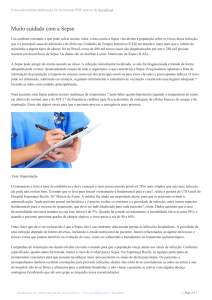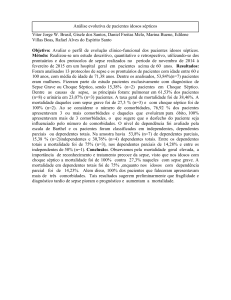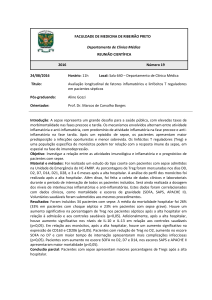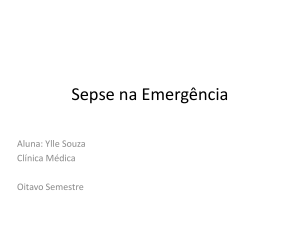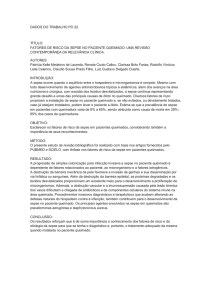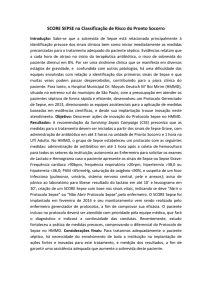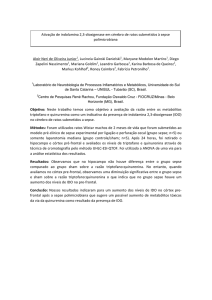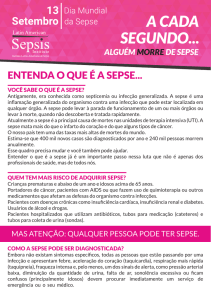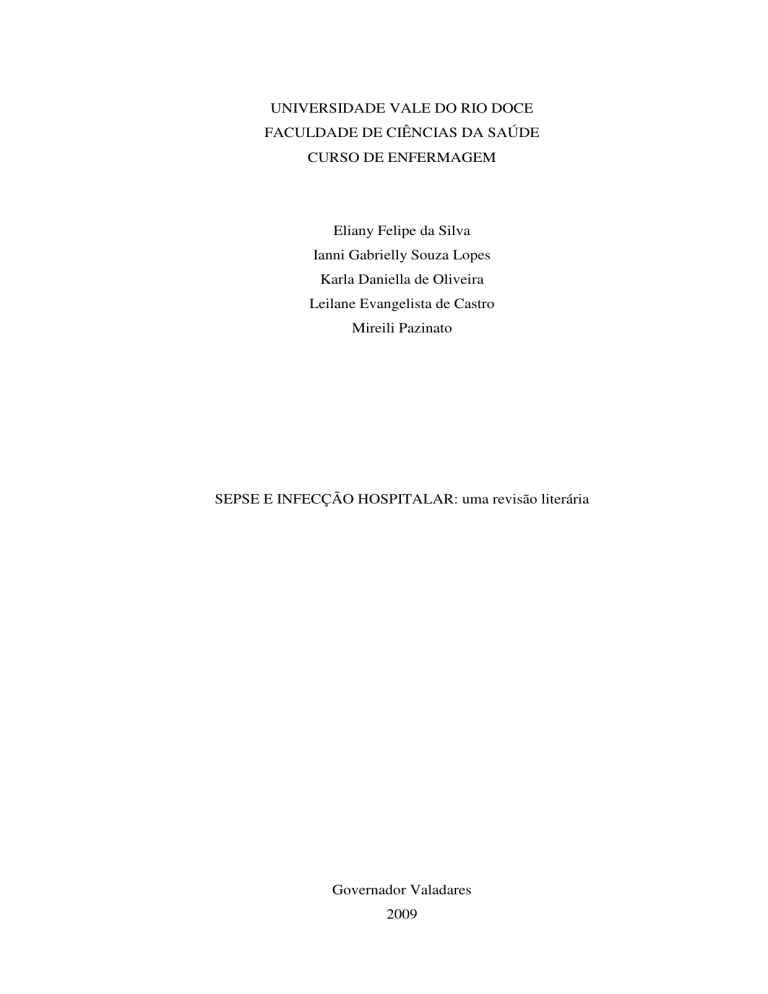
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE ENFERMAGEM
Eliany Felipe da Silva
Ianni Gabrielly Souza Lopes
Karla Daniella de Oliveira
Leilane Evangelista de Castro
Mireili Pazinato
SEPSE E INFECÇÃO HOSPITALAR: uma revisão literária
Governador Valadares
2009
ELIANY FELIPE DA SILVA
IANNI GABRIELLY SOUZA LOPES
KARLA DANIELLA DE OLIVEIRA
LEILANE EVANGELISTA DE CASTRO
MIREILI PAZINATO
SEPSE E INFECÇÃO HOSPITALAR: uma revisão literária
Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção
do grau de bacharel em Enfermagem,
apresentado à Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade Vale do Rio Doce.
Orientadora: Mônica Valadares Martins.
Governador Valadares
2009
Eliany Felipe da Silva
Ianni Gabrielly Souza Lopes
Karla Daniella de Oliveira
Leilane Evangelista de Castro
Mireili Pazinato
SEPSE E INFECÇÃO HOSPITALAR: uma revisão literária
Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção
do grau de bacharel em Enfermagem,
apresentado à Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade do Vale do Rio Doce.
Governador Valadares, 23 de junho de 2009.
Banca Examinadora:
______________________________________________________
Enfª. Mônica Valadares Martins - Orientadora
Universidade Vale do Rio Doce
______________________________________________________
Enfª. Eliana Maria de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce
______________________________________________________
Enfº. Gilberto Gernoht Laube
Hospital São Lucas de Governador Valadares
______________________________________________________
Enfº. Mauro Lúcio de Oliveira Júnior
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares
Dedicamos a Deus pela força nessa longa
caminhada e aos nossos pais pelo incentivo e
apoio na realização desse trabalho,
principalmente pelo investimento e confiança a
nós concedido.
AGRADECIMENTO
Agradecemos à nossa orientadora Profª. Mônica Valadares Martins pela dedicação,
delicadeza, paciência e conhecimento transmitido.
Aos nossos familiares e esposo pelo incentivo, paciência e compreensão diante de nossas
ausências durante a realização deste.
A todos os professores e colegas que nos ajudaram a superar qualquer angústia e ansiedade,
pois vocês nos impulsionaram a vencer.
A todos que, de alguma forma contribuíram para que este trabalho fosse possível.
RESUMO
A infecção é caracterizada pela invasão e a multiplicação de microorganismos dentro ou nos
tecidos do corpo, no qual produz sinais e sintomas e também uma resposta imunológica, que
podem produzir efeitos particularmente devastadores no sistema de assistência à saúde,
quando alguns fatores combinados deixarem os pacientes especialmente suscetíveis. A
infecção hospitalar é um processo infeccioso adquirido após a internação do paciente e que se
manifesta durante a internação ou pelo menos 48 horas após a alta quando puder ser
relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. A grande maioria é causada por
um desequilíbrio da relação existente entre a microbiota humana normal e os mecanismos de
defesa do hospedeiro, podendo ocorrer devido à própria patologia de base do paciente,
procedimentos invasivos e alterações da população microbiana, geralmente induzida pelo uso
inadequado de antibióticos e, em decorrência disto, o paciente poderá evoluir para sepse. A
sepse é uma síndrome complexa causada pela resposta inflamatória sistêmica descontrolada
do indivíduo, de origem infecciosa, caracterizada por manifestações múltiplas e que pode
determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos ou mesmo a sua morte. A sepse grave
e o choque séptico representam os espectros mais graves da síndrome, associados aos sinais
de hipoperfusão, disfunção orgânica e hipotensão responsiva ou não a ressuscitação volêmica
e, embora as causas básicas e os mecanismos fisiopatológicos dos estados de choque sejam
variáveis, o denominador comum na maioria deles é hipoperfusão tecidual, manifestada
geralmente por metabolismo anaeróbio e acidose láctica. Representando mais do que
diferenças em parâmetros hemodinâmicos, as diferentes formas de choque cursam com
desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio aos tecidos, cabendo então aos profissionais
da saúde, a identificação o mais precocemente possível desta patologia, para que se possa
reduzir ao máximo as taxas de mortalidade decorrentes deste agravo – a sepse. Este estudo de
revisão literária ressalta a importância da busca de conhecimentos específicos da sepse e seu
diagnóstico precoce para maximizar os resultados, a qualidade do tratamento e a melhor
compreensão desse agravo. A relevância deste estudo é apontada pela alta ocorrência de
complicações decorrentes da resposta inflamatória causada pela sepse, resultando em
comprometimento de órgãos diversos com rápida evolução para o quadro de choque e
síndrome da insuficiência de múltiplos órgãos, responsáveis pela alta mortalidade, porém,
com considerável probabilidade de prevenção. Visou revelar as descrições encontradas na
literatura acerca da sepse, sua ocorrência, evolução clínica, complicações, intervenções
terapêuticas e sua adequada direção pela equipe de saúde, utilizando o banco de dados do
acervo da biblioteca da Universidade do Vale do Rio Doce, como artigos científicos da
BIREME e revistas de enfermagem que retratam esse tema. Considerou a importância que as
infecções de corrente sanguínea apresentam dentro do contexto de morbimortalidade e custos
em pacientes internados em unidades críticas em todo o mundo, com mortalidade variando
entre 25-30%.
Palavras-chave: Infecção. Infecção Hospitalar. Sepse. Sepse Grave. Choque Séptico.
ABSTRACT
The infection is characterized by invasion and multiplication of microorganisms within or in
the tissues of the body, which produces signs and symptoms and an immune response, which
may have particularly devastating effects on the health care system, when several factors
combined leave patients particularly susceptible. A nosocomial infection is an infection
acquired after admission the patient and that manifests itself during hospitalization or at least
48 hours after discharge when they can be related to hospitalization or hospital procedures.
The vast majority is caused by an imbalance in the relationship between normal human
microbiota and the host's defense mechanisms and may occur due to the basic pathology of
the patient, invasive procedures and changes in microbial population, usually induced by the
inappropriate use of antibiotics and, in result, the patient may progress to sepsis. The sepsis
syndrome is a complex systemic inflammatory response caused by the discharge of the
individual, of infectious origin, characterized by multiple manifestations and that can
determine failure or dysfunction of one or more bodies or even their death. The severe sepsis
and septic shock spectra represent the more severe the syndrome, associated with signs of
hypoperfusion, organ dysfunction and hypotension or not responsive to volume resuscitation
and, although the causes and mechanisms of pathophysiological states of shock are varied, the
common denominator most of them is tissue hypoperfusion, manifested mainly by anaerobic
metabolism and lactic acidosis. Representing more than differences in hemodynamic
parameters, the various forms of shock lead to imbalance between supply and demand of
oxygen to tissues, then with health professionals, the early identification of this pathology in
order to reduce the mortality rates from this disease - to sepsis. The study of literary review
highlights the importance of searching for specific knowledge of sepsis and early diagnosis to
maximize the results, the quality of treatment and better understanding this disorder. The
relevance of this study is indicated by the high incidence of complications arising from the
inflammatory response caused by sepsis, resulting in impairment of many organs with rapid
changes to the framework of shock syndrome and the failure of multiple organs, responsible
for high mortality, but with considerable probability of prevention. Aimed prove the
descriptions found in literature on sepsis and its occurrence, clinical course, complications,
therapeutic interventions and adequate direction by the health team, using the database of the
library collection of the University of Vale do Rio Doce, and scientific articles BIREME and
nursing magazines that portray the theme. Considered the importance of infections of the
blood present within the context of morbidity and costs in hospitalized patients in critical
units worldwide, with mortality ranging from 25-30%.
Keywords: Infection. Hospital Infection. Sepsis. Severe sepsis. Septic shock.
LISTA DE SIGLAS
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CIH – Controle de Infecção Hospitalar
CIVD – Coagulação Intravascular Disseminada
EV – Endovenoso
FT – Fator Tissular
GIPEA – Gerência de Investigação e Prevenção das Infecções e Efeitos Adversos
Hb – Hemoglobina
IC – Infecção Comunitária
IGEV – Imunoglobulina Humana Endovenosa
IH – Infecção Hospitalar
IkB – Proteína Inibidora de kappa B
IPCS – Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea
IRA – Infecção Respiratória Aguda
ISC – Infecção do Sítio Cirúrgico
ITU – Infecção do Trato Urinário
LBP – Lipopolissacarídeo - binding protein
LPA – Lesão Pulmonar Aguda
LPS – Lipopolissacarídeos
MODS – Síndrome da Disfunção de Múltiplos Órgãos
MS – Ministério da Saúde
NFkB – Fator Nuclear Citosólico kappa B
NO – Óxido Nítrico
O2 - Oxigênio
OMS – Organização Mundial da Saúde
PAI – Inibidor do Ativador Plasminogênio
PAM – Pressão Arterial Média
PAVM ou PAV – Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
PCArh – Proteína C Ativada humana recombinante
PCIH – Programa de Controle de Infecção Hospitalar
PCR – Proteína C Reativa
PEEP – Pressão Positiva Expiratória Final
PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
PVC – Pressão Venosa Central
SARA – Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
SDRA – Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
SIRS – Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica
SGB - Streptococcus do grupo B
SVCO2 – Saturação Venosa Central de Oxigênio
SVO2 – Saturação Mista de Oxigênio
TFPI – Inibidor da Via Fator Tecidual
TNF – Fator de Necrose Tumoral
TRL – Receptor toll-like
UCISA – Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................................11
2 DESENVOLVIMENTO........................................................................................................14
2.1 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................14
2.1.1 Definição de Sepse ...........................................................................................................14
2.1.2 Aspectos Epidemiológicos ...............................................................................................16
2.1.3 Etiologia............................................................................................................................19
2.1.4 Fisiopatogenia ..................................................................................................................20
2.1.5 Fatores de risco ................................................................................................................24
2.1.6 Manifestações clínicas .....................................................................................................26
2.1.7 Critérios Diagnósticos/Prognóstico ................................................................................27
2.1.8 Complicações....................................................................................................................28
2.1.9 Tratamento.......................................................................................................................30
2.1.9.1 Terapia Combinada.........................................................................................................33
2.1.9.2 Terapêutica Antimicrobiana ...........................................................................................33
2.1.10 Campanha Sobrevivendo à Sepse ................................................................................34
2.1.11 Profilaxia ........................................................................................................................38
2.2 AS INFECÇÕES NOSOCOMIAS.......................................................................................38
2.2.1 Aspectos Históricos da Infecção Hospitalar no Mundo ...............................................38
2.2.2 Aspectos Históricos das Infecções Hospitalares no Brasil ...........................................40
2.2.3 Os Conceitos de Infecção ................................................................................................41
2.2.4 Controle de Infecção Hospitalar ....................................................................................43
2.2.5 Infecções Hospitalares em Grandes Sítios.....................................................................44
2.2.5.1 Infecções do Trato Respiratório .....................................................................................44
2.2.5.2 Infecções do Trato Urinário............................................................................................45
2.2.5.3 Infecções em Sítio Cirúrgico ..........................................................................................46
2.2.5.4 Infecções da Corrente Sangüínea Relacionadas a Dispositivos Intravasculares ............46
2.2.5.5 Infecções Relacionadas a Dispositivos Implantáveis .....................................................48
2.2.6 Infecção Hospitalar e a Sepse .........................................................................................48
2.3 METODOLOGIA.................................................................................................................49
2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .........................................................................................51
3 CONCLUSÃO........................................................................................................................53
REFERÊNCIAS .......................................................................................................................54
11
1 INTRODUÇÃO
Sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica à infecção, associada com
hemocultura positiva, manifestada por duas ou mais das seguintes condições: freqüência
respiratória maior que 20irpm, freqüência cardíaca maior que 90bpm, hipertermia
(temperatura corporal maior ou igual a 38°C) ou hipotermia (temperatura corporal menor ou
igual a 36°C) e leucocitose (contagem global de leucócitos maior que 12.000 células/mm³) ou
leucopenia (contagem global de leucócitos menor que 4.000 células/mm³). Sepse clínica é
considerada quando não há comprovação microbiológica (EGGIMANN, 2001).
Na sepse há uma produção excessiva de mediadores inflamatórios e uma ativação
também excessiva de células inflamatórias. A principal conseqüência desta resposta
inflamatória é o comprometimento de muitos órgãos e o quadro de choque com evolução para
a síndrome da insuficiência de múltiplos órgãos, que é acompanhada de alta mortalidade,
aproximadamente 70% (JUNIOR et al., 1998).
A sepse grave é aquela na qual o quadro de sepse está associado à hipotensão arterial
(pressão sistólica menor que 90mmHg), que pode ser revertida pela administração de fluidos
sem a necessidade de agentes vasopressores (EGGIMANN, 2001).
O choque séptico é definido como sepse relacionada com hipotensão que, apesar da
reposição volêmica necessita de agentes vasoativos (SAKORAFAS et al., 2007).
Nos Estados Unidos, a incidência de sepse grave é de 751.000 casos por ano, que
correspondem a 3 casos por 1000 habitantes e a taxa de mortalidade é de 29,6%. Na Europa,
em 14.364 pacientes admitidos em 28 UTI, 24% das infecções hospitalares nessa clínica
foram correspondentes a sepse grave e 30% ao choque séptico. Lá o tratamento da sepse custa
anualmente 16.7 bilhões de dólares (YU; et al., 2003), enquanto na Europa o total de custos é
superior a 20 bilhões de dólares por ano (ZUEV; KINGSMORE; GESSLER, 2006).
No Brasil, o estudo BASES (Brazilian Sepsis Epidemiological Study) mostrou que
cerca de 25% dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva apresentam critérios
diagnósticos para sepse grave e choque séptico, com as taxas: 34,7% para sepse, 43,7% para
sepse grave e 52,2% para choque séptico (SILVA et al., 2004). As dificuldades resultantes da
inexistência de laboratórios, da baixa qualidade dos existentes e da falta de tradição das
práticas de prevenção e controle nos hospitais, têm um impacto expressivo no tocante às
infecções hospitalares (GONTIJO FILHO, 2002).
12
A infecção hospitalar é definida como processo infeccioso adquirido após a internação
do paciente e que se manifesta durante a internação ou pelo menos 48 horas após a alta
quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares, existente há
milhares de anos, basicamente desde a existência dos próprios hospitais, sendo o estudo e
aprimoramento de técnicas assépticas, o uso de materiais estéreis, assim como a adequada
manipulação dos mesmos, fatores contribuintes para amenizar os agravos decorrentes de
infecções e também como comprovante da importância dessa prática (SILVA, 2003).
A infecção hospitalar representa um dos principais problemas de qualidade da
assistência a saúde, um problema econômico devido à importante incidência e letalidade
significativa. A sua ocorrência amplia o prejuízo da instituição, do paciente e da sociedade
como um todo (SILVA, 2003).
O risco de adquirir infecção em um hospital é diretamente proporcional à gravidade da
doença, às condições nutricionais do paciente, aos procedimentos necessários em seu
tratamento, bem como ao tempo de internação. Sua incidência é maior em hospitais
universitários do que em hospitais da comunidade devido a maior gravidade das doenças ou
procedimentos mais complicados que são ali realizados. As internações mais longas e a
interação mais efetiva dos pacientes com vários profissionais de saúde, além de estudantes e
membros da equipe, contribuem para esse aumento (COSENDEY, 2000). Cerca de 250.000
de 2 milhões de infecções hospitalares anuais estão vinculadas a corrente sanguínea, em
decorrência do uso de algum dispositivo vascular, ressalta Oliveira (2005).
Este estudo apresenta a sepse e seu nível de complexidade até a sua forma mais grave
retratado pelo acometimento de um ou múltiplos órgãos por microorganismos afins. Na
atualidade retrata-se a sepse como um agravo responsável por alto número de vítimas devido
aos diversos desencadeadores, tais como pacientes que se enquadram no perfil de
imunodeprimidos, com tempo de internação prolongado ou receptores de procedimentos
invasivos, complexidade da terapêutica e grau de comprometimento do estado de saúde. A
permanência de cateteres e sondas são fortes determinantes para sepse.
Diante de tantas oportunidades a sepse pode se instalar, tornando a terapia mais
complexa, diminuindo as possibilidades de reabilitação do paciente e aumentando os custos
do tratamento. O conhecimento dos fatores predisponentes, sinais clínicos, diagnóstico
precoce e tratamento, constituem critérios de suma importância para lidar com a situação que
exige urgência no tratamento, habilidade na assistência e observação rigorosa da evolução dos
sinais e sintomas.
13
Sabe-se que diante da gravidade do potencial de ação da sepse grave, o cuidado com
pacientes em UTI deve ser redobrado para serem minimizadas as possibilidades de se adquirir
esta patologia. Esta situação lábil e de evolução rápida sinaliza para a necessidade de o
profissional enfermeiro, em sincronia permanente com demais profissionais da equipe de
saúde, agir vigilantemente, quanto à esterilização, desinfecção, higiene geral, evitando-se
assim, todas as formas possíveis de contato do paciente com os microorganismos causadores
deste agravo infeccioso. A avaliação e acompanhamento rigoroso do paciente com suspeita ou
diagnóstico comprovado de sepse representam práticas importantes para a satisfatória
evolução do tratamento.
Este estudo de revisão literária ressalta a importância da busca de conhecimentos
específicos da sepse e seu diagnóstico precoce para maximizar os resultados, a qualidade do
tratamento e a melhor compreensão desse agravo. A relevância deste estudo é apontada pela
alta ocorrência de complicações decorrentes da resposta inflamatória causada pela sepse,
resultando em comprometimento de órgãos diversos com rápida evolução para o quadro de
choque e síndrome da insuficiência de múltiplos órgãos, responsáveis pela alta mortalidade,
porém, com considerável probabilidade de prevenção. Visou revelar as descrições
encontradas na literatura acerca da sepse, sua ocorrência, evolução clínica, complicações,
intervenções terapêuticas e sua adequada direção pela equipe de saúde.
Para a condução desse estudo de revisão bibliográfica utilizou-se o banco de dados do
acervo da biblioteca da Universidade do Vale do Rio Doce, como artigos científicos da
BIREME e revistas de enfermagem que retratam esse tema.
A elaboração deste trabalho considerou a importância que as infecções de corrente
sanguínea apresentam dentro do contexto de morbimortalidade e custos em pacientes
internados em unidades críticas em todo o mundo, com mortalidade variando entre 25-30%,
possibilitando proporcionar ao profissional base científica para o reconhecimento de sinais e
sintomas de infecção hospitalar e sepse e assim, facilitar a identificação precoce deste agravo.
14
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 REVISÃO DA LITERATURA
2.1.1 Definição de Sepse
Para Silva (2006), o crescente interesse pelo tema tem mudado o perfil de atuação de
pesquisadores, profissionais, gestores de saúde e órgãos governamentais, não mais encaradas
como uma complicação eventual, pois a sepse direciona as atenções desses profissionais no
sentido de reduzir sua incidência e taxa de mortalidade.
Tanto o diagnóstico precoce da sepse quanto a mudança ou interrupção do seu curso
têm sido persistentemente perseguidas pelos pesquisadores nesses últimos anos. Entretanto, a
má evolução clínica e/ou a manutenção de elevada mortalidade nos pacientes com sepse ainda
não sinalizam para um desfecho próximo ou exitoso na busca de soluções para esse mal, por
isso é muito importante se conhecer bem esta síndrome (CARVALHO; TROTTA, 2003).
Carvalho e Trotta (2003) afirmam que a sepse é uma síndrome complexa causada pela
resposta inflamatória sistêmica à presença de micro-organismos ou alguns de seus
componentes na corrente sanguínea, de origem infecciosa, caracterizada por manifestações
múltiplas, e que pode determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos, entretanto, na
presença de infecção sistêmica a resposta imune é acompanhada de lesão endotelial e dano
tissular difuso podendo levar ao choque séptico e letal. Essas ocorrências têm como principal
causa as pneumonias, infecções urinárias e de ferida operatória.
A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) é um conjunto de sinais e
sintomas que traduz a reação do organismo à presença de infecção. Portanto, a sepse é
considerada quando há presença de dois ou mais sinais e sintomas secundários a um processo
infeccioso, como a temperatura > 38° C ou < 36°C, frequência cardíaca > 90 bpm, frequência
respiratória >20 rpm entre outros (SILVA, 2006).
Carvalho e Trotta (2003) descrevem ainda que o termo sepse é aplicável somente
quando a resposta sistêmica é clinicamente relevante, podendo manifestar-se por uma
variedade de situações, de complexidade crescente:
15
a) sepse grave, entendida como sepse associada à disfunção de órgãos, hipoperfusão
e hipotensão, podendo ocorrer acidose lática, oligúria ou uma alteração aguda do
estado de consciência;
b) choque séptico, entendido como a sepse associada com as alterações da
hipoperfusão mais a hipotensão persistente mesmo após ressuscitação volumétrica
adequada e;
c) síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (MODS), que pode representar o
estágio final da resposta inflamatória sistêmica grave.
Sepse Grave manifesta-se quando um paciente séptico desenvolve qualquer disfunção
orgânica induzida, obrigatoriamente pela própria sepse. As disfunções podem ser
cardiovascular, respiratória, renal, hepática, hematológica e sistema nervoso central (SILVA,
2006).
Conforme Silva (2008) o choque séptico é uma condição em que o paciente com
quadro de sepse grave desenvolve hipotensão arterial potencialmente letal refratária à
reposição volêmica, necessitando de drogas vasopressoras para estabilizar a pressão arterial,
ocorrendo mais frequentemente em recém-nascidos, em indivíduos com mais de 50 anos de
idade e naqueles com comprometimento do sistema imune. Além disso, a sua gravidade é
maior quando a contagem leucocitária encontra-se baixa, como ocorre em indivíduos com
câncer e que fazem uso de drogas antineoplásicas ou que apresentam doenças crônicas, como
diabetes ou cirrose.
O choque séptico nada mais é do que um subcenário da sepse grave, sendo definido
como sepse associada à hipotensão que persiste apesar da reanimação fluídica
adequada acompanhada de hipoperfusão ou disfunção orgânica. O denominador
comum na sepse e choque séptico é uma inflamação sistêmica que envolve
principalmente a microcirculação, provocada pela ativação do endotélio, que passa
de um estado normal anticoagulante para um estado prócoagulante, com aumento
na adesividade dos leucócitos e plaquetas (ZAVARIZ et al., 2006, p. 03).
O choque séptico é causado por toxinas produzidas por certas bactérias e por citocinas,
que são substâncias sintetizadas pelo sistema imune para combater as infecções, visto que os
vasos sanguíneos dilatam, produzindo queda da pressão arterial apesar do aumento da
frequência cardíaca e do volume de sangue bombeado, esses vasos sanguíneos também podem
tornar-se mais permeáveis, permitindo o escape de líquido da corrente sanguínea para os
tecidos, causando edema (SILVA, 2008).
16
Algumas pessoas desenvolvem uma reação inflamatória sistêmica, fazendo com que
haja lesão à distância, ou seja, em outros órgãos, caracterizado por disfunção de múltiplos
órgãos, grande responsável pelo óbito desses pacientes (SILVA, 2006).
Segundo Silva (2008), o fluxo sanguíneo aos órgãos vitais, sobretudo aos rins e ao
cérebro diminui e, posteriormente, os vasos sanguíneos contraem em uma tentativa de elevar a
pressão arterial, mas o débito cardíaco diminui e, consequentemente, a pressão arterial
permanece muito baixa.
SALLES et al. (1999) descrevem que nos últimos 10 anos, progressos em biologia
celular e molecular mostraram que a agressão bacteriana ou de seus subprodutos, endotoxinas
e lipopolissacarídeos (LPS), não são os únicos responsáveis pela deterioração clínica dos
pacientes em choque e que a resposta do hospedeiro desempenha papel importante nos
diferentes tipos de agressões, quer seja infecciosas ou não, como pancreatite ou trauma, no
entanto, atualmente acredita-se que doenças resultantes de lesão endotelial difusa, causadas
por persistente estímulo inflamatório, são responsáveis pelo comprometimento de múltiplos
órgãos e sistemas.
2.1.2 Aspectos Epidemiológicos
Para SALLUH et al. (2006) a sepse é a principal causa de mortalidade em UTIs em
todo mundo, representando um problema clínico de grande relevância, devido as suas altas
prevalência e letalidade e ao custo elevado, no qual tem se destacado como um pesado fardo
para os sistemas de saúde, tanto do ponto de vista econômico como social.
Aproximadamente dois terços das sepses são decorrentes de infecções hospitalares,
dado esse de suma importância para a prevenção e tratamento. Contudo, mesmo com grandes
processos em antibioticoterapia e melhores condições de assistência médico-hospitalar,
continua bastante elevado o índice de mortalidade nessa afecção relativamente comum e
temida (SALOMÃO; RIGATO JR.; UJVARI, 1999; BRANCHINI; FARHAT, 1999).
É a principal causa de mortalidade em UTIs não-cardiológicas em todo mundo,
especialmente em decorrência de disfunção de múltiplos órgãos, no qual, estima-se uma taxa
de mortalidade média de 40%, sendo que 10% dos leitos dessas unidades são, atualmente,
ocupados por pacientes sépticos. Do ponto de vista populacional, cerca de 18 milhões de
novos casos de sepse grave serão diagnosticados a cada ano em todo mundo, com crescimento
17
estimado de 1% ao ano. Só nos Estados Unidos pode-se ter, em poucos anos, cerca de 1
milhão de casos novos de sepse grave a cada ano (SILVA, 2006).
Silva (2006) relata que foi avaliado, em 65 UTIs brasileiras, mais de 3.000 pacientes
dos quais 16% apresentaram sepse em algum momento da internação, uma vez que a taxa de
mortalidade variou de 16%, para aqueles pacientes sem disfunções orgânicas, a 65% nos
pacientes com choque séptico. Além disso, relatou-se que a principal fonte de infecção do
quadro séptico foi a pulmonar e que, entre as culturas positivas, houve predomínio de
bactérias gram-negativas.
Para SALLUH et al. (2006), a sepse representa um problema clínico de grande
relevância, devido as suas altas prevalência e letalidade e ao custo elevado. Sua incidência
anual tem aumentado de maneira preocupante nas últimas décadas, sendo estimada nos
Estados Unidos da América em 1995, em 750.000 casos que causaram 215.000 mortes, a um
custo anual de 16,7 bilhões de dólares. Apesar dos constantes avanços obtidos na terapêutica
de suporte, assim como na antibioticoterapia, sua mortalidade continua sendo extremamente
elevada, variando nas formas mais graves, entre 40% e 80%, sendo assim, a principal causa de
morte nas unidades de terapia intensiva.
No Brasil, estima-se que 28,9% dos pacientes que estão internados há mais de 24
horas na UTI tenham sepse grave e 51,4%, choque séptico. Neste último, que é a forma mais
grave de apresentação da sepse, com taxa de mortalidade em cerca de 80% em alguns centros,
observa-se que idosos, quando comparados aos jovens, apresentam maior número de
disfunções orgânicas e maior mortalidade, em decorrência, provavelmente, da presença de
comorbidades (LEMOS et al., 2005).
Silva (2006) ressalta que ao buscar dados internacionais, o Brasil apresenta taxa de
ocorrência superior a muitos estudos epidemiológicos realizados em outros países,
confirmando a tese da incidência tratada, pois nos países em que há pouca disponibilidade de
leitos de terapia intensiva relativa à demanda, políticas institucionais favorecem a admissão de
pacientes sépticos, o que aumentaria a taxa de ocorrência ou a densidade de incidência. Em
recente revisão o Brasil e o Reino Unido são os países que apresentam maior taxa de
ocorrência de sepse em UTI e possuem semelhantes políticas de admissão e alta nessas
unidades.
Estudos epidemiológicos recentes se ocuparam de diferentes aspectos da
epidemiologia clínica da sepse, sendo analisado 6.621.559 internações hospitalares nos EUA
no ano de 1995 em 847 hospitais e identificados 192.980 casos de sepse grave. A incidência
de sepse foi estimada em 751.000 casos por ano nos EUA, 300 casos por 100.000 habitantes
18
ou 2,26 casos por 100 internações hospitalares, sendo que em torno de 383.000, 51,1% destes
receberam cuidados intensivos e a letalidade hospitalar foi 28,6% e a letalidade na UTI foi de
34,1% (SALLUH et al., 2006).
De acordo com SALLUH et al. (2006) houve cerca de 750 milhões de internações
hospitalares nos EUA entre 1979 e 2000, onde foram identificados 10.319.418 casos de sepse,
com importante incremento na incidência do diagnóstico de sepse ao longo desses 22 anos. A
incidência que era de 82,7 casos/100.000 habitantes em 1979, saltou para 240,4/100.000 em
2000. No entanto, a letalidade apresentou um declínio significativo, de 27,8% entre 1979 e
1984 para 17,9% entre 1995 e 2000.
Os dados referentes à epidemiologia da sepse no Brasil ainda são escassos, no entanto
dois estudos recentes procuraram abordar essa questão. O Bases Study avaliou 1383 pacientes
internados em 5 UTIs, 3 em São Paulo e 2 em Santa Catarina durante 5 meses. Do total de
1383 pacientes incluídos, 415 pacientes, 30,5%, desenvolveram sepse, 241, 17,4%, sepse
grave e 203, 14,7%, choque séptico. A taxa de letalidade encontrada foi de 33,9%, 46,9% e
52,2%, para sepse, sepse grave e choque séptico, respectivamente. Um segundo estudo, Sepse
Brasil, incluiu 3128 pacientes em 75 UTIs de 65 hospitais, dos quais 521, 16,7%, foram
identificados como sepse, sepse grave ou choque séptico e foi observada letalidade de 16,7%,
34,4% e 65,3%, respectivamente (SALLUH et al., 2006).
Para SALES JÚNIOR et al. (2006), em torno de 2% a 11% das internações
hospitalares e nas UTIs são por esta doença. A mortalidade varia na maioria dos estudos entre
20% e 80%, destacando um aumento da incidência no período de 1979, 82,7/100.000
população, a 2000, 240,4/100.000 população, em torno de 8,7% ao ano. A mortalidade
reduziu de 27,8% nos primeiros anos para 17,9% nos últimos 05 anos de avaliação, e relatou
também que houve tendência semelhante na incidência e mortalidade quando avaliaram
pacientes com choque séptico em um período de oito anos. As internações na UTI elevaramse de 7 em 1993, para 9,7 em 2000, a cada 100 internações e a mortalidade reduziu de 62,1%
em 1993, para 55,9% em 2000. Estimaram uma incidência anual nos EUA de 751.000 casos,
3 casos/1.000 população e uma evolução para óbito em 215.000 casos, 28,6%.
PANCERA et al. (2004) relatam que a mortalidade de crianças com choque séptico
referida nos setores de terapia intensiva não oncológica varia em torno de 10% a 40%, sendo
que esses valores aumentam para 80% a 84% nos casos de pacientes oncológicos com choque
séptico. De acordo como os autores, a taxa de mortalidade foi de 27%, entretanto, deve-se
ressaltar que foram analisados não só os pacientes com choque séptico, mas também aqueles
com sepse grave.
19
Sapolnik (2002) afirma que crianças com doenças crônicas, com cânceres e vítimas de
politraumatismos são muito mais suscetíveis às infecções graves, aumentando a incidência de
sepse e choque séptico em pediatria em mais de 150% desde a década de 80. Em países
desenvolvidos, como nos Estados Unidos, até 0,5 mortes/1.000 habitantes ocorrem todos os
anos decorrentes de quadros sépticos e, diversas modalidades terapêuticas têm sido
empregadas, a maioria delas baseadas nos princípios do equilíbrio da oxigenação tecidual,
oferta e consumo de oxigênio, nos estados de choque.
MACEDO et al. (2005) descrevem que 30 pacientes queimados, 61,2%, tiveram seu
primeiro episódio de sepse na primeira semana de internação e no geral, a taxa de letalidade
por sepse foi de 24,5%. Dos 58 episódios de sepse bacteriana em pacientes queimados, 67,2%
foram devidos a Gram-positivos e 32,8% devidos a Gram-negativos.
KOURY et al. (2007) relatam que tanto a incidência quanto a mortalidade por sepse
grave aumentam com a idade.
GOULART et al. (2006) mencionam que nos países em desenvolvimento, a sepse
neonatal alcança níveis de até 15,4 casos para cada 1000 nascidos vivos, enquanto que nos
Estados Unidos a incidência varia de 1 a 5 para cada 1000 nascidos vivos. Neste último, o
Streptococcus do grupo B (SGB) é a bactéria mais comum envolvida na etiologia da sepse
neonatal precoce, sendo responsável por aproximadamente 6000 casos por ano.
A elevada taxa de mortalidade relacionada à sepse, pode exceder 50% e o fracasso de
numerosos estudos ao longo de 20 anos e a tentativa de bloquear a cascata inflamatória com
corticoides, anticorpos contra endotoxinas, antagonistas do TNF-α ou da IL-1, tem motivado
a comunidade científica a uma contínua investigação dos diversos fatores envolvidos na
fisiopatologia e tratamento da sepse (AZEVEDO; CONVERSO, 2006).
2.1.3 Etiologia
Conforme Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999), na era pré-antibiótica, as bactérias
Gram-positivas, como Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus, eram os principais
agentes etiológicos da sepse, porém com o aparecimento da penicilina e seus derivados, as
bactérias Gram-negativas tornaram-se os principais agentes causadores de sepse durante
muitos anos. Atualmente, com o surgimento de novas técnicas invasivas de terapia intensiva,
bactérias Gram-positivas, como estafilococos coagulase-negativos e o próprio S. aureus,
20
voltaram a ter grande importância na etiologia. Os fungos, representados principalmente pelo
gênero Cândida, são hoje conhecidos causadores da doença séptica.
Os agentes mais frequentemente incriminados são: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas,
Enterobacter, Proteus e Salmonella (BRANCHINI; FARHAT, 1999).
Em estudo realizado por MACEDO et al. (2005) observou-se que as principais
bactérias causadoras de sepse em pacientes queimados foram Staphylococcus aureus,
Staphylococcus coagulase-negativo, Acinetobacter baumannii e Enterobacter cloacae.
Em 38 pacientes observados por HECKSHER et al. (2008), o agente causador da
sepse foi identificado, sendo 52,6% bactérias gram-negativas, 36,8% bactérias gram-positivas,
e 10,5% fungos.
2.1.4 Fisiopatogenia
O conhecimento sobre a fisiopatogenia da sepse vem crescendo muito nos últimos
anos, pois a identificação de mediadores e dos mecanismos envolvidos na produção das
alterações fisiológicas, metabólicas e celulares, o papel das células endoteliais, das moléculas
de interação célula-endotélio e do endotélio do trato intestinal são de grande interesse, por
estarem envolvidos na perda da capacidade de homeostase do organismo (SALLES et al.,
1999).
A patogenia da sepse envolve um processo complexo de ativação celular resultando na
liberação de mediadores pró-inflamatórios, tais como citocinas, ativação de neutrófilos,
monócitos, células endoteliais microvasculares, além de envolvimento neuroendócrino,
ativação do complemento, coagulação e sistema fibrinolítico. Normalmente o processo
inflamatório local é um evento em cascata bem controlado, incluindo respostas celulares,
mecanismos neurohumorais e uma resposta anti-inflamatória para o seu controle, no entanto,
devido à injúria, instabilidade cardiovascular ou imunossupressão, pode ocorrer desrregulação
desta resposta, desencadeando a inflamação sistêmica (BASSO et al., 2008).
BASSO et al. (2008) afirmam que a sepse inicia quando as moléculas presentes na
parede celular do microorganismo invasor se ligam a receptores de reconhecimento,
receptores toll-like (TLRs), na superfície de células imunes, onde os peptideoglicanos de
bactérias gram-positivas e os LPS de bactérias gram-negativas ligam-se ao TLR-2 e TLR-4,
respectivamente.
21
LPS é uma molécula glicolipídica onde a atividade biológica maior está no
componente lipídico chamado lipídio A. O LPS liberado na corrente sanguínea é capaz de se
ligar a um receptor de membrana de macrófagos/monócitos e neutrófilos, que é uma
glicoproteína, chamado CD14, seja diretamente ou ligado a uma outra proteína de transporte,
chamada LBP (LPS-binding protein), que facilita a ligação LPS-CD14. Além disso, CD14
também existe como fração solúvel, podendo reconhecer o complexo LPS-LBP circulante e
assim se ligar na superfície de células que naturalmente não expressam aquele receptor, por
exemplo, células endoteliais. Em altas concentrações, a molécula de LPS pode ligar-se a
outros receptores, como TLR2 (Toll-like receptor 2), CD11 e CD18, ou mesmo ser
internalizada através de poros na membrana (SALOMÃO; RIGATO JR.; UJVARI, 1999).
Para BASSO et al. (2008), a ligação de TLR-2 e TLR-4 ativa vias de sinais de
transdução intracelular que conduzem à ativação do Fator Nuclear Citosólico kB (NFkB). O
NF-kB ativado move-se do núcleo para o citoplasma, ligando-se a sítios de iniciação de
transcrição e aumentando a transcrição de citocinas, tais como o fator de necrose tumoral α
(TNF-α), a interleucina 1β e a interleucina 6, estas são citocinas pró-inflamatórias que ativam
a resposta imune adquirida, mas causam injúria direta ou indireta aos tecidos do hospedeiro.
A inflamação sistêmica aumenta a atividade de sintetases indutoras de óxido nítrico (iNOS),
as quais aumentam a síntese de óxido nítrico (NO), que possui potente efeito vasodilatador.
Citocinas causam injúria de células endoteliais, o que induz neutrófilos, monócitos,
macrófagos e plaquetas a se ligarem às células endoteliais, essas células efetoras liberam
mediadores tais como proteases, oxidantes, prostaglandinas e leucotrienos.
Os autores continuam a explicar que a função chave do endotélio é a permeabilidade
seletiva, vasorregulação e provisão de superfície anticoagulante, então, essas proteases,
oxidantes, prostaglandinas e leucotrienos causam injúria de células endoteliais, conduzindo ao
aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação e alteração de equilíbrio pró e
anticoagulante. A vasodilatação resulta em aumento da capacitância vascular devido à
diminuição na resistência periférica, o que conduz à hipovolemia relativa, desencadeando
hipotensão, hipoperfusão tecidual e danos isquêmicos. A isquemia resultará em MODS, no
qual o fígado isquêmico terá o sistema histiolinfoplasmocitário deficiente e, dessa forma, não
poderá detoxificar as substâncias tóxicas provenientes do intestino, via veia porta e essas se
acumularão na corrente sanguínea aumentando a inflamação.
A queda na pressão arterial, segundo BASSO et al. (2008), é detectada pelas células da
mácula densa no aparelho justaglomerular, que ativam o sistema renina-angiotensinaaldosterona, reabsorvendo sódio e água e expandindo a volemia, no entanto, a hipotensão
22
severa poderá resultar em isquemia renal e insuficiência renal aguda. O intestino isquêmico
diminui o peristaltismo favorecendo a necrose e ulceração da mucosa, facilitando a adesão de
bactérias à parede intestinal, isso permite a translocação de bactérias, toxinas e citocinas para
a corrente sanguínea, potencializando ainda mais a SIRS. Enfim, o fator de necrose tumoral
(TNF) e outros mediadores causam depressão miocárdica e diminuição do desempenho
sistólico, conduzindo à falência cardíaca.
Continuam os autores a elucidar que, independentemente do evento inicial, neutrófilos
ativados e plaquetas aderem ao endotélio dos capilares pulmonares e liberam várias
substâncias tóxicas, que conduzem à injúria endotelial difusa e aumento de permeabilidade
vascular, induzindo o edema pulmonar, ao passo que, injúria de células endoteliais alveolares
também conduz à hemorragia microvascular, trombose e perda de surfactante alveolar. O
resultado final é hipoxemia profunda o que é denominado Síndrome da Angústia Respiratória
Aguda (SARA). As lesões contundentes no parênquima desencadeiam processo inflamatório
com retenção progressiva de líquido e hemorragia pulmonar e/ou pneumotórax e devido à
liberação de IL-6 e TNF-α, sepse/SIRS que podem estimular a síndrome de coagulação
intravascular disseminada (CIVD), onde a IL-6 estimula a formação de fibrina, mediada pelo
complexo Fator Tissular/Fator VII ativado (FT/FVIIIa), ao passo que o TNF-α inibe a
antitrombina III, proteína C, proteína S e inibidor da via fator tecidual (TFPI) que são
anticoagulantes naturais e, consequentemente, se inibidos, desencadeiam coagulação
desenfreada, característica marcante da primeira fase da síndrome CIVD (BASSO et al.,
2008).
Além disso, o TNF-α estimula o aumento nos níveis de inibidores dos ativadores do
plasminogênio do tipo I (PAI-I), sendo que o plasminogênio tem a função de degradar a
fibrina em plasmina, dessa forma, na sua ausência, ocorrerá remoção inadequada de fibrina,
contribuindo para a trombose da microvasculatura. Assim, ocorre ativação sistêmica da
coagulação, a fibrina e os microtrombos formados podem causar oclusão dos ramos e
comprometimento da irrigação sanguínea em diversos órgãos, que em conjunto com
alterações metabólicas e hemodinâmicas, contribui para MODS e morte na SIRS (BASSO et
al., 2008).
A resposta imune quando localizada apresenta vantagens ao organismo e envolve a
eliminação da infecção acompanhada de reparo tissular. Na presença de inflamação sistêmica,
porém, a reação inflamatória à injúria tissular é capaz de ativar o sistema da coagulação, inibir
anticoagulantes endógenos e atenuar a resposta fibrinolítica. A relação entre coagulação e
inflamação, segundo Azevedo e Converso (2006), tem sido observada através de estudos da
23
resposta fisiológica do organismo frente a diversos tipos de estímulos pró-inflamatórios
capazes de ativar pelo contato a cascata da coagulação e as células fagocitárias. A ativação
dos monócitos e macrófagos na sepse desencadeia o estímulo para a síntese de mediadores
inflamatórios, especialmente a interleucina IL-1β e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-⟨)
através de mecanismos moleculares a ativação do fator nuclear de transcrição Kappa B
(NFκB).
Os autores explicam que o NFκB possui um papel importante em doenças
inflamatórias crônicas, como asma, artrite reumatoide, psoríase e na doença inflamatória
intestinal, assim como na sepse e na síndrome do desconforto respiratório agudo.
Habitualmente, o NFκB encontra-se ligado a uma proteína inibidora (IκB) no citoplasma, que
o impede de alcançar o núcleo e dessa forma, de atuar sobre o gene. Na presença de certos
estímulos como bactérias, citocinas ou vírus, o IκB é liberado e desligado, permitindo a ação
do NFκB no DNA, que inicia a transcrição em RNAm com a síntese de proteínas próinflamatórias. Em pacientes com sepse, a expressão do NFκB é elevada e quando persistente,
está associada a uma maior mortalidade. O TNF-α e IL-1 agem sinergicamente e são os
principais responsáveis pelo desenvolvimento da resposta inflamatória e da lesão tecidual da
sepse, além de induzir a formação e secreção de outros mediadores inflamatórios como: IL-6,
IL-8, bradicinina, leucotrienos, óxido nítrico e prostaglandinas (AZEVEDO; CONVERSO,
2006).
A ação dessas substâncias sobre as células endoteliais é responsável pela alteração do
perfil hemostático, isto é, as células endoteliais passam a assumir um papel trombótico e
antifibrinolítico. Contribuindo para o estado pré-trombótico na sepse, estão os níveis elevados
de TNF, IL-1 e IL-6 que inibem a expressão de trombomodulina, essencial para ativação da
proteína C de função anticoagulante, neutrófilos ativados cuja secreção de elastase é capaz de
degradar a antitrombina III, proteínas de fase aguda como a proteína C reativa (PCR) que
induz a liberação do fator tissular da coagulação e ativação do complemento e a alfa-1
antitripsina que inibe diretamente a proteína C ativada. Em um processo inflamatório ocorre
mobilização de leucócitos da corrente sanguínea para os tecidos e como na sepse esse
processo é sistêmico, esse mecanismo é muito mais intenso, causando uma migração
leucocitária em massa, a ponto de se formarem plugs neutrofílicos em determinados órgãos
com a formação de microabcessos. A liberação do fator tissular, via extrínseca da coagulação,
constitui o principal mecanismo gerador de trombina na sepse e a expressão desse, aumenta
na presença de macrófagos/monócitos e células endoteliais expostas a mediadores
inflamatórios. A geração de trombina por sua vez estimula ainda mais a produção de IL-6,
24
potencializando o processo. Níveis elevados de inibidor de ativador do plasminogênio (PAI1), observados em pacientes sépticos, atenuam o processo fibrinolítico e contribuem ainda
mais para os eventos trombóticos (AZEVEDO; CONVERSO, 2006).
Na sepse, os mecanismos aqui descritos resultam em lesão microcirculatória difusa
caracterizada por alterações endoteliais que induzem ao aumento da permeabilidade capilar,
trombose, deformabilidade das hemácias e agregação de leucócitos diminuindo o fluxo
sanguíneo e resultando em hipóxia tecidual que determina a disfunção celular e se traduz por
disfunção orgânica. Do ponto de vista filogenético, o estado hipercoagulável talvez tenha
como objetivo fisiológico cercear o processo, evitando a disseminação da infecção.
Entretanto, observa-se um desarranjo do sistema de coagulação que agrava a resposta
inflamatória potencializando a disfunção múltipla de órgãos. Espera-se, portanto, que diante
dessa intrincada cadeia de eventos, o crescente avanço tecnológico e científico venha elucidar
os mecanismos moleculares envolvidos na sepse, no sentido de considerar medidas
terapêuticas eficazes que bloqueiem a disseminação deste processo (AZEVEDO;
CONVERSO, 2006).
Portanto, a fisiopatogenia da sepse está intimamente ligada à interação das células do
hospedeiro com componentes bacterianos presentes na corrente sanguínea, como por
exemplo, a endotoxina das bactérias Gram-negativas, ao passo que, quando estas substâncias
são demasiadamente secretadas ocorre uma resposta inflamatória sistêmica exagerada e
deletéria com lesão tissular, ativação da cascata de coagulação, formação de trombos na
microcirculação, hipóxia e acidose teciduais, depressão miocárdica, culminando com
disfunção orgânica múltipla e choque endotóxico (SALOMÃO; RIGATO JR.; UJVARI,
1999).
2.1.5 Fatores de risco
Silva (2008) explica que a sepse é uma doença aguda que pode afetar qualquer pessoa,
principalmente, aquelas com poucas defesas, onde a imunidade do organismo contribui para o
dano ao funcionamento dos órgãos, sendo o grande responsável pela elevada taxa de
mortalidade, no qual o número absoluto de óbitos supera os decorrentes de câncer de mama
ou de intestino, do infarto agudo do miocárdio e mesmo de AIDS.
25
A gravidade do quadro depende de inúmeros fatores, dentre os quais a virulência do
organismo agressor e fatores relacionados ao hospedeiro, tais como idade, genética, sítio da
infecção e presença de comorbidades (CASTRO; BORTOLOTTO; ZUGAIB, 2008).
Muitos são os fatores que favorecem o surgimento da sepse, como a desnutrição
proteico-calórica, as doenças imunossupressoras primárias ou adquiridas, o uso de drogas
imunossupressoras, as anomalias congênitas do sistema nervoso central ou do trato urinário, a
manipulação excessiva de pacientes através de cateteres venosos, arteriais e vesicais, o uso
abusivo de antibióticos que faz emergir cepas de bactérias Gram-negativas (BRANCHINI;
FARHAT, 1999).
Pacientes imunocomprometidos são altamente suscetíveis a processos infecciosos.
Quando esse processo progride, o paciente pode apresentar sepse grave e/ou choque séptico,
necessitando de monitorização e tratamento intensivo, o mais precoce possível (PANCERA,
et al., 2004).
Em pacientes queimados, além da destruição da barreira epitelial, a presença de
proteínas degradadas e tecidos desvitalizados, o uso de três ou mais cateteres, sondas e tubos,
ou seja, procedimentos invasivos, a presença de duas ou mais complicações, a superfície
corporal queimada > 30%, o agente chama aberta, o sexo feminino, a imunossupressão
decorrente da lesão térmica, a possibilidade de translocação bacteriana gastrointestinal, a
internação prolongada e o uso inadequado dos antibióticos, levando ao surgimento de
bactérias com multiresistência antimicrobiana, proporcionam um excelente meio para o
desenvolvimento e proliferação de micro-organismos (MACEDO et al., 2005).
Após os avanços no tratamento e no controle da reposição volêmica, a infecção
emergiu como o principal risco para o paciente queimado, pois as lesões produzidas pelas
queimaduras representam um local suscetível à colonização de organismos endógenos e/ou
exógenos (MACEDO et al., 2005).
Castro, Bortolotto e Zugaib (2008) afirmam que os quadros de sepse de origem
obstétrica são, em geral, de origem polimicrobiana, sendo as bactérias Gram-negativas as
mais frequentes, ao passo que as principais causas são:
a) corioamnionite, tromboflebite pélvica séptica e aborto infectado, que estão ligados
à gestação;
b) endometrite pós-parto, infecção de episiotomia, infecção de parede ou uterina póscesárea, que ocorrem no parto e;
c) infecção pós-cerclagem ou pós-amniocentese e fasciíte necrotizante, que surgem
através da realização de procedimentos invasivos.
26
Os fatores de risco na sepse neonatal podem ser agrupados em fatores maternos,
neonatais ou ambientais, como descrevem GOULART et al. (2006), e dentre eles se destacam
o trabalho de parto prematuro, a ruptura de membranas mais de 18 horas antes do parto, a
colonização materna pelo SGB, a febre materna > 38 ºC durante ou imediatamente após o
trabalho de parto, sexo masculino, baixo peso ao nascimento < 2500 g, corioamnionite e filho
anterior com infecção neonatal. Considerando-se que tais fatores acarretam altas taxas de
mortalidade, é de suma importância a detecção precoce desses a fim de prevenir e adotar
medidas específicas para a redução destas.
2.1.6 Manifestações clínicas
De acordo com Carvalho e Trotta (2003), o termo sepse é aplicável somente quando a
resposta sistêmica é clinicamente relevante, podendo manifestar-se por uma variedade de
situações.
O quadro clínico é bastante variável em seu início, mas pode ser observado conforme
o foco de origem ou a lesão infecciosa metastática, como a meningite, pneumonia, infecção
urinária, otite média, peritonite, ectima gangrenoso, entre outros, que levou a suspeita de
sepse (BRANCHINI; FARHAT, 1999).
Castro, Bortolotto e Zugaib (2008) afirmam que a fase inicial da sepse, conhecida
como fase quente, é caracterizada por pele quente e seca devido à vasodilatação periférica,
febre, hipotensão, taquicardia, confusão mental, ansiedade e taquidispneia. Com a progressão
do quadro para a fase fria, a hipoperfusão resulta em acidose láctica, piora da perfusão
tecidual, levando a cianose de extremidades e disfunção orgânica.
No entanto, Branchini e Farhat (1999) descrevem que a fase inicial se caracteriza por
sintomas vagos e difusos, tais como a inapetência, apatia, sucção débil, abatimento,
diminuição de atividade, diarreia, vômitos e pode ocorrer febre ou hipotermia no lactente
menor, no desnutrido grave ou em crianças em uso de corticoides.
KOURY et al. (2007) afirmam que a sepse foi definida como um processo infeccioso
associado a dois ou mais critérios da SIRS, como a temperatura > 38º C ou < 36º C,
frequência cardíaca > 90 bpm, frequência respiratória > 20 rpm, ou PaCO2 < 32 mmHg, ou
necessidade de ventilação mecânica, leucócitos > 12.000 células/mm3, ou < 4.000
células/mm3, ou 10% de células imaturas, os pacientes com sepse além de critérios descritos,
27
apresentam ao menos uma disfunção orgânica e, no choque séptico, além de preencherem os
critérios de sepse, apresentam pressão arterial sistólica < 90 mmHg após reposição volêmica
com necessidade de fármacos vasoativos.
Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999) descrevem que as alterações fisiopatológicas
observadas na sepse também podem ser desencadeadas por estímulos não infecciosos, como
trauma, queimadura e outros.
BASSO et al. (2008) definem SIRS como a presença de dois ou mais sinais como a
taquicardia, taquipneia, hipertermia ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia. Sepse grave é
definida como a presença de sepse associada com uma ou mais alterações clínicas ou
laboratoriais de disfunção orgânica, como injúria pulmonar aguda, anormalidades de
coagulação, alteração de estado mental, falência renal, cardíaca ou hepática, considerando
ainda que em um paciente em choque séptico, os sinais clínicos de sepse prevalecem depois
de adequada reposição hidroeletrolítica, ou seja, é uma hipotensão refratária. A adequada
reposição pode ser avaliada pela normalização da pressão venosa central (PVC) 5-10 cm H2O,
do débito urinário 1-2 ml/kg/h, da coloração das mucosas, do tempo de reperfusão capilar e
pela estimativa da pressão arterial.
Portanto, SIRS e sepse ocorrem por estímulo excessivo de mediadores próinflamatórios ou da reação à resposta sistêmica inflamatória a uma variedade de estímulos
infecciosos e não-infecciosos, como pancreatite, com liberação de enzimas proteolíticas,
ativação do sistema cinina-calicreína, ativação da cascata fibrinolítica, entre outras (SALLES
et al., 1999).
2.1.7 Critérios Diagnósticos/Prognóstico
É o primeiro dos desafios com os quais se depara o clínico ou intensivista, pois se a
sua identificação não for suficientemente precoce para permitir alguma intervenção, poderá
resultar em choque, falência orgânica ou até a morte do paciente, portanto, o diagnóstico
precoce da sepse continua sendo uma tarefa das mais difíceis, pois as suas primeiras
manifestações clínicas podem passar despercebidas ou podem ser confundidas com aquelas de
outros processos não infecciosos (CARVALHO; TROTTA, 2003).
28
Para Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999), o diagnóstico clínico deve ser enfatizado,
pois a introdução precoce de antibióticos adequados é fundamental para uma boa evolução,
devendo-se, portanto, estar atento para os critérios da definição de sepse:
a) sepse - presença de duas ou mais das seguintes condições – febre (T > 38º C) ou
hipotermia (T < 36º C), taquicardia (FC > 90), taquipneia (FR>20) ou PaCO2 < 32
mmHg e leucocitose ou leucopenia, ou ainda mais de 10% de bastonetes. Como
sepse severa, definição semelhante à síndrome séptica, entende-se a sepse
acompanhada de disfunção orgânica, hipoperfusão ou hipotensão;
b) choque séptico - definido como a sepse grave acompanhada de hipotensão, PA
sistólica < 90 mmHg ou diminuição de 40 mmHg na PA sistólica de paciente
previamente hipertenso, apesar da reposição adequada de volume.
O choque séptico ainda é subdividido em inicial ou quente, quando predomina a
vasodilatação e tardio ou frio, quando predomina a vasoconstrição (SALOMÃO; RIGATO
JR.; UJVARI, 1999).
Carvalho e Trotta (2003) afirmam que na prática clínica das UTIs, os limites que
separam a sepse da sepse grave e do choque séptico não são claramente detectados ou mesmo
do ponto de vista conceitual.
Em obstetrícia, alguns fatores contribuem para o melhor prognóstico da sepse, como o
sítio de infecção mais comum ser a pelve, região passível de intervenção cirúrgica e a maior
sensibilidade dos principais micro-organismos à antibioticoterapia de amplo espectro
(CASTRO; BORTOLOTTO; ZUGAIB, 2008).
Portanto, para a obtenção de um diagnóstico preciso antes da adesão da
antibioticoterapia é recomendado pelo menos duas análises de hemoculturas, uma de sangue
periférico e uma proveniente de cateter central, a menos que esse tenha sido inserido há
menos de 48 horas, juntamente com os exames rotineiros de urina, líquor, secreções do trato
respiratório e pontas de cateteres que são prováveis sítios infecciosos (CASTRO;
BORTOLOTTO; ZUGAIB, 2008).
2.1.8 Complicações
As complicações mais comuns na sepse por Gram-negativos são o choque e a CIVD
(BRANCHINI; FARHAT, 1999).
29
O choque séptico é a forma mais grave da sepse, em que o indivíduo apresenta
hipotensão arterial, necessitando de medicamentos endovenosos para sustentar uma pressão
arterial próxima do normal, entretanto, a sepse associada com disfunção orgânica,
hipoperfusão ou hipotensão resultará numa sepse grave (SILVA, 2008).
No choque séptico, o processo inicia-se com a infecção, que é provocado pela
presença de toxinas bacterianas na circulação, esse é um fenômeno microbiano caracterizado
por uma resposta inflamatória à presença de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e
outros agentes, ou à invasão de um tecido estéril de um hospedeiro pelos mesmos (ZAVARIZ
et al., 2006).
ZAVARIZ et al. (2006) descrevem que o paciente séptico apresenta alterações
metabólicas como na microcirculação, decorrentes de produtos liberados pelas bactérias ou de
substâncias sintetizadas pelo organismo para combater o agente agressor, no qual, os
mediadores humorais são liberados na reação inflamatória, tais como citocinas, enzimas,
metabólitos teciduais, etc., que podem ser utilizadas como marcadores de choque séptico, que
favorecem um diagnóstico precoce.
O problema em pacientes queimados é complicado ainda mais pela depressão. Além
disso, a obstrução vascular por lesão térmica dos vasos dificulta a chegada de antibióticos e de
componentes celulares do sistema imune na área queimada (MACEDO et al., 2005).
A sepse pode ser autolimitada ou progredir para a sepse grave e choque séptico, onde
as anormalidades circulatórias como a depleção do volume intravascular, vasodilatação
periférica, depressão miocárdica e aumento do metabolismo, levam ao desequilíbrio entre a
necessidade e a demanda de oxigênio, resultando em hipóxia global ou choque. A hipóxia
tecidual reflete a gravidade da doença e é preditiva do desenvolvimento da disfunção de
múltiplos órgãos (KOURY et al., 2007).
A disfunção miocárdica é uma complicação associada com pior prognóstico em
pacientes sépticos. Existem controvérsias sobre as razões que levam à ocorrência de disfunção
miocárdica em pacientes sépticos, como substâncias cardiodepressoras circulantes, aumento
da apoptose miocárdica e hipóxia miocárdica (ISSA et al., 2008).
A sepse durante a gestação é uma complicação rara, no qual o comprometimento fetal
resulta principalmente da descompensação materna onde o tratamento deve ser direcionado ao
bem-estar da mãe (LAKS et al., 2007).
Deve-se ter atenção especial para infecções localizadas, como osteomielite, artrite
séptica, miocardite e endocardite, bem como para falhas no tratamento decorrente do uso de
30
antibióticos não-adequados ou em subdosagens, abscessos não-drenados, anomalias renais, e
vasculares (BRANCHINI; FARHAT, 1999).
2.1.9 Tratamento
No início do século XXI ainda busca-se uma compreensão melhor da doença,
destacando-se que houve avanços em relação ao diagnóstico mais precoce, rastreamento
microbiano mais eficaz que possibilita o rápido início do tratamento, o uso mais otimizado
das variáveis hemodinâmicas e das técnicas de suporte orgânico (SALES JÚNIOR et al.,
2006).
O tratamento do quadro séptico, conforme Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999) tem
como finalidade debelar o sítio infeccioso e proporcionar condições satisfatórias para a
manutenção do metabolismo celular.
O tratamento está voltado para o sítio primário da infecção, feito através da anamnese
e do exame físico detalhados, sendo possível determinar na maioria dos casos, o foco
infeccioso inicial. Em alguns casos consegue-se reduzir o número de opções, o que permite
reduzir o espectro do tratamento, todavia, quando não se identifica a fonte, deve-se lançar
mão do diagnóstico por imagem, ultrassonografia ou tomografia computadorizada e a partir
daí, efetua-se a coleta de material para cultura (SILVA, 2008).
Na suspeita de SIRS, se nenhum outro importante evento não infeccioso é detectado, a
conduta deve ser orientada para a sepse, ou seja, além das medidas de suporte de vida, quando
indicadas, outras medidas devem ser tomadas de acordo com a gravidade de apresentação da
respectiva síndrome (CARVALHO; TROTTA, 2003).
HECKSHER et al. (2008) descrevem que em 2004, surgiu a Campanha Sobrevivendo
à Sepse que aprovaram a utilização de anticoagulantes endógenos, com propriedades antiinflamatórias que poderiam ser efetivos no tratamento da sepse, equilibrando a resposta
inflamatória e recuperando a homeostase, que foi aprovado para a prática clínica, o uso da
proteína-C ativada e drotrecogina alfa ativada.
Branchini e Farhat (1999); Silva (2008) esclarecem que no tratamento deve-se ter:
a) controle rigoroso do paciente, pois a grande preocupação é evitar as complicações
como choque séptico e CIVD e, para isso, o paciente deve ficar preferencialmente
em UTI, onde serão controlados os sinais vitais como o pulso, as frequências
31
cardíaca e respiratória, temperatura, PA média, PVC, débito urinário, saturação de
oxigênio, vômitos e perda fecal, convulsões;
b) antibioticoterapia, iniciada antes mesmo do resultado dos exames, por via
parenteral, de amplo espectro e com drogas bactericidas, após suspeita clínica
fundamentada de sepse e a realização da colheita dos exames subsidiários. O
tratamento antibiótico dura em média 14 dias e o controle é feito através de
culturas de sangue, urina, fezes, líquor e pela resposta clínica à terapêutica;
c) manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico através de hidratação adequada com
monitorização pela PVC, PA média, transporte e extração de O2, realizando
balanço hídrico e calórico adequados com controle de perdas, de déficit de
ingestão e de dados laboratoriais;
d) nutrição parenteral, se possível, enteral, tendo em vista as demandas metabólicas
aumentadas e correção de acidose, da hiponatremia e hiperpotassemia frequentes;
e) monitorização adequada de temperatura com uso de antitérmicos e compressas nas
hipertermias ou aquecimento nas hipotermias;
f) manutenção da permeabilidade das vias aéreas através da aspiração de secreções
faríngeas e traqueais e, se necessário, uso de máscaras ou cateteres e até ventilação
pulmonar mecânica, se indicada e;
g) atuação precoce nas insuficiências cardíaca, renal e hepática, se presentes.
A manutenção do metabolismo celular necessita de adequada oferta de oxigênio e
substratos energéticos, ao passo que, para manter uma oferta tecidual de oxigênio adequada,
necessita-se corrigir as alterações hemodinâmicas, como o débito cardíaco, a pressão arterial,
a resistência vascular periférica e manter um conteúdo arterial de oxigênio satisfatório. O
suporte respiratório da septicemia consiste em aumento da fração inspirada de O2 e correção
das alterações hemodinâmicas a fim de evitar aumento da pressão capilar pulmonar, no qual, a
intubação e a ventilação mecânica devem ser indicadas precocemente (SALOMÃO; RIGATO
JR.; UJVARI, 1999).
As alterações hemodinâmicas necessitam de avaliação contínua e a introdução de
cateter de Swan-Ganz para melhor correção, auxiliando na indicação de drogas vasoativas,
assim como no tipo e dose da droga. Na fase inicial de hipotensão com baixa resistência
vascular periférica, a infusão de volume pode ser suficiente para adequar a pressão arterial e o
débito cardíaco, devendo-se monitorizar a pressão capilar pulmonar no sentido de evitar sua
elevação. Caso a infusão de volume não seja suficiente ou ocorra elevação da pressão capilar
pulmonar, o emprego de drogas vasoativas é indicado, então a dopamina pode ser usada na
32
fase inicial com efeito beta, 5 a 10 mg/kg/min, para manutenção da pressão arterial, devendo
ser mantida em dose com efeito dopa, 3 a 5 mg/kg/min, para garantia do fluxo sanguíneo
renal. Nos casos de baixa resistência vascular periférica o uso de noradrenalina, dose inicial
de 0,05 mg/kg/min, tem demonstrado bons resultados e na disfunção do miocárdio, o emprego
de dobutamina pode ser benéfico (SALOMÃO; RIGATO JR.; UJVARI, 1999).
Para Silva (2006), a hipotensão arterial é um achado primário no choque séptico e sua
correção é uma meta terapêutica, no qual, a medida precisa e contínua da pressão arterial é
essencial, sendo assim, deve ser inserido um cateter arterial para monitorização contínua da
pressão arterial. A artéria radial é o sítio mais frequentemente utilizado, mas a artéria femoral
é uma alternativa, sendo importante lembrar que existem diferenças marcantes na pressão
arterial registrada nos dois locais, especialmente nos pacientes que estão em choque,
recebendo vasopressores e hipovolêmicos.
A avaliação da oxigenação celular pode ser realizada pela dosagem seriada de lactato
sérico, com finalidade de manter níveis normais, a persistência de níveis elevados de lactato,
apesar do incremento da oferta de oxigênio pelo aumento da dose de drogas vasoativas ou
infusão de volume, pode ser observada, uma vez que a elevação de lactato pode não ser
decorrente exclusivamente da má oxigenação tecidual. A taxa de extração e captação de
oxigênio é mais indicada para guiar a oxigenação tecidual. Medida de pH da mucosa do trato
gastrintestinal demonstrou ser bom método de avaliação da oxigenação desse tecido, que é um
importante alvo de dano celular na sepse (SALOMÃO; RIGATO JR.; UJVARI, 1999).
Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999) afirmam ainda que o paciente séptico necessite de
requerimento energético basal aumentado, uma vez que seu metabolismo encontra-se
aumentado em 170 a 200%, com maior quantidade de fonte nitrogenada, devido à utilização
de carboidratos e lipídeos estar prejudicada na sepse, sendo necessário a monitorização do
balanço nitrogenado. A proporção de Kcal não-proteicas para cada grama de nitrogênio
diminui para 100/1 na sepse, o fornecimento de glicose não deve ultrapassar 5 g/kg/dia com
risco de hiperglicemia, a oferta máxima de lipídeos por dia é 1 g/kg com monitorização
rigorosa pelo risco de hipertrigliceridemia e esteatose hepática, uma vez que há estímulo para
lipogênese hepática e má utilização celular, a oferta de fonte nitrogenada pode ser baseada no
balanço nitrogenado e na síntese hepática de proteínas.
Recomenda-se noradrenalina ou dopamina como primeira escolha para corrigir a
hipotensão no choque séptico, administrado através de cateter venoso central, logo que esteja
disponível (SILVA, 2006).
33
Silva (2006) sugere que a adrenalina, fenilefrina ou vasopressina não sejam utilizadas
como vasopressores inicialmente em choque séptico. Vasopressina 0,03 unidades/minuto
pode ser posteriormente associado à noradrenalina com um efeito equivalente à noradrenalina
sozinha, e sugere ainda que a adrenalina seja a primeira escolha como alternativa quando o
choque séptico for pouco responsivo à noradrenalina ou dopamina.
Muitos pesquisadores concordam que melhores taxas de sobrevida em pacientes com
sepse grave só poderão ser atingidas com terapias adicionais às terapias antimicrobianas
convencionais, levando-se em consideração que outros métodos não-invasivos de
monitoramento hemodinâmico, como ecocardiografia e Doppler esofágico, exigem um alto
grau de treinamento e não estão disponíveis em muitas instituições. Além disso, existe um
grande interesse no desenvolvimento de um marcador biológico da função cardíaca capaz de
fornecer informações prognósticas dos pacientes sépticos (CARVALHO; TROTTA, 2003;
ISSA et al., 2008).
2.1.9.1 Terapia Combinada
Os efeitos da dopamina no suprimento celular de oxigênio do intestino permanecem
indefinidos, e os efeitos da noradrenalina isolada na circulação esplânica podem ser de difícil
previsão. A combinação de noradrenalina com dobutamina parece ser mais previsível e mais
apropriada aos objetivos terapêuticos do choque séptico do que noradrenalina com dopamina
ou dopamina isoladamente (SILVA, 2006).
2.1.9.2 Terapêutica Antimicrobiana
A terapêutica antimicrobiana adequada reduz a mortalidade do paciente séptico. Em
estudo sobre bacteremias/sepses realizado por Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999), foi
observado que os pacientes que receberam antibióticos aos quais as bactérias eram sensíveis
in vitro, apropriada, tiveram mortalidade de 21%, enquanto aqueles que receberam
antibióticos aos quais as bactérias eram resistentes in vitro, inapropriada, tiveram letalidade de
57,1%. Da maior importância, pacientes que inicialmente receberam antimicrobianos ao qual
34
o agente etiológico era resistente in vitro e mediante resultados de hemocultura ou piora do
quadro clínico e passaram a receber antibióticos ao qual o agente etiológico era sensível,
terapia corrigida, tiveram mortalidade intermediária de 34,1%. Uma vez que o paciente
desenvolveu choque, a quase totalidade dos pacientes que receberam terapia antimicrobiana
inapropriada evoluiu ao óbito (30/31), comparado com uma proporção significativamente
menor que receberam uma terapia adequada (56%, 29/52).
A escolha da antibioticoterapia baseia-se nos prováveis micro-organismos do sítio
infeccioso em questão. Como exemplo, em sepses secundárias a infecções do trato urinário,
inicia-se antibioticoterapia dirigida para bactérias Gram-negativas, e naquelas secundárias à
infecção associadas a cateteres venosos a cobertura deve ser para Staphylococcus aureus e
estafilococos coagulase-negativos. Nos casos em que o sítio infeccioso é desconhecido ou o
foco provável pode albergar múltiplas espécies de bactéria, como infecção pulmonar ou
intraperitoneal, inicia-se esquema amplo de antibioticoterapia, e no caso das infecções
abdominais, obrigatoriamente amplia-se a cobertura para bactérias anaeróbias, sendo que a
presença de coleções ou abscessos merece abordagem cirúrgica (SALOMÃO; RIGATO JR.;
UJVARI, 1999).
Salomão, Rigato Jr. e Ujvari (1999) descrevem que um importante fator a ser
considerado é se a infecção foi adquirida na comunidade ou no hospital, sendo que, se foi
adquirida no hospital, deve-se considerar a alta prevalência de cepas de bactérias
multirresistentes em hospitais de grande porte e hospitais universitários. Nesse caso,
dependendo do foco primário de infecção, devem-se considerar, entre bactérias Gramnegativas, as infecções por Pseudomonas sp, Klebsiella sp e, recentemente, o Acinetobacter
sp e, entre outras bactérias Gram-positivas, o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, os
enterococos e estafilococos coagulase-negativos. Optam-se então por esquema antimicrobiano
que inclui um glicopeptídeo, vancomicina 500 mg 6/6h ou teicoplanina 400 mg a cada 12 h
nos primeiros dias de tratamento, e um antimicrobiano com espectro para bactérias Gramnegativas, muitas vezes uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, associados a um
aminoglicosídeo, como a amicacina. Antimicrobianos da classe dos carbapenens, imepenem e
meropenem, e monobactâmicos, aztreonam, devem ser considerados para o tratamento de
infecções por Gram-negativos multirresistentes.
2.1.10 Campanha Sobrevivendo à Sepse
35
O que se discute atualmente é o fato de que não basta o reconhecimento das evidências
de diagnóstico de sepse. O grande e real desafio é, efetivamente, o de levar estes
conhecimentos à prática assistencial e, com isso reduzir a mortalidade dos pacientes sépticos.
Foi pensando nisso, muito mais do que na simples revisão da evidência científica disponível,
que a Campanha “Sobrevivendo à sepse” foi criada com meta de reduzir o risco relativo de
óbito por sepse grave em 25% nos próximos cinco anos (SILVA, 2006).
De acordo com Silva (2006), a Campanha Sobrevivendo à Sepse deve corresponder a
um esforço mundial com vistas à redução da taxa de mortalidade por esse agravo e, para isso,
sugere algumas recomendações:
a) a partir da suspeita clínica, medidas iniciais devem ser instituídas o mais rápido
possível, buscando contemplar todas as recomendações dentro das primeiras 6
horas de atendimento;
b) medir rapidamente o lactato sérico em todo caso suspeito de sepse grave, mesmo
sem hipotensão;
c) colher amostras de sangue e outros materiais para exame microbiológico e culturas
antes da administração dos antibióticos;
d) iniciar a terapia antibiótica endovenosa o quanto antes dentro da primeira hora do
diagnóstico de choque séptico;
e) a terapia antibiótica deve incluir uma ou mais drogas com atividade contra todos
os patógenos prováveis, bactéria e ou fungo, e ter boa penetração no foco
presumido de infecção em concentrações adequadas, com duração de 7 a 10 dias;
f) o regime de antibióticos deve ser reavaliado diariamente para otimizar a eficácia,
prevenir o desenvolvimento de resistência bacteriana, reduzir a toxicidade de
drogas e reduzir custos;
g) se a apresentação da síndrome clínica for determinada como não infecciosa, a
terapêutica antimicrobiana deve ser interrompida imediatamente para minimizar a
probabilidade de o paciente desenvolver um patógeno resistente ao antibiótico ou a
um efeito adverso relacionado à droga;
h) um diagnóstico anatômico específico da infecção deve ser investigado e
diagnosticado ou excluído tão rapidamente quanto possível, principalmente focos
emergentes que existem atenção especial para o controle, como exemplo a fasceíte
necrotizante, peritonite, colangite, isquemia intestinal;
36
i) todos os pacientes com sepse grave devem ser avaliados quanto à presença de um
foco de infecção abordável por medidas de controle específicas como drenagem de
abscessos, desbridamento de tecidos necróticos infectados, remoção de
dispositivos potencialmente infectados ou o controle definitivo de uma fonte de
manutenção da contaminação microbiana;
j) realizar prontamente exames de imagem na tentativa de confirmar potenciais focos
de infecção. Amostras de materiais de focos identificados devem ser obtidas à
medida que são diagnosticados, no entanto alguns pacientes podem ser
demasiadamente instáveis para justificar determinadas técnicas invasivas ou
transporte para fora da UTI, nessas circunstâncias, procedimentos à beira-leito e
menos invasivos, como a ultrassonografia, podem ser úteis;
k) fazer reposição volêmica agressiva na presença de hipotensão e/ou lactato elevado
induzidos pelo quadro séptico, sendo que a ressuscitação volêmica, nestas
primeiras 6 horas, deve ser feita até que a PVC se estabilize entre 8 e 12 mmHg,
ou entre 12 e 15 mmHg em pacientes sob ventilação mecânica. Administração de
maiores volumes de fluidos, frequentemente, é necessário;
l) pacientes sépticos que, apesar da reposição volêmica inicial 20 ml/kg de
cristaloides ou equivalente, mantiverem sinais de hipoperfusão tecidual, ou seja
hipotensão arterial, Pressão Arterial Média (PAM) < 65 mmHg ou lactato inicial >
4 mmol/l, > 36 mg/dl, devem ser incluídos em um protocolo denominado Terapia
precoce guiada por metas, as quais as metas a serem atingidas nas primeiras 6
horas de tratamento ou de ressuscitação devem incluir:
- PVC entre 8 e 12 mmHg,
- PAM > 65 mmHg,
- débito urinário > 0,5 ml/kg/hora,
- saturação venosa central (SvcO2) ou mista (SvO2) de oxigênio > 70% ou > 65
mmHg, respectivamente;
m) na presença de hipotensão ameaçadora à vida e quando a reposição volêmica
inicial não corrigir a hipotensão arterial, deve empregar vasopressores para atingir
PAM > 65 mmHg e assim que houver correção da hipotensão deve iniciar a
retirada do vasopressor;
n) administrar dobutamina na presença de disfunção miocárdica sugerida pela
elevação das pressões de enchimento cardíaco e baixo débito cardíaco;
37
o) administrar hidrocortisona intravenosa em doses baixas, 200 a 300 mg/dia em
pacientes adultos com choque séptico, em que a restauração da pressão arterial for
identificada como pouco responsiva à reposição volêmica e ao uso de
vasopressores;
p) pacientes com disfunção orgânica induzida pela sepse associada a alto risco de
morte, que na maioria dos casos têm escore APACHE II > 25 ou mais de uma
disfunção orgânica, devem receber Proteína C Ativada humana recombinante
(PCArh) se não houver contraindicação, sendo que, contraindicações relativas
devem ser consideradas no processo de tomada de decisão;
q) uma meta de volume corrente máximo de 6 ml/kg de peso ideal, deve ser
empregado em pacientes sob ventilação mecânica e com diagnóstico de síndrome
do desconforto respiratório agudo (SDRA) / lesão pulmonar aguda (LPA);
r) a pressão positiva expiratória final (PEEP) deve ser utilizada para evitar colapso
pulmonar excessivo ao final da expiração, no qual, aumentar o PEEP em pacientes
com SDRA/LPA contribui para abrir e manter unidades pulmonares abertas para
que participem das trocas gasosas e reduz lesão pulmonar induzida pelo ventilador;
s) após estabilização inicial em pacientes com sepse grave ou choque séptico que
apresentem hiperglicemia, recomenda-se o uso de insulinoterapia endovenosa
(EV) com o objetivo de reduzir os níveis glicêmicos;
t) quando o quadro de hipoperfusão tecidual tiver se resolvido e na ausência de
circunstâncias especiais, como isquemia miocárdica em evolução, hemorragia
aguda, cardiopatia congênita cianótica, a transfusão de concentrado de hemácias
deve ser indicada apenas quando a hemoglobina (Hb) cair para valores inferiores a
7 g/dl, objetivando uma meta de Hb 7 a 9 g/dl em adultos e;
u) em pacientes com sepse, plaquetas devem ser administradas apenas quando a
contagem for inferior a 5.000/mm3, na ausência de sangramentos, podendo ser
considerada quando a contagem estiver entre 5.000 e 30.000/mm3 quando há
sangramento ativo ou um risco extremamente elevado de que ele aconteça.
Vale ressaltar que ao classificar uma determinada recomendação, leva-se em
consideração se o efeito final de se adotá-la a superará em benefícios ou possíveis riscos,
incluindo os custos nessa análise. Sempre que houver incerteza sobre o benefício, opta-se por
classificar a recomendação como fraca, isto é, podem ter a certeza de que uma intervenção
leve a prejuízos ao paciente e, portanto, não deve ser realizada (SILVA, 2006).
38
2.1.11 Profilaxia
Em função dos dados apresentados, não há dúvidas de que a sepse é hoje um problema
de saúde pública, devendo, portanto, ser abordado com medidas ligadas à saúde coletiva, bem
como, com medidas voltadas para saúde do paciente. Dentre as medidas coletivas, devem
estar incluídas políticas que garantam o acesso dos pacientes ao sistema de saúde,
disponibilização de leitos de terapia intensiva de qualidade conduzida por especialistas,
treinamento dos diferentes níveis do sistema para o diagnóstico e tratamento das principais
doenças infecciosas, prevenção de infecções, utilização racional de antibióticos, entre outras
(SALLUH et al., 2006).
Para SALLES et al. (1999), o entendimento dos principais eventos pró e antiinflamatórios que induzem a danos teciduais é, sem dúvida, o primeiro passo na tentativa de
melhorar o prognóstico dessas doenças e estabelecer a terapêutica adequada.
Na verdade o ideal para o paciente é evitar a sepse e suas complicações e para isso
medidas como estimular o aleitamento materno, evitar internações desnecessárias e
prolongadas, evitar o uso abusivo de antibióticos, aderir integralmente às normas de controle
de infecções hospitalares, evitar procedimentos invasivos desnecessários ou encurtar seu
tempo de utilização, imunizações adequadas, são fundamentais e devem ser perseguidas por
todos, pois quando a doença já está presente, todos os riscos aumentam e o prognóstico piora
muito (BRANCHINI; FARHAT, 1999).
2.2 AS INFECÇÕES NOSOCOMIAS
2.2.1 Aspectos Históricos da Infecção Hospitalar no Mundo
Oliveira (2005) descreve que a história da infecção hospitalar (IH) está inserida na
história da medicina que se inicia primeiramente com a luta, tanto pela sobrevivência, quanto
pelo intento de conhecer um mundo aparentemente governado por forças poderosas e ocultas.
39
Na Antiguidade o corpo humano era considerado, em toda sua complexidade, uma
incógnita pelos cirurgiões, levando-os a adotar o tratamento clínico como forma no processo
de cura, pois os médicos eram temerosos em operar seus doentes. Os cirurgiões geralmente
não passavam por uma academia, mas por uma educação prática, por um aprendizado não
universitário. Assim, a medicina, que requeria mais reflexão, estudos e percepção por parte
dos médicos, não incorporava a cirurgia como uma de suas disciplinas, sendo então executada
por práticos, chamados cirurgiões barbeiros, que possuíam maior habilidade manual
(POSSARI, 2006).
Ao longo da existência dos hospitais, tornou-se notável a presença da IH
representando-se assim tão antiga quanto à origem dessas instituições. O indício das primeiras
referências à existência de hospitais remonta a 325 d.C. quando, nessa época, foi determinado
pelo concílio de Nicéia que os hospitais fossem construídos ao lado das catedrais. Houve por
muitos séculos, a permanência de doentes internados em hospitais sem distinção quanto à
nosologia que apresentavam. Os pacientes em recuperação ou infectados compartilhavam do
mesmo ambiente. As doenças infecciosas se disseminavam alarmantemente entre os
internados, sendo comum, o paciente ser admitido no hospital com determinada doença e
falecer de outra, especialmente de cólera ou febre tifoide. Isso se devia à precariedade da
condição sanitária nos hospitais, com abastecimento de água de origem duvidosa,
manipulação inadequada de alimentos e até compartilhamento de leitos por mais de dois
pacientes. A internação hospitalar ficava restrita às populações de baixa renda, pois os
pacientes pertencentes à classe mais favorecida recebiam tratamento domiciliar, com maior
conforto e menor risco de contaminação (COUTO et al., 2003).
Em 1848, o médico húngaro Ignaz Filipe Semmelweis, trabalhando na clínica
obstétrica do hospital geral de Viena, descobria a causa da mortalidade pela febre puerperal.
Ele instituía, a partir de 15 de maio de 1947, uma política rigorosa de lavagens das mãos e dos
instrumentos em solução de cal clorada, entre o trabalho de autópsia e o cuidado com os
pacientes. Ele desvendara o segredo da transmissão dos germes infecciosos, por meio das
mãos e de instrumentos dos médicos cirurgiões, revelação essa que seria três decênios depois
a pedra angular da assepsia (POSSARI, 2006).
Em 1860, James Simpson, médico escocês, atribuía a infecção à inoculação acidental
de secreções de outros doentes do hospital, formulando uma consistente teoria de
disseminação por contato. Influenciado pelas teorias miasmáticas da época, valorizava a
poluição do ar hospitalar que considerava proporcional ao tamanho dos hospitais
(OLIVEIRA, 2005).
40
Florence Nightingale, enfermeira italiana, descreveu em 1863 uma série de cuidados
de enfermagem e estratégias relacionados aos pacientes e ao meio, ressaltando a importância
da higiene e limpeza no hospital tendo como objetivo a diminuição do risco de IH, além disso,
fez a proposta de manter um sistema de relato dos óbitos hospitalares nas enfermarias, o que
serviu como forma de avaliação do próprio serviço. A devasta experiência de Florence
ocorreu durante sua permanência nos hospitais militares, na Guerra da Criméria, o que foi
refletido em forma de melhoria da sistematização da assistência de enfermagem, dando mais
qualidade ao serviço (COUTO et al., 2003).
De acordo com COUTO et al. (2003) em 1864, em Londres, foi descrita a
disseminação de infecções do tipo hospitalar. Foram evidenciadas diferenças entre hospitais
com e sem isolamento, em que ficou clara a observância alarmante do número de óbitos em
hospitais sem isolamento. Em 1867, Joseph Lister publicou um livro, com importantes
contribuições às práticas de antissepsia, demonstrando o valor do seu uso. Os bons resultados
do tratamento de feridas infectadas com ácido carbônico incitaram o uso deste ácido como
antisséptico da pele. Também valorizando o ar como veículo de disseminação de doença,
passou a preconizar o uso de ácido carbônico aspergido no ambiente para diminuir essa forma
de “contagio”.
No início do século XX, disseminaram-se paulatinamente os princípios de que, tudo
que tocasse o campo cirúrgico deveria ser estéril, e rapidamente se espalhou o uso de luvas,
capote, gorro, máscara e material cirúrgico estéril (COUTO et al., 2003).
2.2.2 Aspectos Históricos das Infecções Hospitalares no Brasil
No Brasil, a assistência hospitalar surgiu no século XVI, com Irmandades de
Misericórdias, as Santas Casas. Acredita-se que a primeira Santa Casa de Misericórdia tenha
sido na cidade de Santos (SP), em 1543, conforme afirma Oliveira (2005).
O problema da IH só foi assumido pelo Estado em 1983, com a portaria 196, que
tornou obrigatória a implantação em todos os hospitais de comissões de controle de IH.
Foram também criadas atribuições para as comissões de IH, como vigilância epidemiológica
com coleta passiva de dados, com a notificação feita pelo médico ou enfermeira, treinamento
em serviço, elaboração de normas técnicas, isolamento de pacientes, controle de uso de
41
antimicrobianos, normas de seleção de germicidas e preenchimento de relatórios (OLIVEIRA,
2005).
Oliveira (2005) cita que em 1987 foi criada a Comissão Nacional de controle de IH
com representantes de vários estados e, em 1988, a portaria 232 criou o Programa Nacional de
Controle de Infecção Hospitalar, transformado em 1990, em Divisão Nacional de Controle de
Infecção Hospitalar. Nos últimos 10 anos, 14 mil profissionais foram treinados no curso de
introdução ao controle de IH, ministrado em todo o país com desempenho excepcional das
Comissões de Controle de IH (CCIH), e o Serviço de Controle de IH (SCIH).
Durante a década de 2000, a Gerência de Controle de Risco à Saúde, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, dentro do Programa Nacional de Controle de
Infecção Hospitalar, traça metas para o controle de infecção, como, diagnóstico das infecções
hospitalares no Brasil, curso de controle da IH, atualização do Manual de Processamento de
Artigos e Superfícies em estabelecimentos de saúde, reestruturação dos Centros de
Treinamento em Controle de Infecção Hospitalar; reestruturação do Comitê Técnico –
científico em controle de infecção hospitalar, atualização do Manual de Microbiologia;
comemoração do Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar em 15 de maio, a cada ano
(OLIVEIRA, 2005).
Em 2004 GIPEA/ANVISA, segundo informações de seus técnicos, desenvolveu as
seguintes atividades: Elaboração da RDC sobre reuso de artigos de uso único, Curso de
investigação de surto de vários estados do país. Desenvolvimento de um software – SINAIS,
Sistema Nacional de Informação para Controle de Infecção em Serviço de Saúde, de domínio
público; Curso de educação a distância em controle de infecção hospitalar para profissionais
que atuam nos serviços de Vigilância Sanitária, em convênio com a Universidade Federal de
São Paulo; Estudo da dinâmica de contaminação extrínseca de antissépticos e uso em serviços
de saúde do Projeto Hospitais Sentinela, em convênio com a Fundação de Desenvolvimento
da pesquisa de Minas Gerais; Estudo de prevalência de infecção relacionada à assistência em
Unidades de Terapia Intensiva, em convênio com a Universidade de são Paulo; Revisão e
atualização dos Manuais de Controle de Infecção Hospitalar e de Vigilância Epidemiológica
por componentes NNIS, publicados em 1986 e 1994, respectivamente (OLIVEIRA, 2005).
2.2.3 Os Conceitos de Infecção
42
Para COUTO et al. (2003) o termo infecção passa muito mais a ideia de doença do que
a da simples presença de um agente infeccioso sem conotação patológica, podendo a palavra
induzir confusão entre colonização e doença, resultando da interação anormal estabelecida
pelo contato entre o hospedeiro e um micro-organismo qualquer.
Carmagnani (2000) afirma que a infecção é caracterizada pela invasão e a
multiplicação de micro-organismos dentro ou nos tecidos do corpo, no qual produz sinais e
sintomas e também uma resposta imunológica, que podem produzir efeitos particularmente
devastadores no sistema de assistência à saúde quando alguns fatores combinados deixarem
os pacientes especialmente suscetíveis.
Conforme descrição de Smeltzer e Bare (2005) a infecção é reconhecida pela reação
do hospedeiro e por identificação do organismo, apresentando evidência clínica de rubor,
calor e dor.
A gravidade da infecção varia de acordo com a capacidade de produzir doença,
quantidade de micro-organismos invasores, resistência das defesas dos hospedeiros, condições
nutricionais do paciente, procedimentos necessários em seu tratamento, bem como o tempo de
internação, diante desses fatores, a infecção continua sendo a causa mais frequente das
doenças humanas (CARMAGNANI, 2000).
Para PRADO et al. (2005) a infecção hospitalar é um processo infeccioso adquirida
após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo 48 horas
após a alta quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. A
grande maioria é causada por um desequilíbrio da relação existente entre a microbiota humana
normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro, podendo ocorrer devido à própria patologia
de base do paciente, procedimentos invasivos e alterações da população microbiana,
geralmente induzida pelo uso inadequado de antibióticos.
COUTO et al. (1999) expõe que ao longo dos anos, o ambiente hospitalar tornou-se
bastante propício ao desenvolvimento de infecções por micro-organismos cada vez mais
resistentes aos antibióticos disponíveis, que se deve principalmente, ao uso desnecessário de
antimicrobianos, prescrição inadequada, abandono do ciclo completo do tratamento, além da
capacidade de adaptação e resistência dos micro-organismos aos antibióticos.
Nas infecções hospitalares, os agentes etiológicos têm sido modificados com o passar
dos anos, sendo que, entre 1940 e 1960, o Staphylococcus aureus era o principal agente
etiológico, no qual esse tipo de infecção obteve uma redução através de tratamento com
antibiótico e programas educativos. Hoje em dia, há uma incidência cada vez maior de
Pseudomonas e de outras bactérias Gram-negativas, como a Escherichia coli. As principais
43
causas das infecções hospitalares são as infecções do trato urinário dos pacientes com
cateteres urinários de demora, feridas cirúrgicas, infecções das vias respiratórias superiores,
processos infecciosos primários da corrente sanguínea e infecções das vias respiratórias
inferiores, como exemplo a pneumonia, posto que, os responsáveis pela incidência elevada
são as infecções da corrente sanguínea, ou a sepse secundária causadas por cateteres e
respiradores artificiais ou cateteres centrais (CARMAGNANI, 2000).
PRADO et al. (2005) descrevem que algumas infecções hospitalares são evitáveis e
outras não, que são classificadas como preveníveis e não preveníveis. Infecções preveníveis
são aquelas em que se pode interferir na cadeia de transmissão dos micro-organismos, a
interrupção dessa cadeia pode ser realizada por meio de medidas reconhecidamente eficazes
como a lavagem das mãos, o processamento dos artigos e superfícies, a utilização dos
equipamentos de proteção individual, no caso do risco laboral e a observação das medidas de
assepsia. Infecções não preveníveis são aquelas que ocorrem a despeito de todas as
precauções
adotadas,
como
se
pode
constatar
em
pacientes
imunologicamente
comprometidos, originárias a partir da sua microbiota.
2.2.4 Controle de Infecção Hospitalar
Para Giunta e Lacerda (2006) as práticas de prevenção e controle de IH não dependem
apenas de ações focais no âmbito restrito de um Programa de Controle de IH (PCIH),
dependem também e, fundamentalmente, de ações ampliadas e relacionadas às formas com
que as políticas de saúde são introduzidas e distribuídas à qualidade da assistência em geral.
Desde 1993, o Controle de Infecção Hospitalar (CIH) no Brasil é regido por ações
governamentais, mas somente em 1997, passou a ser obrigatório a Lei nº. 9.431/97, a qual
normatiza a existência de um PCIH em todos os hospitais do país. Em 1998, a Portaria
vigente, n. 2.616, que recomenda o processo de trabalho a ser realizado pelo PCIH foi editada,
devendo o hospital constituir CCIH de um órgão deliberativo de ações de controle e
prevenção de IH e o SCIH e de órgão executivo encarregado de realizar as ações deliberadas
pelo CCIH, no entanto, muitos hospitais têm dificuldades ou não operacionalizam o PCIH
conforme as recomendações governamentais.
Carmagnani (2000) afirma que as fontes de infecção podem ser reduzidas pela
observação rigorosa das normas de controle de infecções, ao passo que, na maioria dos casos,
44
a lavagem das mãos reduz a disseminação de quase todas as infecções, com exceção das que
são transmitidas pelo ar.
A Vigilância Sanitária é responsável pelo acompanhamento dos PCIH nos hospitais, a
qual não somente inspecionar, como também deve prestar cooperação técnica aos hospitais,
orientando para o exato cumprimento e aplicação das diretrizes estabelecidas pela legislação
sanitária pertinente, na qual, a avaliação de práticas de CIH é realizada por agentes que a
executam de forma que lhes permitam não apenas compilar as situações encontradas, mas
também realizar um diagnóstico que subsidie a atuação e a orientação para uma maior
qualificação dessas práticas, não sendo apenas uma fiscalização (GIUNTA; LACERDA,
2006).
2.2.5 Infecções Hospitalares em Grandes Sítios
2.2.5.1 Infecções do Trato Respiratório
KAHN et al. (2008) descrevem que as vias aéreas superiores são frequentemente
contaminadas por micro-organismos derivados das regiões nasal, oral e faríngea.
Inversamente, às vias aéreas inferiores onde ocorrem as trocas gasosas são geralmente
mantidas livres de micro-organismos por uma combinação de fatores imunes do hospedeiro e
limpeza mecânica através de reflexo tussígeno, transporte ciliar de contaminantes aspirados e
movimento de secreções das vias aéreas inferiores para a traqueia.
As doenças orais, principalmente a doença periodontal, podem influenciar o curso da
infecção respiratória. As doenças respiratórias são responsáveis por uma significativa parcela
de morbidade e mortalidade em pacientes de todas as idades (KAHN et al., 2008).
Para BARATA et al. (1996) as Infecções Respiratórias Agudas (IRA) constituem uma
das principais causas de morbidade em todo o mundo e de mortalidade nos países em
desenvolvimento, onde os óbitos atingem principalmente as crianças. Estima-se que nesses
países ocorram, anualmente, em menores de 5 anos, cerca de 4 milhões de mortes, a maior
parte delas devido à pneumonia. A maior importância conferida à IRA nos países
subdesenvolvidos está relacionada às infecções do trato respiratório inferior, cujas taxas de
mortalidade são 10 a 15 vezes mais elevadas do que nas regiões industrializadas.
45
2.2.5.2 Infecções do Trato Urinário
A infecção do trato urinário (ITU) é definida como a invasão microbiana de qualquer
órgão do trato urinário, desde a uretra até os rins. O processo infeccioso pode afetar o rim, a
pelve renal, os ureteres, a bexiga e a uretra, bem como as estruturas adjacentes, incluindo
próstata e epidídimo, existindo possibilidades de agravamento na dependência do estado geral
do paciente e da sua idade. Pode cursar com ou sem sintomas, nesse caso sendo conhecida
como bacteriúria assintomática (SATO et al., 2005; PIRES et al., 2007).
KOCH et al. (2008) afirmam que é uma condição frequente no sexo feminino, visto
que 20 a 48% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU durante a vida. É
também frequente em homens nas faixas etárias extremas da vida.
Já SATO et al. (2005) descrevem que as ITUs acometem homens e mulheres em
qualquer idade, salientando-se que os grupos mais comprometidos são recém-nascidos do
sexo masculino, meninas em idade pré-escolar, mulheres jovens sexualmente ativas, homens
com obstrução prostática e idosos de ambos os sexos. Após o primeiro ano de vida, as
infecções tornam-se mais comuns no sexo feminino, considerando-se que a atividade sexual e
a gravidez favorecem a infecção urinária.
A maioria das infecções urinárias é causada por bactérias gram-negativas, ao passo
que o agente causador mais frequente de ITU adquirida na comunidade, independente da faixa
etária, é a Escherichia coli, cuja prevalência varia de 54 e 81%. Outras bactérias mais
prevalentes de ITU não complicadas em adultos incluem Klebsiella spp, Proteus spp,
Enterococus spp e Enterobacter spp (KOCH et al., 2008).
PIRES et al. (2007) enfatizam que essa é uma das infecções mais prevalentes na
clínica médica, sendo o seu tratamento na maioria das vezes iniciado e até completado de
maneira empírica. Essa conduta é justificada pelo fato da urocultura, padrão ouro, exigir até
mais de seis semanas para expedir o resultado, como no caso das micobactérias, e por ser a
ITU importante causa de morbidade.
Diante da grande incidência de falha terapêutica e visto que o tratamento inicial é
empírico, impõe-se a cada serviço o conhecimento da prevalência e frequência dos agentes,
além também o perfil de sensibilidade dos micro-organismos aos antimicrobianos mais
46
utilizados na prática clínica, buscando assim a otimização do tratamento e a redução do
aparecimento de novas resistências (PIRES et al., 2007).
SATO et al. (2005) definem que a importância clínica das infecções do trato urinário
não decorre apenas de sua elevada prevalência, mas sim das consequências e complicações
que podem produzir. O tratamento bem-sucedido dessas infecções depende essencialmente do
diagnóstico clínico e bacteriológico correto, bem como do acompanhamento do doente para
verificar a ocorrência de recidiva da infecção.
2.2.5.3 Infecções em Sítio Cirúrgico
A infecção do sítio cirúrgico (ISC) é definida como infecção que ocorre na incisão
cirúrgica ou em tecidos manipulados durante a operação, sendo que, com finalidade
epidemiológica essa infecção pode ser diagnosticada dentro de quatro a seis dias após o
procedimento. Algumas vezes, são encontrados curtos períodos da manifestação de acordo
com a etiologia da infecção (RABHAE et al., 2000 apud FERNANDES, 2000). Outras vezes,
o período é mais longo, de acordo com a definição de Grinbaum apud RODRIGUES et al.
(1997), a ISC pode ocorrer em até 30 dias após a realização do procedimento, ou em casos de
implante de prótese em até um ano após.
2.2.5.4 Infecções da Corrente Sangüínea Relacionadas a Dispositivos Intravasculares
De acordo com a definição de Richtmann (1997) apud RODRIGUES et al. (1997)
consideram-se Infecções nosocomiais Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS) toda infecção
em parte que tenha hemocultura positiva, bactéria ou fungo, colhida 48 horas após a
hospitalização e que caracterize importância clínica.
Os cateteres intravasculares incluem basicamente dois tipos de dispositivos, o cateter
periférico cujo local de inserção destina-se aos vasos periféricos e o cateter central, de
inserção em vasos centrais através de punção periférica ou central em veia subclávia, jugular
interna ou femoral. Tais dispositivos recebem a denominação de curta e longa permanência,
respectivamente, até 30 dias e mais de 30 dias (ROCHA, 2001 apud MARTINS, 2001).
47
A medicina moderna tornou indispensável o uso de dispositivos intravasculares que
possibilitam a administração de soluções, medicamentos, hemoderivados e nutrição
parenteral, além de permitirem a monitoração hemodinâmica do paciente sob cuidados
intensivos. Cerca de 60% dos pacientes hospitalizados utilizam cateter endovenoso
(RICHTMANN, 1997 apud RODRIGUES et al., 1997; ROCHA, 2001 apud MARTINS,
2001). Contudo, desde o surgimento do primeiro cateter intravascular, em 1945, tornam-se
consideráveis os riscos de infecção associada a seu uso (PEDROSA; COUTO et al., 2003
apud COUTO et al., 2003).
O risco global de adquirir IPCS relacionadas por cateter intravascular é cerca de 1%.
Esse risco é muito maior nos pacientes internados em UTI submetidos à inserção de vários
cateteres intravasculares (RICHTMANN, 1997 apud RODRIGUES et al., 1997).
As IPCS têm grande importância no contexto das infecções hospitalares, pelo seu alto
custo e, principalmente pela alta taxa de mortalidade a ela atribuída, de 14% a 38%. Um
programa efetivo de controle de infecção pode prevenir de 20% a 40% das infecções,
resultando em redução da morbidade e da mortalidade e, consequentemente, em diminuição
do custo da hospitalização (ROCHA, 2001 apud MARTINS, 2001).
A sepse, infecção da corrente sanguínea associada à inserção e manutenção de cateter
venoso central é a mais grave complicação, prolongando a hospitalização e aumentando os
custos da assistência. O principal agente envolvido é o Staphylococcus coagulase negativa,
mas, Staphylococcus aureus, Candida sp e o Enterococcus têm uma participação
significativa.
Os
bacilos
gram-negativos
aeróbicos
adquirem
grande
importância,
principalmente Acinetobacter, Enterobacter e Pseudomonas. Esses micro-organismos podem
originar-se de contaminação a partir da microbiota cutânea durante a inserção ou por
migração ao longo do cateter e através das mãos da equipe que contaminam o canhão do
cateter (HALKER; WEY, 2002 apud VERONESI, 2002).
A bacteremia é definida como a presença de bactérias na corrente sanguínea,
diagnosticada em exames laboratoriais. A fungemia é uma infecção da corrente sanguínea
causada por um agente fúngico. Qualquer dispositivo vascular pode servir de porta de entrada
para uma infecção sanguínea. A contaminação pode acontecer a partir da flora da pele do
próprio paciente ou por micro-organismos transmitidos pelas mãos da equipe de profissionais
de saúde, no momento da inserção do cateter e nos cuidados posteriores (HALKER; WEY,
2002 apud VERONESI, 2002; SMELTZER; BARE, 2005).
A troca rotineira dos equipos utilizados para infusões endovenosas deverá ocorrer a
cada 72 ou 96 horas após o início de seu uso, pois isso reduz o risco de colonização e flebite.
48
Em casos onde ocorra a administração de sangue e derivados, emulsões lipídicas,
monitorização de pressão arterial e suspeita de bacteremia relacionada à infusão a troca é
aconselhável a cada 24 ou 48 horas (RICHTMANN, 1997 apud RODRIGUES et al., 1997).
A prevenção básica das infecções relacionadas a dispositivos intravasculares começa
com uma técnica de assepsia rigorosa para inserção (HALKER; WEY, 2002 apud
VERONESI, 2002). As medidas para minimizar o risco de infecção estão diretamente
associadas a programas bem organizados de treinamento, monitoramento e avaliação da
assistência, padronização do processo e equipe adequadamente treinada (COUTO et al.,
2003).
2.2.5.5 Infecções Relacionadas a Dispositivos Implantáveis
As infecções relacionadas a dispositivos implantáveis são classificadas de acordo com
o intervalo de tempo decorrido da implantação à exteriorização do processo infeccioso em
precoces quando a complicação ocorre entre dois e três meses do implante e tardias, após este
período. Tais infecções ainda subdividem em superficiais e profundas. O diagnóstico para
infecção nesse caso deve ser estendido em até um ano da data do implante (YAMAGUTI,
1997 apud RODRIGUES et al., 1997).
Uma grande variedade de dispositivos artificiais é usada na medicina para auxiliar ou
exercer funções fisiológicas importantes. Dentre eles estão as próteses, dispositivos artificiais
usados para substituir parcial ou totalmente estruturas biológicas defeituosas (DIDIER, 2003
apud COUTO et al., 2003).
2.2.6 Infecção Hospitalar e a Sepse
As infecções adquiridas nos hospitais representam uma das principais causas de
morbidade, mortalidade e custos (GASTMEIER et al., 1998) e o problema é mais expressivo
nos hospitais de países em desenvolvimento como o Brasil, onde a inexistência de
laboratórios e a prática de terapêutica antimicrobiana empírica contribuem para uma maior
49
freqüência dessas infecções, bem como de fenótipos de resistência dos microrganismos
associados (JUNIOR et al., 2003).
As infecções hospitalares ocorrem em 5 a 17% dos pacientes hospitalizados e em UTI
as taxas de prevalência são ainda mais elevadas, pois os pacientes são expostos à
procedimentos invasivos que favorecem o desenvolvimento de infecção (JUNIOR et al.,
2003).
Nas unidades críticas de tratamento as infecções hospitalares afetam cerca de 30% dos
pacientes, estando associadas com uma maior morbimortalidade, apresentando taxas que
variam significativamente, entre 9 e 37% dependendo do tipo de UTI estudada, segundo os
dados de estudos multicêntricos realizados na Europa descritos por Vincent, (2003) e nos
Estados Unidos (DIEKEMA, 2003).
As infecções hospitalares mais frequentes em pacientes críticos são: pneumonias
(46,9%), infecções urinárias (17,9%) e infecções de corrente sanguínea (12%). De acordo
com estudos baseados no sistema NNIS “National Nosocomial Infections Surveillance”
(RICHARDS, 1999), 83% dos episódios de pneumonia hospitalar foram em pacientes com
ventilação mecânica, e 87% das infecções de corrente sanguínea primárias foram associadas
com cateter vascular central (VINCENT, 2003).
Estima-se que 250.000 casos de infecções de corrente sanguínea são adquiridas em
hospitais anualmente. A incidência de infecção nosocomial de corrente sanguínea é de 2,2 por
1000 admissões hospitalares e 17,4 por 1000 admissões em UTI. As bacteremias/fungemias
referem-se a presença de bactérias/fungos viáveis na corrente sanguínea, comprovados
laboratorialmente e são classificadas em primárias e secundárias. As primárias são aquelas nas
quais não há uma fonte de infecção conhecida, sendo usualmente relacionadas a intervenções
intravasculares (HUGONNET, 2004). Elas são definidas pela presença do microrganismo no
sangue e na ponta do cateter e ausência clínica e microbiológica de outra fonte de infecção.
Na bacteremia/fungemia secundária é conhecido um foco de infecção fora do sistema
vascular, usualmente no pulmão ou em sítio de cirurgia abdominal.
2.3 METODOLOGIA
Para a realização do estudo de revisão bibliográfica referente ao período compreendido
entre 1996 a 2008, optou-se em trabalhar com o banco de dados da biblioteca virtual Bireme,
50
base de dados Lilacs e Scielo, sites do Ministério da Saúde, livros, revistas e artigos com
abordagem em sepse, seus determinantes, controle, tratamento e prevenção. A biblioteca
virtual em saúde Bireme é um Centro Especializado da Organização Pan-Americana da
Saúde, estabelecido no Brasil desde 1967, em colaboração com Ministério de Saúde,
Ministério da Educação, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Universidade Federal
de São Paulo, que oferece artigos científicos da base de dados do Medline, LILACS, Wholis,
BBO, AdoLec, BDENF, dentre outras.
Bastos (1998) e Rocha (1998) definem revisão bibliográfica como o exame ou
consulta de livros ou documentação escrita que se faz sobre determinado assunto e sua
realização requer muita leitura por parte do pesquisador.
Cervo (1996) descreve pesquisa bibliográfica como um meio de formação por
excelência que busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado
existente sobre um assunto, tema ou problema. A revisão bibliográfica permite uma íntima
relação com o tema de interesse, indagando, buscando informações através de um
levantamento de informações em base de dados, objetivando detectar toda a descrição
existente, seja consensual ou polêmica na literatura (CAMPOS et al., 2007).
Almeida apud Martins (2008, p.62) define revisão bibliográfica como levantamento,
seleção e fichamento de documentos, tendo por objetivos o acompanhamento e a evolução de
um assunto, a atualização e conhecimento das contribuições teóricas, culturais e científicas
publicadas sobre um tema específico. Santos (2006) afirma que através da revisão literária é
possível reportar e avaliar o conhecimento produzido em pesquisa prévia, destacando os
conceitos, procedimentos resultados, discussões e conclusões relevantes para o trabalho.
Ressalta ainda, que a revisão bibliográfica exerce papel fundamental no trabalho acadêmico,
pois possibilita situar o trabalho científico na área de pesquisa da qual faz parte,
contextualizando-a.
O desenvolvimento da pesquisa teve exeqüibilidade após acesso aos artigos científicos
da biblioteca virtual em saúde Bireme e obras literárias relacionadas ao tema. Utilizou-se no
campo de pesquisa os termos infecção hospitalar, sepse, sepse grave e choque séptico, sendo
utilizados 32 artigos referentes ao tema. Foram levantadas informações sobre conceitos,
histórico, evolução e o controle das infecções hospitalares, critérios para diagnóstico,
principais sítios e medidas gerais de prevenção das infecções hospitalares, enfocando a sepse
como grande desafio a saúde pública, sua epidemiologia, patogênese, manifestações clínicas,
fatores de risco, tratamento, prevenção e controle. Durante a leitura seletiva os artigos foram
51
separados para o estudo por título, ano e autor, possibilitando assim melhor compreensão,
identificação e análise.
O levantamento do referencial teórico foi realizado no período de outubro de 2008 a
abril de 2009 e, durante este trajeto foi possível identificar que, mesmo com toda evidência
científica acerca dos fatores que interferem nos índices de infecções hospitalares decorrentes
de procedimentos realizados durante a assistência a saúde e dos prejuízos advindos desta
ocorrência, ainda mais do que se faz hoje, poderá o profissional, especialmente da equipe de
enfermagem, atuar no controle das infecções nosocomiais.
2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sepse pode ser definida como uma reação inflamatória-vascular sistêmica a presença
de microrganismos ou alguns de seus componentes na corrente sangüínea. Compreende várias
fases evolutivas como bacteremia (presença de bactérias na corrente sangüínea), sepse
(evidência clínica de infecção mais sinais de resposta sistêmica à infecção), síndrome séptica
(diagnóstico clínico de sepse mais evidência de alteração da perfusão cutânea) e choque
séptico (diagnóstico de síndrome séptica mais hipotensão). Aproximadamente dois terços das
sepses são decorrentes de infecções hospitalares, dado este de suma importância para
prevenção e tratamento.
Constitui a principal causa de mortalidade em unidades de terapia intensiva não
cardiológica em todo o mundo, especialmente em decorrência de disfunção de múltiplos
órgãos. Representa alta taxa de mortalidade, sendo cerca de 10% dos leitos de terapia
intensiva ocupados por pacientes sépticos.
O crescente interesse pelo tema tem mudado o perfil de atuação dos pesquisadores,
profissionais e gestores de saúde e órgãos governamentais. Não mais encarada como uma
complicação eventual, sepse direciona a atenção dos profissionais no sentido de reduzir a
incidência e taxa de mortalidade. Dentre as diversas iniciativas, a mais ambiciosa é a
Campanha Sobrevivendo a Sepse, cujo objetivo aponta para a redução da mortalidade em
25% do risco relativo de morte nos últimos cinco anos. Implementadas em diversos países,
inclusive no Brasil, a Campanha vem mobilizando esforços em diferentes instituições e
começa a envolver setores da saúde pública, pois torna-se imperioso o diagnóstico precoce e
52
um tratamento adequado e rapidamente instituído na tentativa de reduzir a taxa de letalidade e
os altos custos decorrentes deste agravo.
53
3 CONCLUSÃO
Ao tomar conhecimento do que representa a sepse, seus agravos, suas manifestações
através de sinais e sintomas, os profissionais de saúde se tornam mais aptos ao diagnóstico
precoce, a escolha de tratamento adequado, ao controle e prevenção deste agravo, responsável
pelas altas taxas de mortalidade nas unidades de terapia intensiva e por onerosos custos aos
serviços de saúde.
É necessário ressaltar que a pesquisa foi de suma importância para a abrangência e
ampliação de conceitos específicos sobre a sepse, o que representa um grande significado para
a saúde, em especial aos pacientes que se encontram hospitalizados por período prolongado e
expostos a procedimentos invasivos complexos, além de vulneráveis a práticas diversas de
assistência a saúde.
Apesar da alta complexidade retratada por infecções e sepse, o combate a
microorganismos não é algo impossível de se realizar, devendo ser feito através da prevenção
a partir da coerência na realização de técnicas assépticas, assim como o conhecimento da
maneira ideal de lidar com tal situação, que consequentemente deve ser adaptada às
necessidades dos pacientes, relativamente visíveis.
Portanto conclui-se que a prevenção de agravos é o melhor tratamento para a sepse e,
diante do quadro clínico instalado deve-se obter urgência na percepção do diagnóstico e na
introdução precoce do tratamento mais adequado. A implantação de manual detalhando as
principais recomendações e diretrizes propostas pela Campanha Sobrevivendo a Sepse, com
formato que facilita a consulta a beira do leito poderá intervir no atual cenário epidemiológico
da sepse, servindo como instrumento de aproximação entre as evidências científicas
disponíveis e a prática assistencial diária.
54
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Maria Regina Andrade de; CONVERSO, Ana Paula Guedes. Inflamação,
Coagulação e Sepse. In: Newslab, 2006. Disponível em:
<http://www.newslab.com.br/newslab/ed_anteriores/77/art05/art05.pdf>. Acesso em 05 de
Fevereiro de 2009.
BARATA, Rita de Cássia Barradas; et al. Gastroenterites e infecções respiratórias agudas
em crianças menores de 5 anos em área da região Sudeste do Brasil, 1986-1987. In:
Scielo, 1996. Disponível em:
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101996000600010>.
Acesso em 26 de Março de 2009.
BASSO, Paula Cristina; et al. Apoptose na sepse e síndrome da resposta inflamatória
sistêmica: revisão. In: Ulbra, 2008. Disponível em:
<http://www.ulbra.br/veterinaria/revista_v6_n1.pdf#page=64>. Acesso em 05 de Fevereiro de
2009.
BRANCHINI, Otavio Augusto G.; FARHAT, Calil Kairalla. Sepse por Germes Gramnegativos no Lactente. In: PRADO, Felício Cintra do; RAMOS, Jairo de Almeida; VALLE,
José Ribeiro do. Atualização Terapêutica: Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento. 19
ed. São Paulo: Artes Médicas, 1999. p. 1125-1126.
CARMAGNANI, Maria Isabel Sampaio; et al. Segurança e controle de infecção. Rio de
Janeiro: Reichamann e Affonson, 2000.
CARVALHO, Paulo R. A.; TROTTA, Eliana de A. Avanços no diagnóstico e tratamento
da sepse. In: Scielo, 2003. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002175572003000800009&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
CASTRO, Eveline Oliveira de; BORTOLOTTO, Maria Rita de F. L.; ZUGAIB, Marcelo.
Sepse e choque séptico na gestação: manejo clínico. In: Scielo, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010072032008001200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
COSENDEY, Carlos Herique. Segurança e Controle de Infecção. Rio de Janeiro:
Reichmann & Affonso Editores, 2000.
COUTO, Renato Camargo; et al. Enciclopédia da saúde infecção hospitalar. 2 ed. Rio de
Janeiro: Medsi, 1999.
55
COUTO, Renato C. et al. Infecção Hospitalar e outras Complicações Não-infecciosas da
Doença: Epidemiologia, Controle e Tratamento. 3 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.
COUTO, Renato Camagos; PEDROSA, Tânia Maria Grillo; NOGUEIRA, José Mauro.
Infecção Hospitalar e outras complicações não infecciosas da doença: Epidemiologia,
controle e doença. 3.ed. Rio de Janeiro: MDSI, 2003.
DIEKEMA, D. J. et al. Epidemiology and outcome of nosocomial and community-onset
blood stream infection. Journal of Clinical Microbiology, v. 41, p. 3665-3660, 2003.
EGGIMANN, P.; PITTET, D. Infection control in the ICU. Chest (Critical care reviews), v.
120, nº6, p. 2059-2093, 2001.
GASTMEIER, P.; et al. Prevalence of nosocomial infection in representative German
hospitals. Journal of Hospital Infection, v. 38; p. 37-49, 1998.
GIUNTA, Adriana do Patrocínio; LACERDA, Rubia Aparecida. Inspeção dos Programas
de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de saúde pela Vigilância Sanitária:
diagnóstico de situação. In: Scielo, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342006000100009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
GONTIJO FILHO, P.P. Definições de infecção hospitalar sem a utilização de critérios
microbiológicos e sua conseqüência na vigilância epidemiológica no Brasil. New lab, n° 53,
p. 124, 2002.
GOULART, Ana Paula; et al. Fatores de risco para o desenvolvimento de sepse neonatal
precoce em hospital da rede pública do Brasil. In: Scielo, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
HECKSHER, Cristiano Augusto; et al. Características e evolução dos pacientes tratados
com drotrecogina alfa e outras intervenções da campanha Sobrevivendo à Sepse na
prática clínica. In: Scielo, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2008000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
HUGONNET, S. et al. Nosocomial bloodstream infection and clinical sepsis. Emerging
Infectious Disease, v. 10 (1), p. 76-81, 2004
56
ISSA, Victor Sarli; et. al. Influência da pressão expiratória final positiva (PEEP) e da
função renal sobre o nível de peptídeo natriurético tipo B em pacientes com sepse grave
e choque séptico. In: Scielo, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066782X2008001400008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
JUNIOR, C. T.; HOVANIAN, A. L. D.; FRANCA, S. A.; CARVALHO, C. R. R. Prevalence
rates of infection in intensive care units of a tertiary teaching hospital. Revista do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, v. 58, nº 5, p. 254-259, 2003.
KAHN, Sérgio; et al. Avaliação da existência de controle de infecção oral nos pacientes
internados em hospitais do estado do Rio de Janeiro. In: Scielo, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232008000600017&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
KOCH, Camila Ribeiro; et al. Resistência antimicrobiana dos uropatógenos em pacientes
ambulatoriais, 2000-2004. In: Scielo, 2008. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822008000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 30 de Março de 2009.
KOURY, Joana Corrêa de A.; et al. Fatores de risco associados à mortalidade em
pacientes com sepse em unidade de terapia intensiva de hospital privado de
Pernambuco. In: Scielo, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103507X2007000100003&script=sci_arttext>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
LAKS, Renato; et al. Sepse durante a gestação: relato de caso. In: Scielo, 2007. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
LEMOS, Roberta Lima Lavigne de; et al. Doença Cardiovascular Associada à Mortalidade
em Idosos com Sepse Grave e Choque Séptico. In: Socerj, 2005. Disponível em:
<http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2005_04/a2005_v18_n04_art03.pdf>. Acesso em
05 de Fevereiro de 2009.
MACEDO, Jefferson Lessa S. de; et al. Fatores de risco da sepse em pacientes queimados.
In: Scielo, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010069912005000400003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
OLIVEIRA, Adriana Cristina de. Infecções hospitalares: abordagem, prevenção e controle.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
57
PANCERA, Christiane Finardi; et al. Sepse grave e choque séptico em crianças com
câncer: fatores predisponentes de óbito. In: Scielo, 2004. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302004000400037&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
PRADO, Marinésia Aparecida do; et al. A infecção hospitalar e suas implicações para o
cuidar da enfermagem. In: Scielo, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072005000200013&lng=pt&nrm=iso> . Acesso em 26 de Março de 2009.
PIRES, Marcelle Cristina da Silva; et al. Prevalência e suscetibilidades bacterianas das
infecções comunitárias do trato urinário, em Hospital Universitário de Brasília, no
período de 2001 a 2005. In: Scielo, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822007000600009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Março de 2009.
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 2 ed. São
Paulo: Iatria, 2006.
ROCHA, Marilene Coura Nascimento. Instrumento para Elaboração de Trabalhos
Técnicos. Governador Valadares: Centro de Ciências Humanas, 1998.
RODRIGUES, E. A. C. et al. Infecção Hospitalar: Prevenção e Controle. São Paulo:
SARVIER, 1997. p. 3 – 14; 25 – 27; 135 -141.
SAKORAFAS, G.H.; TSIOTOU,A.G.; PANANAKI, M.; PEROS, G. The role of surgery in
the management of septic shock – extra abdominal causes of sepsis. AORN JOURNAL, v.
85, nº 1, p. 137-146, 2007.
SALES JÚNIOR, João Andrade L.; et al. Sepse Brasil: estudo epidemiológico da sepse em
Unidades de Terapia Intensiva brasileiras. In: Scielo, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SALLES, M. J. C.; et al. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica/sepse: revisão e
estudo da terminologia e fisiopatologia. In: Scielo, 1999. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442301999000100015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SALLUH, Jorge I. F.; et al. Brás Cubas, a sepse e as evidências: reflexões sobre a surviving
sepsis campaign. In: Scielo, 2006. Disponível em:
58
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000400002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SALOMÃO, Reinaldo; RIGATO JR., Otelo; UJVARI, Stefan. Sepse. In: PRADO, Felício
Cintra do; RAMOS, Jairo de Almeida; VALLE, José Ribeiro do. Atualização Terapêutica:
Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento. 19 ed. São Paulo: Artes Médicas, 1999. p. 2123.
SAPOLNIK, Roberto. Tratamento de choque em pediatria: um desafio a ser resolvido. In:
Scielo, 2002. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S002175572002000600001&script=sci_arttext&tlng=e
s>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SATO, Andréa de Fátima; et al. Nitrito urinário e infecção do trato urinário por cocos
gram-positivos. In: Scielo, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167624442005000600005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 30 de Março de 2009.
SILVA, E.; PEDRO, M.A.; SOGAYAR, A.C.; et al. Brazilian Sepsis Epidemiological Study
(BASES study). Crit Care, v. 8, p. 251-260, 2004.
SILVA, Ruvani Fernandes da. A Infecção Hospitalar no Contexto das Políticas Relativas à
Saúde em Santa Catarina. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.11.
n.1. jan/fev. 2003
SILVA, Eliezer. Surviving sepsis campaign: um esforço mundial para mudar a trajetória da
sepse grave. In: Scielo, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000400001&Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SILVA, Eliezer. Sepse, um problema do tamanho do Brasil. In: Scielo, 2006. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2006000100001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Dezembro de 2008.
SILVA, Eliezer. Sepse Manual: Instituto Latino-Americano para Estudos da Sepse. 2 ed. São
Paulo: Atheneu, 2008.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth, tratado de
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10 ed. Volume 4. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2005.
59
VERONESI R; FOCACCIA, R. Pneumonias bacterianas de origem hospitalar. In: _____ .
Tratado de Infectologia. 2.ed. São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Belo Horizonte:
Atheneu, 2002. cap.146.
VINCENT, J.L. Nosocomial infection in adult intensive care units. The lancet, v.361, nº 14;
p. 2068-2077, 2003.
YU, D.T.; et al., Severe sepsis: variation in resources and therapeutic modality use among
academic center. Critical care, v. 7, p.24-34, 2003.
ZAVARIZ, Silvia M. R.; et al. Marcadores Laboratoriais do Choque Séptico. In: Scielo,
2006. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/1611/1191>.
Acesso em 01 de Março de 2009.
ZUEV, S.M.; KINGSMORE, S.F.; GESSLER, D.D.G. Sepsis progression and outcome: a
dynamical model. Theoretical Biology and Medical Modelling, v. 3, nº 8, p. 1-15, 2006.