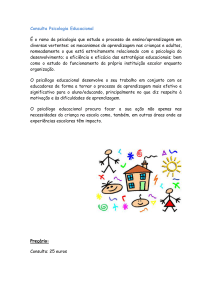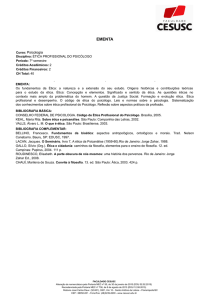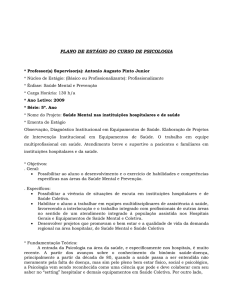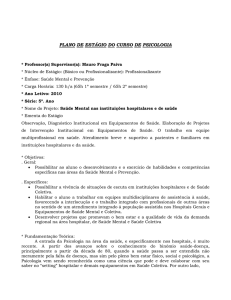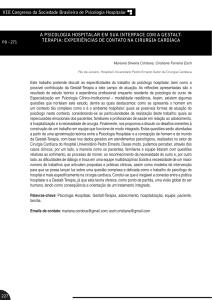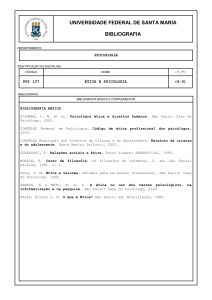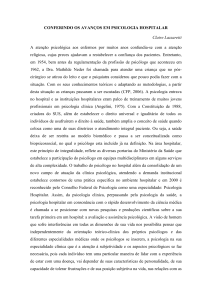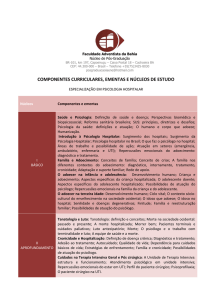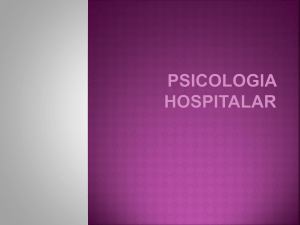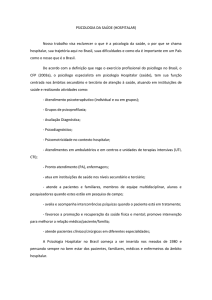PSICOLOGIA HOSPITALAR: QUAL A RAZÃO DE NOSSO EXISTIR?
RESUMO
Este relatório de estágio versa sobre o papel que um jovem terapeuta desempenhou,
durante o período de 06 meses, na disciplina de Psicologia Hospitalar. O estágio ocorreu
com pacientes diagnosticados com Tuberculose ou suspeita de contágio pela doença. O
texto descreve a doença, as condições do estágio, abordando brevemente as
características de combate a Tuberculose adotadas pelo Sistema Único de Saúde Ao
utilizar como embasamento teórico a Psicanálise, o autor apresenta a questão da
possibilidade de cura em Psicanálise, mesmo em um setting tão diferenciado como o
hospitalar, com todas as suas limitações. A psicodinâmica do paciente com tuberculose,
os preconceitos enfrentados por este e estratégias de tratamento psicológico são
abordadas. A questão do psicodiagnóstico no ambiente hospitalar é discutida,
demonstrando que é possível realizá-lo, apesar das restrições que o ambiente hospitalar
oferece e como fazê-lo. Os mitos de Narciso e Édipo são utilizados para tratar a questão
do relacionamento de uma equipe multiprofissional, ressaltando os benefícios do real
funcionamento de uma equipe, em contraposição a diversos profissionais que trabalham
isoladamente. O término do estágio é abordado através do conceito freudiano de
melancolia, apontando um aspecto positivo que pode advir do desligamento que o fim
do estágio ocasiona. Por fim, ao discutir o conceito de cura em Psicanálise, o autor
apresenta uma visão otimista das possibilidades da utilização desta abordagem,
defendendo que a cura deve ser vista como um cuidado, uma (re)descoberta do self de
cada paciente.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar – Psicanálise – Tuberculose.
2007
2
PSICOLOGIA HOSPITALAR: QUAL A RAZÃO DE NOSSO EXISTIR?
Rodrigo Távora César Fröhlich Rosa (autor)
Relatório de Estágio apresentado
para a disciplina de Psicologia
Hospitalar, sob orientação da
Professora Ma. Valéria C. A.
Lisboa.
Banca de Examinadores:
___________________________________________________
Professora Dra. Ione Aparecida Xavier
___________________________________________________
Professora Ma. Valéria C. A. Lisboa
2007
3
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho nasce de minha vivência como estagiário-terapeuta, durante 06
meses, na disciplina de Psicologia Hospitalar, trabalhando com pacientes diagnosticados
ou com suspeita de Tuberculose (TB). Os princípios que nortearão a descrição deste
estágio são dois: em primeiro lugar, uma concepção psicanalítica da Psicologia
Hospitalar e em segundo, uma pergunta que ouvi, em meus primeiros dias de
atendimento: qual é a razão de nossa existência, enquanto um serviço para os
tuberculosos?
Com relação à Psicanálise, uma das primeiras dúvidas que me inquietaram ao
assumir o desafio da Psicologia Hospitalar era: qual a eficácia da Psicanálise em um
setting tão diferenciado quanto o hospitalar, onde o contato com o paciente é muitas
vezes limitado, tanto em número de encontros como em tempo. Ou seja, seria a
Psicanálise capaz de operar como um instrumento de cura, nestas condições? Assim,
pretendo refletir sobre o que significa cura em Psicanálise e qual a sua extensão possível
para o ambiente hospitalar.
A segunda pergunta, feita a mim por uma assistente social, participante do
Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) em uma cidade do interior,
despertou diversas dúvidas. Realmente, qual seria o propósito de todos aqueles
profissionais, ali reunidos, lutando contra a expansão da patologia? A resposta óbvia
seria dizer que o objetivo é o controle da tuberculose. De fato, este é o objetivo
principal, mas acredito que a pergunta esconde um significado simbólico, que
apresentarei durante o decorrer deste Relatório de Estágio (RE).
Outro fator que merece destaque, em minha opinião, é que o PNCT da cidade na
qual realizei meu estágio não conta com um Psicólogo como membro efetivo de seu
quadro. Os atendimentos psicológicos são realizados por estagiários do quinto ano da
UNIP - Sorocaba, ou, em alguns casos, passam por encaminhamento interno para algum
profissional ligado ao sistema público de saúde. Acredito que a falta de um profissional
ligado a Psicologia revela fatores interessantes, podendo dizer que está colocada aí uma
ausência que nos diz algo.
Tendo, portanto, estes princípios como norte, realizarei uma breve descrição do
local em que os atendimentos eram prestados e quais os desafios que encontrei neste
caminhar.
4
2 APRESENTAÇÂO DO ESTÀGIO E SUAS CONDIÇÕES
O estágio estava, inicialmente, programado para ocorrer uma vez por semana,
com duração de quatro horas semanais. O local do estágio foi a sede do PNCT de uma
cidade do interior, que se localiza em uma Policlínica Municipal de Especialidades que
funciona como um ponto de concentração de diversas especialidades relacionadas a área
da saúde na cidade em que estagiei.
A Policlínica, ou Poli, como é carinhosamente denominada pelos funcionários,
conta com equipes multiprofissionais, realizando exames especializados, como
endoscopia, ultrassonografia, assim como procedimentos odontológicos considerados
complexos e pequenas cirurgias. A Poli apresenta em seus quadros diversos
especialistas da área médica, como pneumologista, oftalmologista, pediatra e outros.
Uma característica da Poli é que a população não costuma procurar o atendimento lá
diretamente, passando primeiro por um dos diversos Centros de Saúde da cidade. O
Centro de Saúde é que decide encaminhar, ou não, o paciente para a Poli.
Conforme
a
bibliografia
consultada
(disponível
após
as
referências
bibliográficas) a existência de clínicas de múltiplas especialidades, em cidades com
mais de 30.000 habitantes é uma exigência do Sistema Único de Saúde (SUS). Diversas
dessas clínicas recebem nomes diversos, sendo que a denominação Policlínica é usual
em várias cidades. Portanto, durante o texto, irei usar a palavra Poli como uma
referência a uma clínica de múltiplas especialidades, médicas, odontológicas, incluindo
também, de acordo com o tamanho da cidade, serviço de fisioterapia, psicologia e
outros, de acordo com as demandas e o tamanho de cada cidade. Entretanto, a norma do
SUS é que cidades com mais de 30 mil habitantes contem com uma clínica de
especialidades, razão pela qual uso o termo Poli, pois esta é, como disse, uma
abreviação usual entre pacientes e funcionários.
Existem, entretanto, duas exceções para esta regra. Casos de Hanseníase e
Tuberculose podem procurar atendimento diretamente na Poli, sem agendamento
prévio. Assim, casos suspeitos, advindos de postos de saúde, hospitais psiquiátricos,
hospitais gerais e outros locais acabam se concentrando na Poli, para receber
diagnóstico e atendimento destas duas enfermidades.
Para que ocorra uma descrição correta de algumas condições do estágio, creio
ser fundamental descrever brevemente o funcionamento do PNCT e da Tuberculose em
si, para que a dinâmica peculiar envolvida no tratamento da TB possa ser compreendida.
5
2.1 PNCT e TB
A TB apresenta um longo histórico de convivência com a humanidade, sendo
conhecida, em português, por diversos termos como “peste branca”, “tísica pulmonar”
ou “doença do peito”. Segundo a enciclopédia Wikipedia (2008) ela é causada pelo
Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria que provavelmente evoluiu há 15.000 ou
20.000 anos atrás. Esta longa convivência da tuberculose com a humanidade ajuda a
explicar, em parte, os mitos que cercam a doença, seu estigma e também uma das
facetas mais perigosas da doença, que é a de crer que a TB é uma doença do passado,
inexistente no mundo contemporâneo.
A bactéria causadora da TB foi identificada e descrita em 24 de março de 1882,
pelo médico Robert Koch, o que faz com que até hoje a bactéria receba o nome de
“bacilo de Koch”. A tuberculose causou grandes epidemias, fazendo com que “na
Inglaterra de 1815, uma entre quatro mortes eram devido à tísica pulmonar; por volta de
1918, uma dentre seis mortes na França ainda era causada pela Tuberculose”
(Wikipedia, 2008). Apesar de ter sido descrita há mais de um século, o controle da TB
está longe de ser uma realidade em todo o mundo.
Segundo o portal do Ministério da Saúde (MS) a doença está:
(...) em estado de emergência decretado pela
Organização Mundial de Saúde, como
enfermidade reemergente, desde 1993. Um terço
da população mundial está infectada pelo M.
tuberculosis e, por ano, ocorrem 8,5 milhões de
casos e 3 milhões de mortes causadas pela
doença. (MS,2008).
A realidade brasileira, segundo dados recentes, ainda apresenta algumas
preocupações para as autoridades da área da saúde. O MS (2008) estima que 100 mil
casos novos de doença sejam notificados por ano no país, dos quais 85 mil são casos
novos. Infelizmente, 6 mil pessoas morrem em nosso país, todo ano, vítimas da
tuberculose.
Para responder as demandas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o MS
criou o PNCT, responsável por estabelecer políticas de combate à tuberculose. “O
objetivo do PNCT é cumprir a metas mundiais de controle da tuberculose, ou seja,
localizar no mínimo 70 % dos casos estimados anualmente para tuberculose e curar no
6
mínimo 85% destes” (MS,2008), procurando controlar a epidemia no Brasil. É fato
conhecido que a TB possui ligações com a pobreza, atingindo em especial homens em
idade produtiva, causando prejuízos econômicos consideráveis para famílias carentes,
criando um novo ciclo de pobreza que alimenta o crescimento da doença.
A tuberculose pode se manifestar em diversos órgãos, como pulmão, ossos, rins,
fígado, etc., sendo a forma pulmonar a mais freqüente. O contágio ocorre pela expulsão
de bacilos, pelas vias aéreas da pessoa contaminada, normalmente através da tosse.
Após 15 dias de início do tratamento, o portador de TB pulmonar pára de transmitir o
bacilo. Uma pessoa com TB pulmonar, sem tratamento, “em um ano pode infectar de 10
a 15 pessoas” (MS,2008). Como o contágio ocorre principalmente através do ar, não é
difícil deduzir que a combinação de locais pouco arejados, muito próximos e com alta
concentração de pessoas são um local de fácil contágio pelo bacilo. Portanto, a
combinação entre pobreza e falta de informação contribui para a propagação da
epidemia.
Outros fatores que têm contribuído para a permanência da TB como uma doença
significativa em todo o mundo são: o desafio do tratamento dos pacientes contaminados
pelo HIV e o surgimento de variantes do bacilo, resistentes a diversos tipos de
medicamentos. A resistência costuma ser conseqüência de tratamentos abandonados,
nos quais a bactéria tem contato por pouco tempo com certos antibióticos, criando
resistência aos medicamentos, por um processo de seleção natural e mutação.
2.2 O que encontrei em meu local de estágio
Ao chegar até o PNCT da Poli, encontrei uma equipe bem estruturada, que conta
com médica pneumologista, assistente social, enfermeira chefe, auxiliar de enfermagem
e um motorista. Recebi algumas informações básicas sobre a doença e seu tratamento.
Fiquei surpreso, por exemplo, ao saber que os medicamentos para o tratamento da TB
podem ser encontrados apenas nos órgãos responsáveis pelo tratamento da tuberculose,
não estando disponíveis na rede particular. Pareceu interessante também a informação
que mesmo pessoas de classe alta eram tratadas pelo PNCT, pois a TB é uma doença
tratada majoritariamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devido a suas
peculiaridades.
Um dos dados que me pareceu mais relevante, apesar de ainda não ter tido
contato com a população, neste momento, era que havia uma taxa de desistência do
7
tratamento relativamente alta, apesar de todas as facilidades oferecidas pelo programa.
Apenas para exemplificar, alguns dos incentivos que os pacientes recebiam para a
manutenção de seu tratamento eram: passe de ônibus para ir e voltar em cada consulta;
possibilidade de atendimento médico sem agendamento prévio, em caso de necessidade
de consulta não programada; avaliação sócio-econômica das famílias por uma assistente
social, que ao realizar a visita domiciliar, explicava alguns aspectos da doença, os
direitos do paciente e, eventualmente, auxiliava a obtenção de benefícios como cesta
básica e carteira de acesso ao transporte urbano.
A questão do abandono do tratamento não escapava de meus pensamentos. Não
parecia fazer sentido, que um tratamento totalmente gratuito e com diversos aspectos
facilitadores, como os citados acima, pudesse ser abandonado. Foi com este pensamento
que dei início a um dos primeiros atendimentos que realizei, com uma moça de 25 anos,
a quem chamarei de F1.
3 DESCRIÇÃO DO TRABALHO
O pedido inicial da coordenação do PNCT foi para que eu realizasse
atendimentos individuais, em casos específicos, que o programa considerava como
pacientes que poderiam se beneficiar de atendimento psicológico. E foi assim que
comecei o primeiro atendimento de F.
F. é uma jovem mãe, com três filhos, desempregada. Mora com o marido, os
filhos e seus pais. Durante a entrevista, além de notar que F. estava apática, com um
aspecto cansado, pude notar uma repetição em seus relatos, repetição esta que não pude
ignorar. F. constantemente reclamava, de forma velada, que sua família não permitia
que ela realizasse uma série de atividades corriqueiras, como sair de casa em dias
nublados, lavar a louça, tomar banho após as 18h00min e também... cuidar de seus
filhos!
A lista de impedimentos, seguida por perguntas como “mas tem problema sair
no vento?” ou “qual o problema de lavar louça e ter tuberculose?” eram seguidas pela
mesma demanda: não posso me aproximar de meus filhos, pois minha família acredita
que irei contaminá-los. Por inexperiência, não me senti confortável para responder a
1
Todas as iniciais são fictícias. Caso uma categoria profissional seja citada, entre os que trabalham no
PNCT em que estagiei, a categoria pode até mesmo ter sido trocada, por exemplo, usando o termo
enfermeiro quando na realidade seria um médico, para dificultar eventuais identificações dos profissionais
envolvidos.
8
muitas das perguntas de F., mas eu dispunha de uma informação, que estava escrita em
seu prontuário: seu tratamento se iniciara há um mês, ou seja, ela já estava fora da janela
de contágio. Não havia, portanto, motivo de meu conhecimento para que ela não
pudesse ter contato com seus filhos. Por uma questão de prudência, entretanto, resolvi
levar o caso para discussão com a equipe, com o consentimento de F., para que seu caso
pudesse ser esclarecido, sem quebrar o sigilo psicoterapêutico.
Em comunicação com a equipe, pudemos constatar que diversas das dúvidas de
F. já haviam sido explicadas pelo programa, tanto pela médica quanto pela assistente
social, durante a visita domiciliar. Surgiu, neste instante, a constatação de que havia a
necessidade de melhorar e reforçar algumas das informações sobre a doença, que por
mais que tivessem sido passadas uma vez para o paciente, pareciam ser prontamente
esquecidas. Teorizamos que, talvez, a primeira vez que o paciente recebe as
informações corresponderia a um momento de choque, um estado traumático,
dificultando a sua capacidade de assimilação das informações. Surgiu a idéia de realizar
um grupo de sala de espera, criando um espaço para a (re)veiculação de informações
sobre a doença e também um momento para a troca de experiências entre os pacientes.
Pensando, em conjunto com a assistente social, sobre o modelo que o grupo
teria, os atendimentos individuais continuavam. Sobre estes casos pretendo retornar ao
final deste relatório. Acredito que a experiência do grupo de sala de espera deve ser
apresentada, neste momento.
4 APRECIAÇÃO SOBRE O DESENROLAR DAS ATIVIDADES
Posto que a demanda inicial do PNCT foi a de que o estagiário-terapeuta
desenvolvesse atendimentos individuais, mas que em pouco tempo a equipe percebeu
que apenas a intervenção individual seria insuficiente para atender as reais demandas do
Programa, irei comentar, a seguir, os desdobramentos de minhas atividades,
considerando que os atendimentos individuais prosseguiram, em conjunto com as
muitas outras atividades que acabaram por ocorrer.
4.1 Facilitando o acesso à informação sobre a TB
O primeiro dilema sobre a criação do grupo era de ordem prática: experiências
anteriores com grupos não haviam tido grande sucesso, devido à baixa freqüência dos
9
pacientes as reuniões. A estratégia encontrada pela equipe foi a de associar os grupos de
sala de espera com o chamado “retorno de quinze dias” do paciente com TB. Todo
paciente que inicia o tratamento, após quinze dias em média, retorna para uma nova
avaliação médica. A taxa deste retorno é alta, pois os sintomas ainda estão ocorrendo e a
medicação recebida é contada para o número de dias até o do retorno. Utilizando este
fato como agente facilitador, resolvemos realizar as reuniões do grupo de sala de espera
de quinze em quinze dias, coincidindo com a consulta médica.
Para alguns esta iniciativa pode ser vista como “medicocêntrica” (sic) ou algo do
tipo. Na minha visão e da assistente social, se tratava apenas de aproveitar uma data em
que os pacientes já estariam lá, em um momento favorável, pois o “choque” do
diagnóstico já havia passado. É importante lembrar que muitos dos pacientes moram
longe, perdem dia de trabalho para comparecer a uma consulta, ou seja, estamos lidando
com uma realidade específica de uma parcela da população, o que exige soluções
específicas. A realização das reuniões em data conjugada com a da consulta médica
provou ser um instrumento útil para o comparecimento dos pacientes, com resultados
positivos durante a vigência das mesmas.
A estrutura das reuniões foi planejada de forma simples. Iniciaríamos com uma
apresentação dos profissionais envolvidos e perguntaríamos aos pacientes se algum
deles gostaria de compartilhar como foi o seu processo de adoecimento, desde o
diagnóstico até o momento atual. Em algumas reuniões, fora os pacientes “de quinze
dias”, também tivemos a presença de pacientes com alguns meses de tratamento, o que
provocou uma troca de experiências interessante, pois o contato com aqueles que
estavam próximos da alta médica era um estímulo para que os pacientes aderissem ao
tratamento.
Após uma breve discussão sobre o processo de adoecimento e eventuais
dificuldades que os pacientes estivessem vivendo naquele instante (problemas com
patrão, namorada, família, etc., devido ao diagnóstico de TB) começávamos a
explicação do chamado álbum seriado. O álbum seriado se constitui por um conjunto de
ilustrações e frases, enviadas pelo próprio Ministério da Saúde, com informações
básicas sobre a doença. Acreditávamos que revisar o álbum seriado com os pacientes
seria útil.
Realmente, durante o álbum feriado, surgiam diversas perguntas sobre a
possibilidade de contágio, vigência do tratamento, restrições alimentares, duração do
tratamento e outras. A (re)informação destes dados foi extremamente importante para
10
estes pacientes, pois suas perguntas demonstravam que diversas informações não
haviam sido assimiladas por eles durante a primeira explanação. Entretanto, um fato me
chamou atenção e acreditei que ele merecia ser explorado, algo que fiz. Percebi que
diversos dos termos ditos aos pacientes, como “o bacilo se torna resistente”, “a sua
imunidade pode estar baixa”, “a bactéria penetra pelas vias aéreas superiores” e outros,
estavam muito distantes da realidade daquela parcela da população. Era imperativo,
assim, tornar aquela linguagem acessível à população atendida.
Iniciei assim a utilização de todos os recursos possíveis, entre os quais o das
metáforas explicativas. Para explicar a resistência que o bacilo poderia adquirir aos
antibióticos, usava como exemplo uma plantação a qual era aplicado herbicida uma
única vez. Muitos pacientes conseguiam entender que a erva-daninha que sobrevivia a
primeira aplicação era a mais resistente, e que caso não houvesse uma segunda
aplicação, apenas ervas resistente sobreviveriam. Aprendiam, assim, o que significava
dizer que o bacilo poderia se tornar resistente ao medicamento, caso o tratamento fosse
abandonado.
Sobre o sistema imunológico, utilizei explicações sobre a composição do
sangue, como o corpo se defendia de invasores, explicando como ocorria uma
verdadeira batalha entre os “soldados do corpo” e os “invasores”. Era possível
relacionar sistema imune a alimentação e condições de vida, como estresse, horas de
sono, etc. Assim, compreendiam o que “estar com a imunidade baixa” significava.
Certo dia, caminhando pela Poli, observei um cartaz com o diagrama do sistema
respiratório humano, doado por uma companhia farmacêutica. Perguntei a médica se ela
utilizava aquilo, ao que ela respondeu que não. Questionei-a se poderia emprestar o
diagrama para as reuniões do grupo de sala de espera. Assim, um novo aliado surgia em
nossas reuniões. Era possível mostrar aos pacientes as vias de entrada do bacilo, como
ele poderia se espalhar pelo corpo e o funcionamento dos alvéolos pulmonares. Eles
apreendiam assim os motivos pelos quais se sentiam cansados, com tosse, febre baixa e
os outros sintomas da TB.
É obvio que em diversos casos a informação passada era simplificada, mas não a
julgo em nenhum caso como incorreta. Aquelas pessoas tiveram contato, realmente,
com a realidade de suas doenças, em termos fisiológicos e informativos. Dúvidas foram
sanadas, provavelmente a tempo hábil, prevenindo o abandono de tratamento ou o
impedimento de uma mãe de abraçar seus filhos, impedimento este que costumava
proceder do restante da família.
11
Uma característica marcante dos grupos é que em diversos casos o usuário do
serviço comparecia acompanhado de algum familiar. Isto constituía um momento de
vital importância, pois assim conseguíamos passar informações e tirar dúvidas da
família, quase que “por tabela”. A troca de vivências entre os pacientes, como a
comparação de sintomas, a experiência do preconceito e os medos advindos do
tratamento, também foram úteis, constituindo um momento de trocas emocionais entre
os mesmos.
O sentimento de se apropriar do próprio corpo e do tratamento também pode ser
considerado como um efeito positivo do trabalho em grupo. Ao explicar aos pacientes,
por exemplo, que ao pegar uma amostra de seu escarro, que este era dividido em 100
partes e uma destas partes era observada em um microscópio para detectar ou não a
presença do bacilo, gerando assim o primeiro “positivo” ou “negativo” do exame,
equivalia a dar-lhes a chance de entender o porquê da necessidade do exame e o que era
feito com uma secreção que lhe pertencia. Assim, o paciente tinha noção e uma
sensação de pertencimento aos procedimentos aos quais ele era submetido, as vezes
repetidamente.
Portanto, o grupo serviu a um duplo propósito. Como instrumento informativo,
prevenindo comportamentos inadequados advindos da desinformação e da mitologia
que existe sobre a tuberculose. Outro aspecto significativo do grupo foram as trocas de
experiências, momentos únicos para cada paciente, em que podiam se beneficiar do
sentimento de pertencimento a um grupo, sentindo o benefício do contato com pessoas
que viviam dilemas semelhantes.
Outro aspecto que foi importante apresentar em todas as reuniões foi a
necessidade de que as pessoas buscassem informações sobre a TB com o serviço de
PNCT. A insistência nesta informação partiu da constatação de que diversos pacientes
recebiam informações contraditórias, muitas vezes até mesmo em postos de saúde e
outros ramos da saúde pública e até mesmo privada. Em grupo, diversos pacientes
revelaram que o “enfermeiro do posto mandara separar todos os talheres e copos do
tuberculoso e ferver as roupas” e outras orientações tão equivocadas, como esta. Além
de explicarmos o porquê da não necessidade de separar copos e talheres, ressaltávamos
a disponibilidade e a necessidade de que o paciente diagnosticado com TB procurasse
informações no serviço especializado e orientado pelo próprio Ministério da Saúde, ou
seja, o PNCT. Mas, os atendimentos individuais continuavam, e acredito ser apropriado
falar um pouco sobre eles.
12
4.2 A interdição informal do paciente com TB
O atendimento individual dos pacientes com TB revelou que muitos sofriam de
uma condição de interdição informal, sendo tratados como crianças ou inválidos,
deixando de exercer as atividades que normalmente estavam acostumados. Este
“tratamento” dispensado ao paciente com TB, por parte de familiares e amigos, possuía
uma faceta negativa e perigosa, como pretendo explorar a seguir.
Estando, portanto, impedidos de prosseguir com suas vidas, além das limitações
reais que a doença pode impor, qual seria a conseqüência psíquica para estas pessoas?
Se considerarmos algumas contribuições teóricas da Psicanálise, como “a de Ferenczi é
preciosa, ele, seguido de tantos outros, vai insistir que um trauma não é sempre algo que
aconteceu, mas pode ser justamente algo que não aconteceu” (Fernandes, 2006, p.140)
podemos pensar que o que ocorre com estes pacientes é justamente um não acontecer.
Impedidos de protagonizarem suas próprias vidas acabam presos em um interdito, uma
negação de suas possibilidades que se constitui como trauma.
As condições deste trauma são insidiosas, pois são revestidas de um suposto
carinho, cuidado e proteção. A agressão ocorre em nome da saúde, da própria pessoa e
dos que estão a sua volta. Pude observar, em diversos casos, o recrudescimento de
papéis familiares arcaicos, nos quais os pais de um(a) paciente já adulto voltavam a
comandar, ordenar e até mesmo tiranizar. Pessoas que antes não dispunham de poder
efetivo em certas famílias, como uma sogra ou um vizinho, de repente se tornavam
figuras de autoridade, ditando o que poderia ou não ocorrer. Mas justamente pelo seu
caráter de suposto “não trauma”, “não abuso de autoridade” e sim de “cuidado”, o
paciente se paralisava, confuso, sem condições de reagir. Ademais, como reagir à
violência/amor cuja origem é a própria família ou os amigos tão amados?
Outro fator que merece ser ressaltado para a contribuição psicodinâmica de
diversos casos relacionados à TB também é uma contribuição de Ferenczi, que afirma
que em casos de doença “a libido, retirada do mundo exterior, volta-se não para o ego,
mas essencialmente para o órgão doente ou ferido, e provoca nesse órgão sintomas que
nós devemos atribuir a um aumento local da libido” (Ferenczi apud Fernandes, 2006,
p.149). Se é uma característica própria da dor e da doença que o Ego se encontre
desinvestido da libido, onde esta retorna para o corpo doente, podemos supor aí um
prejuízo econômico e egóico para o doente. Econômico, pois o Ego se encontra com um
13
déficit quantitativo de libido. Egóico, pois o Eu empobrecido disporá de menos recursos
para lidar com a realidade externa.
A questão aqui é: se os pacientes já se encontram na condição do interdito
informal, infantilizados e regredidos pelo ambiente, qual será o resultado desta
combinação com a ocorrência, já esperada, do retorno da libido para o corpo e seu
conseqüente desinvestimento do Ego? Em minha opinião, esta é uma condição que
lembra as condições do narcisismo primário e do início da libidinização do corpo. Não é
necessário pensar muito para lembrar que as psicopatologias mais graves são, em
essência, narcísicas. Acredito, portanto, que o paciente com TB, devido a esta condição
explosiva de fatores, está exposto a condições especialmente precipitadoras de
sofrimento psíquico. Este pensamento ajuda a sustentar, em minha opinião, a condição
depressiva, apática e melancólica encontrada em diversos dos pacientes.
O caso de C. me parece emblemático da situação que detalhei acima. Esta
paciente é uma jovem, de 18 anos, que estava na metade do terceiro ano do ensino
médio. O caso de C. era considerado merecedor de atenção especial, pois ela já havia
abandonado o tratamento uma vez, devido a não aceitação da família de seu diagnóstico
de tuberculose.
Ao comparecer para o primeiro atendimento psicológico, C. respondia todas as
perguntas de forma monossilábica. Entretanto, entre cada “sim” e “não”, uma
informação importante surgiu: a paciente não estava freqüentando a escola, apesar de já
estar em tratamento há um mês, portanto não oferecendo risco algum de contágio aos
colegas.
Quando questionada sobre os motivos de não poder ir à escola, C. respondia que
“a diretora não permitia”. Após a consulta, conversei com a assistente social e descobri
que a diretora em questão já havia sido instruída sobre a realidade da tuberculosa e
orientada a permitir o retorno da jovem, garantindo assim seus estudos e sua
socialização.
Partimos assim, eu e a assistente social, em uma cruzada para descobrir o que
realmente estava ocorrendo. Realizamos uma visita domiciliar, onde pudemos constatar
uma parte dos motivos que levavam C. a desejar a volta à escola. Sua casa, totalmente
selada, com pouquíssimas janelas, era cercada de pilhas e pilhas de material que seria,
um dia, levado a reciclagem. Enquanto não o era, cresciam as pilhas de latinhas de
alumínio, garrafas PET e embalagens Tetra Pak®. A mãe, com fala confusa, alternava
14
entre acreditar que o melhor era a filha ficar em casa e voltar à escola. O pai, diziam,
saía cedo de manhã para o trabalho e voltava tarde, quando a garota já dormia.
Parecia evidente que a escola era um dos poucos ambientes nos quais a jovem
podia interagir com outras pessoas e até mesmo receber alimentação adequada. Não
desejo cair no erro de afirmar que famílias de baixa renda têm, necessariamente, má
alimentação e pobreza de contato humano. Entretanto, neste caso, o fato era observado e
mais tarde foi confirmado pela própria paciente, em seus relatos.
Esclarecido, em termos, o que ocorria com a família, que se dizia presa as
demandas da diretora, resolvemos visitar a escola e conversar com a mesma. Quando
esta nos recebeu, em um primeiro instante, se mostrou defendida, como que justificando
suas atitudes. Após esclarecermos que nossa presença lá era simplesmente uma visita,
para averiguar o porquê de C. não freqüentar a escola, a diretora explicou a situação: as
notas de C. eram baixas, o que a faria reprovar de ano, caso continuasse freqüentando as
aulas normalmente. Entretanto, estando em licença médica, C. recebia atenção
individualizada dos professores, recebendo livros e provas em casa, tendo maiores
chances de aprovação. A diretora dizia que a formatura da jovem era considerada
especial para a família, que já havia pagado R$ 300,00 em sua festa de formatura,
quantia significativa para os padrões da família.
Frente ao argumento da diretora, que dizia na realidade zelar pelo melhor futuro
escolar da aluna, estava colocado um dilema à equipe. Qual caminho tomar? Realmente,
dois lados estavam em conflito. Por um lado, C. estava visivelmente desvitalizada pela
ausência da escola, o que nos fazia temer pelo sucesso de seu tratamento. Por outro
lado, a formatura parecia ser um objeto simbólico importante, tanto para a família e para
a paciente.
É neste instante, de impasse sobre como conduzir o caso de um paciente, que
quero retomar a questão colocada no início do trabalho, ou seja, qual é a razão de nosso
existir, enquanto um serviço para pacientes tuberculosos?
4.3 Narciso deve morrer para que Édipo possa nascer
A discussão do caso de C. demonstrou um dos aspectos mais positivos, entre
muitos, que pude observar na equipe do PNCT da cidade em que estagiei. Quando um
caso era levado a discussão, a opinião de cada um dos profissionais do programa era
15
considerada válida e equivalente a do outro, sem preferências por este ou aquele campo
da Ciência.
Quero apresentar este fato sob uma perspectiva um pouco diferente. Existia,
portanto, respeito à opinião de cada profissional do programa, incluindo a do estagiárioterapeuta de Psicologia. Acrescento que este respeito por mim, raro de ser observado em
diversos estágios de Psicologia Hospitalar, foi uma surpresa e fator preponderante para
o sucesso de meu trabalho com a equipe.
Retomando a questão da equipe, como seria possível teorizar sobre o
funcionamento desta equipe? A razão de existir, da equipe e do serviço, de acordo com
a assistente social é o usuário. Esta resposta aparentemente simples, que coloca em
evidência aquele que sofre, demonstra uma verdadeira humanização na maneira de
enxergar a condução dos casos de diversas patologias.
Se estávamos ali e existíamos naquele espaço pelo e para o usuário, ficava óbvio
que não era necessário que cada profissional se agarrasse ao saber de sua ciência,
pensando em primeiro lugar sobre quem era competente para julgar o quê mas sim
pensando em como cada um dos saberes ali reunidos poderiam se combinar para
confortar uma pessoa: o usuário.
Relaciono esta postura, madura, de diálogo aberto, com a passagem rara entre os
mitos de Narciso e Édipo. De acordo com Zimerman (1999, p.161) “em Narciso, a
relação é diádica, enquanto no Édipo normal ela é triangular (...) no mito de Narciso, o
que prevalece não é o amor por si próprio, como sempre era conceituado, mas sim a
com-fusão com a mãe (...) e a falta de discriminação e consideração pelos demais”. A
citação, obviamente dirigida a casos clínicos, pode ser transportada para o
funcionamento desta equipe e de outras, a meu ver.
Os profissionais podem se comportar pensando apenas neles próprios e em suas
especialidades científicas, gerando assim a confusão narcísica, que impediria o diálogo
dentro de uma equipe. Ao fundir sua atuação com sua ciência de origem, de maneira
pouco criteriosa, surge um tipo de funcionamento que impede a comunicação entre uma
equipe multiprofissional. Entretanto, ainda de acordo com o mesmo autor, “é necessário
que morra Narciso – ou seja, a relação diádica especular em que ele foi condenado a
adorar unicamente a si próprio, como uma forma de negar sua dependência dos outros”
(p.161) para que possa surgir um novo modelo de relacionamento, interpessoal e dentro
de uma equipe. Este modelo, muito mais amadurecido, comparo ao de Édipo, no qual o
terceiro é reconhecido e respeitado.
16
Portanto, em uma equipe que já funcionava edipicamente e não de acordo com
Narciso (o que não significa que conflitos não ocorriam, mas que a dinâmica era
realmente a de uma equipe, na um jogo de espelhos entre saberes profissionais), o caso
de C. foi levado em consideração, em primeiro lugar, do ponto de vista do usuário. Foi
decidido que a única pessoa que poderia escolher o rumo desta história seria a própria
garota. Assim, chamamos a jovem paciente para uma sessão e começamos a explicar a
ela suas duas possibilidades.
Entretanto, havia certo receio que C. não escolhesse conscientemente, pois ela
apresentava uma leve dificuldade cognitiva, provavelmente fruto de uma vida de poucos
estímulos, tanto intelectuais quanto familiares. Quando lhe perguntávamos a sua
escolha, ela só respondia “voltar para a escola”, “voltar para a escola”. Decidi, neste
momento, que uma intervenção era necessária. Perguntei se ela aceitaria pensar os prós
e contras de cada uma de suas escolhas. Munido de uma cartolina que estava no
consultório, naquele momento, desenhei um símbolo de + e um de -, simbolizando os
lados positivos e negativos de cada escolha.
C. começou a falar o que enxergava de positivo e negativo em cada escolha,
percebendo que existia um lado positivo até mesmo na escolha que ela abominava.
Quando a lista terminou, existiam pontos positivos e negativos nas duas escolhas. A
paciente refletiu por alguns instantes, sorriu e disse que escolhia voltar à escola e
enfrentar o desafio, mesmo correndo o risco de não conseguir se formar naquele ano.
Posteriormente, próximo do final de meu estágio, a equipe tomou conhecimento da
aprovação de C. e de sua formatura.
Com este atendimento, no qual diversos aspectos do paciente com TB aparecem,
eu gostaria de destacar o que me pareceu um aspecto essencial na terapêutica da maioria
deles: o resgate da auto-estima, do sentimento de poder tomar decisões na própria vida e
o aumento da socialização, com a conseqüente quebra dos preconceitos. Estes aspectos,
trabalhados em cada atendimento individual, na medida do possível, parecem se
encaixar perfeitamente na descrição acima que fiz da psicodinâmica de muitos pacientes
com TB, ou seja, o resgate destas potencialidades atua contra o prejuízo econômico e o
enfraquecimento do Ego do paciente.
Uma das necessidades que me pareceu óbvia, ao tomar conhecimento com a
prática da Psicologia Hospitalar e das demandas do setor de TB, foi a necessidade de
realizar triagens que fossem rápidas e eficientes, sem perda de qualidade. É preciso
lembrar que às vezes o tempo disponível para cada entrevista é de 20 ou 30 minutos e
17
que alguns pacientes não passarão novamente pelo atendimento psicológico, salvo que
algo seja detectado na entrevista inicial e medidas sejam tomadas para a continuidade
do tratamento daqueles que necessitam. Portanto, como realizar uma triagem, um quase
psicodiagnóstico rápido, sem perda de qualidade?
4.4 Psicodiagnóstico hospitalar: intuição ou razão?
O diagnóstico em Psicologia, segundo minha opinião, especialmente na
Psicanálise, ocorre muito mais em um momento de intuição do que razão. Acredito que
explorar o conceito de intuição permite corroborar essa idéia. Segundo Chauí
(1999,p.63), a palavra intuição vem do latim, intuitus, cujo significado é ver. Assim, a
intuição seria um momento em que “de uma só vez, a razão capta todas as relações que
constituem a realidade e a verdade da coisa intuída”. Às vezes denominada de insight,
capacidade de diagnóstico clínico, etc., acredito que esta é uma maneira apropriada para
o diagnóstico em Psicanálise, no qual um grande número de sessões, com conseqüente
aprofundamento dos conteúdos psíquicos do paciente e a contínua supervisão pela qual
passa o analista se combinam, gerando uma compreensão quase que “total” do que se
passa com o paciente.
Em um ambiente hospitalar, entretanto, esta disponibilidade de tempo inexiste e
nem seria possível, se considerarmos tanto a disponibilidade física e econômica do
sistema hospitalar brasileiro, como também o fato de que diversos pacientes não estão
solicitando psicoterapia. É necessário, assim, realizar o diagnóstico de maneira precisa e
em um espaço de tempo comprimido.
Gostaria de examinar as idéias de Simonetti (2004) sobre o diagnóstico,
especialmente quando aplicado à Psicologia Hospitalar. Para o autor, a diferença entre
diagnóstico e terapêutica é didática, pois ao diagnosticar, uma relação se estabelece que,
em si, já pode ser considerada terapêutica. O autor propõe quatro eixos diagnósticos, a
saber: reacional, médico, situacional e transferencial.
O diagnóstico reacional, para Simonetti (2004, p.37) pode ser comparado com
um entrar em órbita, ou seja, qual a posição/reação que o doente assume frente à
doente? O autor propõe quatro órbitas principais a serem consideradas: negação,
revolta, depressão e enfrentamento. Um dos diagramas do autor mostra as quatro
posições possíveis que um paciente pode assumir frente à doença, demonstrando o
trajeto do paciente como uma elipse entre as quatro possibilidades, podendo alternar
18
entre as quatro. Por esta razão é que o autor utiliza o termo órbita, pois é como se o
paciente, durante um tempo, ficasse estagnado em um tipo de resposta em relação a
doença. Portanto, o contato com o paciente deve servir para tentar captar em que
posição o paciente se encontra naquele momento. Este pensamento possui uma
vantagem óbvia, pois orienta o curso do tratamento: pensar o tratamento de alguém que
assumiu uma posição depressiva é diferente daquele que está na negação, por exemplo.
Continuando com o mesmo autor, chegamos ao diagnóstico médico, que não
pode escapar do trabalho do psicólogo hospitalar, apesar de não ser esta sua função
principal. Para Simonetti (2004, p.70) este é “um resumo da situação clínica do paciente
e deve incluir, idealmente, as seguintes informações: o nome da doença, sua condição
aguda ou crônica, os sintomas” e também outras considerações, como a medicação,
aderência ou não ao tratamento e outras doenças ocorrendo simultaneamente. Para
realizar esta parte do diagnóstico, o psicólogo costuma recorrer ao prontuário do
paciente e o contato com a equipe médica da unidade hospitalar em que ele atua. As
vantagens de utilizar este eixo de diagnóstico são várias: o assunto pode ser um ótimo
“quebra-gelo antes da focalização de assuntos de caráter mais psicológico, que
requeiram a existência de um bom vínculo” (p.70). O conhecimento da condição
orgânica do paciente também auxilia o psicólogo a não tomar como puramente
psicológico algo que pode ser medicamentoso ou típico desta ou daquela doença.
O terceiro eixo, situacional, busca enquadrar o paciente em uma “visão
panorâmica da vida do paciente, enfatizando as áreas não diretamente relacionadas a
doença (...) a saber: vida psíquica, vida social, vida cultural e dimensão corporal” (p.74).
Com este eixo, o psicólogo fica atento a possíveis ganhos secundários que a doença traz
a pessoa, aspectos culturais, profissionais e familiares. Ao observar o paciente como um
conjunto, é possível perceber figuras importantes para aquele paciente (a religiosidade,
a família, a profissão), sua relação com o corpo, suas crenças espirituais e outros fatores,
que compõe o paciente de maneira integrada.
O último eixo, transferencial, busca compreender “como a pessoa se relaciona
em meio ao adoecimento” (p.93). O fenômeno da transferência é parte integrante da
clínica psicanalítica, e no caso do atendimento hospitalar é importante atentar para as
transferências que se formam com os diversos membros da equipe e com os familiares
do paciente. Posso ilustrar a importância deste eixo diagnóstico com algo que observei
que foi o fato de que o que é dito ao psicólogo costuma ser diferente do dito ao médico,
ao assistente social, ao enfermeiro e assim por diante, incluindo até mesmo assuntos que
19
não deveriam, racionalmente, ser discutidos com este ou aquele profissional. Por
exemplo, certa vez uma de minhas pacientes começou a perguntar sobre planejamento
familiar e a maneira correta de utilizar métodos contraceptivos em conjunto com a
medicação para TB.
Orientei a paciente a conversar com a médica, pois acreditei que ela seria uma
profissional com a capacitação técnica para explicar os efeitos da medicação sobre os
anticoncepcionais hormonais e a conseqüente necessidade do uso de métodos de
barreira, durante a vigência do tratamento. Uma hora depois, quando pergunto a médica
se ela havia orientado a paciente, esta responde que “a paciente não fez nenhuma
pergunta sobre métodos contraceptivos, procurando relatar as dificuldades que está
vivenciando com seus familiares”.
A constatação deste tipo de acontecimento, freqüente pela minha observação,
comprova a necessidade de considerar os aspectos transferenciais do paciente.
Obviamente, em um segundo atendimento, pude buscar os motivos que levavam a
paciente a se relacionar comigo como se eu fosse o detentor de um saber médico e com
a médica como se ela fosse a pessoa indicada para lidar com conflitos emocionais. Após
algumas sessões, ficou claro a posição que o fator “masculino” e “feminino” ocupava no
psiquismo desta paciente, levando à esta verdadeira confusão transferencial, que relatei
acima.
Acredito, assim, que para unir todos estes eixos, de maneira rápida e eficiente, é
possível utilizar um princípio que em Filosofia se conhece como “terceiro excluído”.
Segundo Chauí (1999, p.60) este princípio significa que “ou A é x ou é y e não há
terceira possibilidade”. Parte integrante da chamada lógica clássica, apesar de
recentemente contestado por certos ramos da Ciência, acredito que o uso do terceiro
excluído é adequado, especialmente para o que inicia o trabalho psicológico, como o
estagiário, ou para aquele que tem que realizá-lo de maneira rápida, como é o caso em
um ambiente hospitalar. Portanto, utilizar este princípio no diagnóstico significa pensar
em termos de categorias, como “neurose ou psicose”, “risco de suicídio ou não”, etc.
Continuando com Simonetti (2004,p.86), este propõe um algoritmo para facilitar
o psicodiagnóstico, incluindo os eixos já citados. Devido a limitações de digitação, o
diagrama não pode aqui ser apresentado na íntegra, mas tentarei resumir suas partes
principais, utilizando números para indicar uma seqüência de pensamento.
1) Quais são os sintomas?
20
2) Existe efetivamente? (o sintoma). Se não Æ orientação social e atendimento
psicológico. Se sim, passo 3.
3) Deve-se a causa orgânica? Se sim Æ tratamento médico e atendimento
psicológico. Se não, passo 4.
4) Deve-se ao uso de drogas? Se sim Æ tratamento para dependência química
ou manejo dos efeitos colaterais do remédio. Se não, passo 5.
5) Já teve isso antes? Já fez tratamento psiquiátrico? Toma remédio
psiquiátrico? Se sim Æ avaliação psiquiátrica. Se não, passo 6.
6) É delírio ou psicose? Se delírio, emergência médica. Se psicose, avaliação
psiquiátrica. Se nenhum dos dois, passo 7.
7) Qual síndrome pode ser considerada? Demência, depressão, histeria,
ansiedade? Em todos os casos, atendimento psicológico e farmacológico. Em
todos, passo 8.
8) Existe risco de suicídio? Se sim Æ avaliação psicológica e atendimento
psicológico. (obviamente somados a avaliação psiquiátrica e ao tratamento
farmacológico, que já ocorreram em passos anteriores)
Portanto, acredito que esta é uma linha de pensamento que utiliza o princípio do
terceiro excluído, dinamizando o processo de psicodiagnóstico. Com relação ao paciente
de TB, percebi a importância de realizar perguntas que levam indiretamente ao relato
das relações familiares e sociais.
Explico meu raciocínio. Como já expus a questão da interdição informal do
paciente e como esta ocorre por ação de pessoas amadas pelo paciente, o Ego do
paciente terá dificuldades para diretamente relatar o que ocorre em sua casa ou ambiente
social. Portanto, perguntar “sua mãe está lhe tratando bem após o diagnóstico” terá
como resposta, quase sempre, um “sim”. Entretanto, se a pergunta for “quais as
atividades que você vem desenvolvendo em sua casa”, “quanto tempo têm passado com
seus filhos” e outras perguntas indiretas, é mais fácil, em minha opinião, que o paciente
conte o que realmente ocorre no ambiente familiar. É um simples raciocínio em cima
dos mecanismos de defesa do Ego. Perguntar diretamente para uma pessoa que nunca o
viu antes sobre o que ela pensa em relação a pais, companheiro, líder religioso e outros
é o mesmo que convidar o Ego a se defender da pergunta. Ou seja, como poderá o Ego
relatar que a figura materna está impondo-lhe sofrimentos consideráveis? Entretanto,
21
perguntar genericamente sobre as condições familiares, sociais e de trabalho costuma
gerar respostas ricas.
Para finalizar a questão do diagnóstico, não defendo de forma alguma que a
intuição suma de cena. Apenas exponho que devido ao pouco tempo e a inexperiência
do estagiário, pode ser útil se valer de alguns mecanismos lógicos, que auxiliam o
psicodiagnóstico. Neste sentido, considero o livro de Simonetti (2004) uma contribuição
indispensável para aqueles que trabalham com Psicologia Hospitalar embasados no
pensamento Psicanalítico. O esquema diagnóstico proposto acima é uma reprodução,
com pequenas adaptações devido a questões de diagramação, da proposta deste autor.
Após as questões diagnósticas, acredito que é crucial discutir os benefícios de
participar de visitas domiciliares, toda vez que esta oportunidade se apresentar.
4.5 A visita domiciliar
Durante meu estágio, tive a oportunidade, que considerei essencial para meu
entendimento dos casos e da dinâmica do paciente com TB, de realizar visitas
domiciliares, em conjunto com a assistente social do programa. As visitas são, em meu
ponto de vista, instrumento único para a observação dos pacientes em seu ambiente
familiar/social/cultural, garantindo ao profissional uma melhor capacidade de
diagnóstico e intervenção. Diversas situações não relatadas durante as consultas, com
todos os profissionais, acabam aparecendo durante uma visita domiciliar. Conflitos
familiares, dificuldades para a tomada da medicação, problemas sociais que podem ser
amenizados, etc.
Como um exemplo breve da importância das visitas domiciliares, gostaria de
citar um caso em específico. Ao conhecer a residência de M., paciente com TB, com
histórico de abandono do tratamento uma vez, pudemos compreender uma diversidade
de fatores. A paciente sofria de diabetes, tendo que tomar algumas medicações para esta
morbidade. Em conjunto, existiam problemas de pressão e a tuberculose.
M. apresentava um quadro de aparente atraso cognitivo, o que tornava
extremamente difícil para que ela tomasse todos os remédios, nas doses certas e nos
horários prescritos. A paciente também tinha dificuldades para entender o local correto
para receber orientação sobre cada problema, como por exemplo, o problema de pressão
podia ser monitorado no posto de saúde próximo, a tuberculose apenas na Poli, etc.
22
A idéia que surgiu, durante a visita, foi organizar uma tabela para a paciente,
contendo os dias da semana, o remédio a ser tomado, a hora, utilizando cores diferentes
para cada medicação. A empreitada pode parecer simples, mas para aquela paciente em
específico é uma intervenção importante, pois maximiza as possibilidades do tratamento
ser levado a cabo, aumentando a sua independência de outras pessoas da casa, como a
filha, a patroa e outros que com ela conviviam. Mais uma vez, defendo a idéia de
proporcionar ao paciente o máximo de autonomia, resgatando suas potencialidades.
4.6 O fim do estágio
Infelizmente, após o tempo previsto, o estágio chegava ao fim. Requisitei
permissão para que pudesse ficar até o limite do contrato entre a universidade e a Poli,
mas, é claro, o tempo passou. Uma convivência que foi proveitosa, rica, tem que acabar.
Como lidar com a situação?
É obvio que fiquei extremamente tocado com a impossibilidade de continuar
trabalhando com os pacientes com TB e com uma equipe que me acolheu, não como um
estagiário, mas como um membro efetivo da equipe. O sentimento de pertencimento ao
local e o respeito as minhas opiniões são lembranças alegres e saudosas, que marcaram
e marcarão minha atuação profissional.
A este sentimento de luto, desejo associar o texto de Freud (1917) “Luto e
Melancolia”. Freud (1917) nos diz que “a correlação entre a melancolia e o luto parece
ser justificada pelo quadro geral dessas duas condições. O luto, vivenciado pela perda
da equipe, dos pacientes, da posição de aluno e estagiário, todos em conjunto se
aproximavam. O luto é, com certeza, doloroso. Mas seria realmente luto? É costume
ouvir dos professores que os alunos passam por um processo de luto ao se graduarem.
Prefiro dizer que ocorre aí uma melancolia, pois esta é caracterizada por
“alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da consciência, em
contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda” (Freud,
1917). Ou seja, no luto existe uma consciência do que se perde, enquanto na melancolia
“algo mais” foi retirado do Ego, o que lhe impõe um trabalho de adaptação a uma
condição estranha.
No processo de melancolia, uma profunda ligação libidinal com um objeto é
cortada, o que por uma série de processos psíquicos, faz com que o objeto perdido seja
considerado como uma parte do próprio Ego. A perda do melancólico é, assim,
23
enigmática, dolorosa, uma amputação. Se continuarmos com Freud, ele nos dirá que no
processo de melancolia “a sombra do objeto caiu sobre o ego” (1917), ou seja, a sombra
do objeto que reveste agora o ego, parece se tornar parte integrante do mesmo. Sua
perda é dolorosa, é óbvio.
De qualquer forma, acredito que a perda é dolorosa para o estagiário, para a
equipe e para os pacientes, que já começavam a se acostumar com “o estagiário”, que já
era tratado como psicólogo. O próprio título “estagiário-terapeuta” desaparecia do
linguajar da equipe, acompanhando o processo de graduação, que se aproximava.
Se a melancolia é tão enigmática e causa tanta dor, acredito que é possível
pensar também que na melancolia inversa, ou seja, aquela que a equipe sente quando o
estagiário deixa o serviço, pode ser encarada como um agente potencializador,
aguardando o próximo estagiário, a continuidade do trabalho psicológico, enfim, a
importância de um psicólogo naquele ambiente começa a ser sentida.
A ausência que diz, que mencionei no início do texto, pode começar a ser
solucionada a partir da elaboração desta melancolia. Se antes não havia serviço
psicológico naquele local, esta situação diz que uma parte da subjetividade humana se
encontrava negligenciada naquele serviço. De repente, a presença do serviço
psicológico, do qual não sou o único responsável, pois fui antecedido por uma estagiária
e substituído por outra, adquire importância. Para a equipe, o serviço psicológico
adquire sentido e funcionalidade. Para o estagiário já quase psicólogo, o desejo de
continuar aquele tipo de trabalho, de ser psicólogo hospitalar, se instala. É o momento
da despedida, dos abraços, do discreto escorrer de lágrimas. Realmente, a sombra do
objeto caiu sobre o Ego, em ambos os casos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado neste estágio, portanto, englobou diversas atividades.
Envolveu atendimento individual, visita domiciliar, trabalho com grupos, reuniões com
a equipe e mediação entre os pacientes e a equipe. Acredito, portanto, que este pode ser
considerado um estágio de Psicologia Hospitalar que atingiu diversos de seus objetivos.
As 04 horas previstas, inicialmente, logo se transformaram em 06, 08 ou até 10,
distribuídas durante a semana. O que deve ser ressaltado é que este aumento de horas de
estágio foi totalmente voluntário, pois afinal, a razão de meu existir enquanto estagiário
de Psicologia Hospitalar estava lá, entre os usuários e a equipe.
24
Coelho (2008, p.E6) cita um belo poema de Adalgisa Nery, que escreve “nunca
reparaste na beleza de uma estrada/ Cortando a carne do solo/ Para unir carinhosamente/
Os homens, de um a outro pólo?”. Assim como no poema, acredito que é função do
psicólogo hospitalar atuar em diversas ocasiões, como a estrada que une diversas
estâncias ligadas a saúde. Ligar o usuário a sua condição de autor de seu próprio
tratamento; ligar psicologia e medicina, enfermagem e serviço social; ligar a equipe em
um raciocínio sobre aquele que sofre, o paciente.
É hora de abordar, finalmente o conceito psicanalítico de cura. Será que a
passagem, tão breve, do estagiário em seu estágio, foi capaz de proporcionar a cura?
Para isso, desejo abordar o sentido da palavra cura. Para Mezan (1996), existe uma
relação entre o conceito de cuidado, expressa da seguinte forma:
o cuidado – que em grego se diz therapeía – em
latim chama-se cura. Cura, curae, da primeira
declinação. Cura veio tal e qual para a nossa
língua, em que, além do sentido médico de
restabelecer a saúde, tem significados muito
próximos aos da palavra latina: curar o queijo,
curar a madeira, significa levar tais substâncias
ao seu grau máximo de excelência
Encontramos aí outra idéia de cura, diferente da cura médica, que propõe a
extinção de um desconforto, de uma inadequação fisiológica ou social. É possível
pensar na cura como um cuidado e como um buscar extrair do objeto o máximo de sua
excelência. O psicólogo hospitalar, ao resgatar a subjetividade do paciente e ser a
estrada que já mencionei, não estaria cuidando/curando? Auxiliando o paciente e a
equipe a terem um grau maior de excelência, acredito que a podemos falar em uma cura.
Mas existem outras especificidades a serem abordadas para a palavra.
O conceito de cura passou por diversas transformações, desde Freud, seguindo
por Klein, Winnicott, Lacan e Bion, apenas para citar alguns dos que se dedicaram ao
tema. Gostaria de apresentar uma visão otimista da cura proporcionada pela Psicanálise,
que acredito que é adequada ao trabalho da Psicologia Hospitalar. Girola (2004, p.80)
explora a cura psicanalítica, mostrando que Freud, no final de sua obra, estava otimista
com relação aos efeitos da análise, acreditando que os efeitos da mesma poderiam levar
a um Ego mais estruturado para enfrentar desafios futuros. Freud apud Girola (2004,
p.77) nos diz que “uma pessoa que se tornou normal e livre da operação dos impulsos
instintuais reprimidos em sua relação com o médico permanecerá assim em sua própria
25
vida, depois de o médico mais uma vez haver-se retirado dela”. Se substituirmos a
palavra médico por todo aquele que trabalha com a psicanálise, podemos atualizar a fala
de Freud.
Winnicott nos alerta para a tendência contemporânea, de substituir o cuidado
pela cura médica, traduzida como a erradicação da doença. Acredito que vale a pena
transcrever, na íntegra, a maneira como Girola (2004,p.153) sintetiza a visão
Winnicottiana de cura. Segundo o autor:
A cura remete portanto ao cuidado (caring),
que passa pela empatia (saber colocar-se no
lugar do outro), por um senso de gratidão
para com o outro e pelo amor, que se traduz
na atitude materna do segurar (holding),
proporcionando ao paciente um ambiente
facilitador, que possa ser por ele habitado.
Como criar este ambiente, sem uma equipe adequada? Deixo aqui, portanto, um
agradecimento a equipe do PNCT com a qual trabalhei, por proporcionar um ambiente
no qual o cuidado é possível, levando a cura. Não apenas a cura da erradicação da
doença ou de seu sintoma, não aquela que impõe ao “curado” a existência de um falsoself, mas sim a manutenção do ser daquele que passa pelo processo de cura. Para
finalizar, Winnicott nos alerta que ser saudável não significa o conformismo com
padrões e imposições, nos dizendo que “o mundo interno de uma pessoa saudável
relaciona-se com o mundo real ou externo, e mesmo assim é pessoal e dotado de uma
vivacidade própria” (Winnicott apud Girola, 2004, p.154).
Agradeço a minha supervisora, Profa. Ma. Valéria C. A. Lisboa, por guiar o
estágio de maneira suave, permitindo que o estagiário mantivesse a sua vivacidade
própria, a sua criatividade, o brincar winnicottiano. Sem este apoio, não seria possível
desenvolver o trabalho que desenvolvi, com a amplitude que ele alcançou.
Portanto, me despeço do estágio, com a sensação de cura, pois acredito que ele
me auxiliou a chegar mais próximo da minha própria excelência, nunca alcançada
plenamente, mas sempre buscada.
26
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1999.
FERNANDES, Maria Helena. Transtornos Alimentares. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2006.
FREUD, S. (1917). Luto e Melancolia. Tradução sob a direção de Jayme Salomão.
Rio de Janeiro, Imago, 1987. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud. Vol. XIV).
GIROLA, Roberto. A Psicanálise cura? Uma introdução à teoria psicanalítica. São
Paulo: Idéias&Letras, 2004.
MEZAN, Renato. Psicanálise e psicoterapias. Estud. av. , São Paulo, v. 10, n.
27, 1996
.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141996000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 27 Abr 2008. doi:
10.1590/S0103-40141996000200005
MINISTÉRIO da Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
Disponível
em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=21446>. Acesso em:
24 abr. 2008.
SIMONETTI, Alfredo. Manual de Psicologia Hospitalar: o mapa da doença. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo
enciclopédico.
Disponível
em:
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculose&oldid=10268493>. Acesso em:
28 Abr 2008
ZIMERMAN, David E. Fundamentos Psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. São
Paulo: Artmed, 1999.
6.1 Bibliografia consultada
SOROCABA
–
Portal
sobre
Sorocaba.
Disponível
em:
<http://www.sorocaba.com.br/index.php?local=medicinaesade&cat=policlnicamunicipa
l>. Acesso em: 24 abr. 2008.
MINISTÉRIO da Saúde. ABC do SUS. Nomenclatura, parâmetros e instrumentos
de
planejamento.
Disponível
em:
<http://www.rebidia.org.br/noticias/saude/nomen.html>. Acesso em: 23 abr. 2008.
27
7 RESUMO
Este Relatório de Estágio (RE) se refere às vivências do autor, desempenhando a função
de estagiário-terapeuta durante um período de 06 meses, na disciplina de Psicologia
Hospitalar. O estágio ocorreu com pacientes diagnosticados ou com suspeita de
Tuberculose, em atendimento pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT) de uma cidade do interior. O embasamento teórico que guiou o estagiário foi a
Psicanálise, com as conseqüentes dúvidas que esta escolha ocasionou no jovem
terapeuta. Partindo de três questões fundamentais, que são: 1) Qual a possibilidade de
cura que a Psicanálise pode oferecer em um setting hospitalar, com número reduzido de
encontros, limitações no tempo e outros fatores restritivos? 2) Qual a razão da existência
de toda a equipe do PNCT? 3) A ausência de um psicólogo permanente nos quadros do
PNCT é considerada, pelo autor, como uma ausência que diz algo sobre o serviço
prestado e as concepções de cura que permeiam o serviço público de saúde. Ou seja,
utilizando os casos de atendimento e intervenções que foram realizados pelo estagiário,
em conjunto com a equipe do PNCT, o RE discute alguns conceitos, como: qual o
significado da palavra cura, em Psicanálise; um serviço público, com foco em uma
determinada patologia, tem como motivo de sua existência a erradicação da doença, ou
podemos pensar que existe um sentido simbólico mais profundo na reunião e na
existência daquele serviço? Durante o texto, o autor aborda o que ele considera o real
motivo que congrega todos os profissionais e saberes reunidos no PNCT, que é o
usuário, aquele que sofre, e o trabalho por uma cura, não apenas no sentido médico, o da
erradicação da doença, mas a cura que se relaciona ao cuidado, ao proporcionar ao
usuário um espaço em que ele possa ser e reencontrar sua autonomia; por fim, a
ausência de um psicólogo permanente no quadro de profissionais do PNCT revela que
um aspecto da subjetividade daqueles pacientes está relegada, o que leva o autor a
discutir, no texto, quais as implicações da chegada e da saída do estagiário no serviço.
Assim, o texto utiliza os conceitos do mito de Narciso e de Édipo para comentar o
trabalho em equipe. Outro aspecto abordado é a psicodinâmica do paciente com TB e
sua possibilidade de tratamento. A questão do psicodiagnóstico hospitalar é discutida,
demonstrando que apesar do pouco tempo disponível, é possível realizar um diagnóstico
psicológico, sem perda significativa de qualidade. O momento do fim do estágio é
analisado de acordo com o conceito freudiano de melancolia, apresentando um aspecto
positivo da dor que este e a equipe sentem, com o fim do estágio. O RE finaliza com
uma visão otimista das possibilidades da cura que uma visão psicanalítica pode oferecer
no setting hospitalar, demonstrando que os grandes autores, como Freud, Klein,
Winnicott e outros, se ocuparam da questão da cura, pensando-a como um cuidado, um
espaço para ser e para a conquista do indivíduo, uma verdadeira (re)descoberta do self.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar – Psicanálise – Tuberculose.
28
Sorocaba, 29 de abril de 2008.
CARTA DE RECOMENDAÇÃO
Prezados coordenadores do Prêmio Silvia Lane,
Venho através desta, recomendar o trabalho do aluno Rodrigo Távora César
Fröhlich Rosa, realizado no período de estágio supervisionado na disciplina de
Atendimento Psicológico em Instituições de Saúde/ Psicologia Hospitalar, durante o ano
letivo de 2008, período este, em que o aluno concluiu sua graduação, realizando dentre
outros, este trabalho sob a categoria de Relatório Final.
Vale salientar, que este trabalho desenvolvido durante o período de estágio do
aluno, sob minha supervisão, trouxe benefícios relevantes a Instituição, bem como a
população ali atendida, garantindo assim, os preceitos referentes a formação
acadêmica/profissional, que se sustentam nos pilares, da responsabilidade ética, social e
política.
Este Relatório final traz uma cartografia muito bem delineada das implicações
referentes à atuação do Psicólogo em Instituições de Saúde, bem como das demandas da
população ali atendida, enfatizando assim uma “Atitude Ampliada” e “Transdisciplinar”
do profissional da área psi, transpondo os “muros” da Instituição Médica.
Portanto, recomendo este trabalho, aprovado com nota máxima por um grupo de
professores da Universidade, para fazer parte deste ilustre evento.
Desde já, agradeço.
Cordialmente,
Valéria Cristina Antunes Lisboa
Supervisora de Estágio Supervisionado em
Psicologia da Saúde/Psicologia Hospitalar
UNIP Campus Sorocaba
29
MEMORIAL SOBRE A ESCOLHA DO TEMA
Ao iniciar o quinto ano de minha graduação em Psicologia, fui confrontado com
a difícil tarefa de escolher os estágios curriculares que completariam a minha formação,
como psicólogo. A minha escolha, em primeiro lugar, se pautou por uma opção pela
área clínica, pois a idealização que os quatro anos passados da graduação haviam criado
era a do psicólogo em sua clínica, atendendo um paciente por vez. Entretanto, ao
considerar as opções de estágio na área clínica, me deparei com a possibilidade do
estágio em Psicologia Hospitalar. A idéia de estagiar em um hospital foi, no começo,
quase uma escolha secundária, pois eu acreditava que o meu foco profissional seria
sempre o da clínica particular. O primeiro semestre do estágio em Psicologia Hospitalar
ocorreu em um hospital geral, onde assumi responsabilidade pelo setor de UTI. Este
primeiro semestre foi decisivo em minha formação, pois o contato com a realidade da
UTI e o trabalho com os familiares, normalmente na sala de espera, me fizeram repensar
meus conceitos sobre o que é um trabalho psicológico. Ao iniciar o segundo semestre,
optei por trabalhar com pacientes tuberculosos, em tratamento no Sistema Único de
Saúde. Esta segunda etapa da minha vida como estagiário foi, com certeza, a mais
importante em minha formação. Afirmo isto por diversos motivos. Enquanto o estágio
de psicoterapia psicanalítica com adultos foi um ótimo aprendizado, ele estava
confinado a um número pequeno de pacientes. O plantão psicológico, meu outro
estágio, foi um grande aprendizado no sentido de lidar com o inesperado, em tempo
breve. Ambos culminaram no estágio hospitalar, onde pude unir os conceitos da clínica,
a brevidade do tratamento do plantão psicológico, com outros aspectos, como o trabalho
em equipe e a realidade da população brasileira, onde a combinação de pobreza com
falta de informação tem gerado uma explosão de sofrimento, psíquico e físico. Portanto,
utilizando a Psicanálise que estudava na área do atendimento individual, com a
agilidade que o plantão psicológico exige do estagiário, pude construir uma identidade
como estagiário na Psicologia Hospitalar. Assim, descobri os limites do que se passa
além das quatro paredes do consultório, passando por um verdadeiro alargamento de
horizontes. Desta forma, assim como a pesquisa em Psicanálise não se restringe ao
contexto clínico, como alguns pensam, pois ela pode ocorrer na variedade conhecida
como “extramuros”, ou seja, se dedicando a assuntos que acontecem fora do ambiente
do consultório, descobri que ela poderia ser aplicada a qualquer ambiente de trabalho
enquanto psicólogo, pois esta é, acima de tudo, uma concepção de ser humano. A
30
descoberta de que a Psicanálise é uma teoria do aparelho psíquico, um sistema de
tratamento e um método de investigação me levaram a perceber que esta visão do
mundo, a proporcionada pela Psicanálise, pode ser aplicada em diversos contextos,
como o hospitalar, gerando resultados positivos para as partes envolvidas. Acredito,
portanto, que o estágio em Psicologia Hospitalar foi um ápice em meu aprendizado,
unindo teoria, clínica e visão de mundo.