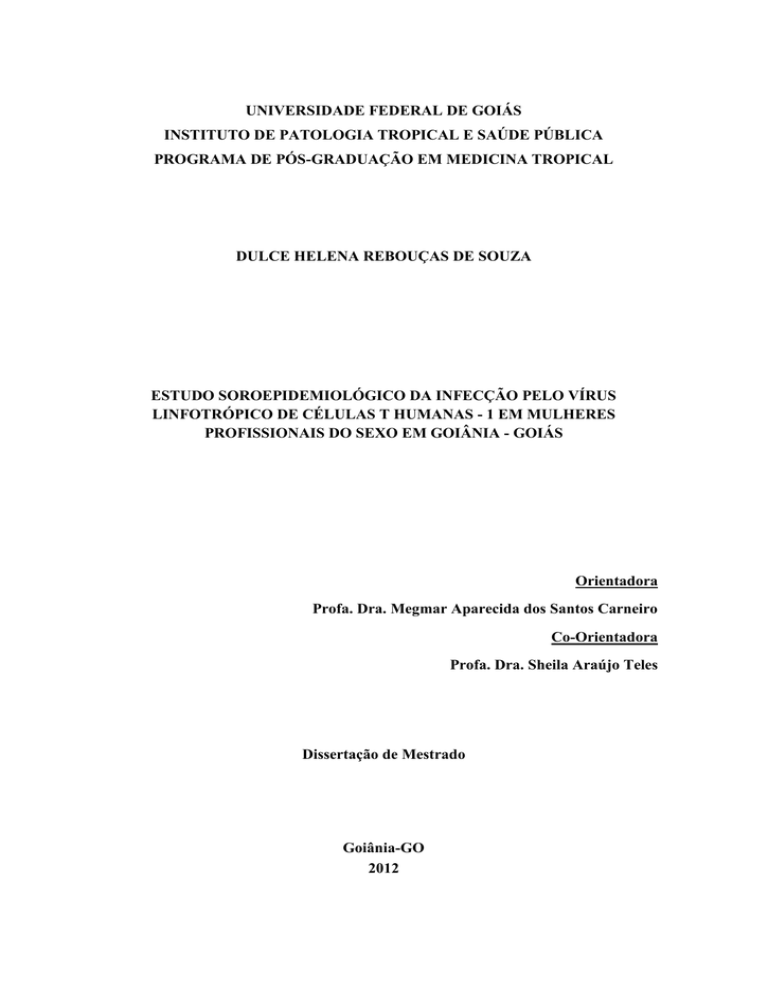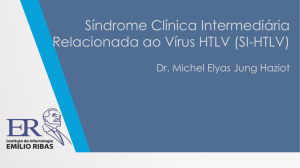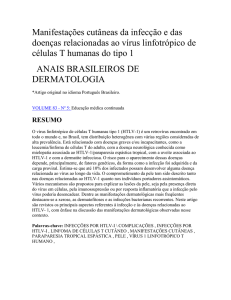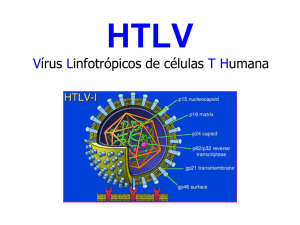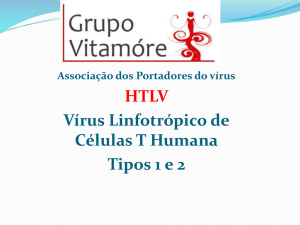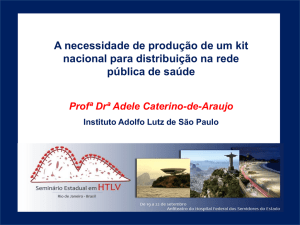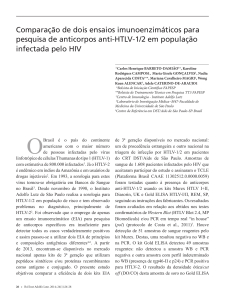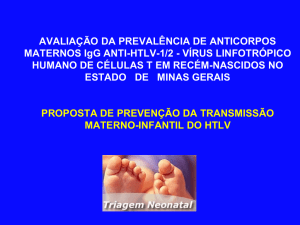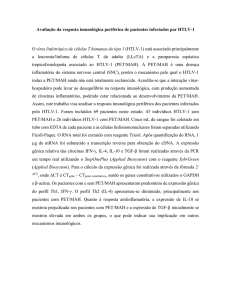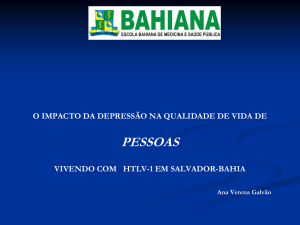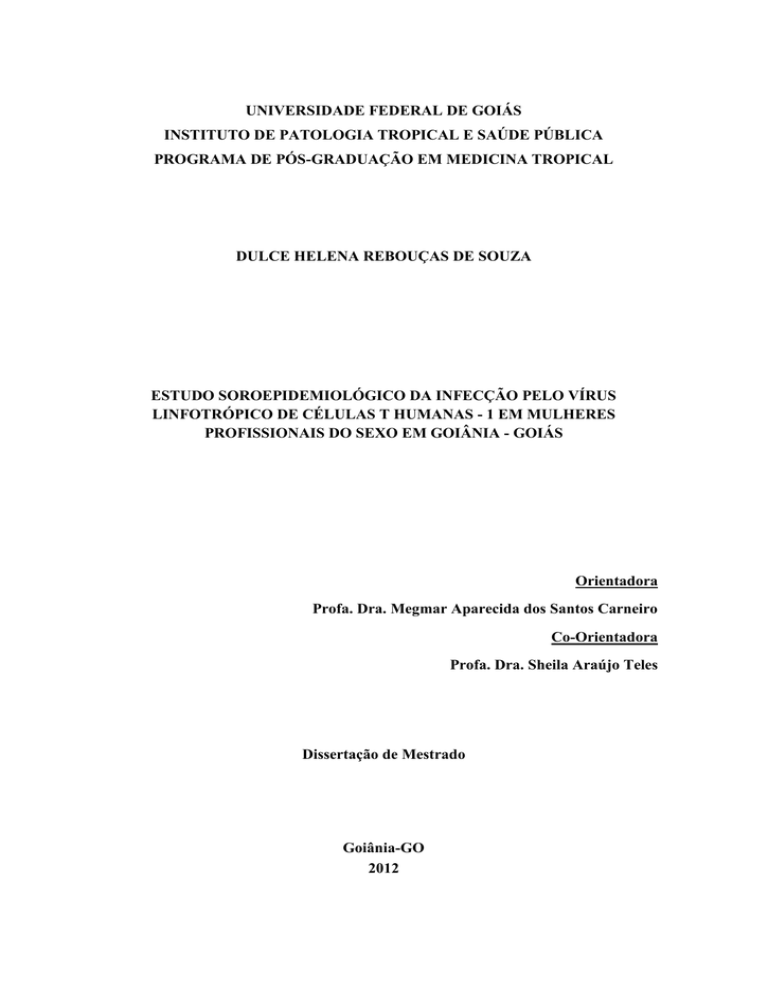
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
DULCE HELENA REBOUÇAS DE SOUZA
ESTUDO SOROEPIDEMIOLÓGICO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS
LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS - 1 EM MULHERES
PROFISSIONAIS DO SEXO EM GOIÂNIA - GOIÁS
Orientadora
Profa. Dra. Megmar Aparecida dos Santos Carneiro
Co-Orientadora
Profa. Dra. Sheila Araújo Teles
Dissertação de Mestrado
Goiânia-GO
2012
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
DULCE HELENA REBOUÇAS DE SOUZA
ESTUDO SOROEPIDEMIOLÓGICO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS
LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS - 1 EM MULHERES
PROFISSIONAIS DO SEXO EM GOIÂNIA - GOIÁS
Orientadora
Profa. Dra. Megmar Aparecida dos Santos Carneiro
Co-Orientadora
Profa. Dra. Sheila Araújo Teles
Dissertação submetida ao PPGMTSP/UFG, como
requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre
em Medicina Tropical, na área de concentração em
Microbiologia.
Goiânia-GO
2012
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
GPT/BC/UFG
S729e
Souza, Dulce Helena Rebouças de.
Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus
linfotrópico de células T humanas – 1 em mulheres
profissionais do sexo em Goiânia - Goiás [manuscrito] /
Dulce Helena Rebouças de Souza. - 2012.
xv, 82 f. : il., figs., tabs.
Orientadora: Profª. Drª. Megmar Aparecida dos Santos
Carneiro; Coorientadora: Profª. Drª. Sheila Araújo Teles.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás,
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, 2012.
Bibliografia.
Inclui lista de figuras, tabelas e quadros.
1. Vírus linfotrópico (HTLV-1) – Epidemiologia. 2.
Vírus linfotrópico (HTLV-1) – Mulheres - Profissionais do
sexo – Goiânia (GO). I. Título.
CDU: 616.155:578.828
III
DEDICATÓRIA
A Deus, que sustentou meus sonhos e minha energia emocional para a concretização
desta etapa;
À minha querida mãe, ao meu padrasto e ao meu irmão, Santana, Bartolomeu e
Waldemar, que sempre acreditaram em mim. Alicerces da minha formação que já me
consideravam mestre na vida;
Ao meu namorado, Cleuber, pelo incentivo, pelo apoio e pela paciência que teve
comigo nestes anos de estudo.
IV
AGRADECIMENTOS
Agradecer é sensação de dever cumprido, melhor ainda é perceber que tenho muito e
muitos a agradecer. Em especial, agradeço:
A Deus, por ter me dado a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Nele busquei
força e coragem para continuar lutando apesar das dificuldades.
À minha orientadora Professora Doutora Megmar Aparecida dos Santos Carneiro, não
só pelos ensinamentos, críticas e sugestões, mas também pela amizade, dedicação,
incentivo e confiança que me fez crescer não só cientificamente, mas também
contribuindo com minha formação pessoal.
À minha co-orientadora Professora Doutora Sheila Araújo Teles, a quem aprendi a
admirar pelo exemplo de vida acadêmica, dedicação, competência e humanismo.
À Professora Doutora Márcia Alves Dias de Matos, pela disponibilidade em ajudar a
todos do laboratório, compartilhando seus conhecimentos.
À Professora Doutora Regina Maria Bringel Martins, que gentilmente abriu às portas
de seu laboratório dando-me a oportunidade de fazer parte de sua equipe e
possibilitanto a execução deste trabalho.
À Professora Doutora Carmen Luci Rodrigues Lopes, pelo apoio e pelas palavras de
incentivo.
Ao Professor Mestre Marcos André de Matos, pelos longos meses de coleta, conversas
e orientações profissionais.
Aos amigos do Laboratório Profª Margarida DoblerKomma (IPTSP/UFG), pelos
ensinamentos e conselhos que foram transmitidos com tanto carinho. Obrigada a todos!
V
Às companheiras de projeto Divânia, Karlla e Luciene, obrigada por tornar tão
divertida e gratificante as manhãs, tardes e noites de coletas.
Ao NUCLAIDS e ao NECAIH, pelas reuniões e pela colaboração em tudo que era
necessário para a realização do projeto.
À minha amiga, irmã, mãe Sueli Meira, pelas palavras certas, nos momentos certos,
que não fizeram com que desistisse de um grande sonho. Amo você!!!
Às minhas eternas amigas e companheiras Ana Carolina e Pollyanne, pela amizade,
pelos momentos de desabafo, pelas horas no telefone, pelo companherismo desde a
época de faculdade.
À minha irmã de coração que ganhei no mestrado, Mestre Nativa Helena Alves DelRios, pelas horas no sábado que disponibilizou para me ajudar, pelo apoio e também
pelos momentos de desabafos.
À minha irmã caçula, Lyriane, pelas horas de feriado disponibilizadas para conferir
referências. Obrigada amore!
Aos companheiros do Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG, Ágabo, Aline, Andréia,
Kamilla, Lyriane, Ludimila, Marina, Nádia, Nativa, Matheus, Pollyanne, Tamíris, Thaís
e Tássia, por ter me acolhido e me dado suporte quando precisei. Pelo importante
auxílio na realização dos testes sorológicos e moleculares.
Ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG, pelo auxílio prestado ao longo desses dois
anos.
Aos professores da Microbiologia e funcionários do Instituto de Patologia Tropical e
Saúde Pública/UFG, pela convivência e auxílios.
VI
À minha família (tios, tias e primos), pelas palavras de incentivo.
À minha queria mãe, por ser minha melhor amiga e me aguentar durante todos os
momentos de desespero, tendo sempre uma palavra amiga para me confortar. Mãe te
amo e obrigada por tudo!
Ao meu padrasto, ao meu irmão e minha cunhada, Bartolomeu, Waldemar e Gleycyara,
pelas palavras de incentivo e pelos momentos de descontração.
Ao meu namorado Cleuber, por ter suportado com muita paciência todos os momentos
de stress.
Às minhas amigas Glaucya e Kelvea, pelos momentos de descontração, pela paciência
e companherismo. Obrigada por ter me apoiado e terem feito parte desse momento.
Aos amigos da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), pelo apoio, por não
importarem com tantas saídas antes do final do expediente, por ajudarem com os
processos atrasados e por sempre estarem ao meu lado.
À Doutora Ana Carolina Paula Vicente e à Mestre Koko Otsuki, do Instituto Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ - RJ), pelo apoio com os testes moleculares.
À banca do exame de qualificação, composta pelas professoras, Dra. Fabíola Souza
Fiaccadori, Dra. Márcia Alves Dias de Matos e Dra. Regina Maria Bringel Martins,
pelas críticas construtivas e valiosas sugestões.
Às mulheres profissionais do sexo de Goiânia-GO, pelas contribuições nos estudos.
Obrigada pelas experiências e expectativas compartilhadas.
Enfim, a todos que contribuíram de forma direta ou indireta na realização deste
trabalho.
VII
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do
nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos
lugares. É tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para
sempre, à margem de nós mesmos.”
(Fernando Pessoa)
VIII
SUMÁRIO
ÍNDICE DE FIGURAS.......................................................................................................
X
ÍNDICE DE TABELAS......................................................................................................
XI
ÍNDICE DE QUADROS.....................................................................................................
XII
RESUMO.............................................................................................................................
XIII
SUMMARY..........................................................................................................................
XIV
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................
1
1.1. Breve Histórico ........................................................................................
1
1.2. Características Biológicas do Vírus Linfotrópico de Células T Humanas ............
2
1.2.1.
Classificação ...................................................................................
2
1.2.2.
Estrutura do HTLV-1 ........................................................................
2
1.2.3.
Organização Genômica e Proteínas do HTLV-1 .....................................
4
1.2.4.
Replicação do HTLV-1......................................................................
6
1.2.5.
Variabilidade Genética e Origem do HTLV-1........................................
7
1.3. Epidemiologia da Infecção pelo HTLV-1 ......................................................
9
1.3.1.
Transmissão ....................................................................................
9
1.3.2.
Prevalência da Infecção pelo HTLV-1 ..................................................
11
1.3.3.
Distribuição dos Subtipos ..................................................................
13
1.4. Aspectos Clínicos da Infecção pelo HTLV-1 .................................................
14
1.5. Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HTLV-1 ........................................
16
1.6. Prevenção e Controle da Infecção pelo HTLV-1 ............................................
18
1.7. Profissionais do Sexo e a Infecção pelo HTLV-1 ...........................................
20
1.8. Justificativa .............................................................................................
23
2. OBJETIVOS ........................................................................................................
24
2.1. Objetivo Geral ..............................................................................................
24
2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................
24
3. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................
25
3.1. Natureza, Local de Estudo, População-Alvo e Amostra ................................
25
3.2. Coletas de dados ...........................................................................................
25
3.2.1. Respondent-Driven Sampling e Profissionais do Sexo ............................
25
3.3. Testes Sorológicos .........................................................................................
29
IX
3.3.1. Ensaio de Triagem ..............................................................................................
29
3.3.2. Ensaio Confirmatório .........................................................................................
30
3.4. Testes Moleculares ...................................................................................................
31
3.4.1. Extração do DNA ...............................................................................................
31
3.4.2. Nested-PCR ........................................................................................................
32
3.4.3. Eletroforese em Gel de Agarose .........................................................................
34
3.4.4. Purificação do DNA ...........................................................................................
34
3.4.5. Sequenciamento e Análise Filogenética .............................................................
35
3.5. Processamento e Análise de Dados ..........................................................................
36
4. RESULTADOS ...............................................................................................................
37
4.1.
Distribuição
Espacial
dos
Pontos
de
Prostituição
das
Mulheres
Profissionais do Sexo em Goiânia-GO ................................................................................
37
4.2. Características Sociodemográficas das Mulheres Profissionais do Sexo ........
38
4.3. Características Laborais das Mulheres Profissionais do Sexo .................................
40
4.4. Características de Risco para a Infecção pelo HTLV-1 Relatadas pelas Mulheres
Profissionais do Sexo em Goiânia-GO ................................................................................
41
4.5. Detecção de Anticorpos Anti-HTLV e do DNA Viral .............................................
44
4.6. Características da Mulher Profissional do Sexo Infectada pelo HTLV-1 .........
45
4.7. Análise Filogenética .................................................................................................
45
5. DISCUSSÃO ...................................................................................................................
48
6. CONCLUSÕES ...............................................................................................................
52
7. REFERÊNCIAS ..............................................................................................................
53
X
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Representação esquemática do vírus linfotrópico de células T em primatas
mostrando sua estrutura e composição ................................................................................
3
Figura 2 – Organização genômica do HTLV-1 ...................................................................
4
Figura 3 – Ciclo de replicação do HTLV ............................................................................
6
Figura 4 – Distribuição geográfica da prevalência da infecção pelo HTLV-1 em áreas
endêmicas ............................................................................................................................
11
Figura 5 – Distribuição geográfica dos subtipos do HTLV-1 .............................................
13
Figura 6 – Distribuição espacial dos pontos de prostituição das profissionais do sexo
estudadas em Goiânia-GO, 2009-2010 ...............................................................................
37
Figura 7 – Rede social das mulheres profissionais do sexo em Goiânia-GO .....................
44
Figura 8 – Análise filogenética da região LTR do HTLV-1, incluindo isolados e
sequências do GenBank dos subtipos a-e.............................................................................
46
XI
ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 – Características sociodemográficas de 395 mulheres profissionais do sexo em
Goiânia-GO, 2009-2010 ........................................................................................................
39
Tabela 2 – Análise das características laborais das mulheres profissionais do sexo em
Goiânia-GO, 2009-2010 ........................................................................................................
41
Tabela 3 – Análise descritiva das características de risco para infecção pelo HTLV-1 em
mulheres profissionais do sexo de Goiânia-GO, 2009-2010 .................................................
43
Tabela 4 – Detecção de anticorpos anti-HTLV por Western Blot e do HTLV-DNA pela
PCR nas três amostras reagentes pelo ELISA .......................................................................
45
XII
ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1 – Prevalências da infecção pelo HTLV-1 em MPS em outros Países, no período
de 1990 a 2009 .......................................................................................................................
22
Quadro 2 - Prevalências da infecção pelo HTLV-1 em MPS, no Brasil, no período de
1989 a 2007 ............................................................................................................................
22
Quadro 3 – Características das profissionais do sexo selecionadas não aleatoriamente
(sementes) para o estudo ........................................................................................................
27
Quadro 4 – Interpretação dos resultados no teste Western blot .............................................
31
Quadro 5 – Iniciadores genéricos para a região tax do HTLV.............................................
32
Quadro 6 - Iniciadores específicos para a região tax do HTLV-1 ......................................
33
Quadro 7 - Iniciadores específicos para a região LTR do HTLV-1 ....................................
33
Quadro 8 - Iniciadores específicos para a região env do HTLV-1 .......................................
33
XIII
RESUMO
O vírus linfotrópico de células T humanas 1 (HTLV-1) é um retrovírus associado ao
desenvolvimento de doenças como leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL) e
mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP). A
transmissão ocorre por vias sexual, parenteral e vertical. As mulheres profissionais do
sexo (MPS) constituem uma população vulnerável as infecções de transmissão
parenteral e sexual, uma vez que apresentam comportamentos de risco, incluindo o uso
de drogas e o sexo sem proteção. Este estudo teve como objetivo investigar o perfil
soroepidemiologico da infecção pelo HTLV-1 em mulheres profissionais do sexo em
Goiânia, GO, usando a metodologia Respondent-Driven Sampling (RDS). Um total de
402 MPS foi entrevistada sobre dados sociodemográficos e características de risco para
a infecção pelo HTLV, entre maio de 2009 e junho de 2010. As amostras de sangue
foram coletadas de todas as mulheres e triadas pelo ELISA para a detecção de
anticorpos para HTLV-1/2. As amostras positivas foram retestadas para a confirmação
por western blot e PCR, sendo caracterizadas por sequenciamento e análise filogenética.
A idade média das mulheres foi 27,5 anos (Dp: 9,1 anos). A maioria (67,1%) era
solteira, 47,3% tinham entre 10 e 12 anos de educação formal.
Um terço das
profissionais (34,1%) relatou uso de drogas ilícitas, embora apenas 2,7% usaram drogas
injetáveis, 51,9% tiveram mais de sete parceiros sexuais na ultima semana e 36,3% não
usaram preservativos com parceiros não pagantes. Algumas mulheres relataram recrutar
seus clientes em mais de um tipo de local, boates (41%), bares (27,7%) e ruas (25%).
Das 402 amostras triadas pelo ELISA, três foram positivas e submetidas à detecção do
HTLV-DNA para as regiões tax, LTR e env. Apenas uma foi positiva para HTLV-1, por
PCR, resultando numa prevalência de 0,2% (IC 95%: 0,0-1,6). O isolado viral foi
classificado como subtipo Cosmopolita (HTLV-1a), subgrupo Transcontinental (A). Os
resultados mostram uma baixa endemicidade para a infecção pelo HTLV-1 em mulheres
profissionais do sexo em Goiânia-GO, entretanto estudos epidemiológicos sobre essa
infecção são importantes para reforçar a necessidade de estratégias de prevenção
baseadas na divulgação dos modos de transmissão e acompanhamento do status
sorológico dos infectados.
XIV
SUMMARY
Lymphotropic virus human T cells 1 (HTLV-1) is a retrovirus associated with the
development of diseases such as T cell leukemia in adults (ATL) and tropical spastic
paraparesis (TSP) or HTLV-associated myelopathy (HAM/TSP). Transmission occurs
by sexual routes, parenteral and vertical. Female sex workers (FSW) are a population
vulnerable to parenteral and sexually transmitted infections since they have often risky
behaviors including drug use and unprotected sex. The study aimed to investigate the
seroepidemiological profile of HTLV-1 infection among a population of female sex
workers in Goiânia city, using the Respondent driven Sampling methodology. A total of
402 FSWs were interviewed about demographic and risk characteristics for HTLV
infection, between May 2009 and June 2010. Blood samples were collected from all
females and screened by ELISA for detection of antibodies to HTLV-1/2. Positive
samples were retested for confirmation by western blot and PCR, and characterized by
sequencing and phylogenetic analyses. The mean age was 27.5 years (SD: 9.1 years).
Most of FSWs (67.1%) were single, 47.3% had 10 a 12 years of formal education. One
third of female sex workers reported illicit drug (34.1%), thought only (2.7%) used
injection illicit drugs, 51.9% had more than seven sexual partners in the last week and
36.3% did not use condom with their steady sexual partners. Some women reported to
recruit their clients in more than one type of venue, being nightclubs (41%), bars
(27.7%) and streets (25%) predominant. Of the 402 samples screened by ELISA, three
were positive and submitted to detection of DNA-HTLV for the tax, LTR and env
regions. Only one was positive for HTLV-1, resulting in a prevalence of 0.2%. (CI
95%: 0.0-1.6). The virus isolate was classified as Transcontinental subgroup of the
HTLV-1 Cosmopolitan subtype. These findings show a low endemicity for HTLV-1
infection in female sex workers in Goiânia-GO, however epidemiological studies of this
infection are important to reinforce the need for prevention strategies based on the
disclosure of the modes of transmission and status tracking serological the infected.
1
1. INTRODUÇÃO
1.1. Breve Histórico
O vírus linfotrópico de células-T humano 1 (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus
humano identificado. Em 1979, nos Estados Unidos da América (EUA), esse vírus foi
isolado de um paciente com linfoma cutâneo de células-T (Poiesz et al. 1980).
O HTLV-1 foi, inicialmente, associado com leucemia de célula T do adulto
(ATL) e, posteriormente anticorpos contra esse vírus foram observados em um
indivíduo portador da paraparesia espástica tropical (TSP) em Martinica, no Caribe
(Gessain et al. 1985). Estudos sobre essa infecção demonstraram o caráter neurotrópico
do HTLV-1, associando-o a mielopatia crônica (HAM) (Osame & Igata 1989, Gessain
& Gout 1992). Com a detecção de anticorpos anti-HTLV-1 no soro e no liquor de
pacientes que apresentavam HAM/TSP nas regiões do Caribe, Colômbia e Japão, foi
possível verificar que HAM e TSP são enfermidades relacionadas entre si e associadas
ao HTLV-1, sendo também observadas em outras regiões do mundo (Ijichi & Osame
1995).
O HTLV-2 foi descrito em 1982, em uma linhagem de células T estabelecida a
partir de pacientes com leucemia de células pilosas (Kalyanaraman et al. 1982). O papel
desse vírus em doenças humanas é limitado, sendo associado ao desenvolvimento de
desordens neurológicas similares a HAM/TSP (Roucoux & Murphy 2004).
Em 2005, foram identificados mais dois tipos do HTLV (HTLV-3 e HTLV-4)
em indivíduos assintomáticos em Camarões, na África Central. Ainda são necessárias
pesquisas para determinar a distribuição, a prevalência e a patogenicidade desses dois
tipos virais (Calattini et al. 2005, Mahieux & Gessain 2009, 2011).
2
1.2. Características Biológicas do Vírus Linfotrópico de Células T Humanas
1.2.1. Classificação
O grupo de vírus linfotrópico de células T em primatas (PTLVs) é composto
pelos vírus linfotrópico de células T humanas (HTLVs) e não humanos (STLVs). Esse
grupo é dividido em PTLV-1, PTLV-2 e PTLV-3, que corresponde aos HTLV-1,
HTLV-2 e HTLV-3, respectivamente, e seus análogos não humanos. O PTLV-4 é
composto apenas pelo HTLV-4 (Wolfe et al. 2005, Sintasath et al. 2009, Switzer et al.
2009). O HTLV é classificado na família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae,
gênero Deltaretrovirus (ICTV 2009).
1.2.2. Estrutura do HTLV-1
O HTLV-1 é um vírus de forma circular com aproximadamente 100 nm
(nanômetros) de diâmetro. O vírion é envolvido por um envelope, formado por uma
bicamada lipoprotéica que é originada da membrana da célula hospedeira, possui uma
proteína de superfície, uma proteína transmembrana e, junto com a membrana do
envelope, a matriz protéica. O capsídeo do vírus é de simetria icosaédrica, as enzimas
protease (PR), transcriptase reversa (TR) e integrase (IN) são organizadas juntamente
com o nucleocapsídeo em um complexo ribonucleoprotéico (Figura 1) (Franchini 1995,
Van Dooren 2005, Kannian & Green 2010).
3
Figura 1 - Representação esquemática da partícula viral do HTLV em primatas
Fonte: Van Dooren 2005 (modificada)
1.2.3. Organização Genômica e Proteínas do HTLV-1
O genoma do HTLV-1 é relativamente pequeno, com 9 Kb (quilobases),
formado por duas fitas RNA diméricas, com polaridade positiva (Goff 2001, Johnson et
al. 2001). Durante a replicação viral, a fita simples de RNA é convertida em DNA de
fita dupla e inserida junto ao DNA da célula hospedeira. Assim como outros retrovírus,
o genoma do HTLV-1 nas extremidades 3’ e 5’ consiste em duas sequências repetidas
não codificantes, conhecidas como terminações longas de sequências repetidas (LTRs –
Long Terminal Repeats) e são constituídas pelas regiões U3, R e U5, que são essenciais
na interação do DNA proviral com o DNA da célula hospedeira, além de regular a
transcrição do genoma proviral (Seiki et al. 1983, Kannian & Green 2010, Lairmore et
al. 2011).
O HTLV-1 apresenta três genes codificantes, gag, pol e env, que originam as
proteínas estruturais e enzimas que participam do processo de infecção da célula
hospedeira. O gene gag codifica proteínas do capsídeo, o pol a transcriptase reversa,
ribonuclease H e integrase, e o env codifica as glicoproteínas de superfície e
transmembrana do envelope. Além dos genes estruturais, o HTLV-1 contém genes que
4
codificam proteínas regulatórias (Tax e Rex) da expressão viral (Figura 2) (Ciminale et
al. 1992, Azran et al. 2004, Kannian & Green 2010).
pro
5’- LTR
env
3’- LTR
DNA Viral U3 R U5
U3
gag
pol
U5
pX
ORF-I
ORF-II
ORF-III
ORF-IV
Figura 2 - Organização genômica do HTLV-1
Fonte: Azran et al. 2004 (modificada)
O gene gag está envolvido na montagem e infecção do vírion. As proteínas
resultantes desse gene compõem a matriz (p19), o capsídeo (p24) e o nucleocapsídeo
(p15). Essas proteínas são formadas a partir da clivagem de uma poliproteína
precursora, gag-pol, clivada pela protease viral, codificada pela região pro, que é
expressa por uma região de leitura aberta que sobrepõe aos genes gag-pol (Nam et al.
1988, Mazurov et al. 2006, Grigsby et al. 2010).
As enzimas virais necessárias para a replicação são codificadas pelo gene pol
pela clivagem da proteína precursora, gag-pol, pela protease. Esse gene possui quatro
diferentes funções enzimáticas. (1ª) codifica a transcriptase reversa, uma DNA
polimerase RNA dependente, que é necessária para a transcrição do RNA viral em
DNA, (2ª) codifica uma atividade de RNAse H que remove a fita de RNA da fita dupla
híbrida RNA-DNA, (3ª) codifica a integrase, necessária para integrar o vírus no genoma
da célula hospedeira e (4ª) codifica uma protease necessária para a clivagem proteolítica
dos produtos primários da tradução (Seiki et al. 1983, Trentin et al. 1998).
Duas glicoproteínas do envelope viral (gp46 e gp21), importantes no processo
infeccioso do vírus, são codificadas pelo gene env a partir da clivagem de uma proteína
precursora, gp62. A gp46 ou glicoproteína de superfície é a mais externa e se liga ao
receptor da célula hospedeira, enquanto a gp21, ou glicoproteína transmembrana, é
5
responsável pela fusão da membrana celular com o envelope viral, facilitando a entrada
do vírus na célula (Hattori et al. 1984, Delamarre et al. 1996, Grange et al. 1998).
Na porção 3’ do genoma viral, em uma região conhecida como pX, ocorre a
síntese de proteínas acessórias e regulatórias (Smith & Greene 1991, Taylor 2007). Essa
região apresenta quatro fases de leitura aberta (ORFs: Open Reading Frames): ORFs I e
II sintetizam proteínas acessórias (p12/p27, p13/p30) em combinação com quadros
alternativos de processamento (splicing), enquanto as ORFs III e IV sintetizam as
proteínas regulatórias, Rex e Tax, respectivamente (Azran et al. 2004, Edwards et al.
2011). Além disso, ocorre a síntese do fator HBZ, “basic zipper factor”. A transcrição
desse fator pode ser feita a partir de dois sítios de iniciação, e por isso resulta em dois
transcrito de mRNA (RNA mensageiro) diferentes (Murata et al. 2006). Esse fator gera
produtos por processamentos alternativos e está relacionada à oncogenicidade viral e
proliferação das células infectadas (Gaudray et al. 2002, Usui et al. 2008).
As proteínas acessórias têm um papel significativo na fase inicial da infecção
dos linfócitos, podendo manter a alta carga viral, a ativação da célula hospedeira e
regular a transcrição do gene, controlando, assim, as interações vírus-célula durante a
infecção (Bartoe et al. 2000, Albrecht & Lairmore 2002).
Tax e Rex são proteínas responsáveis pelo controle da expressão dos genes virais
e latência do vírus. Essas proteínas são traduzidas para multiplicar os RNAs
mensageiros (mRNAs) na fase precoce da infecção e regular a produção de proteínas e
enzimas durante a fase final (Hamaia et al. 1997).
A fosfoproteína tax (p40), localizada na região U3 da LTR proviral, encontrada
principalmente no núcleo, é identificada como transativadora da transcrição viral. Ela
também, transcricionalmente, ativa a expressão de alguns genes celulares que
participam da ativação normal e indução do crescimento de células T. A ativação da tax
no processo de transcrição viral pode representar um importante mecanismo pelo qual o
HTLV-1 inicia a transformação da célula T, aumentando a expressão de oncogenes
celulares, fatores de crescimento e de alguns receptores. Essas funções da tax não
apenas induzem a proliferação celular, que pode levar a transformação maligna, mas
também aumentam a taxa de mutação e a resistência a apoptose (Smith & Greene 1991,
Azran et al. 2004, Feuer & Green 2005, Boxus et al. 2008).
6
A fosfoproteína rex (p27) atua como regulador pós-transcricional do genoma ao
controlar o splicing do mRNA viral, exportando seletivamente o mRNA gag/pol e env
do núcleo para o citoplasma, os quais codificam as proteínas estruturais e enzimáticas
que são essenciais para a produção de progênie viral, podendo ter implicações
importantes na latência do vírus (Smith & Greene 1991, Feuer & Green 2005, SinhaDatta et al. 2007, Kesic et al. 2009).
1.2.4. Replicação do HTLV-1
Embora, in vitro, vários tipos de células possam ser infectados pelo HTLV-1, o
tropismo preferencial do vírus, in vivo, inclui as células linfóides T periféricos,
envolvendo linfócitos T CD4+ e CD8+. A replicação viral depende da interação de
glicoproteínas do envelope viral, a gp46, ao receptor celular, e a gp21 que funde o
envelope viral à membrana da célula-alvo. Além disso, são necessários para a entrada
eficiente do vírus na célula, o transportador de glicose 1 (GLUT-1), neuropilina 1
(NRP-1) e proteoglicanos de superfície heparan-sulfato (HSPGs), que são receptores
celulares de superfície para HTLV-1 e facilitam a fusão viral (Figura 3) (Gessain 2004,
Manel et al. 2005, Boxus & Willems 2009).
Figura 3 - Ciclo de replicação do HTLV
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd08_08.pdf (Brasil 1998)
7
Após a fusão das membranas celular e viral, ocorre à penetração do
nucleocapsídeo no citoplasma da célula e a liberação do RNA viral. Sequencialmente, a
fita simples de RNA, utilizando a transcriptase reversa, codifica uma fita de DNA. Em
seguida o RNA usado como molde é degradado pela ação da ribonuclease (RNase H),
no termino do processo da retrotranscrição é formada uma molécula de DNA fita dupla.
Esta migra para o núcleo da célula hospedeira para a inserção do material genético viral
no cromossomo do hospedeiro, pela proteína integrase, formando o provírus (Goff
2001, Gessain 2004, Manel et al. 2004).
Posteriormente, inicia-se a fase tardia da replicação que é mediada por enzima
do hospedeiro. Ocorre a sintese do RNA viral utilizando o DNA proviral como molde,
este RNA é transcrito e processado para formar os RNAmensageiros (mRNAs) e
genômico. Os mRNA subgenômicos, através do processo de tradução, irão codificar as
proteínas estruturais e não estruturais, originando novas partículas virais. A última etapa
para formação de uma partícula viral completa e infecciosa é a maturação. Nessa fase,
ocorre à proteólise das proteínas do capsídeo, obtendo a partícula viral madura.
Finalmente essas partículas virais emergem da superfície celular por brotamento,
carregando consigo parte da membrana celular bilipídica como constituinte do seu
envelope (Goff 2001, Manel et al. 2004).
1.2.5. Variabilidade Genética e Origem do HTLV-1
A variabilidade genética do HTLV-1 é de apenas 4%, possuindo uma grande
estabilidade quando comparada a outros retrovírus. Essa estabilidade tem sido indicada
por várias estimativas da taxa de evolução do vírus, que é medida pelo número de
substituições de nucleotídeos por sítio por ano para env e LTR (Van Dooren et al. 2004,
Lemey et al. 2005). A baixa diversidade de sequências do HTLV-1 também pode
ocorrer devido à dinâmica de replicação do vírus, que sofre um número limitado de
replicações durante a infecção, assim uma alta carga proviral é mantida pela expansão
clonal das células infectadas (Wattel et al. 1995). Estudos confirmam a estabilidade
genética do vírus e demonstram relação entre a filogenia do vírus e a localização
geográfica de seus hospedeiros (Komurian et al. 1991, Ratner et al. 1991, Van Dooren
et al. 2004, Lemey et al. 2005).
8
No genoma proviral, as regiões LTR e env apresentam maior variabilidade
genética quando comparadas às regiões gag e pol, que possuem uma alta similaridade
entre diferentes isolados provirais (Pique et al. 1990, Miura et al. 1994). Com base nas
análises filogenéticas da região LTR o HTLV-1 foi classificado em sete subtipos: o
HTLV-1a (Cosmopolita), HTLV-1b, d, e, f, g (África Central) e HTLV-1c (Melanésia)
(Gessain et al. 1993, Vandamme et al. 1994, Van Dooren et al. 2001, Cassar et al. 2005,
Wolfe et al. 2005). Desses, o subtipo mais divergente é o HTLV-1c (Melanésia),
apresentando heterogeneidade superior a 11% nas sequências de nucleotídeos (Cassar et
al. 2005).
De acordo com a localização geográfica, o HTLV-1a pode ser dividido em
cinco subgrupos: A (Transcontinental), B (Japão), C (Oeste da África), D (Norte da
África) e E (Peru) (Miura et al. 1994, Yamashita et al. 1996, Carneiro-Proietti et al.
2006, Rego et al. 2008).
Com a descoberta de tais variantes, estudos moleculares foram realizados a fim
de obter mais conhecimento sobre a origem e evolução do HTLV-1, comparando assim
a variação da sequência da partícula proviral em várias áreas do mundo (Gessain et al.
1992, Cassar et al. 2005).
Acredita-se que o ancestral comum de todos os PTLVs originou na África, pois
é o único continente onde os diferentes PTLVs foram encontrados: HTLV tipos 1 a 4 e
os seus homólogos símios, STLV tipos 1 a 3 (Vandamme et al. 1998, Verdonck et al.
2007). Essa origem africana deve-se a transmissão interespécies, a partir de primatas
não humanos, sendo introduzido no Japão e Novo Mundo (Caribe, Estados Unidos e
América do Sul) pelos negros africanos, durante o período de tráfico de escravos, no
século XVI (Miura et al. 1994, Ibrahim et al. 1995, Slattery et al. 1999, Wolfe et al.
2005).
A hipótese da origem do vírus é baseada na existência de infecções causadas
pelo HTLV-1 na África Equatorial e em descendentes de africanos no Caribe e na
América Latina. Porém, outros estudos demonstram o aparecimento de leucemia de
célula T do adulto na região sudoeste do Japão, tornando assim polêmica a origem deste
vírus (Broder & Gallo 1985, Galvão-Castro et al. 2009).
De acordo com os estudos filogenéticos, a diversidade de subtipos do HTLV-1 é
consequência das inferências evolutivas e transmissões interespécies. Os subtipos
9
HTLV-1a, b, d, e, f, g originaram na África, enquanto o subtipo HTLV-1c, autralomelanésico, é o subtipo mais divergente, o que indica longo período de evolução. A
descoberta de tais divergências deve-se à migração das populações infectadas pelo
Pacífico, há 40.000-60.000 anos atrás (Liu et al. 1996, Van Dooren et al. 2001, Cassar
et al. 2005).
Pesquisas têm defendido a hipótese da entrada do vírus nas Américas, a partir da
migração de paleomongolóides através do Estreito de Bering há cerca de 12.000 anos.
De acordo com esta hipótese, essa população partiu inicialmente do norte da Ásia,
passando pela América do Norte, até se espalharem pela América do Sul e se
estabelecerem nos Andes e nas regiões Amazônicas, sugerindo, assim, que o HTLV-1
tenha sido introduzido por meio de sucessivas migrações humanas em épocas remotas
(Miura et al. 1994, Sonoda et al. 2000, Galvão-Castro et al. 2009).
1.3. Epidemiologia da Infecção pelo HTLV-1
1.3.1. Transmissão
A transmissão do HTLV-1 pode ocorrer pelas vias vertical, sexual e parenteral
(Sullivan et al. 1991, Hirata et al. 1992, Okochi et al. 1984, Murphy et al. 1989a, Fujino
& Nagata 2000, Roucoux et al. 2005). A transmissão vertical ocorre em 20% dos filhos
de mães infectadas, e tem sido relacionada à carga proviral da mãe, elevados títulos de
anticorpos e tempo prolongado de amamentação (Hino et al. 1995, Ureta-Vidal et al.
1999).
Uma das principais formas de transmissão do HTLV-1 da mãe para o filho é por
meio do aleitamento, mas não é descartada a possibilidade de transmissão via
transplacentária ou parto. A transmissão pós-natal por meio da amamentação possui
taxas que variam de 18-39%, porém o risco de transmissão aumenta com o tempo de
amamentação (> 6 meses) (Furnia et al. 1999). Anticorpos maternos parecem ser
protetores no início do período pós-nascimento, porém não são suficientes para proteger
a criança contra a infecção durante um período prolongado de amamentação. Assim,
para reduzir o risco de transmissão vertical do HTLV-1, recomenda-se o não
10
aleitamento materno ou sua limitação (Furnia et al. 1999, Fujino & Nagata 2000,
Bittencourt et al. 2002, Figueiró-Filho et al. 2005).
Outros mecanismos de transmissão vertical dessa infecção são: transplacentária
ou hematogênica, por microrganismos ascendentes da vagina ou contaminação fetal no
canal do parto, o que explica a infecção de crianças que não são amamentadas pelas
mães infectadas pelo HTLV. Essa infecção então depende da imunidade protetora do
feto e da proteção dada pelos anticorpos maternos adquiridos através da placenta
(Takahashi et al. 1991, Ureta-Vidal et al. 1999, Bittencourt et al. 2002).
A transmissão sexual do HTLV-1 é mais eficaz do homem para a mulher do que
vice-versa. Estima-se que em dez anos de relacionamento sexual, a probabilidade de
transmissão do homem para a mulher é de 60,8%, enquanto que o inverso é de apenas
0,4% (Kajiyama et al. 1986, Kaplan et al. 1996, Roucoux et al. 2005). Estudos têm
mostrado que tempo de duração do relacionamento, múltiplos parceiros, sexo
desprotegido e DSTs são fatores que podem favorecer a eficácia da transmissão sexual
do HTLV (Nakano et al. 1984, Moriuchi & Moriuchi 2004, Roucoux et al. 2005). Além
disso, nota-se uma maior prevalência para essa infecção em mulheres, principalmente
em idades avançadas (Kajiyama et al. 1986, Mueller et al. 1996, Giuliani et al. 2000,
Dourado et al. 2003, Moxoto et al. 2007).
A transmissão parenteral ocorre por meio de transfusão de sangue ou
hemocomponentes contaminados (concentrados de hemáceas, de plaquetas e
leucócitos), por objetos perfuro-cortantes contaminados e compartilhamento de agulhas
entre indivíduos sadios e infectados (Pennington et al. 2002, Lairmore et al. 2011,
Carneiro-Proietti et al. 2012).
A transmissão do HTLV-1 por transfusão sanguínea foi descrita primeiramente
no Japão, em 1984 (Okochi & Sato 1986, Lopes & Proietti 2008). Okochi et al. (1984)
revelaram que 63,4% da população receptora de produtos sanguíneos contaminados
mostraram produção de anticorpos anti-HTLV. A transfusão sanguínea é uma
importante forma de disseminação do HTLV-1, porém tem sido minimizada após a
introdução dos programas de triagem para essa infecção em bancos de sangue. Kamihira
et al. (1987) observaram que houve um declínio das taxas de infecção por HTLV-1 de
53,6% para 0,9% após a introdução da triagem em doadores de sangue. Em países como
Japão, Estados Unidos, Canadá, França, Suécia, Portugal, Holanda, Dinamarca, Reino
11
Unido e Finlândia, os candidatos à doação de sangue são rotineiramente submetidos a
testes para a detecção de anticorpos anti-HTLV-1/2 (Zervou et al. 2004). No Brasil, a
triagem para HTLV-1/2 tornou-se obrigatória em banco de sangue por meio da portaria
nº 1376 de 19 de novembro de 1993, do Ministério da Saúde (Brasil 1993).
Outro mecanismo de
transmissão parenteral
do HTLV ocorre
pelo
compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, principalmente entre usuários de
drogas injetáveis (Khabbaz et al. 1992, Barcellos et al. 2006).
1.3.2. Prevalência da Infecção pelo HTLV-1
A infecção pelo HTLV-1 possui uma ampla distribuição geográfica, sendo
endêmica em regiões como a África, o sudoeste do Japão, em áreas do Caribe, nas
Américas Central e do Sul, além de algumas regiões da Melanésia (Figura 4) (Proietti et
al. 2005, Gonçalves et al. 2010). Estima-se que 15-25 milhões de pessoas estejam
infectadas em todo o mundo, sendo que aproximadamente 5-10% podem desenvolver
doenças graves como ATL e HAM/TSP (Edlich et al. 2000, Brasil 2004a, Proietti et al.
2005).
Figura 4 - Distribuição geográfica da prevalência da infecção pelo HTLV-1 em
diferentes regiões
Fonte: Gonçalves et al. 2010 (modificada)
A primeira região a ser identificada como endêmica para o HTLV-1 foi o
sudoeste do Japão, com taxas de prevalências que variam de 0 a 37% (Yamaguchi 1994,
12
Mueller et al. 1996, Proietti et al. 2005, Watanabe 2011). Outras regiões geográficas
também foram identificadas como endêmicas, como o Caribe, com índice de
positividade de 5%, e alguns países da África, onde a soroprevalência foi superior a 5%
(Reeves et al. 1988, Dumas et al. 1991, Andersson et al. 1997, Proietti et al. 2005, Forbi
et al. 2007).
A Europa, América do Norte e parte da Ásia são consideradas áreas de baixa
endemicidade, com taxas de prevalência inferiores a 1%. Nessas regiões, a infecção é
encontrada, principalmente, nos grupos em alto risco como os imigrantes, profissionais
do sexo e usuários de drogas injetáveis (Catalan-Soares et al. 2001, Vrielink & Reesink
2004, Proietti et al. 2005, Carneiro-Proietti et al. 2006).
No Brasil, uma investigação epidemiológica estima que existe aproximadamente
2,5 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV-1, tornando o país com maior número
absoluto de casos dessa infecção (Carneiro-Proietti et al. 2002). Segundo CatalanSoares et al. (2005), em um estudo conduzido em doadores de sangue nas 26 capitais do
Brasil e Distrito Federal, a prevalência para HTLV-1/2 variou de 0,04% a 1% em
Florianópolis-SC e São Luís-MA, respectivamente.
Na Região Centro-Oeste, a prevalência para HTLV-1/2, em doadores de sangue,
variou de 0,2% a 0,7% (Catalan-Soares et al. 2005). Em gestantes, a soropositividade
para HTLV-1/2 foi de 0,1% em Goiás e Mato Grosso do Sul (Oliveira & Avelino 2006,
Figueiró-Filho et al. 2007), e de 0,2% em Mato Grosso (Ydy et al. 2009). Já uma
investigação conduzida em remanescentes de quilombos no Brasil Central observou
uma positividade de 0,5% para HTLV-1 (Nascimento et al. 2009).
Em populações que constituem grupos em risco elevado para HTLV-1, os
índices de prevalência são relevantes. Uma investigação conduzida em 171 usuários de
drogas injetáveis no Rio de Janeiro-RJ encontrou uma soropositividade de 17% para
HTLV-1/2 (Guimarães et al. 2001). Em São Paulo-SP, a soroprevalência foi de 10% em
pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e 4% em homens que
fazem sexo com homens, no Rio de Janeiro-RJ (Brasil 2004a). Um estudo conduzido
em populações atendidas em Unidades de Saúde Pública em São Paulo-SP (Centro de
Refência para AIDS e HTLV), verificou um índice de positividade para HTLV-1 de
29,1% (Jacob et al. 2008).
13
1.3.3. Distribuição dos Subtipos
Análises filogenéticas da região LTR do genoma viral têm mostrado a
distribuição dos sete subtipos do HTLV-1: 1a, ou Cosmopolita, com distribuição
mundial, 1b encontrado na África Central, 1c, ou Malanésico, isolado na Melanésia e na
Austrália, 1d e 1g em Camarões, 1e na República Democrática do Congo e 1f em Gabão
(Figura 5) (Komurian-Pradel et al. 1992, Miura et al. 1994, Mahieux et al. 1997, Salemi
et al. 1998, Mota et al. 2007, Rego et al. 2008).
Figura 5 - Distribuição geográfica dos subtipos do HTLV-1
Fonte: Lima 2006 (modificada)
O subtipo HTLV-1a, ou Cosmopolita, de acordo com a distribuição geográfica, é
dividido em cinco subgrupos (A-E) (Miura et al. 1994, Van Dooren et al. 1998). O
subgrupo A, ou Transcontinental, tem sido observado em áreas endêmicas e não
endêmicas, porém isolados foram encontrados principalmente no Japão, Caribe, Irã,
África do Sul, extremo Oriente da Rússia e vários países da América do Sul. Já o
subgrupo B foi encontrado no Japão e na Índia, o C, no Oeste da África e Bacia das
Caraíbas, o D, no Marrocos, Argélia e Mauritânia e norte da África, enquanto o
subgrupo E, no Peru (Miura et al. 1994, Vidal et al. 1994, Van Dooren et al. 1998,
Carneiro-Proietti et al. 2006).
14
No Brasil, assim como em outros países da América do Sul, o HTLV-1a, ou
Cosmopolita, do subgrupo A, ou Transcontinental, é predominante, isso provavelmente
devido à migração de escravos africanos do Novo Mundo por volta dos séculos XVII e
XVIII (Carneiro-Proietti et al. 2006, Mota et al. 2007, Rego et al. 2008). Porém,
pesquisas têm sugerido a entrada do vírus nas Américas a partir da hipótese de
migrações pelo Estreito de Bering há aproximadamente 12.000 anos e que imigração
japonesa no início do século XX promoveu o isolamento do subgrupo B nas Américas
(Song et al. 1995, Yamashita et al. 1999, Valllinoto et al. 2004, De Queiroz et al. 2007).
Na Região Centro-Oeste do Brasil, uma investigação conduzida em comunidade
afro-brasileira isolada identificou amostras do HTLV-1 como do subtipo Cosmopolita
(HTLV-1a), subgrupo Transcontinental (A) (Martins et al. 2010).
1.4. Aspectos Clínicos da Infecção pelo HTLV-1
A infecção pelo HTLV-1, não necessariamente, induz ao desenvolvimento de
manifestações clínicas. A maioria dos portadores é assintomático, assim, apenas 5-10%
dos indivíduos infectados desenvolvem doenças como leucemia de células T do adulto
ou mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical (Barmak et al. 2003,
Proietti et al. 2005, Champs et al. 2010). Diferentes fatores na interação
vírus/hospedeiro/ambiente, como a carga do DNA viral e susceptibilidade do
hospedeiro podem favorecer ao desenvolvimento de doenças. As patologias mais
estudadas associadas ao HTLV-1 são as neurológicas e as hematológicas, porém podem
ser encontradas manifestações dermatológicas, oftalmológicas, reumatológicas,
endocrinológicas, urológicas e gastrointestinais (Carneiro-Proietti et al. 2002, Castro et
al. 2002, Brasil 2004a, Cruz et al. 2005, Carvalho et al. 2006, Araújo et al. 2009, Primo
et al. 2009, Rathsam-Pinheiro et al. 2009, Alves & Dourado 2010).
A ATL foi descrita no Japão em 1977, representando uma “entidade” dentre as
leucemias linfóides. Foi também a primeira neoplasia humana relacionada a retrovírus
que causa proliferação maligna de linfócitos T maduros (Uchiyama 1997, Borducchi et
al. 1999, Brand et al. 2009). Estima-se que apenas 1% a 5% de indivíduos infectados
desenvolvem leucemia, porém permanece um longo período em latência antes da
manifestação clínica e, por isso a ATL geralmente ocorre na idade adulta, por volta de
15
20 a 30 anos após a infecção (Proietti et al. 2005). Já indivíduos infectados na infância,
principalmente pelo aleitamento materno, possuem maior chance de desenvolver a
leucemia (Murphy et al. 1989b, Proietti et al. 2005).
Os principais sintomas e sinais da ATL são: astenia, dor abdominal, tosse,
artropatia, ascite, diarréia e episódios de infecções repetidas. A leucemia pode ser
classificada em quatro subtipos: smoldering (pré-leucêmica), uma forma sintomática da
doença, sendo caracterizada por manifestações cutâneas, mas sem lesões viscerais, com
uma contagem de leucócitos normal do sangue periférico e algumas células leucêmicas
circulantes. Apresenta também a forma aguda, ou fulminante da doença, com síndrome
tumoral e expectativa média de vida de 11 meses, possuindo envolvimento cutâneo e
visceral, leucocitose, elevados níveis de lactato desidrogenase e aumento de bilirrubina,
além da hipercalcemia. O tipo linfomatoso é semelhante ao linfoma com a ausência de
células malignas circulantes. A doença ainda apresenta a forma crônica, que é marcada
pelo envolvimento visceral e evidenciada pela linfoadenopatia, hepatoesplenomegalia e
leucocitose (Shimoyama 1991, Marsh 1996, Brasil 2004a, Owen & Connor 2008).
A doença neurológica, paraparesia espástica tropical/mielopatia associada ao
HTLV-1 é o quadro neurológico mais frequente dentre as síndromes associadas a esse
vírus. Essa doença foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em
1988, como uma doença de evolução lenta e progressiva caracterizada por
acometimento insidioso e progressivo de fraqueza muscular nos membros inferiores e
espasticidade, associada em grau variado a distúrbios esfincterianos e sensitivos (WHO
1989, Brasil 2004a, Martins et al. 2012). No entanto, menos de 5% dos indivíduos
infectados desenvolve a doença anos ou até décadas após a exposição ao vírus (Marsh
1996, Brasil 2004a, Montanheiro et al. 2005).
Estudos têm revelado que HAM/TSP é mais prevalente em mulheres do que em
homens e, além disso, a presença de hormônios feminios em níveis elevados pode estar
associada a uma rápida evolução clínica da doença (Levin & Jacobson 1997, Gotuzzo et
al. 2004, Lima et al. 2005).
O mecanismo pelo qual a infecção pelo HTLV-1 contribui para a patogênese
HAM/TSP ainda é desconhecido, porém estudos propõem que a expressão de uma única
sequência pX dentro do genoma proviral contribui para o desenvolvimento dessa
patogenia. A região pX codifica um ativador de transcrição (Tax), o que pode iniciar um
16
processo de ativação das células T (CD4+ e CD8+) e a proliferação de eventos
subsequentes, levando a danos no sistema nervoso central (HAM/TSP), ou
transformação maligna em ATL. (Tendler et al. 1990, Marsh 1996, Levin & Jacobson
1997).
O fator HBZ é indispensável para o desenvolvimento de ATL, sendo
reconhecido nas células leucêmicas de pacientes com leucemia de células T do adulto,
podendo induzir a imortalização de linfócitos T primários. A síntese dessa proteína está
relacionada com a carga proviral, e em muitos casos de ATL, o HBZ é a única proteína
viral sintetizada (Matsuoka & Green 2009).
Na fase inicial da infecção, o HBZ e a tax são necessários para a proliferação e
manutenção das células infectadas. Posteriormente, somente o HBZ é essencial para a
manutenção da oncogênese, enquanto a tax contribui com o crescimento celular, o que
provoca a instabilidade genética. O HBZ promove a proliferação de células T infectadas
pelo HTLV-1 implicando, assim, na patogênese de HAM/TSP. Com isso, essa proteína
pode ser alvo para terapia de ATL e HAM/TSP (Matsuoka & Green 2009, MacNamara
et al. 2010).
1.5. Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HTLV-1
O diagnóstico atual da infecção pelo HTLV-1 baseia-se principalmente na
triagem para detecção de anticorpos específicos. Os primeiros testes para detecção dos
anticorpos anti-HTLV foram introduzidos na metade da década de 1980, e utilizavam
antígenos de lisado viral do HTLV-1 e antígenos específicos para HTLV-2. Ensaios
com antígeno recombinante e/ou peptídeo sintético, derivado da porção intracelular do
envelope viral (gp21), só ou em combinação com o lisado viral, foram introduzidos
aumentando a sensibilidade de detecção em 100% para HTLV-1. Além disso, antígenos
HTLV-2 específicos foram incluídos, o que levou a melhoria da sensibilidade para a
detecção de anticorpos anti-HTLV-1/2 (Thorstensson et al. 2002, Brasil 2004a, Jacob et
al. 2007).
O diagnóstico da infecção pelo HTLV-1 tem sido realizado em duas etapas: a
triagem e a confirmação, sendo que as amostras reagentes pelos testes de triagens
devem ser submetidos aos testes confirmatórios (Williams et al. 2000, Brasil 2004a). Os
17
ensaios de triagem rotineiros não discriminam as infecções pelo HTLV-1 e HTLV-2,
porém detectam anticorpos contra esses vírus, fazendo-se necessária a realização de
ensaios com alta especificidade e capazes de distinguir os tipos virais. As infecções
recentes podem não ser identificadas, uma vez que a quantidade de anticorpos
específicos nem sempre são suficientes para sua detecção (Brasil 2004a, Jacob et al.
2007, Berini et al. 2008).
O ensaio imonoenzimático (ELISA) é o principal teste utilizado na triagem
sorológica do HTLV que, com adição de antígenos recombinantes, houve um aumento
da especificidade e sensibilidade do teste (Thorstensson et al. 2002, Brasil 2004a,
Santos & Lima 2005). Os testes de terceira geração (testes com antígenos
recombinantes) possuem sensibilidade superior a 96,5% e especificidade maior que
92,9% para detecção de HTLV-1/2, porém não ocorre a distinção da infecção por
HTLV-1 ou HTLV-2 (Jacob et al. 2007, 2009).
As reações de aglutinação são ensaios sorológicos, que utilizam partículas de
gelatina ou látex sensibilizadas com antígenos inativados, capazes de se aglutinarem na
presença de anticorpos específicos. Assim como o teste de ELISA, as reações de
aglutinação são altamente específicas e sensíveis (Karopoulos et al. 1993, Fujiyama et
al. 1995, Brasil 2004a).
O
western
blot
(WB),
imunofluorescência
(IFA)
e
ensaio
de
radioimunoprecipitação (RIPA) são considerados testes sorológicos confirmatórios,
sendo o WB o mais utilizado. Esse teste utiliza como antígeno o lisado viral total,
acrescido de epítopos imunodominantes recombinantes, correspondentes à porção Nterminal da proteína transmembrana (gp21) do HTLV-1/2. Esse teste apresenta alta
sensibilidade para detectar anticorpos contra o epítopo recombinante, porém apresenta
uma freqüência menor de reações inespecíficas, reduzindo a possibilidade de resultados
falso-positivos, além de possibilitar a diferenciação da infecção por HTLV-1 e HTLV-2
(Lal et al. 1992, Brodine et al. 1993, Santos & Lima 2005, Costa et al. 2011).
Os testes confirmatórios podem apresentar resultados indeterminados, devido a
reações cruzadas com outros antígenos, que é representado pela detecção de bandas
inespecíficas, sendo necessária a utilização testes moleculares para esclarecer o
diagnóstico (Zaaijer et al. 1994, Vandamme et al. 1997, Thorstensson et al. 2002).
18
As técnicas de biologia molecular, para diagnóstico confirmatório, fudamentamse na detecção do ácido nucléico viral na forma de DNA proviral, extraído de células
mononucleares do sangue periférico, pois há uma pequena circulação do RNA viral no
plasma (Vandamme et al. 1997, Poiesz et al. 2000, Brasil 2004a).
Dentre as técnicas de biologia molecular, a mais utilizada para a detecção do
genoma do HTLV no sangue ou em outros tecidos, é a reação em cadeia da polimerase
(PCR), que amplifica sequências específicas no genoma viral, utilizando primers
correspondente às regiões conservadas do genoma tax/rex. Essa técnica apresenta maior
especificidade e sensibilidade que os métodos sorológicos, por isso é capaz de
confirmar e discriminar os dois tipos virais, que possuem aproximadamente 70% de
homologia na sequência de nucleotídeos (Poiesz et al. 2000, Brasil 2004a, TamegãoLopes et al. 2006, Costa et al. 2011).
1.6. Prevenção e Controle da Infecção pelo HTLV-1
O desenvolvimento de uma vacina para HTLV-1 é importante para a prevenção
e o controle da infecção por esse vírus, porém até o momento não temos uma vacina
disponível. A estabilidade do genoma viral e a presença de anticorpos neutralizantes em
indivíduos infectados pelo HTLV-1 são fatores que colaboram para a elaboração de uma
vacina eficiente. No entanto, a falta de um modelo animal apropriado para testar vacinas
candidatas, além de interações vírus-hospedeiro podem ser obstáculos para o
desenvolvimento desse imunobiológico (Kazanji et al. 2006).
A triagem sorológica para HTLV nos bancos de sangue representa a principal
medida de prevenção e controle dessa infecção (Catalan-Soares et al. 2005, Gonçalves
et al. 2010). O primeiro país que adotou a triagem para HTLV foi o Japão, em 1986;
seguido dos Estados Unidos, em 1989, e Canadá, em 1990 (Osame et al. 1990,
Abbaszadegan et al. 2003). No Brasil, a portaria nº 1.376 de 19 de novembro de 1993
tornou obrigatória a triagem para HTLV-1/2 em todos os bancos de sangue do território
nacional (Brasil 1993).
Considerando que a transmissão vertical também representa um importante meio
de disseminação da infecção, medidas como acompanhamento de gestantes, suspensão
do aleitamento, ou redução do tempo de amamentação das crianças de mães
19
soropositivas, podem reduzir o risco de transmissão do HTLV (Carneiro-Proietti et al.
2002, Kashiwagi et al. 2004, Mylonas et al. 2010). Programa de Proteção à Gestante
tem sido implantado em alguns estados brasileiros, como Goiás, Mato Grosso do Sul e
Alagoas, com o objetivo de acompanhar o status sorológico da mãe e contribuir com
adequado aconselhamento pré e pós-parto (Dal Fabbro et al. 2008).
Embora a taxa de transmissão sexual do HTLV pareça ser baixa, essa via
apresenta o maior desafio de todos, devido às dificuldades de modificar os
comportamentos sexuais, como uso de preservativos durante as relações sexuais e
redução do número de parceiros. As pessoas positivas para esse vírus devem ser
acompanhadas quanto ao seu status sorológico, além de serem aconselhadas quanto aos
comportamentos sexuais (Figueroa et al. 1997, Roucoux et al. 2005).
Outras medidas devem ser tomadas, como o não compartilhamento de seringas e
agulhas, e aconselhamento de usuários de drogas injetáveis. Além disso, é necessário
orientações sobre a transmissão do vírus e possíveis fontes de infecção (Edlich et al.
2000, Gonçalves et al. 2010).
Considerando a distribuição mundial do HTLV-1, a falta de tratamento eficaz e
vacina, a prevenção se torna fundamental no controle da transmissão do HTLV-1. Para
que ocorra a redução da morbidade e mortalidade associada a esse vírus, são necessárias
estratégias de saúde pública que tenha como objetivo diminuir a transmissão viral e
esclarecimento da população e profissionais da saúde sobre a infecção (Verdonck et al.
2007).
20
1.7. Profissionais do Sexo e a Infecção pelo HTLV-1
A prostituição constitui-se como uma prática milenar, porém a organização das
mulheres profissionais do sexo (MPS) coincidiu com um período de mobilização de
diferentes acontecimentos sociais, como o movimento pelas eleições diretas para
presidente e a consolidação da mulher no mercado de trabalho (Guimarães & MerchánHamann 2005, Amorin et al. 2008). Além disso, a Portaria Ministerial nº. 397, de 09 de
outubro de 2002, incluiu o exercício da prostituição na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) (Brasil 2002).
Na sociedade brasileira, a sexualidade feminina está ligada à condição biológica,
que é vinculada aos fins reprodutivos e associada à tradicional estrutura familiar, à
maternidade. Com isso, a prostituição é vista como atividade contrária às regras sociais,
pois busca pelo prazer irrestrito, e as mulheres expressam sua sexualidade de forma
explícita em desrespeito aos limites impostos pela sociedade conservadora, acarretando
assim a discriminação e marginalização dessa população (Aquino et al. 2008, Lutnick &
Cohan 2009).
Atividades, como a exploração comercial, incitamento à prostituição e o
envolvimento com tráfico humano e de drogas ilícitas são condutas comumente
associadas à prostituição e condenadas pelo Código Penal Brasileiro (Código Penal
Brasileiro 1940). Dessa forma, as várias atividades ilegais associadas à prostituição no
Brasil contribuem para maior vulnerabilidade dessas mulheres a violência física e moral
e a exclusão social, fazendo com que elas tenham dificuldades de acesso aos sistemas de
educação e de saúde pública (Correa et al. 2008).
O conceito de vulnerabilidade pode ser entendido como: “uma conjunção de
fatores individuais, programáticos, sociais e culturais” que, relacionados entre si, podem
ter pesos diferentes para aumentar ou diminuir a exposição da mulher ao risco de
aquisição de doenças, principalmente às DSTs (Amorin et al. 2008).
Considera-se que as profissionais do sexo são mais vulneráveis às infecções por
patógenos transmitidos sexualmente do que a população em geral, devido a fatores
diretamente ligados à prostituição, como elevado número de parceiros e relações sexuais
de risco, além de práticas e situações a elas associadas, incluindo o consumo de drogas
ilícitas e de bebidas alcoólicas, histórico de prisões, a falta de conhecimento sobre as
21
DSTs e a marginalização socioeconômica (Passos & Figueiredo 2004, Correa et al.
2008).
A falta de conhecimento sobre as DSTs é agravada pelo fato de geralmente
serem assintomáticas e, mesmo quando ocorrem sintomas dessas doenças, esses podem
não despertar suspeitas. Assim, aquelas que estão infectadas podem inadvertidamente
disseminar as doenças por não saberem de sua condição. Estes dados são preocupantes
porque as DSTs são responsáveis por problemas relacionados à diminuição da
fertilidade em homens e mulheres, além de neoplasias do colo de útero, vagina, vulva e
pênis (Fernandes et al. 2000, Correa et al. 2008).
Estudos realizados em mulheres profissionais do sexo têm sugerido a
transmissão sexual e parenteral da infecção pelo HTLV-1 como os principais
mecanismos de disseminação do vírus nessa população, pois apresentam com
frequência comportamentos de risco, como atividades relacionadas ao uso de drogas e
sexo sem proteção (Berini et al. 2007, Sousa 2007, Bautista et al. 2009).
A prevalência da infecção pelo HTLV-1 em MPS varia de 0,3% a 21,8% em
investigações conduzidas em diferentes regiões geográficas, no período de 1990 a 2009
(Quadro 1).
22
Quadro 1 - Prevalências da infecção pelo HTLV-1 em MPS em outros Países, no
período de 1990 a 2009
Autor/ano
Local
N
Prevalência HTLV-1
(%)
Wiktor et al. 1990
Zaire
377
3,2
Wignall et al. 1992
Peru
467
21,8
Dada et al. 1993
Nigéria
885
2,8
Hyams et al. 1993
Peru
966
17,6
Delaporte et al. 1995
Zaire
1183
7,3
Mauclere et al. 1995
Camarões
332
0,9
Nakashima et al. 1995
Japão
409
5,1
Zurita et al. 1997
Peru
51
13,7
Chen et al. 1998
Taiwan
2245
1,6
Trujillo et al. 1999
Peru
158
3,8
Belza 2004
Espanha
3149
0,3
Pando et al. 2006
Argetina
614
1,1
Berini et al. 2007
Argentina
613
1,5
Bautista et al. 2009
Argentina
625
1,4
No Brasil, estudos de soroprevalência para infecção pelo HTLV-1 em
profissionais do sexo são raros. A prevalência tem variado de 1,0% a 2,8% dependendo
da região estudada, no período de 1989 a 2007(Quadro 2).
Quadro 2- Prevalências da infecção pelo HTLV-1 em MPS, no Brasil, no período
de 1989 a 2007.
Autor/ano
Local
N
Prevalência HTLV- 1
(%)
Cortes et al. 1989
Rio de Janeiro/São Paulo
101
1,0
Bellei et al. 1996
Santos/São Paulo
653
2,8
Broutet et al. 1996
Fortaleza/Ceará
496
1,2
Sousa 2007
Pará
339
1,8
23
1.8. Justificativa
A infecção pelo HTLV-1 possui uma ampla distribuição geográfica, com uma
estimativa de 15-25 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo (Proietti et al.
2005, Gonçalves et al. 2010). O Brasil é o país com maior número absoluto de casos
dessa infecção (Carneiro-Proietti et al. 2002, Dourado et al. 2003, Catalan-Soares et al.
2005). Na Região Central do Brasil, poucos estudos epidemiológicos foram realizados
para a infecção pelo HTLV (Oliveira & Avelino 2006, Figueiró-Filho et al. 2007, Dal
Fabbro et al. 2008, Nascimento et al. 2009).
Grupos populacionais, como usuários de drogas injetáveis, pacientes infectados
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e profissional do sexo são considerados
em alto risco para aquisição dessa virose (Lee et al. 1990, Dourado et al. 1999, Etzel et
al. 2001, Gutiérrez et al 2004).
Mulheres profissionais do sexo compõem uma população vulnerável às
infecções de transmissão sexual e parenteral, pois apresentam com freqüência
comportamentos de risco, que incluem atividades relacionadas ao uso de drogas e sexo
sem proteção (Belza 2004, Bautista et al. 2009). A soroprevalência para infecção pelo
HTLV-1 em profissionais do sexo tem variado de 0,3% na Espanha a 21,8% no Peru
(Wignall et al. 1992, Belza 2004). No Brasil, poucos estudos foram realizados nessa
população e, o índice de positividade variou de 1,0% em Rio de Janeiro/São Paulo a
2,8% em Santos-SP (Cortes et al. 1989, Bellei et al. 1996).
Apesar de a literatura indicar que a prevalência do HTLV-1 é mais elevada em
mulheres, os estudos envolvendo mulheres que se prostituem são escassos, e na Região
Centro-Oeste do País nenhum estudo soroepidemiológico sobre a infecção pelo HTLV1 em MPS foi realizado. Assim, o presente estudo foi desenvolvido com o intuito de
conhecer o perfil epidemiológico e molecular dessa infecção em mulheres profissionais
do sexo em Goiânia-GO, com vistas para fornecer subsídios que possam auxiliar no
desenvolvimento de estratégias de saúde pública visando à prevenção e o controle desta
virose.
24
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
Investigar o perfil soroepidemiológico e molecular da infecção pelo HTLV-1 em
mulheres profissionais do sexo em Goiânia, Goiás.
2.2. Objetivos Específicos
Estimar a prevalência da infecção pelo HTLV-1 em mulheres profissionais do
sexo em Goiânia-GO;
Analisar os comportamentos de risco para esta infecção;
Caracterizar os subtipos virais circulantes neste grupo.
25
3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Natureza, Local de Estudo, População-Alvo e Amostra
Estudo descritivo, de corte transversal conduzido em MPS que exerciam
atividades laborais em locais públicos (praças, parques, ruas, avenidas, dentre outros)
e/ou privados (casas fechadas, boates, cinemas, casas de espetáculos eróticos, dentre
outros) em Goiânia, Goiás. O período de coleta foi maio de 2009 a junho de 2010.
Foram incluídas no estudo mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, que
faziam sexo em troca de dinheiro e/ou presentes, apresentavam o cupom recrutador no
momento da entrevista e se prostituiam em Goiânia, Goiás. As mulheres sem condições
mentais e físicas para responder ao questionário, por excesso de droga ou álcool, e os
transgênicos femininos foram excluídos do estudo.
Para amostra mínima necessária, foi considerado um poder estatístico de 80%
(β=20%), um nível de significância de 95% (α<0,05), precisão de 1% e uma prevalência
para HTLV-1 de 1,0% (Cortes et al. 1989). Assim, no mínimo 400 mulheres eram
necessárias para o estudo.
Em observância ao disposto na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde (Brasil 1996), este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo
CEPMHA/HC/UFG Nº 001/09.
3.2. Coletas de Dados
3.2.1. Respondent-Driven Sampling e Profissionais do Sexo
Foi utilizada uma abordagem metodológica baseada na indicação dos
participantes pelos pares, denominada Respondent-Driven Sampling (RDS) ou
“Amostragem dirigida pelos participantes”, a qual foi desenvolvida para amostragem de
população de difícil acesso que estão conectadas por meio de redes sociais (Volz &
Heckathorn 2008, Uusküla et al. 2010).
26
Em 1997, foi proposto por Douglas Heckathorn, nos EUA, um método de
amostragem probabilística, não só para aliviar as dificuldades em acesso, mas também
para permitir a estimativa estatística das variáveis alvos. O método denominado RDS
facilita o recrutamento dos grupos de difícil acesso, uma vez que utiliza cadeias de
referência para a obtenção da amostra, semelhante à amostragem “bola de neve” e,
permite a inferência estatística da população alvo por meio do controle para as fontes de
viés geralmente associadas à amostragem por cadeia de referência. Assim, vários
estudos com populações de difícil acesso têm sido realizados utilizando a metodologia
RDS (Heckathorn 1997, 2002, Volz & Heckathorn 2008, Wejnert 2009, Goel &
Salganik 2010, Damacena et al. 2011a, Júnior et al. 2011).
O Programa Nacional de DST e Aids do Brasil (PN-DST/AIDS) promoveu, em
uma parceria com o Global AIDS Program-Brazil do Centers for Disease Control and
Prevention (CDC/GAP), a University of California San Francisco (EUA), Tulane
University (EUA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a transferência de métodos
de amostragem específicos para subgrupos de populações de difícil acesso (Júnior
2008).
Para iniciar o estudo foram feitos contatos com instituições que atendem de
forma direta ou indireta as profissionais do sexo, tais como: Organizações Não
Governamentais (ONG) e Coordenações de DST/HIV/AIDS nas Secretarias Municipal
(SMS) e Estadual de Saúde (SES), a fim de mapear os principais pontos de prostituição
em Goiânia e estabelecer parcerias.
Juntamente com uma ONG, realizou-se o recrutamento de um pequeno número
de profissionais do sexo, denominadas de “sementes”, integrantes do público-alvo. Na
abordagem inicial, foi entregue um convite personalizado. A seleção e o recrutamento
das “sementes” ocorreram por meio de uma pesquisa formativa com as mesmas,
realizada entre os meses de maio e junho de 2009, tendo como objetivo definir os locais
e horários de coletas de dados, formas de ressarcimentos/incentivo e divulgação do
estudo nos locais de prostituição. Um total de sete “sementes” foi recrutado. As
características destas mulheres são apresentadas no Quadro 3.
27
Quadro 3 - Características das profissionais do sexo selecionadas não
aleatoriamente (sementes) para o estudo
Semente
Local de
Prostituição
1
2
3
Rua
Rua
Rua
4
Casa
fechada
Casa de
Espetáculos
Rua
Cinema
5
6
7
Horário
de
trabalho
Ambos
Ambos
Diurno
Idade
53
38
50
Anos
de
estudo
4
2
7
Religião
Estado
civil
Separada
Solteira
Solteira
Separada
R$ 150,00
11
Católica
Protestante
Sem
religião
Sem
religião
Católica
Renda no
último dia
de trabalho
R$ 20,00
R$ 40,00
R$ 175,00
Ambos
34
13
Ambos
28
Solteira
R$ 200,00
Ambos
Diurno
37
34
12
6
Protestante
Protestante
Separada
Solteira
R$ 150,00
R$ 70,00
Ficou estabelecido que cada “semente” receberia três cupons para recrutar seus
pares (colegas/amigas/conhecidas de profissão) para o estudo. As mulheres que
chegassem ao local de estudo com um cupom válido e que cumprissem os critérios de
inclusão no estudo, eram consideradas elegíveis, formando assim, a primeira onda. As
profissionais do sexo recrutadas na primeira onda, também recebiam três cupons para
recrutar seus pares, que formaram a segunda onda. Essa dinâmica ocorreu sucessivas
vezes até a saturação da rede ou alcance da amostra desejada.
Cada participante que completasse o protocolo do estudo recebia o incentivo
primário e, para cada recruta elegível da mesma participante, que se alistava no estudo,
recebia o incentivo secundário, como prevê a metodologia RDS. No presente estudo, foi
utilizado como incentivo/ajuda de custo, sugerido pelas “sementes”, o vale transporte
válido para o transporte urbano em Goiânia e para regiões Metropolitanas.
Para a realização das entrevistas e coleta de amostras clínicas, no início do
estudo, foi utilizado o espaço físico do centro de convivência da ONG parceira. No
entanto, a adesão das MPS foi relativamente baixa, devido à distância e diferenças entre
os grupos, então foram criados novos locais de coletas, próximos aos pontos de
prostituição. Parcerias foram feitas com os comerciantes locais para a obtenção desses
novos pontos de coletas que se caracterizavam pela neutralidade, considerando as
diferenças entre os grupos de mulheres que se prostituiam na região.
28
As coletas ocorreram durante dias úteis da semana, nos períodos matutino,
vespertino ou noturno, considerando as características do local e a segurança da equipe.
Em cada local, a equipe permanecia, em média, quatro semanas.
O cupom recrutador continha dados do projeto, tais como: local de coleta e
número de telefone para contato livre de custo (ligações a cobrar). Para a realização das
coletas, as mulheres se dirigiam aos pontos de coleta ou ligavam para a equipe, a fim de
agendar data e horário.
No momento da coleta, as profissionais do sexo apresentavam o cupom para o
membro da equipe responsável pela recepção das participantes, que avaliava a
elegibilidade da profissional do sexo para o estudo e certificava a validade do cupom.
Todas as participantes elegíveis foram esclarecidas quanto à finalidade e aplicabilidade
do estudo, posteriormente foi disponibilizado, pelo entrevistador, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Um instrumento de coleta de dados padronizado foi utilizado na entrevista,
baseado no módulo “mulheres trabalhadoras do sexo” do “Family Health International
Behavioral Surveillance Surveys” (Family Health International 2000), contendo
questões sobre dados sociodemográficos (idade, escolaridade, religião, cor, local de
residência, dependentes econômicos e estado civil) e comportamento de risco para a
infecção pelo HTLV (número de clientes nos últimos sete dias de trabalho, número de
clientes no último dia de trabalho, fuso de preservativo com clientes nos últimos 30
dias, uso de preservativo na última relação com parceiros não pagantes, presença de
corrimento vaginal ou ferida/úlcera na genitália nos últimos 12 meses, uso de droga
injetável e não injetável nos últimos 12 meses, história de transfusão sangúinea e
tatuagem e/ou body piercing). O questionário foi aplicado por membros (alunos de pósgraduação e/ou de iniciação científica), devidamente capacitados, do núcleo de Estudo
em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em hepatites virais
(NECAIH) da Faculdade de Enfermagem/UFG e do Laboratório de Virologia do
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás
(IPTSP/UFG). Após a entrevista, o questionário era revisado por uma mestranda, para
avaliação prévia da qualidade de dados obtidos e identificação de lacunas/missing no
preenchimento.
29
Realizada a entrevista, a participante era encaminhada para coleta de 10 ml de
sangue, por meio de punção venosa periférica, utilizando agulhas e seringas
descartáveis. As amostras sanguíneas foram colocadas em dois tubos, um com
anticoagulante (etilenodiaminotetra cético - EDTA - sangue total) e outro sem
anticoagulante (soro). Este foi centrifugado e separado em duas alíquotas. Todas as
alíquotas foram armazenadas a -20ºC até a realização dos ensaios.
Posteriormente, a participante era conduzida a outro membro da equipe,
responsável pela distribuição e controle dos cupons, quando então eram fornecidos os
três cupons recrutadores e os vales transportes.
Ainda,
por
meio
do
Programa
de
Extensão
“Sempre
Viva”
do
NECAIH/FEN/UFG em parceria com a equipe do Laboratório de Virologia do
IPTSP/UFG, era desempenhado atividades de educação em saúde, enfocando as
doenças
sexualmente
transmissíveis
e
medidas
higiênico-sanitárias,
havendo
distribuição de preservativos e folders ilustrativos sobre prevenção e controle de
DST/HIV/AIDS e hepatites virais, que eram disponibilizados pela Secretaria Municipal
de Saúde de Goiânia e Secretaria da Saúde do Estado de Goiás. Além disso, vacinação
contra hepatite B, tétano, febre amarela, sarampo e rubéola (dupla viral) era realizada
nas participantes sem história e/ou comprovação vacinal.
3.3. Testes Sorológicos
3.3.1. Ensaio de Triagem
Todas as amostras de soro foram testadas pelo ensaio imunoenzimático
(ELISA), qualitativo de terceira geração, para a detecção de anticorpos contra HTLV-1
e HTLV-2, empregando reagentes comerciais (Murex HTLV-I+II, GE80/81, Murex
Diagnostics, UK).
Resumidamente, as amostras e controles foram incubados por 30 minutos a
37ºC, em placas sensibilizadas com proteínas transmembrana, peptídeos sintéticos do
envelope do HTLV-1 e HTLV-2, e uma proteína transmembrana recombinante do
HTLV-2. Posterior à lavagem, adicionou-se o conjugado (antígenos de HTLV marcados
30
com peroxidase) e procedeu a incubação por 30 minutos a 37ºC. Após incubação a
placa foi submetida a uma lavagem.
Em seguida, foi adicionada a solução cromógena de tetrametilbenzidina (TMB)
juntamente com o substrato da enzima (peróxido de hidrogêneo) e incubado por 30
minutos a 37ºC. Após esse período, reação foi interrompida com adição de ácido
sulfúrico 0,5 M a 2 M e leitura da placa foi realizada em um leitor de ELISA. A leitura
da reação foi realizada, conforme as instruções do fabricante, com uso de um filtro de
450 nm. Amostras que apresentaram absorbâncias maiores ou igual ao valor do cut-off,
obtido pela média das absorbâncias dos controles negativos + 0,200, foram consideradas
positivas.
3.3.2. Ensaio Confirmatório
As amostras reagentes pelo ELISA foram testadas pelo ensaio confirmatório
western blot, utilizando reagentes comerciais (HTLV Blot 2.4, Genelabs, Cingapura).
Foram utilizadas fitas individuais de nitrocelulose com proteínas virais nativas e
recombinantes das regiões gag e env do HTLV-1 e HTLV-2, para confirmar e
identificar o tipo viral. A diferenciação é feita por meio das proteínas recombinantes
MTA-1 e K55, exclusivas do HTLV-1 (rgp-I) e HTLV-2 (rgp-II), respectivamente.
Resumidamente, as amostras e controles foram adicionados às fitas re-hidratadas
com solução tampão e incubadas a temperatura ambiente (25ºC - ±3ºC) sobre a
plataforma de agitação (velocidade de 12 a 16 oscilações por minuto). Em seguida
procedeu-se a lavagem das tiras e, adicionou-se o conjugado (anticorpo caprino anti-IgG
humana conjugado à fosfatase alcalina) e a reação foi incubada por 60 minutos a
temperatura ambiente. Posteriormente, acrescentou-se o substrato (5 bromo - 4 cloro - 3
indolil - fosfato - BCIP e azul de nitrotetrazólio –NBT) e incubou-se por 15 minutos,
sob agitação. Após a incubação a reação foi interrompida pela remoção do substrato e
lavagem das fitas. Os resultados do western blot foram interpretados conforme as
instruções do fabricante (Quadro 4).
31
Quadro 4 – Interpretação dos resultados no teste Western blot
Padrão
Interpretação
Ausência de reatividade às proteínas específicas do Soronegativo
HTLV
Reatividade às proteínas codificadas pelo gene gag (p19 Soropositivo para HTLV-1
e/ou p24) e env (GD21 e rgp46-I)
Reatividade às proteínas codificadas por gag (p19 e/ou Soropositivo para HTLV-2
p24) e env (GD21 e rgp46-II)
Reatividade às proteínas codificadas por gag (p19 e Soropositivo para HTLV
p24) e env (GD21)
Reatividade com bandas específicas para o HTLV, mas Indeterminado
que não preenchem os critérios de soropositividade para
HTLV-1, HTLV-2 ou HTLV
3.4. Testes Moleculares
3.4.1. Extração do DNA
Amostras de sangue total das participantes que obtiveram resultados reagentes
no ELISA foram submetidas à extração do DNA utilizando os reagentes da Qiagen
(QIAamp DNA Minikit and QIAamp DNA Blood Mini Kit Handbook), conforme as
instruções do fabricante.
Inicialmente, foram adicionados 200 µl de sangue total em um tubo de 1,5 ml
contendo 20 µl de proteinase K e 200 µl de tampão de lise, procedendo à
homogeneização por 15 segundos e incubação a 56ºC por 10 minutos. Em seguida, foi
submetido a uma rápida centrifugação para remoção de gotículas existentes na tampa do
tubo. Posteriormente, adicionou-se 200 µl de etanol e homogeneizou por 15 segundos.
Uma breve centrifugação foi realizada, e a solução foi transferida para uma coluna.
Após centrifugação e troca de sua base, foi acrescentado 500 µl de tampão de lavagem 1
e centrifugado por 1 minuto. Novo procedimento de lavagem foi realizado, usando o
tampão de lavagem 2 (500 µl) e centrifugado por 3 minutos.
32
O DNA retido na coluna foi eluído com 200 µl do tampão de eluição, e incubado
a temperatura ambiente (15-25ºC) por 1 minuto. Em seguida, foi realizado
centrifugação, por 1 minuto, resultando em uma série de 100 µl, sendo esta, armazenada
a -20ºC.
O DNA obtido foi amplificado com iniciadores genéricos para identificação do
HTLV (Quadro 5) pela reação em cadeia da polimerase (PCR).
Quadro 5 - Iniciadores genéricos para a região tax do HTLV
Sentido
Localização
Sequência 5’-3’
Ptlvpt
Sense
7481-7505
TYACCTRGGACCCCATCGATGGACG
Pgtaxr1
Antisense
8138-8116
GAIGAYTGIASTACYAAAGATGGCTG
Ph2REV
Sense
7530-7553
CCTTATCCCTCGICTCCCCTCCTT
Pgtaxr2
Antisense
8108-8086
TTIGGGYAIGGICCGGAAATCAT
PCR-2
PCR-1
Iniciadores
3.4.2. Nested-PCR
Uma nova amplificação do DNA viral foi realizada por nested-PCR com
iniciadores para as regiões tax (Quadro 6), LTR (Quadro 7) e env (Quadro 8) do genoma
do HTLV-1.
As reações de amplificação (tax, LTR e env), na primeira PCR (PCR-1), foram
realizadas com 2 µl de cada iniciador externo em uma concentração de 200 ng, 1 µl de
dNTP’s (deoxinucleotídeos trifosfatados – 0,4 mM), 10 µl de tampão (1x), 4 µl de
MgCl2 (cloreto de magnésio - 2,0 mM), 0,5 µl de Taq DNA polimerase (2,5 U) e 26,5
µl de água milliQ, totalizando um volume de 46 µl. Em seguida, adicionou-se à mistura
da reação 4 µl do DNA de cada amostra e o mesmo foi realizado para os controles
negativos e positivos. Posteriormente, foram colocados no termociclador utilizando o
seguinte programa: 96ºC por 3 minutos (desnaturação inicial), 45 ciclos de 96ºC por 30
segundos (desnaturação), 50ºC por 30 segundos (anelamento) e 72ºC por 1 minuto
(extensão) (Liu et al. 1994).
33
Quadro 6 - Iniciadores específicos para a região tax do HTLV-1
Sentido
Localização
Sequência 5’-3’
Taxhtlv1f2
Sense
7297-7316
ATACAAAGTTAACCATGCTT
Taxhtlv1r1
Antisense
8470-8490
TGAGCTTATGATTTGTCTTCA
Taxhtlv1f1
Sense
7280-7299
TCGAAACAGCCCTGCAGATA
Taxhtlv1r2
Antisense
8397-8416
AGACGTCAGAGCCTTAGTCT
Internos
Externos
Iniciadores
Quadro 7 - Iniciadores específicos para a região LTR do HTLV-1
Sentido
Localização
Sequência 5’-3’
Hfl1
Sense
24-39
GACAATGACCATGAGC
Hfl6
Antisense
881-901
GTTAAGCCAGTGATGAGCGGC
Hfl9
Sense
124-144
AAGGCTCTGACGTCTCCCCCC
Hfl10
Antisense
779-796
TCCCGGACGAGCCCCCAA
Internos
Externos
Iniciadores
Quadro 8 - Iniciadores específicos para a região env do HTLV-1
Sentido
Localização
Sequência 5’-3’
Hfl71
Sense
5111-5129
CCAGTGGATCCCGTGGAGA
Hfl72
Antisense
6729-6747
AGGAGGATTTGATGGGAGA
Hfl75
Sense
6049-6065
GCTATAGTCTCCTCCCC
Hfl76
Antisense
6591-6610
GGTGTCGTAGCTGACGGAGG
Internos
Externos
Iniciadores
34
Na segunda PCR (PCR-2), 3 µl do produto obtido foi novamente amplificado
utilizando iniciadores internos para as regiões tax, LTR e env, nas mesmas condições
descritas acima, exceto pelo acréscimo de 1 µl no volume água milliQ (Liu et al. 1994).
3.4.3. Eletroforese em Gel de Agarose
Os produtos PCR-2 foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5%
em tampão Tris-Acetato EDTA (TAE), corado com brometo de etídeo e visualizado sob
luz ultravioleta com o auxílio de um transluminador, e comparados aos controles
positivos, com aproximadamente 1136 pb, 672 pb e 561 pb para as regiões tax,LTR e
env, respectivamente.
3.4.4. Purificação do DNA
Os produtos da segunda amplificação da região LTR foram purificados
utilizando o Ilustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, seguindo as
instruções do fabricante. Resumidamente, em tubo tipo eppendorf, foi adicionado 500
µl do tampão de captura e 100 µl do produto obtido da PCR-2 de cada amostra. Esta
mistura foi homogeneizada, e em seguida transferida a uma coluna fornecida pelo Kit, a
qual foi centrifugada por 30 segundos. Posteriormente, o líquido centrifugado foi
descartado, e acrescentou-se à coluna 500 µl de tampão de lavagem, sendo esta
submetida à nova centrifugação (30 s).
O líquido residual foi descartado e adicionou-se 40 µl do tampão de eluição no
centro da membrana da coluna, seguido de incubação em temperatura ambiente (1525ºC) por 1 minuto e centrifugação (1 min). Ao final do processo o DNA purificado foi
armazenado a -20ºC.
35
3.4.5. Sequenciamento e Análise Filogenética
O produto purificado foi sequenciado utilizando-se os iniciadores internos para a
região LTR (Quadro 7) e o Kit BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction
Kit (Applied Boisystems Foster City, CA, USA). Foi preparada uma mistura de
reagentes para cada iniciador utilizado 1 µl do BigDye Terminator, 1,5 µl tampão
BigDie , iniciador na concentração de 3,2 pmol ou 100 ng (1 µl), produto purificado (2
µl) e completar a reação com água milliQ até 10 µl. Posteriormente, a placa foi
colocada no termociclado. Foram programados 25 ciclos de 96ºC por 15 segundos
(desnaturação), 50ºC por 10 segundos (anelamento) e 60ºC por 4 minutos (extensão).
As amostras foram precipitadas utilizando isopropanol (80 µl) a 75%, e
incubadas por 15 minutos a temperatura ambiente, logo após foi centrifugada por 45
minutos a 4000 rpm a 21ºC. A seguir, o sobrenadante foi descartado e o sedimento foi
seco no termociclador a 75ºC por 5 minutos. Posteriormente, foi realizada a
desnaturação, em que o DNA foi ressuspenso em 10 µl de formamida (HD especial para
sequenciamento), e centrifugado por 1 minuto a 900 rpm a 21 ºC. Em seguida, foi
incubado no termociclador a 95ºC por 5 minutos para desnaturar. Imediatamente após a
incubação a placa foi colocada no gelo por 5 minutos e em seguida, no seqüenciador
automático.
A sequência obtida foi lida e editada pelo programa CHROMAS versão 1.45
(Griffith University) e SEQMAN II versão 5.01 (DNASTAR). Posteriormente, a mesma
foi alinhada usando o programa Clustal X e para editar o alinhamento foi utilizado o
programa BIOEDIT. Uma árvore foi construída, para análise filogenética, pelo método
de Neighbor-joining, usando o programa MEGA (Molecular Evolutionary Genetics
Analysis) versão 4.0, e o modelo de substituição de nucleotídeos KIMURA 2
parâmetros. A caracterização do subtipo do HTLV-1 foi determinado acrescentando-se
sequências de referência representativas dos principais subtipos do vírus, disponíveis no
GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Além disso, a robustez dos grupos
filogenéticos foi avaliada utilizando bootstrap de 1025 repetições.
36
3.5. Processamento e Análise de Dados
Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos e molecular
foram digitados em microcomputador utilizando os programas estatísticos “Epiinfo
6.0”, desenvolvido pelo “Centers for Disease Control and Prevention” e o pacote
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0 for Windows.
Em seguida, ocorreu a verificação dos dados e a limpeza do banco. Os dados
foram transferidos para o programa estatístico Respondent-Driven Sampling Analysis
Tool (RDSat) versão 5.6, onde foram analisados por estatística descritiva, a fim de gerar
estimativas de prevalência com intervalo de confiança 95%. As prevalências são
ajustadas segundo os padrões de recrutamento e tamanho da rede em relação aos outros
recrutas, levando em consideração a homofilia e o alcance do equilíbrio das variáveis
(Volz & Heckathorn 2008, Uusküla et al. 2010).
O software ArcView GIS 3.2 foi usado para identificação e referenciamento dos
pontos de prostituição primários, por meio de coordenadas espaciais, e o desenho das
redes sociais formadas pelas profissionais do sexo recrutadas foi obtido por meio do
aplicativo Netdraw versão 2.084.
37
4. RESULTADOS
4.1. Distribuição Espacial dos Pontos de Prostituição das Mulheres Profissionais do
Sexo em Goiânia-GO
A Figura 6 mostra a distribuição dos locais de prostituição referidos pelas
mulheres que participaram do estudo. Por meio das coordenadas espaciais no mapa da
cidade de Goiânia-GO, nota-se que a prostituição foi predominante nas regiões sul e
central do município.
Figura 6 - Distribuição espacial dos pontos de prostituição das profissionais do sexo
estudadas em Goiânia-GO, 2009-2010
38
4.2. Características Sociodemográficas das Mulheres Profissionais do Sexo
Foram entrevistadas e testadas para a infecção pelo HTLV 402 mulheres
profissionais do sexo em Goiânia-GO. Destas, sete mulheres (sementes) foram retiradas
da análise de dados por recomendação da metodologia RDS, uma vez que foram
recrutadas de forma intencional.
A Tabela 1 mostra as características sociodemográficas de 395 mulheres.
Observou-se que 31,7% da população estudada possuíam idade entre 21 e 25 anos e,
que praticamente a metade das mulheres (47,3%) possuía entre 10 e 12 anos de estudo.
Quanto à religião, verificou-se que a maioria das MPS era cristã, com predominância da
religião católica (59,9%), seguida da evangélica (18,8%).
Nota-se, ainda, que mais da metade das mulheres (67,1%) eram solteiras, autodeclararam de cor parda (59,5%), residiam em Goiânia (75,4%) e que possuíam
dependentes econômicos (69,9%).
39
Tabela 1 - Características sociodemográficas de 395 mulheres profissionais do sexo
em Goiânia-GO, 2009-2010
RDS*
Estimativa ajustada
(%)
IC 95%**
n/N
Idade (anos)
<21
21-25
26-30
31-35
36-40
>40
13,8
31,7
25,2
12,2
5,8
11,3
9,4 – 19,8
24,5 – 40,3
18,3 – 32,6
7,1 – 16,3
3,2 – 8,8
5,4 – 18,3
58/395
106/395
95/395
55/395
32/395
49/395
Escolaridade (anos)
≤4
5-9
10-12
>12
9,7
40,6
47,3
2,3
6,3 – 15,1
32,2 – 47,3
40,4 – 56,9
0,4 – 2,4
40/395
163/395
181/395
11/395
Religião
Sem religião
Católica
Evangélica
Espírita
Outra
17,2
59,9
18,8
4,0
0,1
10,8 – 21,1
53,4 – 68,0
13,7 – 25,2
1,4 – 7,5
0,1 – 0,5
76/395
207/395
92/395
19/395
1/395
Cor
Branca
Negra
Parda
Outra
27,3
12,5
59,5
0,7
20,5 – 35,4
8,3 – 17,5
51,4 – 66,8
0,1 – 0,9
97/395
57/395
234/395
7/395
Local de Residência
Goiânia
Outros
75,4
24,6
68,2 – 81,9
18,1 – 31,8
291/395
104/395
Dependentes econômicos
Não
Sim
30,1
69,9
23,2 – 38,5
61,5 – 76,8
97/395
298/395
Estado Civil
Casada
Solteira
Separada
Viúva
15,7
67,1
14,4
2,8
10,6 – 21,7
60,2 – 75,2
7,8 – 20,1
0,6 – 6,3
64/395
270/395
53/395
8/395
Variável
*Estimativas ajustadas pelo RDSat; **Intervalo de Confiança
40
4.3. Características Laborais das Mulheres Profissionais do Sexo
Das 395 mulheres entrevistadas, observa-se que 62,4% relataram ter exercido
atividade profissional em outra cidade, e 41% trabalhavam em boates, 27,7% em bares e
25% em rua (Tabela 2).
Em relação ao horário de trabalho, 26,9% se prostituiam no período diurno,
41,3% noturno e 31,8% em ambos os turnos. Quando questionadas sobre o valor
recebido no último dia de trabalho, houve uma variação entre 15,00 e 1500,00 reais,
sendo que 41,4% afirmaram ter recebido entre 200,00-1.500,00 reais, seguido de
100,00-199,00 reais (28,7%) e 15,00-50,00 reais (16,8%). Além disso, 94,3% das
mulheres afirmaram já ter exercido outras atividades profissionais para obtenção de
renda.
41
Tabela 2– Análise das características laborais das mulheres profissionais do sexo
em Goiânia-GO, 2009-2010
Variável
RDS*
Estimativa
IC 95%**
ajustada (%)
n/N
Trabalhou como profissional do
sexo em outra cidade
Não
Sim
37,6
62,4
30,8 – 45,5
54,5 – 69,2
185/395
210/395
Tipo de local que prostitui***
Rua
Boate
Bar
Casa de espetáculo erótico
Cinema erótico
Casa fechada
25,0
41,0
27,7
5,5
3,8
5,3
10,1 – 43,2
28,4 – 53,7
15,4 – 41,8
0,2 – 17,1
0,4 – 11,6
0,9 – 9,4
126/451
123/451
100/451
40/451
39/451
23/451
Horário de trabalho
Diurno
Noturno
Diurno e Noturno
26,9
41,3
31,8
16,6 – 35,1
30,9 – 55,6
23,1 – 40,3
137/395
111/395
147/395
Valor recebido no último dia de
trabalho (R$)
15,00-50,00
51,00-99,00
100,00-199,00
200,00-1.500,00
16,8
13,1
28,7
41,4
11,7 – 22,9
8,5 – 18,8
21,1 – 35,1
32,8 – 50,8
75/392b
63/392
104/392
150/392
Já teve outra fonte de renda
Não
Sim
5,7
94,3
2,7 – 9,7
90,3 – 97,3
23/395
372/395
*Estimativas ajustadas pelo RDSat; **Intervalo de Confiança; ***Mulheres referiram a mais de um local,
três mulheres não responderam.
b
4.4. Características de Risco para a Infecção pelo HTLV-1 Relatadas pelas
Mulheres Profissionais do Sexo em Goiânia-GO
A Tabela 3 mostra a análise descritiva das características de risco para infecção
pelo HTLV-1 em mulheres profissionais do sexo em Goiânia-GO. Verificou-se que, nos
últimos sete dias de trabalho, aproximadamente a metade da população, 51,9%,
42
informaram ter tido mais de sete clientes sexuais e, no último dia, 52,6% das mulheres
relataram dois ou mais clientes.
Do total de mulheres, a maioria (87,1%) afirmou o uso frequente de
preservativo com os clientes nos últimos 30 dias. Em relação aos parceiros não
pagantes, 63,7% das MPS informaram o uso do preservativo na última relação sexual.
Nos últimos 12 meses, foi relatado corrimento vaginal por 49% profissionais do sexo e
feridas ou úlceras na genitália por 8,6% das mulheres.
Das 395 mulheres profissionais do sexo entrevistadas, 65,9% negaram o uso de
drogas, porém 12,9% já fizeram uso de cocaína, 9,3% maconha e cocaína e 7,6%
afirmaram uso apenas de maconha. Quanto a drogas ilícitas injetáveis no último ano,
apenas 2,7% das mulheres relataram essa prática.
Na população esudada, transfusão sanguínea e presença de tatuagem e/ou body
piercing foram referidas por 10,6% e 58,3 % das MPS, respectivamente.
43
Tabela 3 – Análise descritiva das características de risco para infecção pelo HTLV1 em mulheres profissionais do sexo de Goiânia-GO, 2009-2010
RDS*
Estimativa ajustada
(%)
IC 95%**
n/N
Número de clientes nos últimos sete dias de
trabalho
>7
≤7
51,9
48,1
44,4 – 62,0
38,0 – 55,6
181/392
211/392
Número de clientes no último dia de trabalho
1
2
≥3
47,4
21,5
31,1
38,7 – 57,2
15,5 – 27,8
22,6 – 39,1
174/392
89/392
129/392
Frequência do uso de preservativo com
clientes nos últimos 30 dias
Sempre
Quase sempre
Algumas vezes
Nunca
87,1
7,2
5,6
0,1
80,7 – 92,3
3,2 – 12,5
2,1 – 10,1
0,1 – 0,3
355/388
21/388
11/388
1/388
Uso de preservativo na última relação com
parceiros não pagantes
Não
Sim
36,3
63,7
28,6 – 44,9
55,1 – 71,4
117/386
269/386
Corrimento vaginal nos últimos 12 meses
Não
Sim
51,0
49,0
43,5 – 59,0
41,0 – 56,5
200/395
195/395
Ferida ou úlcera na genitália nos últimos 12
meses
Não
Sim
91,4
8,6
87,2 – 94,8
5,2 – 12,8
356/395
39/395
Uso de algum tipo de droga
Nunca
Maconha
Cocaína
Maconha e cocaína
Outras
65,9
7,6
12,9
9,3
4,3
58,9 – 73,8
4,6 – 11,3
7,5 – 17,4
5,4 – 14,1
1,7 – 7,8
237/395
37/395
61/395
42/395
18/395
Uso de drogas ilícitas injetáveis nos últimos
12 meses
Não
Sim
97,3
2,7
-
72/74
2/74
História de transfusão sanguínea
Não
Sim
89,4
10,6
84,9 – 93,2
6,8 – 15,1
340/395
55/395
Tatuagem e/ou body piercing
Não
41,7
Sim
58,3
*Estimativas ajustadas pelo RDSat; **Intervalo de Confiança
34,1 – 50,9
49,1 – 65,9
154/395
241/395
Variável
44
4.5. Detecção de Anticorpos Anti-HTLV e do DNA Viral
Todas as 402 amostras das MPS foram triadas para detecção de anticorpos para
HTLV-1/2, sendo três reagentes pelo ELISA (Figura 7). A figura mostra sete cadeias de
recrutamento de MPS. Cada círculo representa uma mulher incluída no estudo. Os
círculos maiores representam as sementes e as setas indicam o sentido do recrutamento.
As mulheres positivas para HTLV pelo ELISA estavam distribuídas em redes isoladas
conforme a ilustração abaixo.
Figura 7 - Rede social das mulheres profissionais do sexo em Goiânia-GO
As três amostras reagentes pelo ELISA (3) foram testadas por Western blot,
apenas uma (X-100) apresentou reatividade para as proteínas codificadas por gag (p19 e
p24), bem como para as proteínas codificadas por env (GD21 e rgp46-I), sendo
classificada como HTLV-1. As amostras sororeagentes pelo ELISA também foram
submetidas à detecção do HTLV-DNA para as regiões tax, env e LTR, somente a
amostra X-100 foi amplificada para as regiões analisadas, resultando em uma
prevalência de 0,2% (IC 95% 0,0-1,6) para a infecção pelo HTLV-1 em MPS em
Goiânia-GO (Tabela 4).
45
Tabela 4 - Detecção de anticorpos anti-HTLV por Western Blot e do HTLV-DNA
pela PCR nas três amostras reagentes pelo ELISA
Amostras
Anti-HTLV-1
(Western Blot)
X-100
X-160
X-234
+: positivo; -: negativo
+
-
HTLV-DNA
Tax
+
-
Env
+
-
LTR
+
-
4.6. Características da Mulher Profissional do Sexo Infectada pelo HTLV-1
A mulher profissional do sexo (X-100) infectada pelo HTLV-1, possuía 28 anos
de idade, nove anos de escolaridade e referiu ser solteira.
Iniciou a vida sexual aos 15 anos de idade, se prostituía em bar nos períodos
diurno e noturno, relatou nunca ter usado nenhum tipo de droga ilícita. Porém, fazia
ingestão de bebida alcoólica pelo menos três vezes por semana. Possui tatuagem e/ou
body piercing e não tinha histórico de transfusão sanguínea. Informou o contato com
oito parceiros na última semana, incluindo parceiros pagantes e não pagantes, referiu
também o uso frequente de preservativo com ambos os parceiros. Relatou que
apresentou corrimento no último ano, porém não teve ferida ou úlcera genital no mesmo
período, mas procurou uma unidade de saúde para tratamento.
4.7. Análise Filogenética
A única amostra positiva (X-100) para as regiões tax, env e LTR foi genotipada
por sequenciamento direto para região LTR.
Baseada na análise de seqüências
nucleotídicas, identificou-se o subtipo HTLV-1a (Cosmopolita), subgrupo A
(Transcontinental) (Figura 8).
46
X100
73
DQ471204 HB3102
69
JF271845 BRSP20608
Transcontinental
98
EU108724 CA423
91
GQ443755 k344
MT2 Japao
70
Cosmopolita
ATM Japao HTLV1aB
49
77
94
H5 Japao HTLV1aB
RKI4 Peru htlv1aE
BO Argelia HTLV1aD
99
100
62
PR52 Marrocos HTLV1aD
HS35 Caribe HTLV1aC
ITIS Republica Democratica do Congo HTLV-1d
47
PYG19 Africa Central HTLV-1d
Efe1 HTLV-1e
Mel5 Melanesia HTLV1c
0.01
Figura 8 – Análise filogenética da região LTR do HTLV-1, incluindo isolados e
sequências do GenBank dos subtipos a-e
47
5. DISCUSSÃO
Na Região Centro-Oeste do Brasil, para nosso conhecimento, o presente trabalho
representa o primeiro estudo sobre a infecção pelo HTLV-1 em mulheres profissionais
do sexo e também o primeiro que utilizou a metodologia RDS para análises de
populações de difícil acesso em Goiás.
Analisando as características sociodemográficas das MPS de Goiânia-GO,
observou-se que a maioria das mulheres possuía a idade igual ou inferior a 30 anos, com
mediana de 27,5 anos (DP: 9,1 anos), e predomínio de mulheres solteiras. Estes dados
foram semelhantes aos encontrados em outros estudos conduzidos na mesma população
no Brasil e outros países (Belza 2004, Caterino-de-Araújo et al. 2006, Inciardi et al.
2006, Aquino et al. 2008, Correa et al. 2008). Também, aproximadamente 70% das
mulheres referiram dependentes econômicos, evidenciando-as como provedoras de suas
famílias. Outros estudos mostraram resultados similares (Torres et al. 1999, Esposito &
Kahhale 2006, Silva et al. 2010).
Exercer a prostituição em outras cidades é prática comum entre essas
profissionais, não só pela busca por melhores rendimentos, mas também para
preservarem a identidade junto à sociedade e a própria família (Belza 2004, Passos &
Figueiredo 2004, Aquino et al. 2008). De fato, aproximadamente 62,4% da população
estudada relataram trabalhar ou já ter trabalhado em outras cidades, o que reforça a
grande mobilidade geográfica desta população que, consequentemente, deve dificultar a
realização de programas de educação em saúde e prevenção de infecções nesta
população alvo.
Ao contrário de um estudo conduzido no Brasil (Brasil 2004b), as mulheres
entrevistadas exerciam suas atividades predominantemente em locais privados (casas
fechadas, boates, cinemas, dentre outros), sendo as boates os principais pontos de
encontros com clientes (41%) e essa parece ser uma característica comum da
prostituição em Goiânia. Realmente, um estudo, conduzido por Lima & Silva (2008),
sobre o turismo sexual na cidade, mostrou também que as MPS se prostituíam
predominantemente em lugares fechados, como boates. Acredita-se, que esses
ambientes ofereçam melhores condições de segurança, uma vez que proporcionam às
mulheres menor exposição e mais anonimato (Bautista et al. 2009).
48
Em relação ao exercício do trabalho formal e informal, 94,3% das mulheres
entrevistadas informaram já ter exercido outras atividades para obtenção de renda,
sendo o trabalho doméstico o mais referido (37,6%) (dado não apresentado). O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relatou que a renda média mensal de um
trabalhador doméstico no ano de 2009 era de R$ 395,20 (IBGE 2010), enquanto a renda
referente ao último dia de trabalho na prostituição, relatada no presente estudo foi entre
R$ 15,00 e R$ 1.500,00. Observa-se, então, que os ganhos com a prostituição oferecem
para as mulheres melhor acesso aos bens de consumo e, consequentemente, melhor
forma de sustento quando comparado ao valor recebido no mercado de trabalho formal.
O contexto local e as circunstâncias do trabalho sexual são importantes para
estimar os potenciais riscos à saúde, sendo o número de parceiros atendidos durante o
trabalho uma variável importante, uma vez que a multiplicidade de parceiros pode
favorecer a transmissão sexual do HTLV (Giuliani et al. 2000, Roucoux et al. 2005,
Moxoto et al. 2007). Nesta investigação, 51,9% das mulheres entrevistadas afirmaram
ter atendido mais de sete clientes na última semana de trabalho, incluindo parceiros
pagantes e não pagantes. Também, um terço das mulheres relatou ter atendido três ou
mais clientes por dia. Essa variável parece ser constante entre profissionais do sexo em
diferentes países do mundo (Pando et al. 2006, Bautista et al. 2009, Qyra et al. 2011).
Os resultados do presente estudo estão de acordo com o perfil elevado de atendimento
das MPS no Brasil, tendo em vista que Damacena et al. (2011b) verificaram em dez
capitais brasileiras que a metade das mulheres, atendia no mínimo três clientes por dia.
Ainda, em relação transmissão sexual desse vírus, fatores como sexo sem
proteção e histórias de DSTs podem estar associados à soropositividade ao HTLV-1
(Murphy et al. 1989b, Roucoux et al. 2005). Nas MPS estudadas, 49% relataram sinais
sugestivos de infecções sexualmente transmissíveis e 8,6% referiram presença de
ferida/úlcera na genitália nos últimos 12 meses.
No presente estudo, a maioria das mulheres (87,1%) referiu o uso de
preservativo com clientes pagantes nos últimos 30 dias, entretanto 36,3% deixaram de
usar com parceiros não pagantes. Uma investigação conduzida pelo Ministério da Saúde
em populações de risco, como MPS, afirma que o uso de preservativo nas relações
sexuais está diretamente relacionado ao tempo médio de escolaridade, ou seja, quanto
maior a escolaridade, maior será a frequência do uso de preservativo. Neste estudo, as
49
MPS de Goiânia-GO possuíam uma média de nove anos de estudo, e a maioria relatou o
uso frequente de preservativo. Contudo, deve-se ressaltar que pressões sofridas no
ambiente de trabalho como, concorrências entre colegas para a realização de programas
e condições de vida podem afetar a negociação do programa com o cliente,
comprometendo, assim, a regularidade do sexo seguro (Brasil 2004b).
O uso de drogas lícitas e ilícitas está diretamente relacionado ao cotidiano das
profissionais do sexo. A maioria usa drogas psicoativas como “instrumentos de
trabalho”, pois facilita a entrega do corpo como mercadoria, e o seu efeito
“tranquilizador/sedativo” minimiza as pressões emocionais e morais que a prostituição
proporciona (Nunes & Andrade 2009, Moura et al. 2010). Nesta investigação, 85,2%
das mulheres referiram a ingestão de bebida alcoólica nas quatro últimas semanas (dado
não apresentado). O efeito do álcool pode proporcionar um estado de despreocupação e,
consequentemente, diminui a capacidade de discernir situações de risco para a aquisição
e transmissão de doenças (Passos & Figueiredo 2004, Chiao et al. 2006, Correa et al.
2008, Samet et al. 2010, Silverman et al. 2011).
Interessante, o uso de drogas injetáveis parece infrequente na população de
MPS do Brasil (Trevisol & Silva 2005, Sousa 2007, Miranda 2008). De fato, nas
mulheres profissionais do sexo de Goiânia-GO, 34,1% relataram o uso de drogas
ilícitas, mas apenas 2,7% afirmaram o uso de drogas injetáveis nos últimos 12 meses, e
um estudo financiado pelo Ministério da Saúde revelou que a prevalência de MPS
usuárias de drogas injetáveis foi de 3,0% na região Sul, declinando para 0,5% na região
Sudeste (Brasil 2004b).
A transfusão de sangue, antes da implantação da triagem sorológica para antiHTLV nos bancos de sangue, era considerada uma via importante de infecção desse
agente viral (Catalan-Soares et al. 2003, Catalan-Soares et al. 2005, Moxoto et al.2005).
De fato no Japão, a taxa de soroconversão para HTLV antes da triagem era de 60%
(Okochi et al. 1984). Nesta investigação, história de hemotransfusão foi referida por
apenas 10,6% da população estudada, dado inferior ao reportado por Bautista et al.
(2009) em uma investigação conduzida na Argentina em MPS imigrantes e nativas
(22,2%).
O uso de tatuagem parece uma prática comum entre profissionais do sexo, que
por sua vez pode contribuir para aquisição de patógenos de transmissão parenteral como
50
HTLV, apesar de muitas investigações não evidenciarem essa associação (Sodré et al.
2010, Rafatpanah et al. 2011). Entretanto, Chen et al. (1994) relataram prevalência duas
vezes maior para infecção por esse vírus em usuários de drogas tatuados quando
comparados aos não tatuados (2,7% vs. 1,4%). Neste estudo, a presença de tatuagem
e/ou body piercing foi reportada por 58,3% das MPS, inclusive pela única profissional
do sexo infectada pelo HTLV-1.
No presente estudo a prevalência desta infecção em MPS de 0,2% (IC 95%: 0,01,6) foi concordante com as observadas em doadores de sangue da Região Centro-Oeste
(0,2% a 0,7%) (Catalan-Soares et al. 2005) e em gestantes em Goiás (0,1%; IC 95%:
0,1-0,2) e Mato Grosso do Sul (0,1%; IC 95%: 0,1-0,2) (Oliveira & Avelino 2006, Dal
Fabbro et al. 2008), como também a verificada em mulheres remanescentes de
quilombos no Brasil Central (0,7%; IC 95%: 0,3-1,4) (Nascimento et al. 2009).
Na Espanha, em investigação conduzida com esse grupo, a soroprevalência para
HTLV-1 foi semelhante (0,3%; IC 95%: 0,1-0,6) (Belza 2004). Enquanto taxas
superiores foram encontradas no Zaire (3,2%; IC 95%: 1,7-5,6 e 7,3%; IC 95%: 5,9-8,9)
(Wiktor et al. 1990, Delaporte et al. 1995), Japão (5,1%; IC 95%: 3,3-7,9) (Nakashima
et al. 1995) e Peru (21,8%; IC 95%: 1,2-25,9 e 3,8%; IC 95%: 1,5-8,4) (Wignall et al.
1992, Trujillo et al. 1999).
No Brasil, estudos de prevalência para HTLV-1 em MPS são raros. Uma
investigação conduzida nesse grupo em Santos-SP (2,8%; IC 95%: 1,7-4,4) (Bellei et al.
1996) mostrou uma taxa de soropositividade superior à encontrada em nossa região. No
entanto, dados semelhantes ao do presente foram encontrados em Fortaleza (1,2%; IC
95%: 0,5-2,7) (Broutet et al. 1996) e Pará (1,8%; IC 95%: 0,7-4,0) (Sousa 2007).
A análise filogenética do HTLV-1 identificou o subtipo Cosmopolita (HTLV-1a)
do subgrupo Transcontinental (A), resultado similar ao reportado em MPS imigrantes
na Espanha (Gutiérrez et al. 2004). No Brasil, este também foi o subtipo encontrado em
uma comunidade afro-brasileira no Brasil-Central e em mulheres coinfectadas com
HIV-1, em Feira de Santana-BA (De Almeida Rego et al. 2010, Martins et al. 2010).
Nosso resultado corrobora com estudos anteriores que demonstraram maior frequência
desse subtipo viral no Brasil (Segurado et al. 2002, Kashima et al. 2006, Santos et al.
2009).
51
Estudos têm mostrado que aspectos referentes ao comportamento sexual, como
sexo sem proteção, sexo pago, múltiplos parceiros e presença de DST têm sido
associados à soropositividade ao HTLV (Catalan-Soares et al. 2003, Belza 2004,
Moxoto et al. 2005, Roucoux et al. 2005). Na presente investigação, apenas uma mulher
foi DNA-HTLV positiva, tinha 28 anos de idade, baixa escolaridade, residia em
Goiânia-GO, não se prostituía em outra cidade e o local de trabalho era um bar. Ela era
solteira, bebia pelo menos três vezes por semana, relatou contato com oito clientes na
última semana de trabalho, afirmou o uso frequente de preservativos com clientes
pagantes e não pagantes, porém referiu corrimento nos últimos 12 meses, mas sem o
desenvolvimento de feridas/ulcerações na genitália. Além disso, relatou possuir
tatuagem e/ou body piercing.
A baixa prevalência da infecção pelo HTLV observada nas profissionais do sexo
em Goiânia-GO pode ser reflexo da baixa endemicidade do vírus em nossa região, além
de outros fatores como a triagem clínica epidemiológica e sorológica do anti-HTLV nos
bancos de sangue desde novembro de 1993 (Brasil 1993), a elevada frequência de uso
de preservativos com clientes e baixo consumo de drogas injetáveis.
Apesar da baixa circulação do HTLV em MPS em Goiânia-GO, estudos
epidemiológicos sobre essa infecção são importantes para reforçar a necessidade de
estratégias de prevenção baseadas na divulgação dos modos de transmissão e
acompanhamento do status sorológico dos infectados, principalmente mulheres,
minimizando, assim, a transmissão vertical e consequentemente à disseminação do
vírus.
52
6. CONCLUSÕES
A prevalência para HTLV-1 em mulheres profissionais do sexo em Goiânia-GO de
0,2% (IC 95%: 0,0-1,6), indica a baixa endemicidade para esta infecção na população
estudada;
Múltiplos parceiros, sintomas de DST, possuir tatuagem e/ou body piercing foram
características de risco para infecção pelo HTLV-1 relatadas pela MPS infectada;
Análise filogenética do HTLV-1 identificou o subtipo Cosmopolita (HTLV-1a),
subgrupo Transcontinental (A), corroborando com outros estudos realizados no Brasil,
comprovando a predominância deste na Região Centro-Oeste e no Brasil.
53
7. REFERÊNCIAS
Abbaszadegan MR, Gholamin M, Tabatabaee A, Farid R, Houshmand M,
Abbaszadegan M 2003. Prevalence of human T-lymphotropic virus type 1 among
blood donors from Mashhad, Iran. J Clin Microbiol 41(6): 2593-2595.
Albrecht B, Lairmore MD 2002. Critical role of human T-lymphotropic virus type 1
accessory proteins in viral replication and pathogenesis. Microbiol Mol Biol Rev
66(3): 396-406.
Alves C, Dourado L 2010. Endocrine and metabolic disorders in HTLV-1 infected
patients. Braz J Infect Dis 14(6): 613-620.
Amorin KMB, Oliveira J, Azevedo AF 2008. Knowledge and practices of women with
sex related professions about the prevention of the sexually transmitted diseases.
REEUNI 1(2): 2-17.
Andersson S, Dias F, Mendez PJ, Rodrigues A, Biberfeld G 1997. HTLV-I and -II
infections in a nationwide survey of pregnant women in Guinea-Bissau, West
Africa. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 15(4): 320-322.
Aquino PS, Nicolau AIO, Moura ERF, Pinheiro AKB 2008. Socio-demographic and
sexual behavior profile of prostitutes in Fortaleza – CE. Texto Contexto Enferm
17(3): 427-434.
Araújo AQC, Leite ACC, Lima MASD, Silva MTT 2009. HTLV-1 and neurological
conditions. Arq Neuropsiquiatr 67(1):132-138.
Azran I, Schavinsky-Khrapunsky Y, Aboud M 2004. Role of Tax protein in human Tcell leukemia virus type-I leukemogenicity. Retrovirology 1: 20.
Barcellos NT, Fuchs SC, Mondini LG, Murphy EL 2006. Human T lymphotropic virus
type I/II infection: prevalence and risk factors in individuals testing for HIV in
counseling centers from Southern Brazil. Sex Transm Dis 33(5): 302-306.
54
Barmak K, Harhaj E, Grant C, Alefantis T, Wigdahl B 2003. Human T cell leukemia
virus type I-induced disease: pathways to cancer and neurodegeneration. Virology
308: 1-12.
Bartoe JT, Albrecht B, Collins ND, Robek MD, Ratner L, Green PL, Laimore MD
2000. Functional role of pX open reading frame II of human T-lymphotropic virus
type 1 in maintenance of viral loads in vivo. J Virol 74(3): 1094-1100.
Bautista CT, Pando MA, Reynaga E, Marone R, Sateren WB, Montano SM, Sanchez
JL, Avila MM 2009. Sexual practices, drug use behaviors and prevalence of HIV,
Syphilis, Hepatitis B and C, and HTLV-1/2 in immigrant and non-immigrant
female sex workers in Argentina. J Immigr Minor Health 11(2):99-104.
Bellei NCJ, Granato CFH, Tomyiama H, Castelo A, Ferreira O 1996. HTLV infection
in a group of prostitutes and their male sexual clients in Brazil: seroprevalence and
risk factors. Trans R Soc Trop Med Hyq 90(2): 122-125.
Belza MJ 2004. Prevalence of HIV, HTLV-I and HTLV-II among female sex workers
in Spain, 2000 – 2001. Eur J Epidemiol 19(3): 279-282.
Berini CA, Pando MA, Bautista CT, Eirin ME, Martinez-Peralta L, Weissenbacher M,
Avila MM, Biglione MM 2007. HTLV-1/2 among high-risk groups in Argentina:
Molecular diagnosis and prevalence of different sexual transmitted infections. J
Med Virol 79(12): 1914-1920.
Berini CA, Susana Pascuccio M, Bautista CT, Gendler SA, Eirin ME, Rodriguez C,
Pando MA, Biglione MM 2008. Comparison of four commercial screening assays
for the diagnosis of human T-cell lymphotropic virus types 1 and 2. J Virol
Methods 147(2): 322-327.
Bittencourt AL, Sabino EC, Costa MC, Pedroso C, Moreira L 2002. No evidence of
vertical transmission of HTLV-I in bottle-fed children. Rev Inst Med Trop Sao
Paulo 44(2): 63-65.
Borducchi DMM, Kerbauy J, de Oliveira JSR 1999. Linfoma/Leucemia de células T do
adulto. Rev Assoc Med Bras 45(1): 63-70.
55
Boxus M, Twizere JC, Legros S, Dewulf JF, Kettmann R, Willems L 2008. The HTLVI tax interactome. Retrovirology 5: 76.
Boxus M, Willems L 2009. Mechanisms of HTLV-1 persistence and transformation. Br
J Cancer 101(9): 1497-1501.
Brand H, Alves JBG, Pedrosa F, Lucena-Silva N 2009. Leucemia de células T do
adulto. Rev. Bras. Hematol Hemoter 31(5): 375-383.
Brasil 1993. Ministério da Saúde. Portaria nº1376, de 19 de novembro de 1993.
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/1376-93.pdf>. Acesso
em: 02 de agosto de 2011.
Brasil 1996. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196/96 –
Normas regulamentadores de pesquisas envolvendo seres humanos, Brasília
(Brasil). Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm>.
Acesso em: 02 de agosto de 2011.
Brasil 1998. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids. HTLV-I/II - Triagem e diagnóstico sorológico em unidades
hemoterápicas e laboratórios de saúde pública. Brasília-DF 54 p. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd08_08.pdf>. Acesso em: 11 de
fevereiro de 2011.
Brasil 2002. Ministério do Trabalho e Emprego 2002. Portaria nº. 397. Classificação
Brasileira de Ocupações. Brasília-DF.
Brasil 2004a. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa
Nacional de DST e Aids. Guia do manejo clínico do HTLV. Brasília-DF 54p.
Brasil 2004b. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa
Nacional de DST e Aids. Série Estudos Pesquisas e Avaliação. Avaliação da
efetividade das ações de prevenção dirigidas às profissionais do sexo, em três
regiões brasileiras. Brasília-DF 103p.
Broder S, Gallo RC 1985. Human T-cell leukemia viruses (HTLV): A unique family of
pathogenic retroviruses. Annu Rev Immunol 3: 321-336.
56
Brodine SK, Kaime EM, Roberts C, Turnicky RP, Lal RB 1993. Simultaneous
confirmation and differentiation of human T-lymphotropic virus types I and II
infection by modified western blot containing recombinant envelope glycoproteins.
Transfusion 33(11): 925-929.
Broutet N, de Queiroz Sousa A, Basílio FP, Sá HL, Simon F, Dabis F 1996. Prevalence
of HIV-1, HIV-2 and HTLV antibody, in Fortaleza, Ceara, Brazil, 1993-1994. Int J
STD AIDS 7(5): 365-369.
Calattini S, Chevalier SA, Duprez R, Bassot S, Froment A, Mahieux R, Gessain A
2005. Discovery of a new human T-cell lymphotropic virus (HTLV-3) in Central
Africa. Retrovirology 2:30.
Carneiro-Proietti AB, Sabino E, Leão S, Salles N, Loureiro P, Sarr M, Wright D, Busch
M, Proietti FA, Murphy E 2012. HTLV-1 and -2 seroprevalence, incidence and
residual transfusion risk among blood donors in Brazil during 2007-2009. AIDS
Res Hum Retroviruses.
Carneiro-Proietti ABF, Catalan-Soares BC, Castro-Costa CM, Murphy EL, Sabino EC,
Hisada M, Galvão-Castro B, Alcantara LCJ, Remondegui C, Verdonck K, Proietti
FA 2006. HTLV in the Americas: challenges and perspectives. Rev Panam Salud
Publica 19(1): 44-53.
Carneiro-Proietti ABF, Ribas JGR, Catalan-Soares BC, Martins ML, Brito-Melo GEA,
Martins-Filho OA, Pinheiro SR, Araújo AQC, Galvão-Castro B, Oliveira MSP,
Guedes AC, Proietti FA 2002. Infecção e doença pelos vírus linfotrópicos humanos
de células T (HTLV- I/II) no Brasil. Rev Soc Bras Med Trop 35(5): 499-508.
Carvalho MMN, Novaes AE, Carvalho EM, Araújo MI 2006. Doenças reumáticas autoimunes em indivíduos infectados pelo HTLV-1. Rev Bras Reumatol 46(5): 334339.
Cassar O, Capuano C, Meertens L, Chungue E, Gessain A 2005. Human T-cell
leukemia virus type 1 molecular variants, Vanuatu, Melanesia. Emerq Infect Dis
11(5): 706-710.
57
Castro NM, Rodrigues Jr. W, Muniz A, Luz GO, Porto AM, Machado A, Carvalho EM
2002. Bexiga neurogênica como primeira manifestação de infecção pelo HTLV-I. J
Bras Doenças Sex Transm 14(5): 32-34.
Catalan-Soares B, Carneiro-Proietti AB, Proietti FA 2003. HTLV-I/II and blood donors:
determinants associated eith seropositivity in a low risk population. Rev Saude
Publica 37(4): 470-476.
Catalan-Soares B, Carneiro-Proietti ABF, Proietti FA 2005. Heterogeneous geographic
distribution of human T-cell lymphotropic viruses I and II (HTLV-I/II): serological
screening prevalence rates in blood donors from large urban areas in Brazil. Cad
Saude Publica 21(3): 926-931.
Catalan-Soares BC, Proietti FA, Carneiro-Proietti ABF 2001. Os vírus linfotrópicos de
células
T
humanos
(HTLV)
na
última
década
(1990-2000)
Aspectos
epidemiológicos. Rev Bras Epidemiol 4(2): 81-95.
Caterino-de-Araujo A, Santos-Fortuna E, Magri MC, Schuelter-Trevisol F, Silva MV
2006. Letter to the editor, Unpredicted HTLV-1 infection in female sex worker
from Imbituba, Santa Catarina, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 48(4): 237238.
Champs APS, Passos VMA, Barreto SM, Vaz LS, Ribas JGR 2010. Mielopatia
associada ao HTLV-1: análise clínico-epidemiológica em uma série de casos de 10
anos. Rev Soc Bras Med Trop 43(6): 668-672.
Chen CJ, Hsieh SF, Yang CS 1994. Seroepidemiology of human T-lymphotropic virus
type I infection among intravenous drug abusers in Taiwan. J Med Virol 42(3): 264267.
Chen YM, Yu PS, Lin CC, Jen I 1998. Surveys of HIV-1, HTLV-I, and other sexually
transmitted diseases in female sex workers in Taipei city, Taiwan, from 1993 to
1996. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 18(3): 299-303.
Chiao C, Morisky DE, Rosenberg R, Ksobiech K, Malow R 2006. The relationship
between HIV/Sexually transmitted infection risk and alcohol use during
58
commercial sex episodes: results from the study of female commercial sex workers
in the Philippines. Subst Use Misuse 41(10-12): 1509-1533.
Ciminale V, Pavlakis GN, Derse D, Cunningham CP, Felber BK 1992. Complex
splicing in the human T-cell leukemia virus (HTLV) family of retroviruses: novel
mRNAs and proteins produced by HTLV type I. J Virol 66(3): 1737-1745.
Código Penal Brasileiro 1940. Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual. Do Lenocínio e
do Tráfico de Pessoa para Fim de Prostituição ou Outra Forma de Exploração
Sexual. Disponível em:
<http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp227a232.htm>.
Acesso
em: 26 de julho de 2011.
Correa NAB, Matumoto FH, Lonardoni MVC 2008. Doenças sexualmente
transmissíveis em mulheres profissionais do sexo, Umuarama, Estado do Paraná.
RBAC 40(3): 209-213.
Cortes E, Detels R, Aboulafia D, Li XL, Moudgil T, Alam M, Bonecker C, Gonzaga A,
Oyafuso L, Tondo M 1989. HIV-1, HIV-2, and HTLV-I infection in high-risk
groups in Brazil. N Engl J Med 320(15): 953-958.
Costa EAS, Magri MC, Caterino-de-Araújo A 2011. The best algorithm to confirm the
diagnosis of HTLV-1 and HTLV-2 in at-risk individuals from São Paulo, Brazil. J
Virol Methods 173(2): 280-286.
Cruz BA, Catalan-Soares B, Proietti F 2005. Manifestações reumáticas associadas ao
vírus linfotrópico humano de células T do tipo I (HTLV-I). Rev Bras Reumatol
45(2): 71-77.
Dada AJ, Oyewole F, Onofowokan R, Nasidi A, Harris B, Levin A, Diamondstone L,
Quinn TC, Blattner WA 1993. Demographic characteristics of retroviral infections
(HIV-1, HIV-2, and HTLV-I). J Acquir Immune Defic Syndr 6(12): 1358-1363.
Dal Fabbro MMFJ, Cunha RV, Boia MN, Portela P, Botelho CA, Freitas GMB, Soares
J, Ferri J, Lupion J 2008. Infecção pelo HTLV 1/2: atuação no pré-natal como
59
estratégia de controle da doença no Estado de Mato Grosso do Sul. Rev Soc Bras
Med Trop 41(2): 148-151.
Damacena GN, Szwarcwald CL, Júnior AB 2011a. Implementation of respondentdriven sampling among female sex workers in Brazil, 2009. Cad Saude Publica
27(suppl 1): S45-S55.
Damacena GN, Szwarcwald CL, Júnior PRBS, Dourado I 2011b. Risk factors
associated with HIV prevalence among female sex workers in 10 brazilian cities. J
Acquir Immune Defic Syndr 57(suppl 3): S144-S152.
De Almeida Rego FF, Mota-Miranda A, de Souza Santos E, Galvão-Castro B,
Alcantara LC 2010. Seroprevalence and molecular epidemiology of HTLV-1
isolates from HIV-1 co-infected women in Feira de Santana, Bahia, Brazil. AIDS
Res Hum Retroviruses 26(12): 1333-1339.
De Queiroz AT, Mota-Miranda AC, de Oliveira T, Moreau DR, Urpia Cde C, Carvalho
CM, Galvão-Castro B, Alcantara LC 2007. Re-mapping the molecular features of
the human immunodeficiency vírus type 1 and human T-cell lymphotropic vírus
type 1 Brazilian sequences using a bioinformatics unit establishedin Salvador,
Bahia, Brazil, to give support to the viral epidemiology studies. Mem Inst Oswaldo
Cruz 102(2): 133-139.
Delamarre L, Rosenberg AR, Pique C, Pham D, Callebaut I, Dokhélar MC 1996. The
HTLV-I envelope glycoproteins: structure and functions. J Acquir Immune Defic
Syndr Hum Retrovirol 13(Suppl1): S85-S91.
Delaporte E, Buve A, Nzila N, Geoman J, Dazza MC, Henzel HW, St-Louis M, Piot P,
Laga M 1995. HTLV-I infection among prostitutes and pregnant women in
Kinshasa, Zaire: how important is high-risk sexual behavior? J Acquir Immune
Defic Syndr Hum Retrovirol, 8(5): 511-515.
Dourado I, Alcantara LCJ, Marreto ML, Teixeira MG, Galvão-Castro B 2003. HTLV- I
in the General Population of Salvador, Brazil: a city with African ethnic and
sociodemographic characteristics. J Acquir Immune Defic Syndr 34(5): 527-531.
60
Dourado I, Andrade T, Carpenter CL, Galvão-Castro B 1999. Risk Factors for Human T
Cell Lymphotropic Virus Type I among Injecting Drug Users in Northeast Brazil:
Possibly Greater Efficiency of Male to Female Transmission. Mem Inst Oswaldo
Cruz 94(1): 13-18.
Dumas M, Houinato D, Verdier M, Zohoun T, Josse R, Bonis J, Zohoun I,
Massougbodji A, Denis F 1991. Seroepidemiology of human T-cell lymphotropic
vírus I/II in Benin (West Africa). AIDS Res Hum Retroviruses 7(5): 447-451.
Edlich RF, Arnette JA, Williams FM 2000. Global epidemic of human T-cell
lymphotropic virus type-I (HTLV-I). J Emerq Med 18(1): 109-119.
Edwards D, Fenizia C, Gold H, de Castro-Amarante MF, Buchmann C, Pise-Masison
CA, Franchini G 2011. Orf-I and orf-II-encoded proteins in HTLV-1 infection and
persistence. Viruses 3(6): 861-885.
Esposito APG, Kahhale EMP 2006. Profissionais do sexo: sentidos produzidos no
cotidiano de trabalho e aspectos relacionados ao HIV. Psicologia: Reflexão e
Crítica 19(2): 329-339.
Etzel A, Shibata GY, Rozman M, Jorge MLSG, Damas CD, Segurado AAC 2001.
HTLV-1 and HTLV-2 infections in HIV-infected individuals from Santos, Brazil:
seroprevalence and risk factors. J Acquir Immune Defic Syndr 26(2): 185-190.
Family Health International 2000. Behavioral Surveillance Surveys: Guidelines for
Repeated Behavioral Surveys in Populations at Risk of HIV. Arlington, Virginia:
Family Health International. 350p.
Fernandes AMS, Antônio DG, Bahamondes LG, Cupertino CV 2000. Conhecimento,
atitudes e práticas de mulheres brasileiras atendidas pela rede básica de saúde com
relação às doenças de transmissão sexual. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro
16(Sup. 1): 103-112.
Feuer G, Green PL 2005. Comparative biology of human T-cell lymphotropic virus type
1 (HTLV-1) and HTLV-2. Oncogene 24(39): 5996-6004.
61
Figueiró-Filho EA, Lopes AHA, Senefonte FRA, Júnior VGS, Botelho CA, Duarte G
2005. Infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas e transmissão vertical
em gestantes de estado da Região Centro-Oeste do Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet
27(12): 719-725.
Figueiró-Filho EA, Senefonte FRA, Lopes AHA, Morais OO, Júnior VGS, Maia TL,
Duarte G 2007. Frequência das infecções pelo HIV-1, rubéola, sífilis,
toxoplasmose, citomegalovírus, herpes simples, hepatite B, hepatite C, doença de
Chagas e HTLV I/II em gestantes, do Estado de Mato Grosso do Sul. Rev Soc Bras
Med Trop 40(2): 181-187.
Figueroa JP, Ward E, Morris J, Brathwaite AR, Peruga A, Blattner W, Vermund SH,
Hayes R 1997. Incidence of HIV and HTLV-1 infection among sexually
transmitted disease clinic attenders in Jamaica. J Acquir Immune Defic Syndr Hum
Retrovirol 15(3): 232-237.
Forbi JC, Odetunde AB 2007. Human T-cell lymphotropic virus in a population of
pregnant women and commercial sex workers in South Western Nigeria. Afr Health
Sci 7(3):129-132.
Franchini 1995. Molecular mechanisms of human T-cell leukemia/lymphotropic virus
type I infection. Blood 86(10): 3619-3639.
Fujino T, Nagata Y 2000. HTLV-I transmission from mother to child. J Reprod
Immunol 47(2): 197-206.
Fujiyama C, Fujiyoshi T, Matsumoto D, Tamashiro H, Sonoda S 1995. Evaluation of
commercial HTLV-1 test kits by a standard HTLV-1 serum panel. Bull World
Health Organ 73(4): 515-521.
Furnia A, Lal R, Maloney E, Wiktor S, Pate E, Rudolph D, Waters D, Blattner W,
Manns A 1999. Estimating the time of HTLV-I infection following mother-to-child
transmission in a breast-feeding population in Jamaica. J Med Virol 59(4): 541-546.
Galvão-Castro B, Alcântara LCJ, Grassi MFR, Mota-Miranda ACA, Queiroz ATL,
Rego FFA, Mota ACA, Pereira AS, Magalhães T, Tavares-Neto J, Gonçalves MS,
62
Dourado I 2009. Epidemiologia e origem do HTLV-1 em Salvador Estado da
Bahia: A cidade com a mais elevada prevalência desta infecção no Brasil. Gaz Med
Bahia 79 (1): 3-10.
Gaudray G, Gachon F, Basbous J, Biard-Piechaczyk M, Devaux C, Mesnard JM 2002.
The complementary strand of the human T-cell leukemia vírus type 1 RNA genome
encodes a bZIP transcription factor that down-regulates viral transcription. J Virol
76(24): 12813-12822.
Gessain A 2004. Human retroviruses HTLV-1 and HTLV-2. EMC-Maladies
Infectieuses 1: 203-220.
Gessain A, Barin F, Vernant JC, Gout O, Maurs L, Calender A, de The G 1985.
Antibodies to human T-lymphotropic virus type-I in patients with tropical spastic
paraparesis. Lancet 2(8452): 407-410.
Gessain A, Boeri E, Yanagihara R, Gallo RC, Franchini G 1993. Complete nucleotide
sequence of a highly divergent human T-cell leukemia (lymphotropic) virus type I
(HTLV-I) variant from melanesia: genetic and phylogenetic relationship to HTLV-I
strains from other geographical regions. J Virol 67(2): 1015-1023.
Gessain A, Gallo RC, Franchini G 1992. Low degree of human T-cell
Leukemia/Lymphoma Virus Type I genetic drift in vivo as a means of monitoring
viral transmission and movement of ancient human populations. J Virol 66(4):
2288-2295.
Gessain A, Gout O 1992. Chronic myelopathy associated with human T-lymphotropic
virus type I (HTLV-I). Ann Intern Med 117(11): 933-946.
Giuliani M, Rezza G, Lepri AC, Carlo AD, Maini A, Crescimbeni E, Palamara G,
Prignano G, Caprilli F 2000. Risk factors for HTLV-I and II in individuals
Attending a Clinic for Sexually Transmitted Diseases. Sex Transm Dis27(2): 87-92.
Goel S, Salganik MJ 2010. Assessing respondent-driven sampling. Proc Natl Acad Sci
U S A 107(15): 6743-6747.
63
Goff SP 2001. The retroviruses and their replication. In Fields et al. Fields Virology 3th
Philadelphia: Raven Publyhers, 1054-1112.
Gonçalves DU, Proietti FA, Ribas JGR, Araújo MG, Pinheiro SR, Guedes AC,
Carneiro-Proietti ABF 2010. Epidemiology, treatment, and prevention of human Tcell leukemia vírus type 1 – Associated diseases. Clin Microbiol Rev 23(3): 577589.
Gotuzzo E, Cabrera J, Deza L, Verdonck K, Vandamme AM, Cairampoma R, Vizcarra
D, Cabada M, Narvarte G, De Las Casas C 2004. Clinical characteristics of patients
in Peru with human T cell lymphotropic virus type 1- associated tropical spastic
paraparesis. Clin Infect Dis 39(7): 939-944.
Grange MP, Rosenberg AR, Horal P, Desgranges C 1998. Identification of exposed
epitopes on the envelope glycoproteins of human T-cell lymphotropic virus type I
(HTLV-I). Int J Cancer 75(5): 804-813.
Grigsby IF, Zhang W, Johnson JL, Fogarty KH, Chen Y, Rawson JM, Crosby AJ,
Mueller JD, Mansky LM 2010. Biophysical analysis of HTLV-1 particles reveals
novel insights into particle morphology and gag stochiometry. Retrovirology 7: 75.
Guimarães K, Merchán-Hamann E 2005. Comercializando fantasias: a representação
social da prostituição, dilemas da profissão e a construção da cidadania. Rev Estud
Fem 13(3): 525-544.
Guimarães ML, Bastos FI, Telles PR, Galvão-Castro B, Diaz RS, Bongertz V, Morgado
MG 2001. Retrovirus infections in a sample of injecting drug users in Rio de
Janeiro city, Brazil: prevalence of HIV-1 subtypes, and co-infection with HTLVI/II. J Clin Virol 21(2): 143-151.
Gutiérrez M, Tajada P, Alvarez A, Julián RD, Baquero M, Soriano V, Holguín A 2004.
Prevalence of HIV-1 non-B subtypes, Syphilis, HTLV, and Hepatitis B and C
viruses among immigrant sex workers in Madrid, Spain. J Med Virol 74(4):521 –
527.
64
Hamaia S, Cassé H, Gazzolo L, Dodon MD 1997. The human T-cell leukemia virus
type 1 rex regulatory protein exhibits an impaired functionality in human
lymphoblastoid jurkat T cells. J Virol 71(11): 8514-8521.
Hattori S, Kiyokawa T, Imagawa K, Shimizu F, Hashimura E, Seiki M, Yoshida M
1984. Identification of gag and env gene products of human T-cell leukemia virus
(HTLV). Virology 136(2): 338-347.
Heckathorn DD 1997. Respondent-Driven Sampling: A new approach to the study of
hidden populations. Social Problems 44(2): 174-199.
Heckathorn DD 2002. Respondent-Driven Sampling II: Deriving valid population
estimates from chain-referral samples of hidden populations. Social Problems
49(1): 11-34.
Hino S, Katamine S, Miyamoto T, Doi H, Tsuji Y, Yamabe T, Kaplan JE, Rudolph DL,
Lal RB 1995. Association between maternal antibodies to the external envelope
glycoprotein and vertical transmission of human T-lymphotropic virus type I.
Maternal anti-env antibodies correlate with protection in non-breast-fed children. J
Clin Invest 95(6): 2920-2925.
Hirata M, Hayashi J, Noguchi A, Nakashima K, Kajiyama W, Kashiwagi S, Sawada T
1992. The effects of breastfeeding and presence of antibody to p40 tax protein of
human T-cell lymphotropic virus type I on mother to child transmission. Int J
Epidemiol 21(5): 989-994.
Hyams KC, Phillips IA, Tejada A, Wignall FS Roberts CR, Escamilla J 1993. Threeyear incidence study of retroviral and viral hepatitis transmission in a Peruvian
prostitute population. J Acquir Immune Defic Syndr 6(12): 1353-1357.
IBGE; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) – Síntese de indicadores 2009. Brasília (Brasil):
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, 317p.
Ibrahim F, de Thé G, Gessain A 1995. Isolation and characterization of a new simian Tcell leukemia virus type 1 from naturally infected Celebes macaques (Macaca
65
tonkeana): complete nucleotide sequence and phylogenetic relationship with the
autralo-melanesian human T-cell leukemia virus type 1. J Virol 69(11): 6980-6993.
ICTV 2009. HTLV in International Committee on Taxonomy of Viruses. Disponível
em: <http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2009>. Acesso em:
16 de fevereiro de 2011.
Ijichi S, Osame M 1995. Human T lymphotropic virus type I (HTLV-I)-associated
myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP): recent perspectives. Intern
Med 34(8): 713-721.
Inciardi JA, Surratt HL, Kurtz SP 2006. HIV, HBV, and VHC infections among druginvolved, inner-city, street sex workers in Miami, Florida. AIDS Behav 10(2): 139147.
Jacob F, Magri MC, Costa EAS, Santos-Fortuna E, Caterino-de-Araújo A 2009.
Comparison of signal-to-cutoff values in first, second, and third generation enzyme
immunoassays for the diagnosis of HTLV-1/2 infection in “at-risk” individuals
from São Paulo, Brazil. J Virol Methods 159(2): 288-290.
Jacob F, Santos-Fortuna E, Azevedo RS, Caterino-de-Araújo A 2008. Serological
patterns and temporal trends of HTLV-1/2 infection in high-risk populations
attending public health units in São Paulo, Brazil. J Clin Virol 42(2): 149-155.
Jacob F, Santos-Fortuna Ede L, Azevedo RS, Caterino-de-Araújo A 2007.
Performances of HTLV serological tests in diagnosingHTLV infection in high-risk
population of São Paulo, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 49(6): 361-364.
Johnson JM, Harrod R, Franchini G 2001. Molecular biology and pathogenesis of the
human T-cell leukaemia/lymphotropic virus Type-1 (HTLV-1). Int J Exp Pathol
82(3): 135-147.
Júnior AB 2008. Desafios para o monitoramento da epidemia de HIV/aids entre os
grupos populacionais sob maior risco no Brasil. 101p. Tese. Rio de Janeiro: Escola
Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz.
66
Júnior AB, Pascom ARP, Szwarcwald CL, Kendall C, McFarland W 2011. Transfer of
sampling methods for studies on most-at-risk populations (MARPs) in Brazil. Cad
Saúde Pública 27 (Sup 1): S36-S44.
Kajiyama W, Kashiwagi S, Ikematsu H, Hayashi J, Nomura H, Okochi K 1986.
Intrafamilial transmission of adult T cell leukemia virus. J Infect Dis 154(5): 851857.
Kalyanaraman VS, Sarngadharan MG, Robert-Guroff M, Miyoshi I, Golde D, Gallo RC
1982. A new subtype of human T-cell leukemia virus (HTLV-II) associated with a
T-cell variant of hairy cell leukemia. Science 218(4572): 571-573.
Kamihira S, Nakasima S, Oyakawa Y, Moriuti Y, Ichimaru M, Okuda H, Kanamura M,
Oota T 1987. Transmission of human T-cell lymphotropic virus type I by blood
transfusion before and after mass screening of sero from seropositive donors. Vox
Sang 52(1-2): 43-44.
Kannian P, Green PL 2010. Human T lymphotropic virus type 1 (HTLV-1): Molecular
biology and oncogenesis. Viruses 2(9): 2037-2077.
Kaplan JE, Khabbaz RF, Murphy EL, Hermansen S, Roberts C, Lal R, Heneine W,
Wright D, Matijas L, Thomson R and others 1996. Male-to-female transmission of
human T-cell lymphotropic virus types I and II: association with viral load. The
Retrovirus Epidemiology Donor Study Group. J Acquir Immune Defic Syndr Hum
Retrovirol 12(2): 193-201.
Karopoulos A, Silvester C, Dax EM 1993. A comparison of the performance of nine
commercially available anti-HTLV-I screening assays. J Virol Methods 45(1): 8391.
Kashima S, Alcantara LC, Takayanagui OM, Cunha MA, Castro BG, Pombo-deOliveira MS, Zago MA, Covas DT 2006. Distribution of human T cell
lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) subtypes in Brazil: genetic characterization of
LTR and tax region. AIDS Res Hum Retroviruses 22(10):953-9.
67
Kashiwagi K, Furosyo N, Nakashima H, Kubo N, Kinukawa N, Kashiwagi S, Hayashi J
2004. A decrease in mother-to-child transmission of human T lymphotropic vírus
type I (HTLV-I) in Okinawa, Japan. Am J Trop Med Hyq 70(2): 158-163.
Kazanji M, Heraud JM, Merien F, Pique C, de The G, Gessain A, Jacobson S 2006.
Chimeric peptide vaccine composed of B- and T-cell epitopes of human T-cell
leukemia virus type 1 induces humoral and cellular immune responses and reduces
the proviral load in immunized squirrel monkeys (Saimiri sciureus). J Gen Virol
87(Pt 5): 1331-1337.
Kesic M, Doueiri R, Ward M, Semmes OJ, Green PL 2009. Phosphorylation regulates
human T-cell leukemia virus type I rex function. Retrovirology 6: 105.
Khabbaz RF, Onorato IM, Cannon RO, Hartley TM, Roberts B, Hosein B, Kaplan JE
1992. Seroprevalence of HTLV-I and HTLV-II among intravenous drug users and
person in clinics for sexually transmitted diseases. N Engl J Med 326(6): 375-380.
Komurian F, Pelloquin F, De Thé G 1991. In vivo genomic variability of human T-cell
leukemia virus type I depends more upon geography than upon pathologies. J Virol
65(7): 3770-3778.
Komurian-Pradel F, Pelloquin F, Sonoda S, Osame M, de The G 1992. Geographical
subtypes demonstrated by RFLP following PCR in the LTR region of HTLV-I.
AIDS Res Hum Retroviruses 8(4):429-434.
Lairmore MD, Anupam R, Bowden N, Haines R, Haynes II RAH, Ratner L, Green PL
2011. Molecular determinants of human T-lymphotropic virus type 1 transmission
and spread. Viruses 3(7): 1131-1165.
Lal RB, Brodine S, Kazura J, Mbidde-Katonga E, Yanagihara R, Roberts C 1992.
Sensitivity and specificity of a recombinant transmembrane glycoprotein (rgp2l)spiked western immunoblot for serological confirmation of human T-cell
lymphotropic virus type I and type II infections. J Clin Microbiol 30(2): 296-299.
Lee HH, Weiss SH, Brown LS, Mildvan D, Shorty V, Saravolatz L, Chu A, Ginzburg
HM, Markowitz N, Des Jarlais DC and others 1990. Patterns of HIV-1 and HTLV-
68
I/II in intravenous drug abusers from the middle atlantic and central regions of the
USA. J Infect Dis 162(2): 347-352.
Lemey P, Pybus OG, Van Dooren S, Vandamme AM 2005. A Bayesian statistical
analysis of human T-cell lymphotropic virus evolutionary rates. Infect Genet Evol
5(3): 291-298.
Levin MC, Jacobson S 1997. HTLV-I associated myelopathy/tropical spastic
paraparesis (HAM/TSP): a chronic progressive neurologic disease associated with
immunologically mediated damage to the central nervous system. J Neurovirol
3(2): 126-140.
Lima A, Silva J. 2008 Dinâmicas territoriais urbanas: a articulação do turismo e as
profissionais do sexo em Goiânia – Goiás – Brasil. Dinâmica Urbana. Disponível
em: http://egal2009.easyplanners.info/area05/5823_Lima_Adriana.pdf. Acesso em:
20 de janeiro de 2012.
Lima MA, Bica RB, Araujo AQ 2005. Gender influence on the progression of HTLV-I
associated myelopathy/tropical spastic paraparesis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
76(2):294-296.
Lima TVR 2006. Caracterização sorológica e detecção molecular do HTLV em
amostras de pacientes com distúrbios nuerológicos no Estado do Pará (1996-2005).
Dissertação de Mestrado 104p.
Liu HF, Goubau P, Van Brussel M, Van Laethem K, Chen YC, Desmyter J, Vandamme
AM 1996. The three human T-lymphotropic virus type I subtypes arose from three
geographically distinct simian reservoirs. J Gen Virol 77(Pt2): 359-368.
Liu HF, Vandamme AM, Kazadi K, Carton H, Desmyter J, Goubau P 1994. Familial
transmission and minimal sequence variability of human T-lymphotropic virus type
I (HTLV-I) in Zaire. AIDS Res Hum Retroviruses 10(9):1135-1142.
Lopes MSSN, Proietti ABFC 2008. HTLV-1/2 transfusional e hemovigilância: a
contribuição dos estudos de look-back. Rev Bras Hematol Hemoter 30(3):229-240.
69
Lutnick A, Cohan D 2009. Criminalization, legalization or decriminalization of sex
work: what female sex workers say in San Francisco, USA. Reprod Health Matters
17(34): 38-46.
MacNamara A, Rowan A, Hilburn S, Kadolsky U, Fujiwara H, Suemori K, Yasukawa
M, Taylor G, Banqham CR, Asquith B 2010. HLA class I binding of HBZ
determines outcome in HTLV-1 infection. PLoS Pathoq 6(9): e1001117.
Mahieux R, Gessain A 2009. The human HTLV-3 and HTLV-4 retroviruses: New
members of the HTLV family. Pathol Biol (Paris) 57(2): 161-166.
Mahieux R, Gessain A 2011. HTLV-3/STLV-3 and HTLV-4 viruses: discovery,
epidemiology, serology and molecular aspects. Viruses 3(7): 1074-1090.
Mahieux R, Ibrahim F, Mauclere P, Herve V, Michel P, Tekaia F, Chappey C, Garin B,
Van Der Ryst E, Guillemain B, Ledru E, Delaporte E, De The G, Gessain A 1997.
Molecular epidemiology of 58 new African human T-cell leukemia virus type 1
(HTLV-1) strains: identification of a new and distinct HTLV-1 molecular subtype
in Central Africa and in Pygmies. J Virol 71(2): 1317-1333.
Manel N, Kinet S, Kim FJ, Taylor N, Sitbon M, Battini JL 2004. GLUT-1 is the
receptor of retrovirus HTLV. Med Sci (Paris) 20(3): 277-279.
Manel N, Battini JL, Taylor N, Sitbon M 2005. HTLV-1 tropism and envelope receptor.
Oncogene 24 (39): 6016-6025.
Marsh PJ 1996. Infectious complications of human T cell leukemia/lymphoma virus
type I infection. Clin Infect Dis 23(1): 138-145.
Martins JV, Baptista AF, Araújo AD 2012. Quality of life in patients with HTLV-1
associated myelophaty/tropical spastic paraparesis. Arq Neuropsiquiatr pii: S0004282X2012005000006.
Martins RM, do Nascimento LB, Carneiro MA, Teles SA, Lopes CL, Motta-Castro AR,
Otsuki K, Vicente AC 2010. HTLV-1 intrafamilial transmission through three
generations in an isolated Afro-Brazilian community. J Clin Virol 48(2): 155-157.
70
Matsuoka M, Green PL 2009. The HBZ gene, a key player in HTLV-1 pathogenesis.
Retrovirology 6: 71.
Mauclere P, Mahieux R, Garcia-Calleja JM, Salla R, Tekaïa F, Millan J, De Thé G,
Gessain A 1995. A new HTLV type II subtype A isolate in na HIV type 1-infected
prostitue from Cameroon, Central Africa. AIDS Res Hum Retroviruses 11(8): 989993.
Mazurov D, Heidecker G, Derse D 2006. HTLV-1 gag protein associates with CD82
tetraspanin microdomains at the plasma membrane. Virology 346(1): 194-204.
Miranda 2008. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B e vírus da hepatite
C em mulheres profissionais do sexo em Augusto Corrêa, Barcarena, Belém e
Bragança - Pará, Brasil. 125p. Dissertação (Mestrado em Biologia de agentes
infecciosos e parasitários) - Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal
do Pará.
Miura T, Fukunaga T, Igarashi T, Yamashita M, Ido E, Funahashi SI, Ishida T, Washio
K, Ueda S, Hashimoto KI, Yoshida M, Osame M, Singhal BS, Zaninovic V, Cartier
L, Sonoda S, Tajima K, Ina Y, Gojobori T, Hayami M 1994. Phylogenetic subtypes
of human T-lymphotropic virus type I and their relations to the anthropological
background. Proc Natl Acad Sci USA 91: 1124-1127.
Montanheiro PA, Penalva de Oliveira AC, Posada-Vergara MP, Milagres AC, Tauil C,
Marchiori PE, Duarte AJS, Casseb J 2005. Human T-cell lymphotropic virus type I
(HTLV-I) proviral DNA viral load among asymptomatic patients and patients with
HTLV-I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis. Braz J Med Biol Res
38: 1643-1647.
Moriuchi M, Moriuchi H 2004. Seminal fluid enhances replication of human T-cell
leukemia virus type 1: implications for sexual transmission. J Virol 78(22): 1270912711.
Mota ACA, Van Dooren S, Fernandes FMC, Pereira AS, Queiroz ATL, Gallazzi VO,
Vandamme AM, Galvão-Castro B, Alcantara LCJ 2007. The close relationship
between South African and Latin American HTLV type 1 strains corroborated in a
71
molecular epidemiological study of the HTLV type 1 isolates from a blood donor
cohort. AIDS Res Hum Retroviruses 23(4): 503-507.
Moura ADA, Oliveira RMS, Lima GG, Farias LM, Feitoza AR 2010. O comportamento
de prostitutas em tempos de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis:
como estão se prevenindo? Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 19(3): 545-553.
Moxoto I, Boa-Sorte N, Nunes C, Mota A, Dumas A, Dourado I, Galvao-Castro B
2007. [Sociodemographic, epidemiological and behavioral profile of women
infected with HTLV-1 in Salvador, Bahia, an endemic area for HTLV]. Rev Soc
Bras Med Trop 40(1): 37-41.
Mueller N, Okayama A, Stuver S, Tachibana N 1996. Findings from the Miyazaki
Cohort Study. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 13 Suppl 1: S2-7.
Murata K, Hayashibara T, Sugahara K, Uemura A, Yamaguchi T, Harasawa H,
Hasegawa H, Tsuruda K, Okazaki T, Koji T, Miyanishi T, Yamada Y, Kamihira S
2006. A novel alternative splicing isoform of human T-cell leukemia virus type 1
bZIP factor (HBZ-SI) targets distinct subnuclear localization. J Virol 80(5): 24952505.
Murphy EL, Figueroa JP, Gibbs WN, Brathwaite A, Holding-Cobham M, Waters D,
Cranston B, Hanchard B, Blattner WA 1989a. Sexual transmission of human Tlymphotropic virus type I (HTLV-I). Ann Intern Med 111(7): 555-560.
Murphy EL, Hanchard B, Figueroa JP, Gibbs WN, Lofters WS, Campbell M, Goedert
JJ, Blattner WA 1989b. Modelling the risk of adult T-cell leukemia/lymphoma in
persons infected with human T-lymphotropic virus type I. Int J Cancer 43(2): 250253.
Mylonas I, Brüning A, Kainer F, Friese K 2010. HTLV infection and its implication in
gynaecology and obstetrics. Arch Gynecol Obstet 282(5): 493-501.
Nakano S, Ando Y, Ichijo M, Moriyama I, Saito S, Sugamura K, Hinuma Y 1984.
Search for possible routes of vertical and horizontal transmission of adult T-cell
leukemia virus. Gann 75(12): 1044-1045.
72
Nakashima K, Kashiwagi S, Kajiyama W, Hirata M, Hayashi J, Noguchi A, Urabe K,
Minami K, Maeda Y 1995. Sexual transmission of human T-lymphotropic virus
type I among female prostitutes and among patients with sexually transmitted
diseases in Fukuoka, Kyushu, Japan. Am J Epidemiol 141(4): 305-311.
Nam SH, Kidokoro M, Shida H, Hatanaka M 1988. Processing of gag precursor
polyprotein of human T-cell leukemia virus type I by virus-encoded protease. J
Virol 62(10): 3718-3728.
Nascimento LB, Carneiro MAS, Teles SA, Lopes CLR, Reis NRS, Silva AMC, MotaCastro ARC, Otsuki K, Vicente ACP, Martins RMB 2009. Prevalência da infecção
e caracterização molecular do vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1),
em remanescentes de quilombos no Brasil Central. Rev Soc Bras Med Trop 42(6):
657-660.
Nunes ELG, Andrade AG 2009. Adolescentes em situação de rua: prostituição, drogas e
HIV/AIDS em Santo André, Brasil. Psicol Soc 21(1): 45-54.
Okochi K, Sato H 1986. Transmission of adult T-cell leukemia virus (HTLV-I) through
blood transfusion and its prevention. AIDS Res 2(Suppl 1): S157-S161.
Okochi K, Sato H, Hinuma Y 1984. A retrospective study on transmission of adult T
cell leukemia virus by blood transfusion: seroconversion in recipients. Vox Sanq
46(5): 245-253.
Oliveira SR, Avelino MM 2006. Soroprevalência do vírus linfotrópico-T humano tipo 1
entre gestantes em Goiânia, Goiás, Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet 28(8): 467-472.
Osame M, Igata A 1989. The history of discovery and clinico-epidemiology of HTLVI-associated myelopathy (HAM). Jpn J Med 28(3): 412-414.
Osame M, Janssen R, Kubota H, Nishitani H, Igata A, Nagataki S, Mori M, Goto I,
Shimabukuro H, Khabbaz R, et al. 1990. Nationwide survey of HTLV-I-associated
myelopathy in Japan: association with blood transfusion. Ann Neurol 28(1): 50-56.
Owen A, Connor O’2008. Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma (HTLV-1). Lymphoma
Research Foundation.
73
Pando MA, Berini C, Bibini M, Fernández M, Reinaga E, Maulen S, Marone R,
Biglione M, Montano SM, Bautista CT, Weissenbacher M, Sanchez JL, Avila MM
2006. Prevalence of HIV and other sexually transmitted infections among female
commercial sex workers in Argentina. Am J Trop Med Hyg 74(2): 233-238.
Passos ADC, Figueiredo JFC 2004. Fatores de risco para doenças sexualmente
transmissíveis entre prostitutas e travestis de Ribeirão Preto (SP), Brasil. Rev
Panam Salud Publica 16(2): 95-101.
Pennington J, Taylor GP, Sutherland J, Davis RE, Seghatchian J, Allain JP, Williamson
LM 2002. Persistence of HTLV-I in blood components after leukocyte depletion.
Blood 100(2): 677-681.
Pique C, Tursz T, Dokhelar MC 1990. Mutations introduced along the HTLV-I
envelope gene result in a non-functional protein: a basis for envelope conservation?
Embo J 9(13): 4243-4248.
Poiesz BJ, Dube S, Choi D, Esteban DCE, Ferrer J, Leon-Ponte M, de Perez E, Glaser J,
Devare SG, Vallari AS, Schochetman G 2000. Comparative performances of an
HTLV-I/II EIA and other serologic and PCR assays on samples from persons at
risk for HTLV-II infection. Transfusion 40(8): 924-930.
Poiesz BJ, Ruscetti FW, Gazdar AF, Bunn PA, Minna JD, Gallo RC 1980. Detection
and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of
a patient with cutaneous T-cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci U S A 77(12):74157419.
Primo J, Siqueira I, Nascimento MCF, Oliveira MF, Farre L, Carvalho EM, Bittencourt
AL 2009. High HTLV-1 proviral load, a marker for HTLV-1-associated
myelopathy/tropical spastic paraparesis, is also detected in patients with infective
dermatitis associated with HTLV-1. Braz J Med Biol Res 42(8): 761-764.
Proietti FA, Carneiro-Proietti ABF, Catalan-Soares BC, Murphy EL 2005. Global
epidemiology of HTLV-I infection and associated diseases. Oncogene 24(39):
6058-6068.
74
Qyra S, Basho M, Bani R, Dervishi M, Ulqinaku D, Bino S, Kakarriqi E, Alban Y,
Simaku A, Vasili A, Rjepaj K, Pipero P, Duro V, Byku B, Koraqi A 2011.
Behavioral risk factors and prevalence of HIV and other STIs among female sex
workers in Tirana, Albania. New Microbiol 34(1): 105-108.
Rafatpanah H, Hedayati-Moghaddam MR, Fathimoghadam F, Bidkhori HR, Shamsian
SK, Ahmadi S, Sohgandi L, Azarpazhooh MR, Rezaee SA, Farid R, Bazarbachi A
2011. High prevalence of HTLV-I infection in Mashhad, Norheast Iran: a
population-based seroepidemiology survey. J Clin Virol 52(3): 172-176.
Rathsam - Pinheiro RH, Boa-Sorte N, Castro-Lima-Vargens C, Pinheiro CA, CastroLima H, Galvão-Castro B 2009. Ocular lesions in HTLV-1 infected patients from
Salvador, State of Bahia: the city with the highest prevalence of this infection in
Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 42(6): 633-637.
Ratner L, Philpott T, Trowbridge DB 1991. Nucleotide sequence analysis of isolates of
human T-lymphotropic virus type 1 of diverse geographical origins. AIDS Res Hum
Retroviruses 7(11): 923-941.
Reeves WC, Saxinger C, Brenes MM, Quiroz E, Clark JW, Hoh MW, Blattner WA
1988. Human T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-I) seroepidemiology and risk
factors in metropolitan Panama. Am J Epidemiol 127(3): 532-539.
Rego FFA, Alcantara LCJ, Neto JPM, Miranda ACAM, Pereira OS, Gonçalves MS,
Galvão-Castro B 2008. HTLV type 1 molecular study in brazilian villages with
african characteristics giving support to the post-columbian introduction
hypothesis. AIDS Res Hum Retroviruses 24(5): 673-677.
Roucoux DF, Murphy EL 2004. The epidemiology and disease outcomes of human Tlymphotropic virus type II. AIDS Rev 6(3): 144-154.
Roucoux DF, Wang B, Smith D, Nass CC, Smith J, Hutching ST, Newman B, Lee TH,
Chafets DM, Murphy EL 2005. A prospective study of sexual transmission of
human T lymphotropic virus HTLV-I and HTLV-II. J Infect Dis 191(9): 14901497.
75
Salemi M, Van Dooren S, Audenaert E, Delaporte E, Goubau P, Desmyter J,
Vandamme AM 1998. Two new human T-lymphotropic virus type I phylogenetic
subtypes in seroindeterminates, a mbuti pygmy and a gabonese, have closest
relatives among african STLV-I strains. Virology 246(2): 277-287.
Samet JH, Pace CA, Cheng DM, Coleman S, Bridden C, Pardesi M, Saggurti N, Raj A
2010. Alcohol use and sex risk behaviors among HIV-infected female sex workers
(FSWs) and HIV-infected male clients of FSWs in India. AIDS Behav 14(Suppl 1):
S74-S83.
Santos EL, Tamegão-Lopes B, Machado LFA, Ishak MOG, Ishak R, Lemos JAR,
Vallinoto ACR 2009. Caracterização molecular do HTLV-1/2 em doadores de
sangue em Belém, Estado do Pará: primeira descrição do subtipo HTLV-2b na
região Amazônica. Rev Soc Bras Med Trop 42(3): 271-276.
Santos FLN, Lima FWM 2005. Epidemiologia, fisiopatogenia e diagnóstico laboratorial
da infecção pelo HTLV-I. J Bras Patol Med Lab 41(2): 105-116.
Segurado AAC, Biasutti C, Zeigler R, Rodrigues C, Damas CD, Jorge MLSG,
Marchiori PE 2002. Identification of human T-lymphotropic vírus type I (HTLV-I)
subtypes using restrited fragment length polymorphism in a cohort of asymptomatic
carriers and patients with HTLV-I-associated myelopathy/tropical spastic
paraparesis from São Paulo, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 97(3): 329-333.
Seiki M, Hattori S, Hirayama Y, Yoshida M 1983. Human adult T-cell leukemia virus:
Complete nucleotide sequence of the provirus genome integrated in leukemia cell
DNA. Proc Natl Acad Sci U S A 80(12):3618-3622.
Shimoyama M 1991. Diagnostic criteria and classification of clinical subtypes of adult
T-cell leukaemia-lymphoma. A report from the Lymphoma Study Group (1984-87).
Br J Haematol 79(3): 428-437.
Silva EF, Costa DB, Nascimento JU 2010. O trabalho das profissionais do sexo em
diferentes lócus de prostituição da cidade. Psicologia: Teoria e Prática 12(1): 109122.
76
Silverman JG, Raj A, Cheng DM, Decker MR, Coleman S, Bridden C, Pardeshi M,
Saggurti N, Samet JH 2011. Sex trafficking and initiation-related violence, alcohol
use, and HIV risk among HIV-infected female sex workers in Mumbai, India. J
Infect Dis 204(Suppl 5): S1229-S1234.
Sinha-Datta U, Datta A, Ghorbel S, Dodon MD, Nicot C 2007. Human T-cell
lymphotrophic virus type I rex and p30 interactions govern the switch between
virus latency and replication. J Biol Chem 282(19): 14608-14615.
Sintasath DM, Wolfe ND, Zheng HQ, LeBreton M, Peeters M, Tamoufe U, Djoko CF,
Diffo JLD, Mpoudi-Ngole E, Heneine W, Switzer WM 2009. Genetic
characterization of the complete genome of a highly divergent simian Tlymphotropic virus (STLV) type 3 from a wild Cercopithecus mona monkey.
Retrovirol 6:97.
Slattery JP, Franchini G, Gessain A 1999. Genomic evolution, patterns of global
dissemination, and interspecies transmission of human and simian T-cell
leukemia/lymphotropic viruses. Genome Res 9(6): 525-540.
Smith MR, Greene WC 1991. Molecular biology of the type I human T-cell leukemia
virus (HTLV-I) and adult T-cell leukemia. J Clin Invest 87(3): 761-766.
Sodré HRS, Matos SB, De Jesus ALSR, Lima FWM 2010. Soroepidemiologia da
infecção por HTLV-I/II em população assistida pelo Programa Saúde da Família
em Salvador, Bahia. Bras Patol Med Lab 46(5): 369-374.
Song KJ, Nerurkar VR, Pereira-Cortez AJ, Yamamoto M, Taguchi H, Miyoshi I,
Yanagihara R 1995. Sequence and phylogenetic analyses of human T cell
lymphotropic virus type 1 from a Brazilian woman with adult T cell leukemia:
comparison with virus strains from South America and the Caribbean basin. Am J
Trop Med Hyg 52(1): 101-108.
Sonoda S, Li HC, Cartier L, Nunez L, Tajima K 2000. Ancient HTLV type 1 provirus
DNA of Andean mummy. AIDS Res Hum Retroviruses 16(16): 1753-1756.
77
Sousa 2007. Soroprevalência e caracterização molecular do vírus da imunodeficiência
humana (HIV) e do vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) em mulheres
profissionais do sexo do Estado do Pará, Brasil. 150p. Dissertação (Mestrado em
Biologia de agentes infecciosos e parasitários) – Centro de Ciências Biológicas da
Universidade Federal do Pará.
Sullivan MT, Williams AE, Fang CT, Grandinetti T, Poiesz BJ, Ehrlich GD 1991.
Transmission of human T-lymphotropic virus types I and II by blood transfusion. A
retrospective study of recipients of blood components (1983 through 1988). The
American Red Cross HTLV-I/II Collaborative Study Group. Arch Intern Med
151(10):2043-2048.
Switzer WM, Salemi M, Qari SH, Jia H, Gray RR, Katzourakis A, Marriott SJ, Pryor
KN, Wolfe ND, Burke DS, Folks TM, Heneine W 2009. Ancient, independent
evolution and distinct molecular features of the novel human T-lymphotropic virus
type 4. Retrovirol 6: 9.
Takahashi K, Takezaki T, Oki T, Kawakami K, Yashiki S, Fujiyoshi T, Usuku K,
Mueller N, Osame M, Miyata K 1991. Inhibitory effect of martenal antibody on
mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type I. The mother-tochild transmission study group. Int J Cancer 49(5): 673-677.
Tamegão-Lopes BP, Rezende PR, Maradei-Pereira LMC, de Lemos JAR 2006. Carga
proviral do HTLV-1 e HTLV-2: um método simples através da PCR quantitativa
em tempo real. Rev Soc Bras Med Trop 39(6): 548-552.
Taylor G 2007. Molecular aspects of HTLV-I infection and adult T-cell
leukaemia/lymphoma. J Clin Pathol 60(12): 1392-1396.
Tendler CL, Greenberg SJ, Blattner WA, Manns A, Murphy E, Fleisher T, Hanchard B,
Morgan O, Burton JD, Nelson DL, Waldmann TA 1990. Transactivation of
interleukin 2 and its receptor induces immune activation in human T-cell
lymphotropic virus type I-associated myelopathy: Pathogenic implications and a
rationale for immunotherapy. Proc Natl Acad Sci U S A 87: 5218-5222.
78
Thorstensson R, Albert J, Andersson A 2002. Strategies for diagnosis of HTLV-I and –
II. Transfusion 42(6): 780-791.
Torres GV, Davim RMB, Costa TNA 1999. Prostituição: causas e perspectivas de
futuro em um grupo de jovens. Rev Latino-Am Enfermagem 7(3): 09-15.
Trentin B, Rebeyrotte N, Mamoun RZ 1998. Human T-cell leukemia virus type 1
reverse transcriptase (RT) originates from the pro and pol open reading frames and
requires the presence of RT-RNase H (RH) and RT-RH-integrase proteinsfor its
activity. J Virol 72(8): 6504-6510.
Trevisol FS, Silva MV 2005. HIV frequency among female sex workers in Imbituba,
Santa Catarina, Brazil. Braz J Infect Dis 9(6): 500-505.
Trujillo L, Muñoz D, Gotuzzo E, Yi A, Watts DM 1999. Sexual practices and
prevalence of HIV, HTLV-I/II, and Treponema pallidum among clandestine female
sex workers in Lima, Peru. Sex Transm Dis 26(2): 115-118.
Uchiyama T 1997. Human T cell leukemia virus type I (HTLV-I) and human diseases.
Annu Rev Immunol 15: 15-37.
Ureta - Vidal A, Angelin-Duclos C, Tortevove P, Murphy E, Lepère JF, Buiques RP,
Jolly N, Joubert M, Carles G, Pouliquen JF, de Thé G, Moreau JP, Gessain A 1999.
Mother-to-child transmission of human T-cell-leukemia/lymphoma virus type I:
implication of high antiviral antibody titer and high proviral load in carrier mothers.
Int J Cancer 82(6): 832-836.
Usui T, Yanagihara K, Tsukasaki K, Murata K, Hasegawa H, Yamada Y, Kamihira S
2008. Characteristic expression of HTLV-1 basic zipper factor (HBZ) transcripts in
HTLV-1 provirus-positive cells. Retrovirology 5:34.
Uusküla A, Johnston LG, Raag M, Trummal A, Talu A, Jarlais DCD 2010. Evaluating
recruitment among female sex workers and injecting drug users at risk for HIV
using respondent-driven sampling in Estonia. J Urban Health 87(2): 304-317.
Vallinoto AC, Muto NA, Pontes GS, Machado LF, Azevedo VN, dos Santos SE,
Ribeiro-dos-Santos AK, Ishak MO, Ishak R 2004. Serological and molecular
79
evidence of HTLV-I infection among Japanese immigrants living in the Amazon
region of Brazil. Jpn J Infect Dis 57(4):156-9.
Van Dooren S, Gotuzzo E, Salemi M, Watts D, Audenaert E, Duwe S, Ellerbrok H,
Grassmann R, Hagelberg E, Desmyter J, Vandamme AM 1998. Evidence for a
post-Columbian introduction of human T-cell lymphotropic virus in Latin America.
J Gen Virol 79(Pt 11): 2695-2708.
Van Dooren S, Pybus OG, Salemi M, Liu HF, Goubau P, Remondegui C, Talarmin A,
Gotuzzo E, Alcantara LCJ, Galvão-Castro B, Vandamme AM 2004. The low
evolutionary rate of human T-cell lymphotropic virus type-1 confirmed by analysis
of vertical transmission chains. Mol Biol Evol (3): 603-611.
Van Dooren S, Salemi M, Vandamme AM 2001. Dating thr origin of the African human
T-cell lymphotropic virus type-I (HTLV-I) subtypes. Mol Biol Evol 18(4): 661-671.
Van Dooren SJA 2005. Molecular investigation of the evolutionary history and
diversity of primate Tlymphotropic virus types 1 and 3 (Tese). Disponível
em:http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2005-1101-200003/index.htm.
Acesso em 16 de fevereiro de 2011.
Vandamme AM, Leathem KV, Liu HF, Brussel MV, Delaporte E, Costa CMC,
Fleischer C, Taylor G, Bertazzoni U, Desmyter J, Goubau P 1997. Use of a generic
polymerase chain reaction assay detecting human T-lymphotropic virus (HTLV)
types I, II and divergent simian strains in the evaluation of individuals with
indeterminate HTLV serology. J Med Virol 52: 1-7.
Vandamme AM, Liu HF, Goubau P, Desmyter J 1994. Primate T-lymphotropic virus
type I LTR sequence variation and its phylogenetic analysis: compatibility with an
African origin of PTLV-I. Virology 202(1): 212-223.
Vandamme AM, Salemi M, Desmyter J 1998. The simian origins of the pathogenic
human T-cell lymphotropic virus type I. Trends Microbiol 6(12): 477-483.
80
Verdonck K, González E, Van Dooren S, Vandamme AM, Vanham G, Gotuzzo E 2007.
Human T-lymphotropic virus 1: recent knowledge about an ancient infection.
Lancet Infect Dis 7(4): 266-281.
Vidal AU, Gessain A, Yoshida M, Tekaia F, Garin B, Guillemain B, Schulz T, Farid R,
De Thé G 1994. Phylogenetic classification of human T cell leukaemia/lymphoma
vírus type I genotypes in five major molecular and geographical subtypes. J Gen
Virol 75(Pt 12): 3655-3666.
Volz E, Heckathorn DD 2008. Probability based estimation theory for respondentdriven sampling. Journal of Official Statistics 24(1): 79-97.
Vrielink H, Reesink HW 2004. HTLV-I/II Prevalence in Different Geographic
Locations. Transfus Med Rev 18(1): 46-57.
Watanabe T 2011. Current status of HTLV-1 infection. Int J Hematol 94(5): 430-434.
Wattel E, Vartanian JP, Pannetier C, Wain-Hobson S 1995. Clonal expansion of human
T-cell leukemia virus type I infected cells in asymptomatic and symptomatic
carriers without malignancy. J Virol 69(5): 2863-2868.
Wejnert C 2009. An empirical test of respondent-driven sampling: point estimates,
variance, degree measures, and out-of-equilibrium data. Sociol Methodol 39(1): 73116.
WHO 1989. Virus Diseases: Human T lymphotropic virus type I, HTLV-I. Wkly
Epidem 49: 382-383.
Wignall FS, Hyams KC, Phillips IA, Escamilla J, Tejada A, Li O, Lopez F, Chauca G,
Sanchez S, Roberts CR 1992. Sexual transmission of human T-lymphotropic virus
type I in Peruvian prostitutes. J Med Virol 38(1): 44-48.
Wiktor SZ, Piot P, Mann JM, Nzilambi N, Francis H, Vercauteren G, Blattner WA,
Quinn TC 1990. Human T cell lymphotropic virus type I (HTLV-I) among female
prostitutes in Kinshasa, Zaire. J Infect Dis 161(6): 1073-1077.
81
Williams LO, Blumer SO, Schalla WO, Robinson PH, Handsfield JH, Fehd RJ,
Hancock JS, Lipman HB, Hearn TL 2000. Laboratory performance in HTLV-I/II
analysis. Transfusion 40(12): 1514-1521.
Wolfe ND, Heneine W, Carr JK, Garcia AD, Shanmugam V, Tamoufe U, Torimiro JN,
Prosser AT, LeBreton M, Mpoudi-Ngole E, McCutchan FE, Birx DL, Folks TM,
Burke DS, Switzer WM 2005. Emergence of unique primate T-lymphotropic
viruses among central African bushmeat hunters. Proc Natl Acad S ci
U
S
A
102(22): 7994-7999.
Yamaguchi K 1994. Human T-lymphotropic virus type I in Japan. Lancet 343(8891):
213-216.
Yamashita M, Ido E, Miura T, Hayami M 1996. Molecular epidemiology of HTLV-I in
the world. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 13 Suppl 1:S124-31.
Yamashita M, Veronesi R, Menna-Barreto M, Harrinqton WJ Jr, Sampio C, Brites C,
Badaro R, Andrade-Filho AS, Okhura S, Igarashi T, Takehisa J, Miura T, Chamone
D, Bianchini O, Jardim C, Sonoda S, Hayami M 1999. Molecular epidemiology of
human T-cell leukemia virus type I (HTLV-1) Brazil: the predominant HTLV-1s in
South America differ from HTLV-Is of Japan and Africa, as well as those of
Japanese immigrants and their relatives in Brazil. Virology 26(1): 59-69.
Ydy RRA, Ferreira D, Souto FJD, Fontes CJF 2009. Prevalência da infecção pelo vírus
linfotrópico humano de células T- HTLV-1/2 entre puerperas de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, 2006. Rev Soc Bras Med Trop 42(1): 28-32.
Zaaijer HL, Cuypers HT, Dudok de Wit C, Lelie PN 1994. Results of 1-year screening
of donors in The Netherlands for human T-lymphotropic virus (HTLV) type I:
significance of Western blot patterns for confirmation of HTLV infection.
Transfusion 34(10):877-880.
Zervou EK, Georgiadou S, Tzilianos M, Georgitsi P, Pournara V, Nousis S, Pappas C,
Daskalou L, Vrettou A, Karabini F, Dalekos GN 2004. Human T-lymphotropic
virus type I/II infections in volunteer blood donors from Northern and Western
82
Greece: increased prevalence in one blood bank unit. Eur J Intern Med 15(7): 422427.
Zurita S, Costa C, Watts D, Indacochea S, Campos P, Sanchez J, Gotuzzo E 1997.
Prevalence of human retroviral infection in Quillabamba and Cuzco, Peru: a new
endemic area for human T cell lymphotropic virus type 1. Am J Trop Med Hyg
56(5): 561-565.