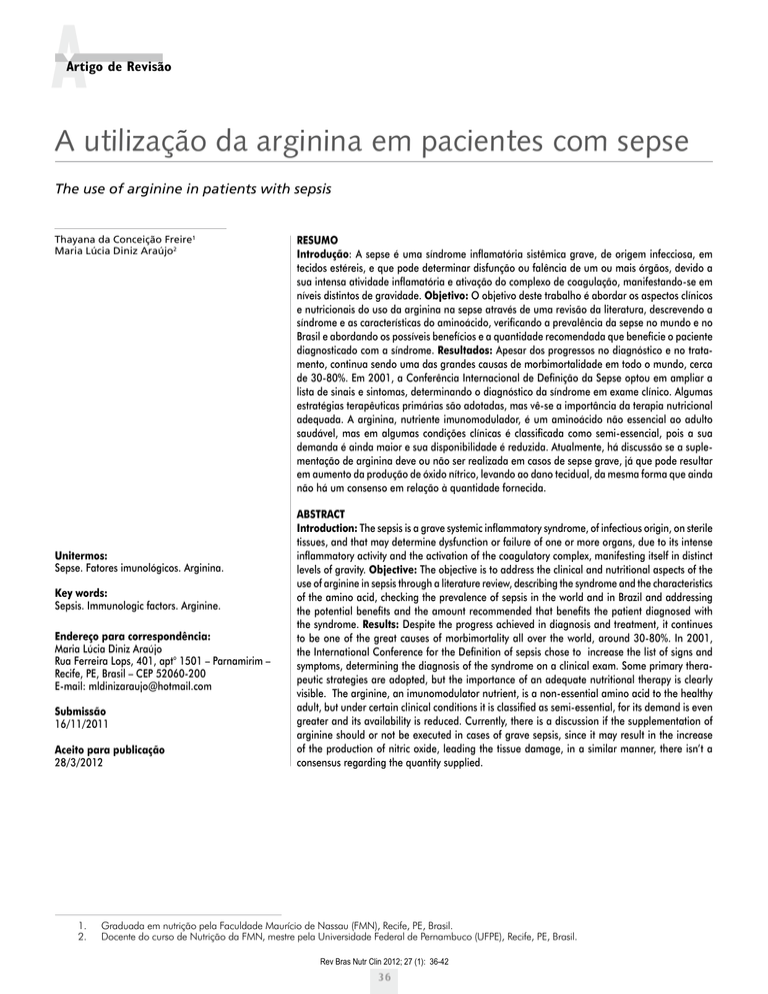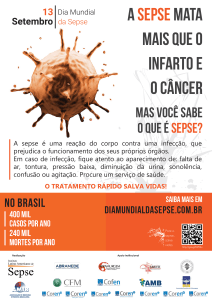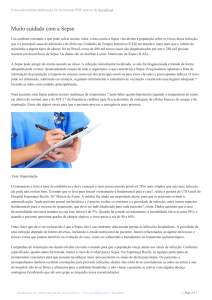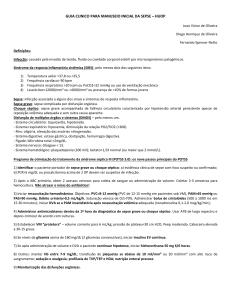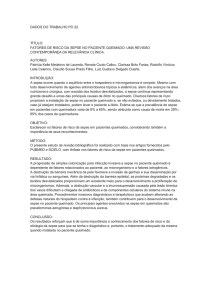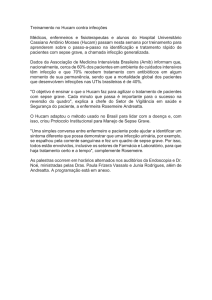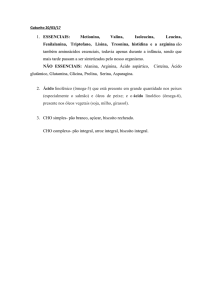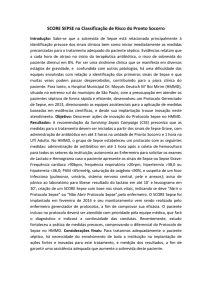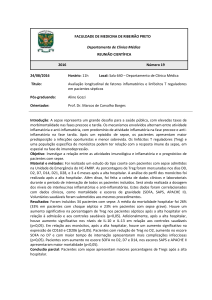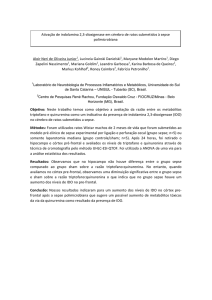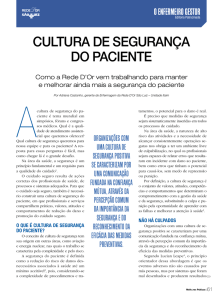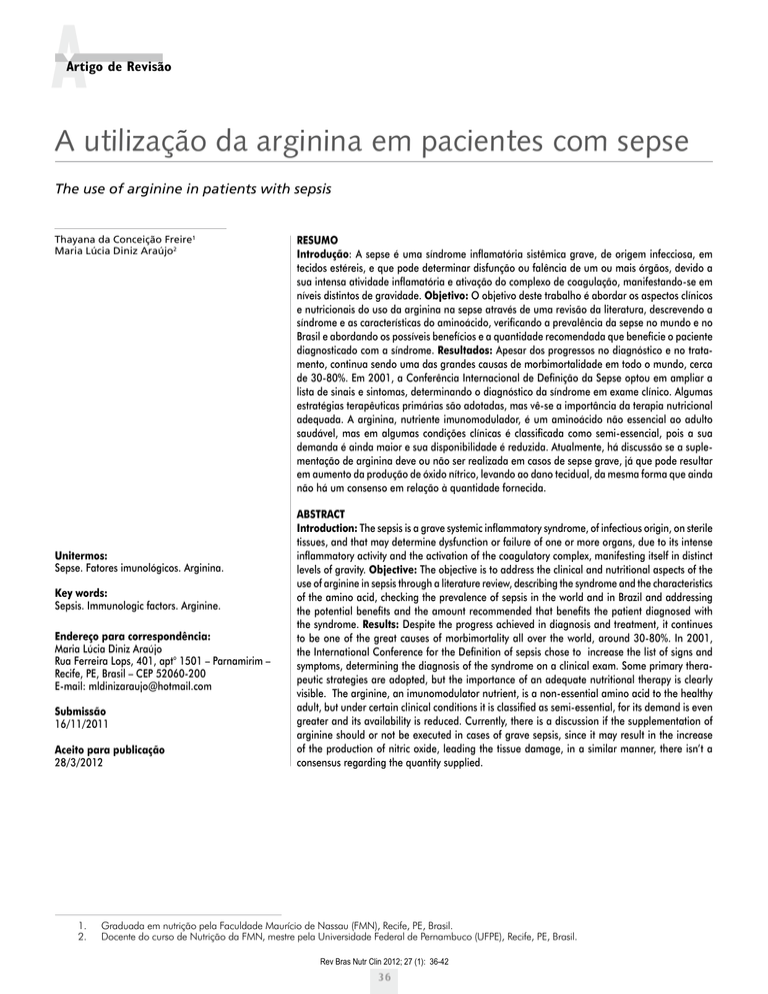
A
Freire TC & Araújo MLD
Artigo de Revisão
A utilização da arginina em pacientes com sepse
The use of arginine in patients with sepsis
Thayana da Conceição Freire1
Maria Lúcia Diniz Araújo2
Unitermos:
Sepse. Fatores imunológicos. Arginina.
Key words:
Sepsis. Immunologic factors. Arginine.
Endereço para correspondência:
Maria Lúcia Diniz Araújo
Rua Ferreira Lops, 401, apt° 1501 – Parnamirim –
Recife, PE, Brasil – CEP 52060-200
E-mail: [email protected]
Submissão
16/11/2011
Aceito para publicação
28/3/2012
1.
2.
Resumo
Introdução: A sepse é uma síndrome inflamatória sistêmica grave, de origem infecciosa, em
tecidos estéreis, e que pode determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos, devido a
sua intensa atividade inflamatória e ativação do complexo de coagulação, manifestando-se em
níveis distintos de gravidade. Objetivo: O objetivo deste trabalho é abordar os aspectos clínicos
e nutricionais do uso da arginina na sepse através de uma revisão da literatura, descrevendo a
síndrome e as características do aminoácido, verificando a prevalência da sepse no mundo e no
Brasil e abordando os possíveis benefícios e a quantidade recomendada que beneficie o paciente
diagnosticado com a síndrome. Resultados: Apesar dos progressos no diagnóstico e no tratamento, continua sendo uma das grandes causas de morbimortalidade em todo o mundo, cerca
de 30-80%. Em 2001, a Conferência Internacional de Definição da Sepse optou em ampliar a
lista de sinais e sintomas, determinando o diagnóstico da síndrome em exame clínico. Algumas
estratégias terapêuticas primárias são adotadas, mas vê-se a importância da terapia nutricional
adequada. A arginina, nutriente imunomodulador, é um aminoácido não essencial ao adulto
saudável, mas em algumas condições clínicas é classificada como semi-essencial, pois a sua
demanda é ainda maior e sua disponibilidade é reduzida. Atualmente, há discussão se a suplementação de arginina deve ou não ser realizada em casos de sepse grave, já que pode resultar
em aumento da produção de óxido nítrico, levando ao dano tecidual, da mesma forma que ainda
não há um consenso em relação à quantidade fornecida.
Abstract
Introduction: The sepsis is a grave systemic inflammatory syndrome, of infectious origin, on sterile
tissues, and that may determine dysfunction or failure of one or more organs, due to its intense
inflammatory activity and the activation of the coagulatory complex, manifesting itself in distinct
levels of gravity. Objective: The objective is to address the clinical and nutritional aspects of the
use of arginine in sepsis through a literature review, describing the syndrome and the characteristics
of the amino acid, checking the prevalence of sepsis in the world and in Brazil and addressing
the potential benefits and the amount recommended that benefits the patient diagnosed with
the syndrome. Results: Despite the progress achieved in diagnosis and treatment, it continues
to be one of the great causes of morbimortality all over the world, around 30-80%. In 2001,
the International Conference for the Definition of sepsis chose to increase the list of signs and
symptoms, determining the diagnosis of the syndrome on a clinical exam. Some primary therapeutic strategies are adopted, but the importance of an adequate nutritional therapy is clearly
visible. The arginine, an imunomodulator nutrient, is a non-essential amino acid to the healthy
adult, but under certain clinical conditions it is classified as semi-essential, for its demand is even
greater and its availability is reduced. Currently, there is a discussion if the supplementation of
arginine should or not be executed in cases of grave sepsis, since it may result in the increase
of the production of nitric oxide, leading the tissue damage, in a similar manner, there isn’t a
consensus regarding the quantity supplied.
Graduada em nutrição pela Faculdade Maurício de Nassau (FMN), Recife, PE, Brasil.
Docente do curso de Nutrição da FMN, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE, Brasil.
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
36
A utilização da arginina em pacientes com sepse
SEPSE
INTRODUÇÃO
A sepse é uma síndrome inflamatória sistêmica grave, de
origem infecciosa, em tecidos estéreis, e que pode determinar
disfunção ou falência de um ou mais órgãos, devido a sua
intensa atividade inflamatória (na fase aguda principalmente)
e ativação do complexo de coagulação. Manifesta-se em
níveis distintos de gravidade e, caso o diagnóstico não seja
logo determinado, levando a demora do tratamento, pode
levar o indivíduo à morte. A sepse não está restrita apenas
à síndrome inflamatória sistêmica relacionada à infecção
bacteriana, mas àquela resultante de qualquer microrganismo (fungos ou vírus) e/ou suas toxinas4,11-13.
Na Grécia Antiga, o termo Pepse era atribuído ao
método de fermentação do vinho e ao processo de digestão
da comida, indicando vida e boa saúde. O termo Sepse,
por sua vez, foi aplicado aos casos onde havia putrefação,
associando-se com morte e doença1.
Grandes progressos no conhecimento da fisiopatologia da
sepse apenas começaram a surgir após a II Guerra Mundial,
onde pacientes com infecções graves morriam rapidamente,
pois os antibióticos estavam apenas começando a ser usados
e aqueles com falência múltipla dos órgãos não podiam ser
mantidos vivos. Foi quando Beecher publicou seus estudos
a respeito de estados hipovolêmicos, propondo a reposição
rápida do volume perdido como terapêutica1, 2.
É uma condição aguda ocasionada pela liberação de
mediadores inflamatórios associada a um fluxo sanguíneo
inadequado nos tecidos e ativação generalizada do endotélio, gerando quebra da homeostase com comprometimento
e disfunção de órgãos distantes do foco primário, além da
depressão miocárdica, redução do volume intravascular
e metabolismo aumentado. É reflexo do grau de estresse
orgânico, podendo associar-se a diversas condições clínicas,
como: trauma, queimaduras, pancreatite aguda grave (na
ausência de uma identificação de origem infecciosa), intervenção cirúrgica, terapia transfusional e infecção4,13.
O conhecimento da fisiopatologia continua crescendo,
mas ainda com muitas questões em aberto decisórias ao resultado final, pois a gravidade do quadro depende de fatores,
como: a virulência do organismo agressor e pontos-chave
relacionados ao hospedeiro, dentre os quais idade, influência
genética, sítio de infecção e presença de comorbidades3.
Apesar dos progressos no diagnóstico e no tratamento,
a sepse continua sendo uma das grandes causas de morbimortalidade em todo o mundo, cerca de 30-80%. A sepse
é uma causa importante de hospitalização e a principal
causa de morte em unidades de terapia intensiva (UTI)4-6.
O termo sepse é empregado quando a resposta sistêmica é clinicamente relevante, mas pode se manifestar
por uma variedade de situações, com uma complexidade
crescente (Tabela 1). Por essa variedade, os termos foram
sendo erroneamente utilizados, concretizando a falta de
homogeneidade e dificultando comparações e investigações epidemiológicas. Não é mais considerada uma
doença de definição específica, mas um grupo de doenças
com base na predisposição do paciente, na gravidade do
insulto, na resposta fisiopatológica do hospedeiro e na
quantidade de órgãos envolvidos1, 3, 11, 14.
Alguns nutrientes imunomoduladores, como os ácidos
graxos de cadeia média e curta, nucleotídeos e aminoácidos arginina e glutamina, têm a capacidade de interferir
tanto na resposta inflamatória quanto na resposta imune
e promover a redução da frequência de infecções e suas
complicações, além da diminuição no tempo de internação,
que também leva ao decréscimo do número de infecções7, 8.
Atualmente, discute-se se a suplementação de arginina
deve ou não ser realizada em casos de sepse. De modo geral,
os benefícios são encontrados, porém alguns autores já não
acreditam nesses efeitos, demonstrando até aumento na taxa de
mortalidade quando comparado ao uso de fórmula padrão9,10.
EPIDEMIOLOGIA DA SEPSE
Apesar dos progressos no diagnóstico e no tratamento, a sepse continua representando um pesado fardo
para os sistemas de saúde. A disfunção de múltiplos
órgãos contempla parte da responsabilidade da elevada
taxa de mortalidade, pois é o resultado dos distúrbios
cardiovasculares que comprometem a oferta de oxigênio
aos tecidos4- 6.
O objetivo deste trabalho é abordar os aspectos clínicos
e nutricionais do uso da arginina na sepse através de
uma revisão da literatura, descrevendo a síndrome e as
características do aminoácido, verificando a prevalência
da sepse no mundo e no Brasil e abordando os possíveis
benefícios e a quantidade recomendada que beneficie o
paciente diagnosticado com a síndrome.
Nos Estados Unidos, é a causa de 2 a 11% de todas
as admissões hospitalares e, em estudo epidemiológico no
país, nos últimos 20 anos, a incidência da sepse aumentou
de 82,7 para 240,4 casos para cada 100 mil habitantes,
bem como as mortes relacionadas a ela, mesmo havendo
redução da taxa de mortalidade geral entre os pacientes
com sepse. Estudos feitos na Europa, Austrália e Nova
Zelândia relataram que as taxas de prevalência de sepse
variavam de 5,1% a 30%3, 6, 11.
Dessa maneira, foi realizada uma revisão bibliográfica
com ênfase nos últimos anos (no período entre os anos
de 1993 e 2010), fundamentado nas fontes de dados
LILACS, SciELO, Medline, PubMed, revistas indexadas e
sites governamentais, com base nos seguintes descritores:
sepse, imunomoduladores e arginina.
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
37
Freire TC & Araújo MLD
Bacteremia
Sepse
Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica (SRIS)
Sepse grave
Choque séptico
Tabela 1 – Complexidade crescente para sepse.
Presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea. Pode não ter relevância clínica e sua
presença não é suficiente para o diagnóstico de sepse
Síndrome clínica caracterizada por resposta deletéria do hospedeiro a um processo infeccioso; infecção
acompanhada de resposta inflamatória sistêmica, com a presença de dois ou mais de alguns
critérios clínicos diagnosticados
Reação inflamatória desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão infecciosa ou
não-infecciosa, caracterizada pela presença de dois ou mais critérios abaixo:
• Temperatura >38°C ou <36°C;
• Frequência cardíaca >90 bpm (desde que o paciente não esteja em uso de drogas cronotrópicas negativas);
• Frequência respiratória >20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg;
• Leucócitos >12.000/mm3 ou <4.000/mm3 ou >10% de bastonetes
Sepse associada à disfunção de um ou mais órgãos (SNC, renal, pulmonar, hepático, cardíaco,
coagulopatia, acidose metabólica)
Sepse com hipotensão arterial, mesmo após adequada reposição volêmica, associado com redução
da perfusão, acidose lática, oligúria e alteração do estado mental
Adaptado de: Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med.
2003;31(4):1250-615.
irpm: incursões respiratórias por minuto; bpm: batimentos por minuto; SNC: sistema nervoso central; PaCO2: pressão parcial de oxigênio arterial
SINAIS E SINTOMAS DA SEPSE
No Brasil, as diferenças regionais foram relevantes para
a taxa de mortalidade, justificadas pela diversidade populacional, bem como pelas diferenças no acesso à saúde. O
Estudo Brasileiro de Epidemiologia da Sepse (estudo BASES
– Brazilian Sepsis Epidemiological Study) realizado em cinco
UTIs no sul e sudeste do Brasil com pacientes de doenças
distintas encontrou taxas de mortalidade que variaram
entre 11% e 52,2%, em pacientes com SIRS, sepse, sepse
grave e choque séptico. Em termos gerais, a mortalidade
teve maior relação com o evento infeccioso do que com a
doença primária. Outro estudo brasileiro analisou dados
de 75 UTIs em regiões diferentes e encontrou taxas de
mortalidade de 16,7% para sepse, 34% para sepse grave
e 65,3% para choque séptico3, 6.
A sepse foi definida em 1991 pelo American College of
Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus
Conference Committee como um conjunto de pelo menos
duas das seguintes manifestações, na presença de infecção:
febre ou hipotermia (temperatura corpórea >38°C ou <
36°C, respectivamente); taquicardia (frequência cardíaca
>90 batimentos por minuto); taquipneia (frequência respiratória >20 movimentos por minuto) ou hiperventilação (pCO2
<32 torr); leucocitose ou leucopenia (contagem de leucócitos
>12.000/mm3 ou <4.000 mm3 de sangue, respectivamente)
ou presença de mais de 10% de bastonetes. Essa definição
extinguiu de uma vez o termo abrangente de septicemia13, 18, 19.
A expansão dos dados do estudo BASES para outras
regiões brasileiras seria de relevante importância para
estimar com mais precisão a real incidência de sepse e a
morbimortalidade nas UTIs brasileiras.
Tais definições levaram os pesquisadores a seguirem uma
mesma linha de raciocínio, podendo realizar comparações
entre seus estudos. Porém, esses critérios apresentaram
pouca especificidade para um diagnóstico mais preciso. Foi
quando a Conferência Internacional de Definição da Sepse,
em 2001, contando com a experiência de pesquisadores de
várias partes do mundo, optou em ampliar a lista de sinais e
sintomas da sepse, como descrito na Tabela 2, determinando
o diagnóstico da síndrome em exame clínico baseando-se
em tais alterações11, 13.
Koury et al.16, em estudo prospectivo, observacional
e com amostragem não-aleatória formado por 199
pacientes da UTI de um hospital particular do Recife,
classificados com sepse (1%), sepse grave (74,9%) e
choque séptico (24,1%), identificaram taxa de mortalidade de 36,3% para sepse grave e 63,8% para choque
séptico, constatando associação entre a gravidade da
sepse e o risco de morte16.
A resposta metabólica do organismo à sepse é muito
semelhante à resposta de uma grande cirurgia ou trauma:
aumento do gasto energético, catabolismo protéico e
oxidação dos lipídeos armazenados juntamente com alterações significativas na capacidade do corpo para metabolizar
carboidratos. Tudo isso desencadeia uma resposta endocrinometabólica intensa, na qual as repercussões podem ser
desastrosas, a depender da intensidade da resposta14,19,20.
A maior incidência de sepse deve-se ao envelhecimento da população, a procedimentos mais invasivos, ao
uso de fármacos imunossupressores e a maior prevalência
de infecção por síndrome da imunodeficiência adquirida
(SIDA). Já Angus et al.17 afirmam em seu estudo que os
gastos maiores com sepse foram em lactentes, nos não
sobreviventes, nos pacientes de UTI, pacientes cirúrgicos
e com falência de mais de um órgão6, 11, 17.
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
38
A utilização da arginina em pacientes com sepse
TRATAMENTO DA SEPSE
por via sistêmica. Para fins terapêuticos em hospitais, pode ser
prescrita na forma de peptídeos, tripeptídeos ou ionizada21.
Apesar das grandes iniciativas quanto a investigações e
diagnósticos precoces da sepse, a abordagem inicial continua
sendo o suporte clínico ao paciente. Caso nenhum outro relevante evento não infeccioso seja detectado na suspeita de SRIS,
a conduta é orientada para sepse e outras medidas são tomadas
de acordo com a gravidade da apresentação do quadro11.
Embora seja considerado um aminoácido não essencial ao
adulto saudável, havendo um equilíbrio no catabolismo e anabolismo, a arginina tem importante participação durante as fases de
crescimento (gestação, infância e adolescência), agindo por meio
do ganho de massa muscular; no trauma (ganho de peso póstrauma, com melhora da cicatrização de feridas pelo aumento
na produção de colágeno e aumento na resistência cicatricial);
síntese de poliaminas (cátions de baixo peso molecular importantes no crescimento celular) via ornitina; no sistema endócrino
(aumenta a liberação de GH, insulina e glucagon); no aumento
da síntese protéica; biossíntese de outros aminoácidos; ciclo da
ureia (desintoxicação da amônia) e na produção de óxido nítrico
(NO). Além desses papeis, atua em situações clínicas especiais
(septicemia, trauma ou câncer), sendo, então, classificada como
aminoácido semi-essencial, pois a demanda de arginina nesses
casos é ainda maior e sua disponibilidade é reduzida, devido à
sua redução na ingestão alimentar, diminuição da síntese endógena da arginina, e aumento da sua utilização pelo organismo,
principalmente para a produção de NO7,10,22,23.
Algumas estratégias primárias são adotadas, como a
reperfusão tecidual e controle do foco infeccioso de forma
precoce, auxiliando na redução da mortalidade, apesar de
na maioria dos casos ocorrer um atraso na determinação do
diagnóstico da sepse, o que levaria a progressão de múltiplas
disfunções orgânicas e grave prognóstico do paciente13.
A terapia nutricional adequada durante a sepse e infecções
graves é fundamental, pois desempenha um papel importante
na modulação da resposta inflamatória, manutenção da função
imunológica, anulação do catabolismo muscular, cicatrização
de feridas e manutenção da função da barreira mucosa14.
Inúmeros avanços no entendimento da fisiopatologia estão
sendo determinados, aliados ao crescente potencial benéfico
de inúmeras alternativas terapêuticas como tratamento11.
A deficiência de arginina pode levar a sintomas como
astenia (sensação de fadiga e debilidade generalizada,
semelhantes à distrofia muscular) e diminuição da produção
de insulina, alterando o metabolismo da glicose e do lipídeo
hepáticos. Por outro lado, sua toxicidade resulta em diarreia,
dores estomacais e de cabeça, num nível de 50 a 500 vezes
a faixa de dose terapêutica, variando de acordo com o peso
do indivíduo e o grau de estresse orgânico21.
ARGININA: NUTRIENTE IMUNOMODULADOR
A arginina, ou o ácido (L)-2-amino-5-guanidinovalérico,
é um sólido de aspecto cristalino e branco, praticamente sem
odor, de alto ponto de fusão, solúvel em água e sensível à luz
(Figura 1). É mais bem metabolizada na forma hidrolisada
por não necessitar de digestão, sendo absorvida diretamente
Variáveis inflamatórias
Variáveis hemodinâmicas
Variáveis de disfunção de órgãos
Variáveis de perfusão tecidual
Tabela 2 - Critérios para diagnóstico da sepse.
*Leucocitose (contagem leucócitos totais >12.000/mm3 de sangue)
*Leucopenia (contagem leucócitos totais <4.000/mm3 de sangue)
*Contagem de leucócitos totais normal com > 10% de formas imaturas
Proteína C- reativa no plasma > 2 DP acima do valor normal
Procalcitonina plasmática > 2 DP acima do valor normal
Hipotensão arterial (PAS < 90 mmHg, PAM < 70 mmHg, ou redução da PAS > 40 mmHg em adolescentes,
ou PAs / PAM < 2 DP abaixo do normal para idade)
Saturação de oxigênio venoso misto > 70% (não válido para crianças)
Índice cardíaco > 3,5 l/min (não válido para crianças)
Hipoxemia arterial (PaO2 / FiO2 < 300)
Oligúria aguda (diurese < 0,5 ml/kg/h)
Creatinina > 0,5 mg/dl
Alterações de coagulação (INR > 1,5 ou KTTP > 60 s)
Íleo paralítico (ausência de ruídos hidroaéreos)
Trombocitopenia (contagem de plaquetas < 100.000 /mm3 de sangue)
Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total > 4 mg/dl)
Hiperlactatemia (> 1 mmol/l);
Enchimento capilar reduzido ou moteamento
Adaptado de: Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med.
2003;31(4):1250-615.
DP: desvio padrão, PAs: pressão arterial sistólica, PAM: pressão arterial média, PaO2: pressão parcial de oxigênio arterial, FiO2: fração inspirada de oxigênio, INR – International Normalized
Ratio, KTTP: tempo de tromboplastina parcial.
* Critérios mantidos do American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference Committee, 1991.
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
39
Freire TC & Araújo MLD
glândulas endócrinas. É importante secretagogo do hormônio
do crescimento, prolactina e insulina. Estimula a liberação de
glucagon, polipeptídeo pancreático e catecolaminas adrenais,
além de atuar estimulando o metabolismo do nitrogênio e
efeitos benéficos na cicatrização, no mecanismo das defesas
anti-tumor e no metabolismo e crescimento tumoral. É descrita
como estimuladora do hormônio do crescimento hipofisário,
e tem sido relacionada ao aumento da atividade das células
Natural killler e células T-helper e ao estímulo da produção das
citocinas: interleucina-1 (IL-1), interleucina-2 (IL-2), receptor IL-2,
interleucina-6 (IL-6), e o fator alfa de necrose tumoral (TNFalfa), que são importantes mediadores na gênese da caquexia.
Também vem demonstrando melhora na condição clínica dos
portadores do Mal de Alzheimer, a partir do aumento dos níveis
de poliamina, fundamental na proliferação celular7, 9, 21.
Figura 1 - Fórmula química da arginina.
METABOLISMO DA ARGININA
O aminoácido arginina é bem absorvido no trato gastrointestinal, produzindo níveis plasmáticos máximos em aproximadamente 2 horas após administração oral. Em uma alimentação
equilibrada, a arginina não é requerida para manutenção do
balanço nitrogenado, pelo fato da dieta oferecer a quantidade
necessária, mas durante períodos críticos, ocorre uma síntese
endógena a partir da citrulina, outro aminoácido resultado do
metabolismo da glutamina no intestino, que é suficiente para
a demanda corporal. A dieta ocidental contém, aproximadamente, 5 gramas/dia de arginina, que provém principalmente
do chocolate, germe de trigo, granola, derivados do leite (queijo
cottage, ricota, iogurte), castanhas (coco, nozes, amêndoas,
amendoim), sementes (abóbora, girassol), carnes (frango, boi,
porco e peru), frutos do mar (lagosta, salmão, camarão, atum),
soja cozida e da síntese endógena da arginina pelos rins, a
partir da citrulina; não havendo, por isso, a necessidade de
suplementação em casos de homeostase7,21.
A arginina é precursora de nitritos, nitratos e NO. O NO
é produzido no interior das células, através da reação entre
L-arginina e oxigênio, utilizando como catalizador a NO
sintetase. No sistema imune, é responsável pela citotoxidade
dos macrófagos ativados e pela inibição da agregação dos
neutrófilos. Além disso, é um importante vasodilatador e
agente oxidativo, danoso às células, devendo ter cuidado
com a suplementação em cardiopatas8,22.
O NO está envolvido em vários fenômenos fisiológicos e
fisiopatológicos, incluindo a regulação da pressão arterial, a
neurotransmissão (função vital na dilatação e constrição de
pequenos vasos sanguíneos no cérebro), a síntese de proteínas
hepáticas, o transporte de elétrons na mitocôndria, a redução
do crescimento bacteriano e tumoral (por mediação da enzima
óxido nítrico sintetase), a imunidade mediada por células,
a hipotensão arterial induzida por septicemia e de algumas
doenças neuro-degenerativas, além de ter importante participação na redução da imunossupressão induzida-por-tumor.
Também aumenta os níveis de citrulina, que pode ser convertida
para ornitina por fibroblastos, a qual é usada para formação da
prolina e para síntese de colágeno; e também pode ser convertida para arginina. Assim, níveis adequados de citrulina podem
acelerar os estágios de cicatrização. O NO promove a retenção
nitrogenada e participa nos metabolismos do nitrogênio e da
creatina e na síntese de poliaminas, processos importantes na
transcrição do DNA e transdução do RNA7,21.
Em casos de solicitação metabólica continuada da arginina, existe uma neo-síntese nos túbulos proximais renais a
partir da citrulina. Proteínas ingeridas são degradadas até
a arginina, que pode ser diretamente absorvida e utilizada
no ciclo da ureia no tecido hepático, ou transformadas no
epitélio intestinal em ornitina que, juntamente com a glutamina
secretada como glutamato, são convertidas em citrulina. A
citrulina absorvida se transforma em arginina no ciclo renal. A
citrulina também pode ser convertida diretamente em arginina
no citoplasma das células endoteliais e dos macrófagos. A
arginina é absorvida diretamente ou pode ser transformada
em ornitina e citrulina. A arginina absorvida diretamente vai
para o ciclo da ureia. A citrulina é transportada para os rins,
onde é substrato da neo-síntese de arginina. Em algumas
células, como os macrófagos, há a transformação da citrulina
em arginina. O rim apresenta grande concentração da enzima
arginina sintase, enquanto que no fígado há muita arginase,
resultando na formação de ureia e ornitina7, 23.
ARGININA: INDICADA OU CONTRAINDICADA NO
TRATAMENTO DA SEPSE?
Atualmente há uma discussão se a suplementação de arginina deve ou não ser realizada em casos de sepse grave, já
que pode resultar em aumento da produção de NO, levando
ao dano tecidual. Nas situações de inflamação moderada,
a suplementação tem sido indicada10.
A quantidade recomendada diverge bastante entre os
autores. McCowen & Bistrian24 referem 17g de arginina
por dia ou 2-4% do valor calórico total (VCT). Kreymann
et al.25 recomendam doses acima de 12g por dia (0,3 a
MECANISMO DE AÇÃO DA ARGININA
A arginina tem múltipla e potente atividade secretagoga
(capacidade de aumentar o volume de secreção) sobre várias
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
40
A utilização da arginina em pacientes com sepse
confiança = 0,1, 5,1; p = 0,04), e a permanência hospitalar
(2,9 dias, intervalo de confiança = 1,4, 4,4; p = 0,0002) em
relação a dieta enteral padrão, porém não alterou a mortalidade, provavelmente devido à inclusão de populações muito
diferentes nos estudos31.
0,5 g/kg/dia) ou de 4% a 6% do VCT. Heyland et al.26
defendem uma dose diária de 2% do VCT, cerca de 30
g/dia para um adulto de 70 kg. Já para doses acima de
4% do VCT, afirmam que levam a perda dos efeitos benéficos (imunológicos, retenção nitrogenada, dentre outros),
aumentando a mortalidade na sepse. Mas até o ano de
2004, o National Research Council’s Food and Nutrition
Board ainda não havia estabelecido a recomendação diária
ou o Requerimento Mínimo Diário (RDA – Recommended
Dietary Allowance) de arginina, pois há necessidades diferentes de doses suplementadas entre os indivíduos, afetadas
pelo tipo de dieta, sexo e ambiente8, 21.
Heyland & Samis32, na discussão de três estudos envolvendo subgrupos de pacientes doentes críticos que aparentemente pioraram com o uso de dietas imunomoduladoras
suplementadas com arginina, afirmam que esse nutriente seja
responsável pelos danos, capaz de promover um aumento na
produção de NO através do aumento na produção de óxido
nítrico sintetase podendo ter um efeito adverso nos pacientes
doentes críticos. Por estimulação de um desequilíbrio na liberação de NO, a arginina pode intensificar a inflamação sistêmica nos pacientes sépticos e em outros grupos de pacientes
onde a óxido nítrico sintetase está acima do normal32.
Lorente et al.27 avaliaram os benefícios da suplementação
da arginina isolada em sete pacientes com sepse, recebendo
administração endovenosa de arginina isolada, numa dose
de 200 mg/kg/dia. Foi observada ação benéfica sistêmica,
com vasodilatação pulmonar com consequente aumento no
consumo de oxigênio e rendimento cardíaco28.
Bertolini et al.33, em análise íntegra de 39 pacientes com
septicemia, de um subgrupo analisado de um grande estudo
em 237 pacientes, que fizeram uso de uma dieta imunomoduladora específica (IED), suplementada com arginina
e ω-3, de forma precoce, observaram que a mortalidade
em UTI foi significativamente maior no grupo que fez uso
de IED (44,4% x 23,8%; p = 0,179). Devido ao excesso de
mortalidade nesse grupo, o recrutamento de pacientes com
sepse foi prematuramente suspenso33.
No entanto, a suplementação de arginina isolada não é
comum na prática clínica, sendo mais ofertada em combinação com outros nutrientes na configuração de fórmula
imunomoduladora. Galbán et al.29, em estudo clínico,
prospectivo, randomizado e multicêntrico, utilizaram 181
pacientes com sepse admitidos em UTIs de seis hospitais
espanhóis, ofertando nutrição enteral imunomoduladora
precoce (iniciada 36 horas após o diagnóstico de sepse)
enriquecida com arginina, RNA (ácido ribonucléico) e ácido
graxo ω-3 para 89 pacientes, e formaram o grupo controle
com os 87 restantes. Os autores observaram redução na
mortalidade no grupo com dieta enteral imunomoduladora
(19%) em relação ao grupo controle (32%) (p < 0,05),
redução no número de pacientes com bactericemia (7,8%
contra 21,8%; p = 0,01) e redução do número de pacientes
que apresentaram mais de uma infecção nosocomial (5,6%
contra 19,5%; p = 0,01)28.
Em pacientes com sepse, o uso de pacotes imunomoduladores com arginina pode ser benéfico, contando com
poucos estudos a esse respeito. Mas há outros estudos que
continuam a apontar os riscos da suplementação desse
aminoácido e recomendam com critério o seu uso até que
estejam disponíveis maiores esclarecimentos28.
Alguns autores afirmam observar benefícios da suplementação da arginina em pacientes cirúrgicos, com redução na
taxa de mortalidade e rápida cicatrização das feridas. Porém,
quando é analisada uma população específica de pacientes
com sepse, há o aumento da mortalidade, comparados ao
grupo que fez uso de fórmulas padrão. Explica-se pelo fato da
arginina aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias
e NO, com aumento da resposta inflamatória, resultando
em hipotensão temporária, aumento do débito cardíaco,
diminuição na resistência vascular e pulmonar sistêmica e,
além disso, maior custo. Devido a esse risco potencial, seu
uso não é recomendado nesses pacientes9, 26.
Em contrapartida, Heyland et al.26, em metanálise de 22
estudos randomizados, incluindo 2.419 pacientes críticos ou
submetidos a cirurgias eletivas, observaram que a nutrição enteral
contendo arginina, glutamina, nucleotídeos e ácidos graxos ω-3,
em relação à dieta padrão, diminuiu a infecção bacteriana (risco
relativo = 0,66; intervalo de confiança = 0,54, 0,80), mas não
alterou a mortalidade desses pacientes. Os autores sugerem
que os resultados na evolução de doentes que sofreram cirurgia
eletiva não devem ser analisados juntamente com os de pacientes
críticos, porque o efeito do tratamento com dieta imunomoduladora varia de acordo com a população de pacientes, a intervenção e a qualidade da metodologia do estudo30.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos grandes avanços tecnológicos na área da
saúde, nos cuidados com os pacientes, principalmente os
graves em cuidados intensivos, e do vasto saber sobre as
diferentes doenças que acometem esses pacientes, os dados
epidemiológicos mostraram a alta incidência da morbimortalidade daqueles que são diagnosticados com sepse ou alguma
de suas derivações (SRIS, sepse grave ou choque séptico).
Resultados semelhantes foram encontrados por Beale et al.30,
na qual foram inclusos 12 estudos randomizados e controlados,
que contaram com a participação de 1482 pacientes críticos.
A dieta enteral imunomoduladora reduziu o índice de infecções
(risco relativo = 0,67, intervalo de confiança = 0,50, 0,89; p =
0,006), o tempo de ventilação mecânica (2,6 dias, intervalo de
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
41
Freire TC & Araújo MLD
13. Westphal GA, Feijó J, Andrade PS, Trindade L, Suchard C, Monteiro
MAG, et al. Estratégia de detecção precoce e redução de mortalidade
na sepse grave. Rev Bras Ter Intensiva. 2009;21(2):113-23.
14. Martindale RG, Sawai R, Warren M. Sepsis and infection. In: Gottschlich MM, Delegge MH, Mattox T, Mueller C, Worthington P,
Guenter P, eds. ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition). ASPEN Guidelines for the Use of Parenteral and Enteral
Nutrition in Adult and Pediatric Patients. JPEN J Parenter Enteral
Nutr. 2006;440-54.
15. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et
al; SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/
ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med
2003;31(4):1250-6.
16. Koury JCA, Lacerda HR, Barros Neto AJ. Características da população com sepse em Unidade de Terapia Intensiva de hospital
terciário e privado da cidade do Recife. Rev Bras Ter Intensiva.
2006;18(1):52-8.
17. Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo
J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States:
analysis of incidence, outcome, and associated cost of care. Crit Care
Med. 2001;29(7):1303-10.
18. Katz DV, Troster EJ, Vaz FAC. Dopamina e o rim na sepse: uma
revisão sistemática. Rev Assoc Med Bras. 2003;49(3):317-25.
19. Oliveira DC, Oliveira Filho JB, Silva RF, Moura SS, Silva DJ, Egito
ES, et al. Sepse no pós-operatório de cirurgia cardíaca: descrição do
problema. Arq Bras Cardiol. 2010;94(3):352-6.
20. Basile-Filho A, Suen VMM, Martins MA, Coletto FA, Marson F.
Monitorização da resposta orgânica ao trauma e à sepse. Rev Med.
2001;34(1):5-17.
21. Novaes MRCG, Beal FLR. Farmacologia da L-arginina em pacientes
com câncer. Rev Bras Canc. 2004;50(4):321-5.
22. Kujath S, Dhar A. Aminoácidos: glutamina e arginina. In: Way CWV,
ed. Segredos em nutrição: respostas necessárias ao dia-a-dia. Porto
Alegre: Artes Médicas Sul; 2000.
23. Novaes MRCG, Lima LAM. Efeitos da suplementação dietética com
L-arginina no paciente oncológico. Uma revisão de literatura. Arq
Latinoam Nutr. 1999;49(4):301-8.
24. McCowen KC, Bistrian BR. Immunonutrition: problematic or
problem solving? Am J Clin Nutr. 2003;77(4):764-70.
25. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P,
Kazandjiev G, et al; ESPEN (European Society for Parenteral and
Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25(2):210-23.
26. Heyland DK, Novak F, Drover JW, Jain M, Su X, Suchner U. Should
immunonutrition become routine in critically ill patients? A systematic review of the evidences. JAMA. 2001;286(8):944-53.
27. Lorente JA, Landín L, De Pablo R, Renes E, Liste D. L-arginine
pathway in the sepsis syndrome. Crit Care Med. 1993;21(9):1287-95.
28. Jacintho TM. Arginina na sepse. A suplementação da arginina na sepse
é benéfica? Nutritotal; 2007. Disponível em:<http://www.nutritotal.
com.br/newsletter/?acao=bu&id=247>Acesso em: 18 jul. 2010.
29. Galbán C, Montejo JC, Mesejo A, Marco P, Celaya S, SánchesSegura JM, et al. An immune-enhancing enteral diet reduces
mortality rate and episodes of bacteremia in septic intensive
care unit patients. Crit Care Med. 2000;28(3):643-8.
30. Beale RJ, Bryg DJ, Bihari DJ. Immunonutrition in the critically
ill: a systematic review of clinical outcome. Crit Care Med.
1999;27(12):2799-805.
31. Jacintho TM. Imunonutrição x mortalidade: Dietas imunomoduladoras podem reduzir a mortalidade em UTI? Nutritotal; 2005.
Disponível em:<http://www.nutrtotal.com.br/newsletter/index.
php>Acesso em: 23 nov. 2010.
32. Heyland DK, Samis A. Does immunonutrition in patients with sepsis
do more harm than good? Intensive Care Med. 2003;29(5):699-71.
33. Bertolini G, Lapichino G, Radrizzani D, Facchini R, Simini B,
Bruzzone P, et al. Early enteral immunonutrition in patients with
severe sepsis: results of an interim analysis of a randomized multicentre clinical trial. Intensive Care Med. 2003;29(5):834-40.
Algumas estratégias primárias são tomadas, mas vê-se na
terapia nutricional adequada uma estratégia importante. O uso
de fórmulas imunomoduladoras, com componentes isolados ou
em combinação, é elevado. No entanto, alguns nutrientes levam
a muitas discussões quanto ao seu uso e à quantidade usada.
A arginina é um deles, vastamente encontrado nos
alimentos e sintetizado endogenamente. Mas quando o
paciente encontra-se grave, com o diagnóstico de sepse,
diminuição da ingestão alimentar e a produção endógena
insuficiente para atender à grande demanda em resposta ao
estresse, inicia-se a grande dúvida quanto a sua suplementação. Há grupos que defendem seu potente poder tóxico,
enquanto que outros afirmam que o aminoácido é deficiente
na sepse e deve ser suplementado.
Seu uso rotineiro e indiscriminado deve ser visto com
cautela, pela falta de estudos adequados. Todas as fontes coletadas para a confecção dessa revisão literária concluíram que
são necessários mais estudos para uma conclusão mais sólida.
REFERÊNCIAS
1. Salles MJ, Sprovieri SR, Bedrikow R, Pereira AC, Cardenuto SL,
Azevedo PR, et al. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica/
sepse: revisão e estudo da terminologia e fisiopatologia. Rev Assoc
Med Bras. 1999;45(1):86-92.
2. Brito MVH, Nigro AJT, Montero EFS, Nascimento JLM, Silva PRF,
Siqueira RBP. Viabilidade celular da mucosa do intestino delgado de
ratos, após correção de choque hipovolêmico com solução de NaCl
7,5%. Acta Cir Bras. 2003;18(4):326-31.
3. Castro EO, Figueiredo MR, Bortolotto L, Zugaib M. Sepse e choque
séptico na gestação: manejo clínico. Rev Bras Ginecol Obstet.
2008;30(12):631-8.
4. Friedman G, Soriano FG, Rios ECS. Reposição de volume na
sepse com solução salina hipertônica. Rev Bras Ter Intensiva.
2008;20(3):267-77.
5. Sales Júnior JAL, David CM, Hatum R, Souza PCSP, Japiassú A,
Pinheiro CTS, et al. Sepse Brasil: estudo epidemiológico da sepse em
Unidades de Terapia Intensiva Brasileiras. Rev Bras Ter Intensiva.
2006;18(1):9-17.
6. Zanon F, Caovilla JJ, Michel RS, Cabeda EV, Ceretta DF, Luckemeyer GD, et. al. Sepse na unidade de terapia intensiva: etiologias, fatores prognósticos e mortalidade. Rev Bras Ter Intensiva.
2008;20(2):128-34.
7. Novaes MRCG, Pantaleão CM. Arginina: bioquímica, fisiologia e
implicações terapêuticas em pacientes com câncer gastrointestinal.
Rev Ciênc Méd. 2005;14(1):65-75.
8. Piovacari SMF. Imunonutrição. Einstein. Educ Contin Saúde.
2008;6(2):41-3.
9. Ferreira IKC. Terapia nutricional em Unidade de Terapia Intensiva.
Rev Bras Ter Intensiva. 2007;19(1):90-7.
10. Marques CG. Como é o metabolismo da arginina? Nutritotal; 2005.
Disponível em:<http://www.nutritotal.com.br/perguntas/?acao=bu
&id=334&categoria=21>Acesso em: 18/7/2010.
11. Carvalho PRA, Trotta EA. Avanços no diagnóstico e tratamento da
sepse. J Pediatr. 2003;79(2):195-204.
12. Hecksher CA, Lacerda HR, Maciel MA. Características e evolução
dos pacientes tratados com drotrecogina alfa e outras intervenções
da campanha “Sobrevivendo à Sepse” na prática clínica. Rev Bras
Ter Intensiva. 2008;20(2):135-46.
Local de realização do trabalho: Faculdade Maurício de Nassau, Recife, PE, Brasil.
Rev Bras Nutr Clin 2012; 27 (1): 36-42
42