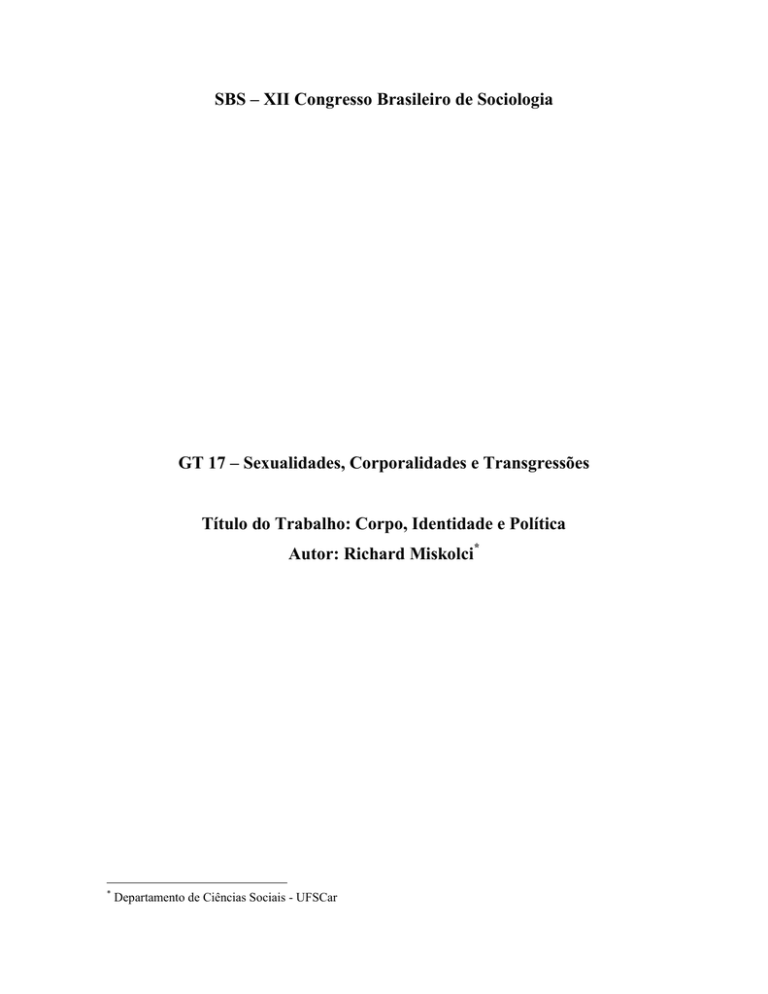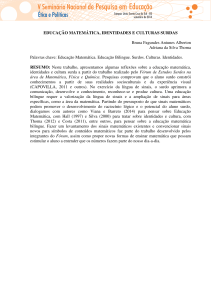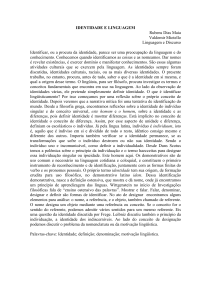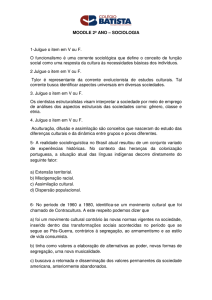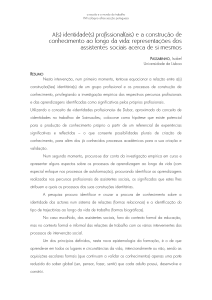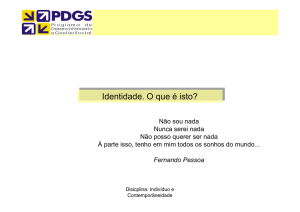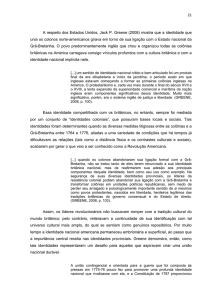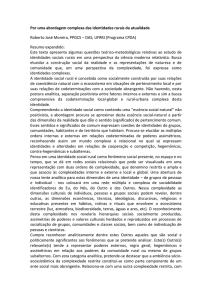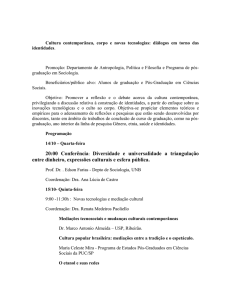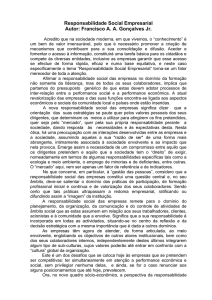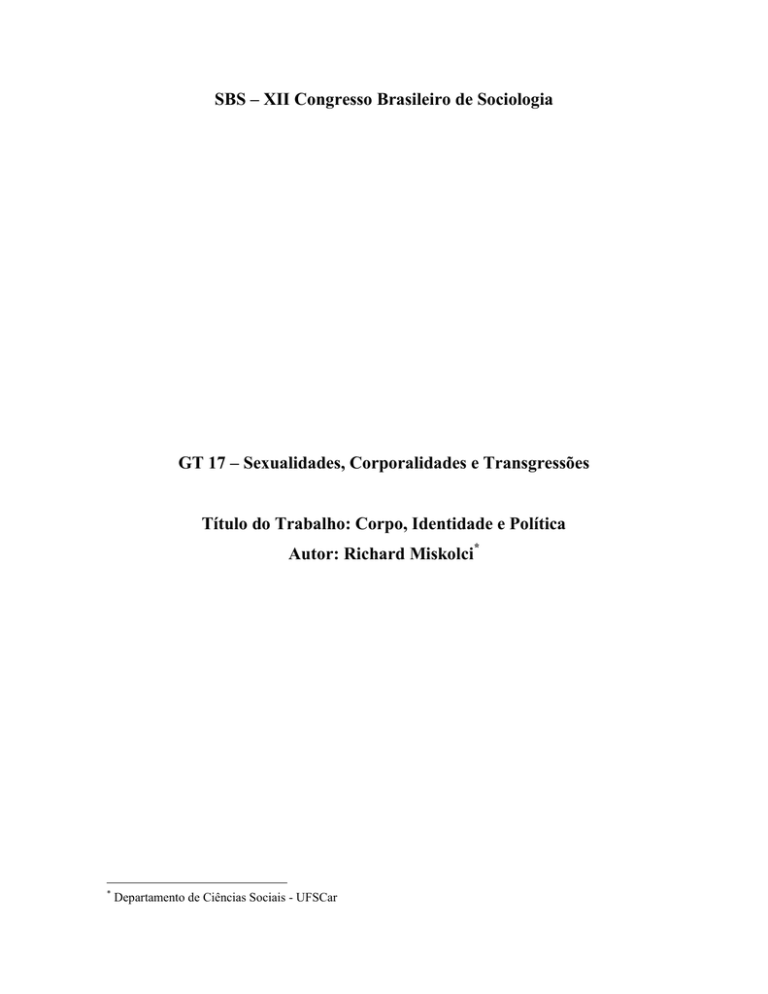
SBS – XII Congresso Brasileiro de Sociologia
GT 17 – Sexualidades, Corporalidades e Transgressões
Título do Trabalho: Corpo, Identidade e Política
Autor: Richard Miskolci*
*
Departamento de Ciências Sociais - UFSCar
1
Em Eu Canto o Corpo Elétrico, um poema escrito em meados do século XIX, Walt
Whitman indagava: “E se o corpo não for a alma, o que é a alma?” Em nossos dias, em
tempos em que a matéria parece ter vencido as especulações metafísicas, deparamo-nos não
com o corpo sonhado por Whitman, o corpo intersecção das almas, das relações afetivas e
sociais mais intensas. Vivemos na era do corpo como encarnação da identidade,
sustentáculo dos ideais societários que incidem sobre os indivíduos e depositário das
ansiedades individuais sobre a possibilidade de adequação ao mundo. Parodiando Whitman
só podemos questionar: E se meu corpo não se adequar ao que esperam de mim, o que será
de mim?
As relações entre corpo e identidade social têm uma história ainda pouco conhecida.
Se quisermos compreender porque hoje se exige uma adequação, ou mesmo equivalência,
entre o que se é e o corpo que se tem, precisamos retraçar as formas como nossa sociedade
compreendeu as identidades até chegarmos à “corporificação”. Nesse sentido, traçarei uma
genealogia crítica dos paradigmas sociais de compreensão das relações entre corpo e
identidade.
O paradigma que se impôs a partir do século XVIII pode ser denominado de
naturalizante, pois enfatiza a fonte biológica (ou bio-psíquica) das identidades. As ciências
humanas só se contrapuseram a este paradigma por volta de meados do século XX, com o
chamado “paradigma construtivista”, o qual sublinhou a construção social das identidades
através de processos históricos e colocou em xeque determinantes biológico-psíquicos.
Esse paradigma afirma que nascemos com corpos diferenciados sexualmente e que nossas
2
identidades são criadas, mantidas ou transformadas através de instituições, práticas e
discursos.
Discussões teóricas contemporâneas buscam refinar este modelo teórico. Não se
trata de refutar o construtivismo e muito menos voltar a explicações deterministas de cunho
biológico. O objetivo é reavaliar a dicotomia, que permanece no paradigma construtivista,
entre um corpo neutro sobre o qual se construiria a identidade social. Hoje podemos afirmar
claramente: a oposição natureza/cultura não é mais sustentável, pois sabemos que a própria
natureza é uma invenção humana. Da mesma forma, o corpo não é neutro e não é sobre esta
suposta base que opera a construção social das identidades.
A superação contemporânea do construtivismo mostra que a oposição
corpo/identidade é enganosa e que a oposição natureza/cultura que lhe dá sustentação
camufla práticas reguladoras, processos segundo os quais se criam socialmente identidades
hegemônicas e marginais. Assim, corpo e identidade se relacionam na construção social dos
esquemas de inteligibilidade e dos comportamentos considerados normais ou desviantes. A
identidade social não pode mais ser compreendida como algo desencarnado, pois ela é
corpórea desde antes mesmo de nossa concepção.
Da Ascensão da Natureza ao Modelo Construtivista
Durante o século XVIII, ocorreram duas mudanças fundamentais nos saberes sobre
o ser humano. A primeira mudança foi política, a decadência do Ancien Régime e a
emergência de ideais democráticos de igualdade entre os seres humanos. A outra foi menos
visível, mas não menos importante. Provavelmente, como reação às novas demandas de
3
igualdade, ocorreu uma transformação epistemológica em que explicações das diferenças
entre os indivíduos passaram a se assentar na natureza. A esfera pública burguesa foi criada
como domínio dos homens e esse privilégio se baseou em uma antropologia física da
diferença sexual que manteve as mulheres na esfera privada, reféns do mito da maternidade
e de sua inelutável diferença-inferioridade biológica (Laqueur, 2001, p.242).
A natureza como ainda a concebemos emergiu nesse momento e tornou-se o
alicerce de toda uma ciência sobre o ser humano, a qual se distanciava das explicações
religiosas. Até hoje atribuir naturalidade a algo é o mesmo que o tornar indiscutível. Nesse
novo padrão epistemológico, a ambição de neutralidade científica seria alcançada pela
biologia. Era como se esse ramo do conhecimento humano fosse absolutamente isento e
livre de dilemas interpretativos. Progressivamente, a biologia criou os padrões científicos
de investigação mais respeitados e, em meados do século XIX, seu poder explicativo
parecia incontestável.
Foi o poder atribuído às explicações biológicas que permitiu que a teoria da
evolução exposta por Charles Darwin em 1859 se tornasse um divisor de águas na história
da ciência (Stepan, 1982). Segundo a ciência pré-Darwin as espécies eram criações divinas
fixas, mas seu estudo demonstrava que na verdade as espécies eram eternas mutantes
através de um processo natural de variação, luta e seleção dos traços favoráveis à
sobrevivência. Assim, a adaptação e a mudança ocorriam de forma que novas espécies se
formavam a partir de antigas, num processo de transmissão de características aos
descendentes.
A ciência pós-Darwin tinha na hereditariedade um novo alicerce. As diferenças
humanas eram compreendidas como produto de sua ascendência. Na verdade, não se evitou
confundir aparência com essência e logo o próprio caráter, comportamento e interesses
4
passaram a ser vistos como herança dos antepassados. Tornou-se dominante a associação
entre características físicas e mentes, portanto o que alguém era equivalia ao que parecia
ser. Julgar pelas aparências era a regra e logo a psiquiatria criaria ramos devotados às
questões do crime e da sexualidade. O que unificava todos esses saberes e fundamentava a
associação entre aparência física e atributos morais era a crença de que as identidades eram
naturais, biologicamente criadas.
Acreditava-se que alguém nascia predeterminado por sua “natureza”, herdeiro dos
atributos positivos e negativos de seus ancestrais. Pior do que isso, acreditava-se na herança
de características adquiridas, portanto filhos de maus casamentos, leia-se casamentos entre
pessoas de classes sociais ou raças diferentes, iriam se revelar seres degenerados, propensos
à doença e comportamentos sociais perigosos (Stepan, 1996). Aqueles cujo comportamento
fugisse às normas sociais estariam fadados ao crime e à degeneração sexual. Por isso, seus
comportamentos ou práticas passaram a ser vistos como o cerne deles, suas essências, ou
mais claramente, o que passou a ser compreendido como o que definia suas identidades.
A transformação de comportamentos em identidades se deu no terço final do século
XIX. A preocupação era com aqueles que supostamente ameaçavam a ordem social
burguesa e seus valores. Ramos da psiquiatria como a sexologia e a criminologia
enquadraram
esses
comportamentos-identidades
em
categorias
sociais
como
o
homossexual, a prostituta, o criminoso nato, o alcoólatra, portanto, atribuindo uma
identidade fixa, mais especificamente uma essência “corrompida”, a todos que se
desviassem das normas socialmente hegemônicas (Foucault, 2001; Miskolci, 2003).
Entre fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX, emergiram teorias
sobre o criminoso nato, a prostituta, a tendência maior dos judeus à loucura, o temor das
conseqüências da miscigenação. Toda identidade era vista como produto de condições
5
biológicas fixas e irremediáveis. Tais idéias legaram-nos políticas públicas voltadas para o
controle populacional, a segregação racial e também, nos momentos mais sombrios do
último século, processos de limpeza étnica, internamentos dos indivíduos considerados
perigosos ou ainda os campos de concentração (Stepan, 1996; Ordover, 2003).
As identidades, quaisquer que fossem, eram compreendidas como biologicamente
determinadas, expressão de essências imutáveis, as quais poderiam representar o
enquadramento na normalidade ou no desvio. Dominava a classificação como sentença,
pois ser classificado como anormal equivalia a um julgamento definitivo. O temor
provocado por essa forma inflexível de regulação dos comportamentos era suficientemente
poderoso para garantir a manutenção das normas hegemônicas. A ameaça do estigma fazia
valer os imperativos sociais e o predomínio de formas de comportamento prescritas e
controladas. Logo, todos, normais ou desviantes, só podiam compreender a si próprios
como produto inelutável de uma suposta “natureza”, um termo que ocultava, sob a
aparência de neutralidade, relações de poder.
A superação dessa forma biológica, ou essencialista, de compreender as identidades
não se deu por completo e basta observar jornais, programas televisivos e até notícias sobre
novas teorias genéticas sobre identidades e comportamentos para constatar que ainda é forte
a associação entre identidade e natureza. Por sorte, isso não domina nas ciências sociais.
Desde ao menos o final da década de 1940 houve um progressivo avanço de um paradigma
de compreensão das identidades que enfatiza os fatores sociais e históricos como os mais
importantes.
É difícil datar as origens do paradigma construtivista, mas sem dúvida O Segundo
Sexo (1948) de Simone de Beauvoir foi importante para sua criação. A frase da pensadora
francesa: “Não se nasce mulher, torna-se mulher” ainda carrega consigo a oposição entre
6
natureza e cultura. A pensadora francesa indicava que ser mulher não era um fato biológico,
antes uma construção social. Foi um grande passo na superação do modelo naturalizante de
compreensão das identidades, mas apenas na década de 1970 podemos afirmar que o
paradigma construtivista emergiu de forma definitiva. Sociólogos e antropólogos
contribuíram para isso. Ainda que seja impossível citar a todos, é importante mencionar
pesquisadores como Mary McIntosh, Jeffrey Weeks, Kenneth Plumer, Gayle Rubin e, é
claro, Michel Foucault (Rubin, 2003, p.184).
De forma geral, a teoria da “construção social” afirma que identidades não podem
ser explicadas biologicamente, antes através da investigação dos processos históricos e
sociais que as constituem. A compreensão desses processos colocou em evidência as
assimetrias de poder que instituem as identidades e como a naturalização justifica e permite
a manutenção das desigualdades. Assim, argumentos naturalizantes tendem a corroborar a
dominação masculina.
O paradigma da construção social das identidades representou um avanço, mas não
um rompimento completo com o essencialismo. Na linha dos estudos de gênero, as
explicações construtivistas davam a entender que havia algo natural, “anterior” à
construção, o sexo, sobre o qual se inscrevia ou moldava a identidade social. O paradigma
construtivista procurava romper com explicações naturalizantes, mas se estabelecia nos
termos delas ao aceitar a existência de uma matriz “anterior ao social”.
A manutenção da crença em uma base ahistórica e, de certa forma, natural, permitiu
que o corpo fosse encarado como um dado fora da cultura, portanto anterior às relações de
poder. Se assim o era, então características “raciais” eram aceitáveis como fixas e
verdadeiras assim como a diferenciação dos genitais corroborava a existência de apenas
duas opções para a compreensão dos seres humanos em termos de gênero. Dois genitais
7
apresentavam uma suposta base heterossexual irrefutável como a fonte binária do gênero.
Assim, o binarismo heterossexista se justificava em termos corporais e moldava as
possibilidades de luta contra as desigualdades dentro de uma oposição estreita entre dois
sexos opostos e incomensuráveis: as mulheres contra os homens.
A teoria da construção social se volta contra seus próprios objetivos por não romper
com a oposição natureza-cultura. Este rompimento só seria possível a partir do momento
que também o corpo fosse encarado como construção social, como tendo uma história, a
qual é indissociável da história das identidades. Corpo e identidade social finalmente se
encontravam no ponto nodal que é o gênero.
Além do Construtivismo
O modelo construtivista foi colocado em xeque a partir da segunda metade da
década de 1980. Alguns teóricos partiram da construção discursiva das sexualidades
exposta por Michel Foucault e do procedimento metodológico da desconstrução proposto
por Jacques Derrida para questionar e desestabilizar binarismos que fundam a compreensão
das
identidades.
Assim,
oposições
como
homem-mulher
e
heterossexualidade-
homossexualidade passaram a ser discutidas como parte de uma mesma estrutura de
compreensão das diferenças humanas e de uma gramática de relações de poder. Essa
estrutura mantinha intocados alguns pressupostos do paradigma essencialista e, sobretudo,
ocultava o fato de que alguns desses pressupostos eram imposições sociais.
Os teóricos que buscaram refinar o modelo construtivista procederam de forma a
enfatizar a interdependência a fragmentação das oposições binárias, a mostrar que cada
8
pólo contém o outro, de forma negada ou desviada. Dessa forma, os opostos carecem um do
outro para adquirir sentido. A oposição heterossexualidade/homossexualidade, por
exemplo, foi desconstruída em sua unidade por pesquisadoras como Eve Kosofsky
Sedgwick. Inspirada nela, Joan W. Scott afirma:
“Não apenas a homossexualidade define a heterossexualidade especificando seus limites negativos, e
não apenas a fronteira entre ambas é mutável, mas ambas operam dentro das estruturas da mesma
„economia fálica‟ – uma economia cujos fundamentos não são levados em consideração pelos
estudos que procuram apenas tornar a experiência homossexual visível. Uma maneira de descrever
essa economia é dizer que o desejo é definido pela perseguição ao falo – aquele significante velado e
evasivo que está imediata e totalmente presente mas inatingível, e que consquista seu poder através
da promessa que ele contém mas que nunca cumpre inteiramente. Teorizado desta forma,
homossexualidade e heterossexualidade trabalham de acordo com a mesma economia, suas
instituições sociais espelhando uma à outra. As instituições sociais nas quais o sexo homossexual é
preticado pode inverter aquelas associadas com o comportamento heterossexual dominante
(promíscuo versus contido, público versus particular, anônimo versus conhecido, e assim por diante),
mas ambas operam dentro de um sistema estruturado de acordo com a presença e a falta. Na medida
e que esse sistema constrói sujeitos de desejo (legítimos ou não), simultaneamente estabelece-os, e a
si mesmos, como dados e fora do tempo, do modo como as coisas funcionam, com o modo que
inevitavelmente são.” (Scott, 1998, p.303-304)
A interdependência entre heterossexualidade e homossexualidade foi apresentada
também de forma a sublinhar o caráter de obrigatoriedade social da primeira. Essa
desconstrução da naturalidade das relações heterossexuais e o compromisso com a
perspectiva do diferente diante das relações de poder estão entre as razões que levaram os
teóricos de que tratamos aqui a serem definidos como parte de uma mesma corrente, a
9
teoria queer (esquisita, estranha, também a forma depreciativa com que falantes da língua
inglesa se referem a gays e lésbicas).1
A teoria queer desnaturalizou as identidades e os corpos. Assim, abriu espaço para a
constituição de um novo paradigma teórico de compreensão das identidades. Esse novo
paradigma só foi possível por romper o binarismo natureza/cultura, ou seja, por refutar uma
base biológica neutra (ou natural) sobre a qual construir-se-iam as identidades. Não é
possível isolar a natureza nem definir onde começa a cultura. As identidades não são
construídas sobre os corpos como se esses tivessem em si algo de anterior ao social. Ao
contrário, as identidades se constroem através dos corpos, elas são matéria palpável com
limites claramente definidos que geram a impressão de fixidez, constância e permitem,
assim, que as convenções identitárias socialmente construídas adquiram “naturalidade”. A
constatação de que não apenas as identidades, mas os próprios corpos são construções
sociais têm conseqüências que mal começamos a encarar.
Depreende-se do afirmado acima que a constituição do paradigma pós-construtivista
exige o desenvolvimento de uma história social dos saberes e práticas sociais sobre os
corpos. Em outras palavras, precisamos estudar historicamente como fomos levados a crer
que os corpos eram naturais, neutros, uma base sobre a qual se construíam identidades
sociais. Desvelar os processos históricos de naturalização do social permite mais do que
constatar que os corpos não são naturais nem neutros. A história da construção social dos
corpos-identidades revela relações de poder, práticas regulatórias e seus mecanismos que
ainda atuam sobre nós.
1
Dentre os/as teóricos queer mais conhecidos destacam-se a já citada Eve Kosofsky Sedgwick, Teresa de
Lauretis, David Halperin e Judith Butler. Para uma introdução a essa linha de estudos consulte Jagose,
Annemarie. Queer Theory – An Introduction. New York, New York University Press, 1996.
10
Nesse intuito de uma história dos corpos que permita desenvolver o paradigma pósconstrutivista é importante sublinhar que lidar com identidade necessariamente exige lidar
com gênero, pois como afirma Judith Butler: “Seria errado supor que a discussão sobre a
„identidade‟ deva ser anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela simples razão
de que as „pessoas‟ só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em conformidade com
padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero.” (Butler, 2003, p.37) Assim, a
identidade-chave de todo indivíduo é a de gênero, a qual durante muito tempo se baseou em
uma relação com os órgãos sexuais, sobre uma base material que se acreditava neutra.
Ninguém nasce com um corpo neutro sobre o qual será construída uma identidade.
Antes mesmo do nascimento e até nos planos dos futuros pais só existem duas
possibilidades culturais de compreensão do ser que será gerado: menino ou menina? A
bipolaridade de gênero associada aos órgãos sexuais existe antes de nossa concepção.
Assim, chegamos ao mundo em um corpo generizado, culturalmente definido pelos genitais
como prometido a uma das polaridades socialmente construídas do masculino ou feminino.
A perspectiva pós-construtivista torna claro que foi por meio da delimitação dos
limites externos, negativos, que foi possível estabelecer a hegemonia de certas identidades
socialmente desejadas. Além de classificar e controlar os chamados “anormais” ou
desviantes, a consolidação de uma forma de entender comportamentos e práticas como
marcas delimitadoras de identidades tinha uma utilidade maior e menos visível: regular os
processos de identificação segundo as normas sociais.
Dois exemplos ajudam a compreender esse processo de criação de identidades
hegemônicas em contraste com as socialmente estigmatizadas: a identidade considerada
padrão para a mulher e o homem. A identidade feminina socialmente esperada foi
consolidada por meio do que ela não deveria ser, através de um exemplo negativo: a
11
prostituta. A identidade estigmatizada expressava os tabus a serem mantidos, ou seja, a
mulher normal deveria se conformar a uma posição coadjuvante no casamento, na família e
dedicar-se ao marido e filhos. A sexualidade monogâmica, heterossexual e reprodutiva
definia também o que se esperava do homem. A figura que representava o inaceitável em
seu caso era o homossexual, o qual a psiquiatria definia como pura sexualidade, promíscuo
e refém de relações “estéreis”.
O paradigma construtivista revela sua fraqueza diante das constatações
mencionadas: não há natureza, pois ela mesma é uma invenção humana. O corpo tem uma
história e, portanto, nada tem de neutro. Os paradigmas de identificação se arvoram no
binarismo sexual e de gênero, mas de forma mais sofisticada do que antes se compreendia.
A identidades do homem e da mulher não se constroem em oposição uma à outra, antes por
meio de processos que camuflam o caráter contestável dessa oposição.
A história da construção social da inteligibilidade dos corpos e das identidades está
em processo e podemos citar o avanço representado por uma obra como A Invenção do
Sexo de Thomas Laqueur. O historiador da ciência mostra como as ciências biológicas, em
especial a anatomia, construíram uma nova imagem e um novo significado para os sexos a
partir do século XVIII. A incomensurabilidade dos sexos “opostos” foi uma invenção que
reagiu a uma nova configuração das relações de poder e, sobretudo, da possibilidade da
afirmação da igualdade entre os seres humanos (Laqueur, 2001, p.254).
A partir de fins do século XVIII emergiu a tendência progressiva à consolidação de
um paradigma binário em que os órgãos sexuais se tornam os pólos determinantes da
crença em sexos opostos, naturais, portanto justificadores cabais das diferenças de gênero.
No momento em que se declara que todos nascemos iguais, as conseqüências políticas
12
dessa afirmação são neutralizadas por saberes e práticas sociais que conferem uma
incomensurabilidade entre os sexos e, a partir destes, aos gêneros.
Os sexos são criação social tanto quanto o gênero e isto nos impõe um desafio
teórico: como lidar com corpo e identidade sem cair nos velhos determinismos biológicos e
psíquicos? Antes de mais nada, é necessário constatar que a oposição criada entre a teoria
da construção social e o essencialismo obscurece a complexidade das condições em que se
assumem sexo e sexualidade. O essencialismo apresentava a visão falsa de um lócus
original, biológico ou psíquico, que determinava as identidades de forma que essas
permaneciam no terreno da determinação e da fixidez. O construtivismo, por sua vez, se
levado ao extremo, poderia levar-nos à falsa impressão de que tudo se constrói
discursivamente e até mesmo à idéia de que existiria a “liberdade de um sujeito para formar
sua sexualidade como lhe interessa.” (Butler, 2003, p.145)
Butler, em Bodies that Matter (1997), propos superar este quase voluntarismo
implícito na teoria da construção social ao levar em consideração o terreno das restrições no
desenvolvimento de sua teoria da materialização, na qual o principal conceito é o de
performatividade, o qual não pode ser confundido com performance, pois é muito mais do
que atuação. Segundo Butler, a performatividade é um processo temporal de construção dos
corpos-identidades que opera através da reiteração de normas. A reiteração presente de uma
norma ou um conjunto de normas oculta ou dissimula as convenções das quais é uma
repetição. Assim, emerge a impressão de naturalidade dos corpos, dos gestos, das fronteiras
e diferenças que criam a ilusão da incomensurabilidade dos sexos e gêneros. Ou, nas
palavras de Butler: “não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero, essa
identidade é performaticamente constituída, pelas próprias „expressões‟ tidas como seus
resultados.” (Butler, 2003, p.48)
13
Na performatividade, encontramos um processo de materialização que se estabiliza
com o tempo para produzir um efeito de fronteira, de permanência, de superfície, ou seja,
de matéria. É a performatividade que cria os corpos que importam, ou, sendo mais fiel ao
sentido desta expressão em inglês (bodies that matter), os corpos que têm matéria, são
inteligíveis, normais. No extremo, esses corpos-identidades são naturais porque
conformados às normas da aceitabilidade social.
O processo de materialização dos corpos revela-se socialmente determinado. É a
vitória da teoria da construção social que sabiamente incorpora as restrições, a estrutura
corporal, a matriz, a matéria. A materialização dá inteligibilidade e legitima os corpos
“normais” em constante comparação, delimitação de fronteiras com os corpos abjetos ou
deslegitimados, aqueles que no limite nem são considerados corpos, os “corpos que
escapam” segundo Guacira Lopes Louro ou ainda os “corpos errados” na visão de Sander
L. Gilman (1999).
Chegamos àquela que considero a principal conseqüência deste novo paradigma de
compreensão das identidades sociais: ele evidencia as relações de poder que constituem os
corpos-identidades como práticas reguladoras da naturalidade e da anormalidade, da
normalidade e do desvio.
A identidade social é corporificada, portanto é no corpo que o social investe
símbolos e os materializa. Assim, o corpo é um projeto social em andamento, objeto de
pedagogias reiteradoras das normas de sexo e gênero. Os “corpos que importam” são os
corpos conformados às normas, mas há algo mais do que conformação em jogo. Os corpos
aceitáveis, normalizados, só existem em uma relação ambígua com os “corpos que
escapam”. Não se trata de uma relação de inclusão e aceitação social versus exclusão e
14
rejeição, antes de uma economia dos limites e das fronteiras que conferem forma e
legitimidade a alguns apenas recusando naturalidade e legitimidade a outros.
Os corpos que não importam, escapam ou são “errados” não são excluídos. O
excluído também é constituído pelo centro, portanto não lhe cabe uma existência
independente dele, uma exterioridade absoluta. Isso é apenas um dos fatos que a
perspectiva construtivista era incapaz de explicitar ou, quando muito, o fazia dentro de uma
oposição binária entre categorias cuja relação era, na verdade, de complementariedade. A
oposição mulher-homem, por exemplo, induzia a uma política em que a luta contra a
desigualdade entre os sexos se dava nos termos da dominação masculina, dentro da
heterossexualidade compulsória.
A teoria da construção social tornou visíveis as assimetrias de poder que permitiram
e mantém a dominação masculina. De qualquer forma, esse paradigma mantinha veladas as
relações de poder que constituem corpos-identidades naturalizados em oposição a corposidentidades anormais. A teoria da materialização proposta por Butler escapa às oposições
tradicionais herdadas do essencialismo como mulher em oposição a homem ou feminino
em oposição ao masculino. O reconhecimento dos corpos-identidades fora dos esquemas de
inteligibilidade e aceitação social obriga-nos a repensar a gramática das relações de poder.
São os corpos sem matéria, os indivíduos que não são reconhecidos como sujeitos
que constituem os limites do aceitável e do que é considerado normal. É esse espaço do
queer que aponta para uma superação das convenções que marcaram as lutas políticas do
feminismo até o presente. Aproximamo-nos, portanto, de uma crítica radical das categorias
de identidade, de uma desestabilização de sua presumida coerência. Isso nos coloca diante
da questão de Butler: “que possibilidades políticas são conseqüência de uma crítica radical
das categorias de identidade?” (Butler, 2003, p.9)
15
Há poderes que constituem as próprias reivindicações representacionais dos
movimentos identitários, quer seja o feminismo ou o movimento gay ou ainda o negro.
Butler afirmou a necessidade de formular uma política representacional capaz de renovar o
feminismo em outros termos que não os fincados na categoria mulheres, a qual só alcança
consistência na matriz heterossexual.
É necessário romper com a lógica binária por trás das identidades, a qual gera
hierarquia, dominação e exclusão. A política fincada em identidades leva sempre à
demarcação e à negação do seu oposto. Esse “outro” indispensável, ou identidade rejeitada,
constitui o sujeito fornecendo-lhe limites, mas como bem demonstra Butler, esse outro
também ameaça o sujeito com a instabilidade.
A estratégia queer evidencia as fissuras internas ao hegemônico para criticar a
materialização diferenciada do humano, a produção social do abjeto, dos corposidentidades que até pouco eram classificados como anormais, degenerados ou desviantes. A
velha política identitária caia facilmente na discussão do que era próprio ou impróprio,
natural ou anormal, portanto no binarismo que elidia a diferença dentro dos sujeitos. A
nova política precisa encarar o abjeto, evidenciar os processos que o criam e mantém como
oposto necessário para a existência do hegemônico, como a ameaça que o constitui.
Diante desse novo paradigma de compreensão das identidades-corpos emerge a
necessidade de uma visão política em que a diferença seja vista como parte dos sujeitos ao
invés de algo que lhes é exterior, oposto ou ameaçador.
Devemos estar atentos para as
estratégias coletivas e individuais que já buscam superar o medo das identidades
socialmente estigmatizadas e encaram o desafio de incorporá-las com o intuito não de
assimilá-las, antes como meio de colocar em xeque a suposta coerência das identidades
hegemônicas.
16
Referências Bibliográficas
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
BUTLER, Judith. Cuerpos que importan – sobre los limites materiales y discursivos
Del “sexo”. Buenos Aires, Anagrama, 2002.
___________. Problemas de Gênero – Feminismo e Subversão da Identidade. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
FOUCAULT, Michel. Os Anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GILMAN, Sander L. Making the Body Beautiful – A Cultural History of Aesthetic
Surgery. Princeton: Princeton University Press, 1999.
JAGOSE, Annemarie. Queer Theory – An Introduction. New York, New York
University Press, 1996.
LAQUEUR, Thomas. Inventando o Sexo – Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Rio de
Janeiro: Relume-Dumará, 2001.
LOURO, Guacira Lopes. Teoria Queer – Uma Política Pós-Identitária para a Educação. In:
Revista Estudos Feministas. Florianópolis: UFSC, v. 9, n. 2, 2001.
17
MISKOLCI, Richard. Reflexões sobre Normalidade e Desvio Social. In: Estudos de
Sociologia. Araraquara: Programa de Pós-Graduação em Sociologia/Departamento de
Sociologia, 2003, p. -
ORDOVER, Nancy. American Eugenics – Race, Queer Anatomy, and the Science of
Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
RUBIN, Gayle.Tráfico Sexual – Entrevista. In: Cadernos Pagu.Campinas, PAGU, v. 21,
2003, p.157-209.
SCOTT, Joan W. A Invisibilidade da Experiência. In: Projeto História 16. São Paulo,
fevereiro de 1998, p.297-325.
STEPAN, Nancy Leys. The Hour of Eugenics – Race, Gender, and Nation in Latin
America. Ithaca and London: Cornell University Press, 1996.
__________________. The Idea of Race in Science: Great Britain 1800-1960. London:
MacMillan, 1982.