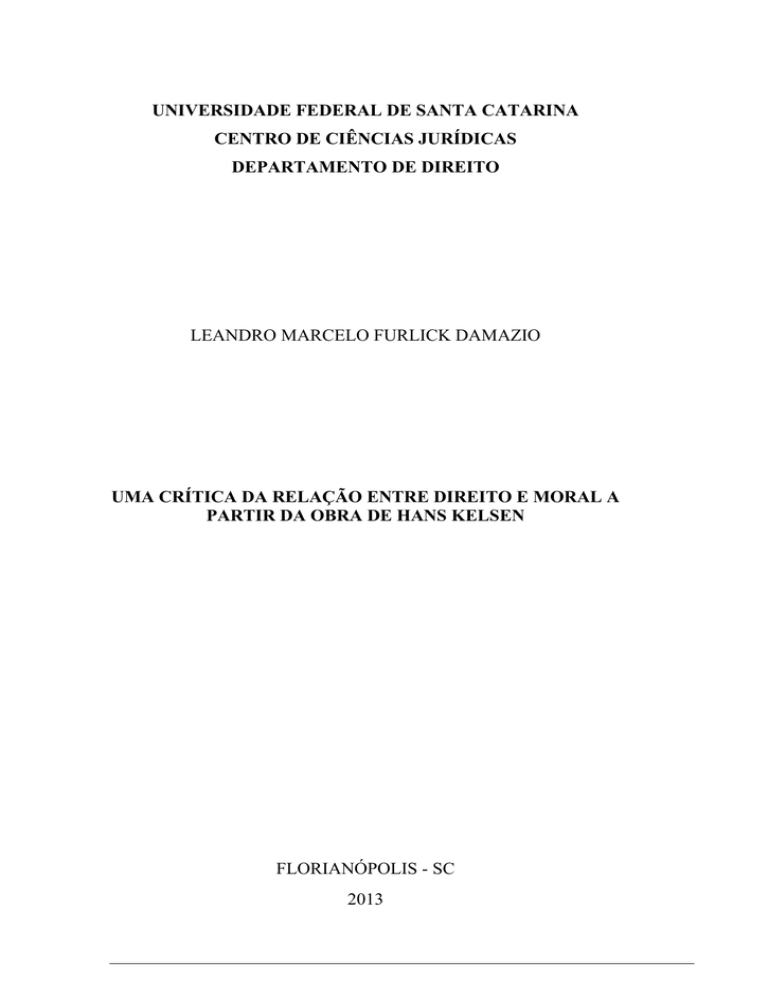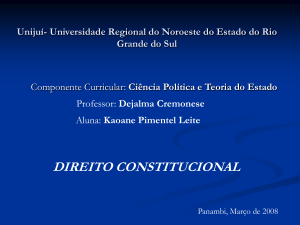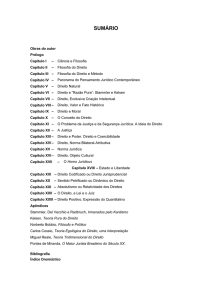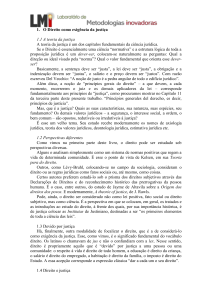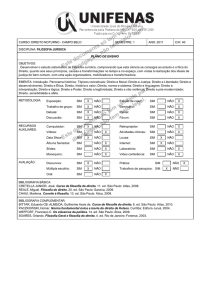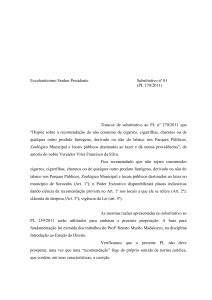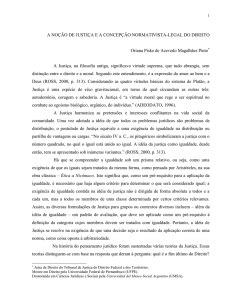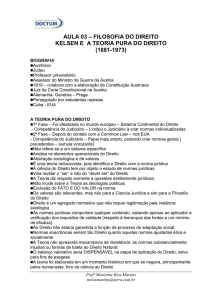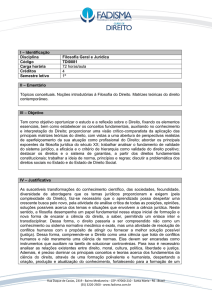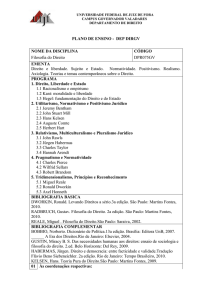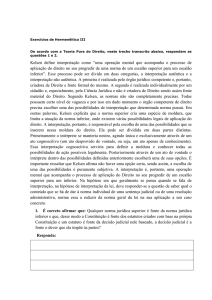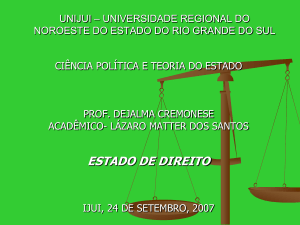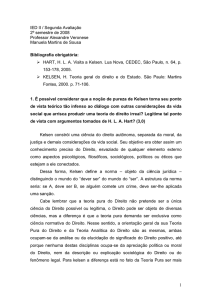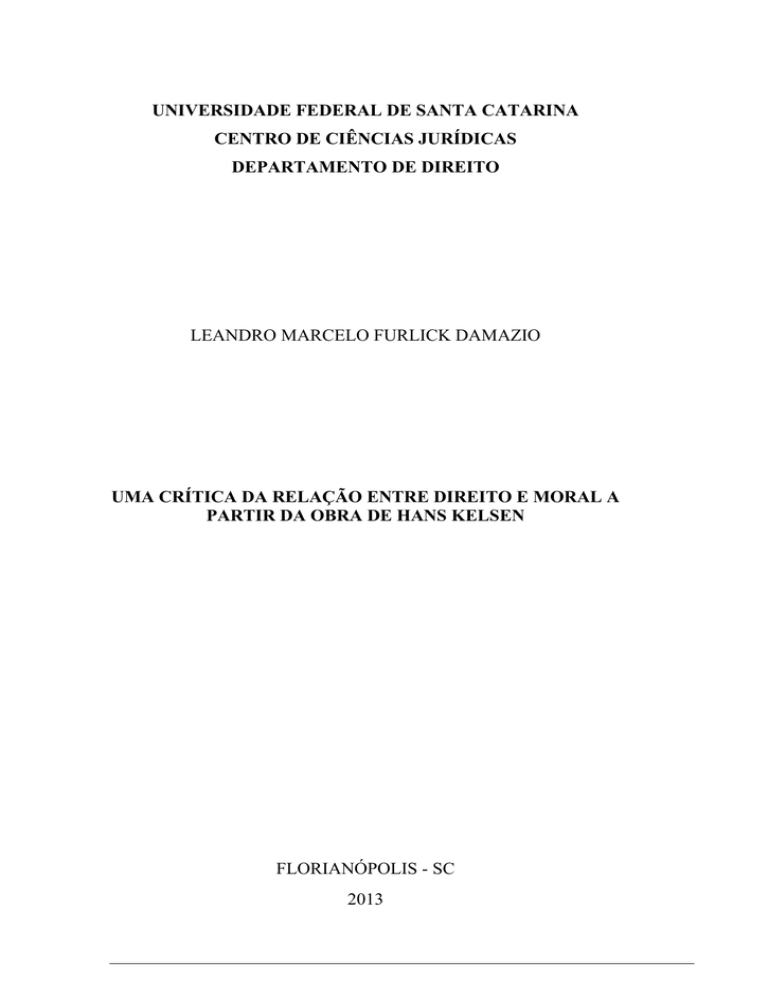
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO
LEANDRO MARCELO FURLICK DAMAZIO
UMA CRÍTICA DA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL A
PARTIR DA OBRA DE HANS KELSEN
FLORIANÓPOLIS - SC
2013
2
LEANDRO MARCELO FURLICK DAMAZIO
UMA CRÍTICA DA RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL A
PARTIR DA OBRA DE HANS KELSEN
Monografia apresentada à Universidade Federal de
Santa Catarina, como exigência final para obtenção do
título de bacharel em Direito.
Orientador: Prof. Eduardo Antônio Temponi Lebre,
UFSC.
FLORIANÓPOLIS - SC
2013
3
4
AGRADECIMENTOS
À Deus, pelas bênçãos da vida, saúde, capacidade, liberdade e determinação para a
conclusão desta etapa.
A meus pais Rosália e Celso, cujos valores, que por eles me foram ensinados,
constituíram especial inspiração para este trabalho.
Ao meu orientador, Eduardo Antônio Temponi Lebre, pelos conselhos e pela
simplicidade com que me recebeu.
5
“What we are is God`s gift to us.
What we become is our gift to
God”.
(Eleanor Powell)
6
RESUMO
O principal objeto desta pesquisa é a investigação epistemológica da moral e do direito.
Defendemos o argumento da existência de valores morais objetivos. As obras de Hans Kelsen
e de David Hume são especialmente fartas nesta matéria, razão por que foram escolhidas
como paradigma, tanto para utilização de seus ricos conceitos como porque constituem um
sólido contraponto à conclusão que intentamos chegar ao final da pesquisa, na medida em que
faremos uma crítica ao ceticismo moral - do qual esses autores são os grandes expoentes - a
partir do conceito aristotélico de justiça.
Palavras-chave: Hans Kelsen. David Hume. Moralidade.
7
ABSTRACT
The main object of this research is the epistemological investigation of moral and law. We
defend the argument of the existence of objective moral values. The works of Hans Kelsen
and David Hume are especially abundant in this area, so that we picked them in order to use
their rich concepts and also as a counterpoint to the conclusion that we intend to reach at the
end of the research, once we will criticize the moral ceticism - present in Kelsen’s and
Hume’s philosophy - from the Aristoteles’ concept of justice.
Keyword: Hans Kelsen. David Hume. Morality.
8
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 9
2 DISTINÇÕES ESSENCIAIS A RESPEITO DA MORAL ....................................................................... 13
2.1 CONCEITO DE MORAL, DIREITO E JUSTIÇA ............................................................................... 13
2.2 NORMAS MORAIS DO TIPO RACIONAL E DO TIPO METAFÍSICO ................................................. 14
2.3 MORAL ABSOLUTA E MORAL RELATIVA ................................................................................... 17
3 RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL .......................................................................................... 21
3.1 NORMAS MORAIS E NORMAS JURÍDICAS ................................................................................ 21
4 NORMATIVIDADE E CIÊNCIA JURÍDICA ...................................................................................... 29
5 DIREITO NATURAL E A OBJEÇÃO DE KELSEN .............................................................................. 33
5.1 NATUREZA DAS COISAS E NATUREZA HUMANA ....................................................................... 33
5.2 RAZÃO PRÁTICA..................................................................................................................... 35
6 FILOSOFIA MORAL KELSENIANA ............................................................................................... 38
6.1 HERENÇA DE HUME ............................................................................................................... 38
6.2 CETICISMO MORAL DE KELSEN ............................................................................................... 42
7 CRÍTICA DO CETICISMO MORAL ................................................................................................ 47
7.1 A POSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO OBJETIVO DA MORAL ................................................... 47
7.2 O CONTEÚDO DO DIREITO ...................................................................................................... 50
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................... 55
REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 59
9
1 INTRODUÇÃO
A questão moral preocupa o homem desde a gênese da organização social até a
contemporânea versão do Estado moderno, desde o mais simples camponês aos grandes
pensadores da humanidade.
Por vezes, um mínimo movimento que intentamos realizar esbarra no questionamento
do certo e do errado. O homem está preso à moral e a ela presta contas a cada passo dado, a
cada decisão tomada, a cada palavra proferida.
Esse julgamento se dá tanto na consciência mesma do sujeito como na consciência
social em que este se insere. Ora, as sociedades são distintas entre si, e tanto mais os são os
indivíduos, de modo que valores sociais diferem entre os respectivos diversos grupos
humanos.
Questiona-se, então, se o universo de valores morais constitui um objeto cognoscível,
capaz de ser apreendido pelo homem e orientar suas normas de conduta ou se, pelo contrário,
é a moral deduzida simplesmente a partir das normas convencionadas pelo homem. Em última
análise: é a moral subjetiva, ou existem leis morais objetivas?
A resposta a essa indagação é, talvez, o grande divisor de águas no que tange ao
conhecimento da ciência do direito e da filosofia do direito. Com efeito, qualquer seja a
concepção que tenhamos sobre o direito, não podemos nos esquivar de responder ao problema
da moral.
A obra de Hans Kelsen é especialmente farta nessa matéria. Por essa razão, ela será
tomada como paradigma, para a utilização tanto de seus ricos conceitos como de um
contraponto sólido à conclusão à qual se pretende chegar ao final da pesquisa.
Conquanto Kelsen rejeite qualquer justificação moral do direito – no sentido de
valorar uma norma jurídica como justa ou injusta, boa ou má, moral ou imoral – ele reconhece
que as normas sociais e, por conseguinte, a moral mesma, dá origem a qualquer ordenamento
jurídico.
Portanto, Kelsen debruça-se sobre a questão da moral e da justiça, de modo a justificar
o corte axiológico de sua Teoria Pura, especialmente haja vista a confusão, que por séculos
10
marcou a jurisprudência, entre direito e moral. Para isso, escreve centenas de páginas sobre “o
que é moral”, “o que é justiça”, e “o que é direito”.
Assim, um dos objetivos da presente pesquisa reside exatamente em entender as bases
em que Kelsen fundamenta a ciência jurídica separada dos valores e, especialmente, se essas
bases são lógica e empiricamente válidas. Em seguida, nos proporemos a responder ao
problema do conhecimento da moral e do direito, bem como da relação entre ambos.
Demonstraremos que a filosofia moral de Hans Kelsen é praticamente in totum
inspirada na obra de David Hume. O filósofo escocês é, talvez, o grande defensor da idéia de
que o nosso senso se justiça não deriva da razão ou da natureza e que não pode, portanto, ser
apreendida pelo homem tal como um objeto cognoscível.
Assim, a concepção moral de Kelsen é, tal como a de Hume, marcada pelo ceticismo,
na medida em que rejeita a possibilidade do conhecimento objetivo da moral. Com efeito, a
relatividade dos valores morais é um pressuposto da sua Teoria Pura do Direito.
Nossa investigação da relação entre direito e moral é crítica, pois buscamos as
condições originais de validade e de significado do conhecimento moral e jurídico. Valho-me,
no particular, das palavras de Reale:
Quando fazemos crítica filosófica, em suma, o que procuramos conseguir
são as condições primeiras, sem as quais a realidade não teria significação ou
validade. Fazer crítica, portanto, é descer à raiz condicionante do problema,
para atingir o plano ou estrato do qual emana a explicação possível. Criticar
é penetrar na essência de algo, nos seus antecedentes de existência
(pressupostos ônticos) ou então nos seus precedentes lógicos de
compreensão (pressupostos gnoseológicos). Tais pressupostos apresentam,
pois, um caráter transcendental, no sentido de que se põem logicamente
antes da experiência, sendo condição dela e não mero resultado de sua
generalização. (REALE, 1998, P. 67)
Vale dizer, enquanto a ciência busca conhecer e descrever seu objeto e obter fórmulas
gerais, a filosofia procura o fundamento desse objeto, sua significação e, em última análise,
seu valor universal. O conhecimento filosófico distingue-se do conhecimento científico,
portanto, por seu caráter crítico-axiológico.
Nesse sentido, a Teoria Pura do Direito difere, por exemplo, da Crítica da Razão
Prática, de Kant. Esta investiga os pressupostos universais das normas humanas, as categorias
a priori da vontade do homem impressa em uma regra, ao passo que aquela procura deduzir
conceitos genéricos de uma ordem jurídica e explicar o seu funcionamento. Cumpre ressaltar,
11
contudo, a particularidade da Norma Fundamental da teoria kelseniana, a qual se assemelha a
uma crítica filosófica, todavia desprovida do caráter axiológico, pois é uma norma apenas
hipotética, apenas pressuposta, e não posta como as categorias a priori de Kant.
Começaremos por tentar compreender, em linhas gerais, o conceito de moral e de
justiça e a distinção entre moral e justiça. Em seguida, examinaremos os tipos de normas de
justiça, tal como delineadas por Kelsen – normas de justiça metafísicas e normas de justiça
racionais.
A relação entre moral e justiça é anterior à relação entre direito e justiça. Veremos que
a moral é uma exigência natural da justiça, ela é o modo (conduta) pelo qual o homem pode
chegar à justiça.
A relação entre direito e moral constitui o objeto do terceiro capítulo. Ali exporemos
as razões por que Kelsen abstrai o conteúdo moral da norma jurídica a fim de conceber uma
ciência do direito.
Quanto aos julgamentos práticos – sobre o que fazer e o que não fazer – indagaremos
quais os dados fornecidos pela experiência que fundamentam as leis naturais sobre
julgamentos da prática. Renderemos um capítulo para a análise do direito natural.
Em seguida, mergulharemos na filosofia moral de Hans Kelsen, mas não sem antes
tecer alguns comentários sobre O Tratado da Natureza Humana, de David Hume, cuja
filosofia inspirou Kelsen.
Por fim, faremos uma análise do ceticismo moral de Hume e Kelsen, com o exame de
seus fundamentos, e concluiremos com uma exposição sobre a possibilidade do conhecimento
objetivo da moral e do conteúdo do direito.
Procuraremos, em cada capítulo, expor o pensamento de Kelsen sobre cada assunto
tratado, para, ao final, poder tecer conclusões do seu pensamento de maneira justa e
apropriada, em consonância com sua grandiosa obra.
Como veremos ao decorrer deste escrito, a moral é preenchida por valores. Há quem
defenda que seus valores são relativos e há quem sustente a existência de valores morais
objetivos.
12
O principal objeto desta pesquisa é uma breve investigação sobre os fundamentos da
moral, da justiça e do direito, sobretudo com o fim de responder se é possível um
conhecimento objetivo da moral e se esse conhecimento acresce à ciência jurídica, tal como
concebida por Kelsen.
Vivemos em um tempo onde a sociedade é marcada pelo relativismo moral. Nossa
hipótese é a de que podemos conhecer alguns princípios morais os quais possam ser
universalmente válidos.
13
2 DISTINÇÕES ESSENCIAIS A RESPEITO DA MORAL E DA JUSTIÇA
2.1 CONCEITO DE MORAL, DIREITO E JUSTIÇA
A palavra moral pode constituir tanto um substantivo como um adjetivo. O substantivo
deriva diretamente do latim mos, moris (relativo aos costumes), ao passo que o adjetivo
advém de moralis, ambas tentativas de traduzir o grego éthos (costume, uso) ou êthus
(caráter, modo de ser). Como substantivo, pode significar uma particular ordem de valores
sociais (“uma moral”) ou um ordenamento universal de regras para o convívio humano (“a
moral”); essa distinção será objeto de análise nos próximos tópicos. Como adjetivo, expressa
a qualificação de um ato ou de um sujeito - através de uma atribuição ou predicação – de
acordo com a moral.
Justiça (Justitia) é a representação do que é justo (justus, recto). É a retidão segundo o
direito. Abbagnano divide seu conceito em dois significados principais: “Justiça como
conformidade da conduta a uma norma” e “Justiça como eficiência de uma norma (ou de um
sistema de normas), entendendo-se por eficiência de uma norma certa capacidade de
possibilitar as relações entre os homens”. (ABBAGNANO, 2003, p. 593).
A moral representa sobretudo um valor, um valor de justiça. Em Aristóteles, esse
valor, no sentido objetivo, remete à felicidade da comunidade política. No sentido subjetivo,
refere-se à virtude. Assim, a justiça é o cumprimento da felicidade da comunidade pela
virtude humana (moral), através da lei (direito).
Na obra de Kelsen encontramos a concepção de que:
[…] nem toda norma moral é uma norma de justiça, nem toda norma de uma
moral constitui o valor justiça. Apenas uma norma que prescreva um
determinado tratamento de um indivíduo por outro indivíduo, especialmente
o tratamento dos indivíduos por parte de um legislador ou juiz, pode ser
considerada uma norma de Justiça. (KELSEN, 1996, p. 4.)
Justiça, moral e direito relacionam-se como uma relação entre fim e meio: a Justiça é o
fim que se é atingido através da moral e do direito, ou somente do direito – a depender da
concepção de Justiça que se tenha, conforme a distinção de Abbagnango acima referida, entre
Justiça formal (legal) e Justiça material.
14
Contudo, esclarece Kelsen que não é toda e qualquer norma moral também uma norma
da Justiça: o traço característico desta última espécie normativa reside na sua prescritividade
de um tratamento, ou seja, o seu conteúdo deve regular o tratamento de um indivíduo por
outro. Assim, a norma moral geral prescreve uma conduta humana, ao passo que a norma de
justiça prescreve igualmente uma conduta, mas esta dirigida ao trato com outro homem. Nas
palavras de Kelsen:
A norma: 'não devemos suicidar-nos' pode ser norma de uma moral que
proíbe tal conduta em razão dos seus maus efeitos sobre a comunidade. Mas
esta norma não pode ser uma norma de justiça, pois não se prescreve um
determinado tratamento de um homem por parte de outro homem. Quer
dizer: o suicídio pode ser julgado imoral mas não injusto. No entanto, o fato
de se inumarem os suicidas, não num cemitério comum, mas em separado,
ou de se punir a tentativa de suicídio pode ser considerado como justo ou
injusto. (KELSEN, 1996, p. 4)
Portanto, toda conduta dirigida ao tratamento de um homem por outro é objeto da
Justiça, ou seja, pode ser valorada como justa ou injusta, e esta avaliação é, segundo Kelsen,
uma apreciação do ser pelo dever ser.
O conceito de direito é deveras ambíguo. O direito não difere da moral quanto ao seu
conteúdo. Veremos adiante que a diferença entre a norma moral e a norma jurídica reside
apenas no atributo da coercibilidade presente apenas nesta última espécie normativa. A nosso
ver, o direito é um instrumento de controle e organização social, dotado de natureza
coercitiva.
A relação entre direito e moral é, talvez, o assunto mais controvertido na doutrina do
direito, razão pela qual dedicamos o segundo capítulo à sua análise.
2.2 NORMAS MORAIS DO TIPO RACIONAL E DO TIPO METAFÍSICO
Conforme a exposição de Kelsen, em o Problema da Justiça, as normas de justiça
distinguem-se entre normas do tipo metafísico e do tipo racional, sendo as primeiras
caracterizadas “pelo fato de se apresentarem, pela sua própria natureza, como procedentes de
uma instância transcendente, existente para além de todo o conhecimento humano
experimental”, e as segundas “pelo fato de não pressuporem como essencial nenhuma crença
na existência de uma instância transcendente, pelo fato de poderem ser pensadas como
15
estatuídas por atos humanos postos no mundo da experiência e podem ser entendidas pela
razão humana, isto é, ser concebidas racionalmente”. (KELSEN, 1996, p. 4.)
Dentre as normas do tipo metafísico, Kelsen destaca apenas a do Bem absoluto, em
Platão, e a justiça divina cristã, e diz que “a idéia principal, aquela à qual todas as outras
idéias se subordinam e da qual todas retiram a sua validade, é a idéia do Bem absoluto” e que
“esta idéia desempenha na filosofia de Platão o mesmo papel que a idéia de Deus na teologia
de qualquer religião”. (KELSEN, 1996, p. 62.)
A norma moral do tipo metafísico difere daquela do tipo racional não somente por sua
origem (justiça divina), mas por que não pode ser explicada pela razão. Como expõe Kelsen,
normas morais do tipo racional podem também ser postas por uma autoridade transcendental;
não obstante, elas são passíveis de uma explicação racional de seu conteúdo: um exemplo que
por ele nos é dado é a norma da justiça retributiva, as quais podem ser atribuídas a uma
vontade divina, mas possuem um fundamento racional: a retribuição (do bem pelo bem, do
mal pelo mal).
A moral cristã é um exemplo de sistema de normas de justiça do tipo metafísico.
Quando Jesus diz: “Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na
face direita, oferece-lhe também a outra”, (BIBLIA, MATEUS, 5:29) ele positiva uma regra
moral de ordem metafísica. Isso porque Jesus, como o Verbo divino, expressa ipso facto a
palavra de Deus – daí a fonte transcendental da norma. Tal como sua fonte, também seu
conteúdo não pode ser racionalmente compreendido: ora, é contrário à lógica, à racionalidade,
não resistir ao mal, visto que isso implica a destruição de si mesmo. Todavia, para o cristão,
há um fundamento suprarracional para tal comando.
Vale lembrar que o cumprimento dessa regra pôde ser verificado na vida do próprio
Jesus, e dos primeiros cristãos. Questionado por Pilatos sobre seu crime, disse Jesus, em uma
daquelas respostas que dizem muito mais do que foi perguntado: “O meu reino não é deste
mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse
entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui” (BIBLIA, JOÃO, 18:36). Assim,
também Estevão morreu apedrejado ao não resistir à violência dos judeus, conforme descrito
por Lucas (BIBLIA, ATOS, 6). A lista desses mártires é incontável.
Diametralmente oposta é, verbi gratia, a moral judaica, a qual pode ser concebida
racionalmente. Dos Dez Mandamentos, (BIBLIA, ÊXODO 20:1-17) se considerarmos apenas
16
aqueles que regulam a convivência entre os homens – ou seja, se excluirmos aqueles que
regulam a relação do homem com Deus (os quatro primeiros mandamentos) – temos: 5)
Honrarás pai e mãe, 6) Não matarás, 7) Não adulterarás, 8) Não furtarás, 9) Não dirás falso
testemunho contra teu próximo, e 10) Não cobiçarás a casa e a mulher do próximo. Esses são
comandos sociais absolutamente explicáveis racionalmente. São regras morais socialmente
praticadas independentemente da crença em uma autoridade transcendental.
Não é que no judaísmo inexistam regras de justiça metafísicas ou que no cristianismo
não haja normas racionais. Os dois tipos normativos estão presentes em ambas as doutrinas.
Ocorre que, tal como afirma o autor desconhecido do livro de Hebreus, “[,,,] tendo a lei a
sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios
que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam”
(BIBLIA, HEBREUS 1:10), isto é, aquilo que para o judeu é físico, representa, para o cristão,
algo espiritual; a justiça que para o judeu aqui na terra se perfectibiliza, para o cristão só faz
sentido no vindouro Reino de Deus.
Quanto às formulas de Justiça firmadas em bases metafísicas, Kelsen a elas se refere
como ideais irracionais, por necessariamente emanados de uma autoridade transcendente, de
Deus.
Conclui o primeiro artigo reunido em O Problema da Justiça arrazoando que:
Platão ensina que o justo, e apenas o justo, é feliz; ou que temos que de
conduzir os homens a crer nisso. E, de fato, o problema da justiça tem uma
importância tão fundamental na vida dos homens, a aspiração à justiça está
tão profundamente enraizada nos seus corações porque, no fundo, emana da
sua indestrutível aspiração à felicidade.
Nenhuma justiça simplesmente relativa, apreensível pela razão humana,
pode atingir este fim. Uma tal justiça relativa conduz a uma satisfação muito
parcial. A justiça pela qual o mundo clama, “a” justiça por excelência é,
pois, a justiça absoluta. Este é um ideal irracional. Com efeito, ela só pode
emanar de uma autoridade transcendente, só pode emanar de Deus. Por isso,
a fonte da justiça e, juntamente com ela, também a realização da justiça têm
de ser relegadas do Aquém para o Além – temos de nos contentar na terra
com uma justiça simplesmente relativa, que pode ser vislumbrada em cada
ordem jurídica positiva e na situação de paz e segurança por esta mais ou
menos assegurada. Em vez da felicidade terrena, por amor da qual a justiça e
tão apaixonadamente exigida, mas que qualquer justiça terrena relativa não
pode garantir, surge a bem-aventurança supraterrena que promete a justiça
absoluta de Deus àqueles que Nele crêem e que, conseqüentemente,
acreditam nela. Tal é o engodo desta eterna ilusão. (KELSEN, 1996, p. 66).
17
Já as normas de justiça do tipo racional, estas, segundo Kelsen, como já dito,
caracterizam-se “pelo fato de não pressuporem como essencial nenhuma crença na existência
de uma instância transcendente, pelo fato de poderem ser pensadas como estatuídas por atos
humanos postos no mundo pela razão humana, isto é, ser concebidas racionalmente”
(KELSEN, 1996, p. 66).
Na Teoria Geral das Normas, Kelsen coloca o problema epistemológico da produção
normativa através da razão prática. Como explica, “por meio da razão podem-se conhecer as
normas estabelecidas por uma autoridade através de atos de vontade, podem-se produzir
conceitos, mas não se podem produzir normas” (KELSEN, 1986, p. 10).
Assim, normas concebidas racionalmente não deixam de ser, tal como as metafísicas,
normas do Direito Natural, pois “a 'natureza', à qual são imanentes as normas do Direito
Natural, é a natureza do ser humano, e vê-se a natureza do ser humano – para diferenciação da
natureza dos animais – na razão humana, então o Direito Natural surge como Direito da
Razão”. (KELSEN, 1986, p. 9).
Nesse sentido, o direito não é querido, mas é pensado. O direito querido é o direito
posto por intermédio de um ato de vontade – o direito positivo. Já as normas meramente
pensadas são apenas imaginadas, não existem na realidade como ato de vontade humana.
Em seguida veremos que as normas humanas podem ser interpretadas a partir de duas
concepções da Moral, ou dois tipos de valores morais: valores morais relativos e valores
morais absolutos.
2.3 MORAL ABSOLUTA E MORAL RELATIVA
A moral absoluta é uma tal ordem moral que, por reputada universalmente válida,
exclui a possibilidade da existência de outra ordem moral em qualquer tempo e espaço. É uma
concepção idealista da moral. Tal noção é normalmente identificada como a fonte do Direito
Natural.
18
A moral relativa é a concepção realista da moralidade: a moral existe apenas como um
fenômeno social empírico; rejeita-se a existência de uma moral ideal, segundo um padrão de
justiça absoluto.
Kelsen rejeita a possibilidade de existência de uma ordem moral universalmente
válida, como vemos a seguir:
Em vista, porém, da grande diversidade daquilo que os homens efetivamente
consideram como bom e mau, justo ou injusto, em diferentes épocas e nos
diferentes lugares, não se pode determinar qualquer elemento comum aos
conteúdos das diferentes ordens morais. Tem se afirmado que uma exigência
comum a todos os sistemas da Moral seria: conservar a paz, não exercer a
violência sobre ninguém. Mas já Heráclito ensinou que a guerra não só é o
'pai', isto é, a origem de tudo, mas também o 'rei', isto é, a mais alta
autoridade normativa, o mais alto valor, sendo, portanto, que o Direito é luta
e que a luta, por isso, é justa., E até Jesus diz: 'Eu não vim trazer a paz à
terra, mas a discórdia'; e, portanto, não proclama de forma alguma, pelo
menos para a ordem moral deste mundo, a paz como valor mais alto. Poderá
negar-se que também hoje, segundo a convicção de muitos, a guerra tem
valor moral porque possibilita a comprovação das virtudes, a realização de
idéias que se colocam em plano mais alçado que os valores da paz? Ou é
porventura a moral do pacifismo uma moral indiscutida? Corresponde a
filosofia da vida do liberalismo segundo a qual a competição, a luta da
concorrência, garantem a melhor situação possível da sociedade, ao ideal de
paz? Este não representa de forma alguma para todos os sistemas de Moral o
valor mais elevado e, para muitos nem sequer representa qualquer valor.
(KELSEN, 2000, p. 73)
Na sua análise em O Problema da Justiça, critica as velhas fórmulas pelas quais
historicamente se buscou explicar o conceito de Justiça, tanto do ponto de vista racional
quanto da perspectiva metafísica.
O que ele procura, e não encontra, é uma regra moral (de justiça) a qual, no seu
enunciado mesmo, responda a seguinte questão: o que é justo?
Não obstante, Kelsen analisa essas diversas normas do tipo racional as quais se
pretendem absolutas, tais como a fórmula do suum cuique, a regra de ouro, o imperativo
categórico de Kant, o costume, o mesotes, princípio retributivo, princípio da equivalência, a
proporcionalidade, o princípio de justiça comunista, o amor ao próximo, a liberdade como
fundamento da justiça e a justiça democrática e igualitária.
Após o exame de todos esses princípios de justiça, Kelsen conclui que nenhum deles
pode ser concebido objetivamente e considerado universalmente válido, porquanto constituem
19
normas que não resolvem o problema da justiça – o que é justiça – em seu próprio enunciado
normativo.
Com efeito, a inexistência de valores morais objetivos é um pressuposto da Teoria
Pura do Direito:
Se supusermos que o Direito é, por sua essência, moral (tem caráter moral),
então não faz qualquer sentido a exigência – feita sob o pressuposto da
existência de um valor moral absoluto – de que o Direito deve ser moral.
Uma tal exigência apenas tem sentido, e a Moral para o efeito pressuposta
somente representa um critério de valoração relativamente ao Direito,
quando se admita a possibilidade de um Direito imoral, de um Direito
moralmente mau e, por consequência, quando na definição de Direito não
entre o elemento que representa um conteúdo moral. (KELSEN, 2000, p. 75)
Em Kant, o único direito universal que encontramos é a liberdade, do qual todos os
outros emanam. Assim, é direito o que se refere ao “todo das condições sob as quais as ações
voluntárias de qualquer pessoa podem ser harmonizadas na realidade com o arbítrio de outra
pessoa, de acordo com uma lei universal da liberdade”. Portanto, prossegue que “toda ação é
justa quando, em si mesma, ou na máxima da qual provém, é tal que a Liberdade da Vontade
de cada um pode coexistir com a liberdade de todos, de acordo com uma lei universal”
(KANT, 2003, p. 77). Logo, tudo o que é injusto é um obstáculo à liberdade, de acordo com
uma lei universal.
A noção de uma moral absoluta remete à doutrina do direito natural. Com efeito, a
moral verdadeira, universalmente legítima, é, segundo o jusnaturalismo, aquela que respeita
os ditames da ordem natural das coisas existentes na realidade, da natureza do homem, ou
ainda, da razão.
A relatividade do valor moral é normalmente identificada com o positivismo jurídico:
sendo esta uma doutrina limitada à experiência, não pode aceitar um fundamento
transcendental tal como a de uma autoridade divina, da essência da natureza, de leis da
natureza humana ou dos princípios da razão.
O fato de essa espécie normativa ser derivada de um esforço transcendental ou
racional implica a concepção de uma série de ideais de justiça distintos entre si, a depender da
teologia, das diversas concepções da natureza – humana ou das coisas –, ou mesmo do
método de raciocínio utilizado.
20
Essa diversidade de conceitos é o que nos leva, segundo Kelsen, a um inevitável
relativismo quanto ao conhecimento da moral.
21
3 RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL
3.1 NORMAS MORAIS E NORMAS JURÍDICAS
Se quiséssemos eleger a maior fonte da moral ao longo da história, esta haveria de ser
a religião. Igualmente, se devêssemos escolher a maior fonte histórica do direito, esta não
poderia ser outra senão o Estado. Estado e religião sempre coexistiram em uma mesma ordem
jurídica – exceto no caso de um Estado laicista, no qual Estado e religião se confundem, na
medida em que o Estado é a própria religião. Ora, se a conduta humana é concebida e
regulada tanto pela moral como pelo direito, então negar a relação entre direito e moral é
negar a própria capacidade de discernimento do homem e, em última análise, ignorar grande
parte dos problemas da vida em sociedade.
Não se pode negar, também, diante da farta experiência, a existência de uma
pluralidade de sistemas morais e a diversidade de juízos da moral, assim como a pluralidade
de sistemas jurídicos, cada qual, muitas vezes, conflitantes entre si. Igualmente quanto ao
direito, foram diversos os sistemas criados pelo homem.
Direito e moral foram preenchidos, em suas normas, sobretudo por iguais conteúdos,
ao longo do tempo, o que certamente constitui um problema à investigação do que é moral e
do que é jurídico.
Ronald Dworking defende que o direito e a moral pertencem a um mesmo
ordenamento (DWORKIN, 2003, p. 120). Contrariamente a Kelsen, o professor americano
procura a justificação da norma jurídica pela regra da moral.
Kelsen procura nos diversos sistemas morais algo de comum e não encontra. Diante da
impossibilidade de um conhecimento objetivo da moral, procura separá-la do direito, a fim de
que deste possa conceber uma ciência.
A separação entre moral e direito remete à necessidade de um conhecimento científico
do direito positivo. Explica Kelsen que a uma Ciência não cabe aprovar ou desaprovar seu
objeto mas apenas conhece-lo e descrevê-lo.
22
Resta claro, portanto, que Kelsen rejeita que o direito deva ser moral, ainda que admita
que um sistema jurídico positive, em regra, valores morais, sobretudo da camada dominante
do grupo social que o criou, conforme explicita no seguinte excerto da Reine Rechtslehre:
O que sobretudo importa, porém – o que tem de ser sempre acentuado e
nunca o será suficientemente – é a ideia de que não há uma única Moral, “a”
Moral, mas vários sistemas de Moral profundamente diferentes uns dos
outros e muitas vezes antagônicos, e que uma ordem jurídica positiva pode
muito bem corresponder – no seu conjunto – às concepções morais de um
determinado grupo, especialmente do grupo ou camada dominante da
população que lhe está submetida. (KELSEN, 2000, p. 77).
Ao reconhecer que o Direito corresponde essencialmente a concepções morais de
determinado grupo social, sobretudo da camada dominante desse grupo, em possível
detrimento de outras camadas da população, Kelsen aponta indiretamente o caráter político do
Direito, ainda que não expressamente. A relação entre direito e política, contudo, não é
exatamente o nosso propósito aqui.
A noção de Justiça em Kelsen é representada como uma das manifestações da moral.
Nesse sentido, o justo corresponde ao cumprimento de uma norma moral, e o injusto ao seu
descumprimento.
Ao identificar o direito como objeto da ciência jurídica e a moral como objeto da
ciência da moral – a Ética – Kelsen lança-se à investigação de como esses dois ramos do
conhecimento atuam e se relacionam entre si.
A separação entre moral e direito é, como exposto alhures, pressuposto para sua
Teoria Pura, a qual pretende lançar as bases de uma ciência positiva do direito.
Da mesma forma que a ética pode apenas conhecer e descrever as normas morais,
postas por uma autoridade moral ou consuetudinariamente produzidas, também a Ciência
Jurídica presta-se apenas à descrição e ao conhecimento da norma jurídica positiva.
Nesse sentido, veremos adiante que Kelsen identifica ética e jurisprudência com
norma – em ambas as ciências o objeto a ser conhecido e descrito é uma norma, a qual é
sempre justificada em uma norma superior, e assim sucessivamente, até uma norma
fundamental fictícia sobre a qual se funda todo o sistema.
23
Em Kelsen encontramos a definição de direito como norma jurídica e da moral como
norma social; vale dizer, o direito é norma social e também jurídica, ao passo que a moral é
norma social não jurídica.
Nesse sentido, Kelsen considera a moral perigosa à pureza do método da ciência
jurídica, sobretudo haja vista que, como já dito, as condutas tipificadas pela moral são por
vezes as mesmas tomadas pelo direito.
Assim, por exemplo, o homicídio é um ato julgado pelo direito e também pela moral,
ambos os quais lhe podem conferir significados distintos; o aborto é, em muitas ordens
sociais, imoral em qualquer hipótese, ou seja, possui um valor negativo; contudo, uma norma
jurídica desta mesma sociedade pode autorizá-lo em determinadas situações, conferindo-lhe
um valor positivo.
Em Kant, Kelsen encontrará a moral como a norma social que atua necessariamente
contra o interesse egoístico do sujeito cuja conduta esta norma se designa a regular, ou seja, a
noção de que, se a conduta for movida por uma inclinação interna do agente, não possuiria
qualquer valor moral, na medida em que a moral deve sempre reprimir a inclinação natural do
homem.
Assim, se, digamos, um indivíduo divide o que possui com os pobres por um motivo
de foro íntimo, por ser desprendido de bens materiais, não há qualquer valor moral neste ato,
ele é amoral; por outro lado, se tal atitude é movida por uma crença religiosa tal qual, por
exemplo, seria o ato de cumprir o que disse Jesus: “vende tudo o que tem e dá aos pobres,
depois segue-me”, este ato é objeto da ciência moral e pode, portanto, ser valorado como
moralmente positivo ou moralmente negativo.
Contudo, na busca de distinguir o direito da moral, o conceito kantiano antes referido é
para Kelsen insuficiente, pois tanto o direito como a moral atuam em contraposição aos
interesses egoísticos individuais.
Tanto a moral como o direito controlam tanto a conduta externa quanto a interna do
sujeito. Ao dizer isto, Kelsen critica toda uma corrente que defende a moral como uma norma
de comando interna e o direito como uma norma de comando externa. Essa teoria foi
defendida especialmente por Christian Thomasius.
24
Como esclarece Kelsen, citando Kant, “uma ação, para ter valor moral, isto é, para ser
moralmente boa, deve não só ser realizada ‘por dever’ mas ainda estar em ‘conformidade com
o dever’” (KELSEN, 2000, p. 405, nota). Também o direito, para Kelsen, determina ambas
espécies de conduta, exemplificando que “quando uma ordem jurídica proíbe o homicídio,
proíbe não apenas a produção da morte de um homem através da conduta exterior de um outro
homem, mas também uma conduta interna, ou seja, a intenção de produzir um tal resultado”
(KELSEN, 2000, p. 68.).
Não é que o Direito regula a conduta interna do agente, pois isso seria materialmente
impossível, mas, antes, que o Direito atua como inibidor de atitudes ilícitas: ora, se a lei que
tipifica o homicídio não impede que alguém pratique esta ação, muito menos impediria que
alguém pensasse em fazê-lo; ocorre, contudo, que muitos não cometerão o homicídio e nem
mesmo cogitarão de fazê-lo, em razão de não desejarem uma condenação jurídica – vale
dizer: não apenas uma condenação moral, mas uma condenação jurídica, a qual lhe atingiria
materialmente, que opera no nível da liberdade e do patrimônio. O direito atua, assim, como
ferramenta de controle social, como um instrumento político.
Assim, Kelsen conclui que direito e moral não se podem distinguir-se a partir da
conduta humana, pois esta, tanto no nível interno (vontade), quanto no nível externo
(resultado) é controlada tanto pela moral quanto pelo direito.
Kelsen igualmente não logra êxito em distinguir direito e moral a partir da produção
ou aplicação de suas respectivas normas, porquanto ambas estas ordens normativas são
positivas e não necessariamente centralizadas. Tal como no direito, as normas da moral são
frutos do costume ou de uma produção consciente.
A moral é, em última análise, uma norma, uma regra de conduta e, como tal, deve ser
por alguém posta, pois, segundo Kelsen, não existe na natureza. Ainda que se cogite a
hipótese de uma norma transcendente, como na moral religiosa, esta é hipoteticamente
positivada por uma autoridade metafísica.
Kelsen então conclui que o traço distintivo entre Direito e Moral reside apenas na
coerção. Ou seja, o mecanismo que o Direito se utiliza para obter a conduta desejada não é o
mesmo da Moral: enquanto esta conta apenas com a reprovação do grupo, aquele possui o
emprego da força a seu favor.
25
Portanto, essas duas espécies normativas não se distinguem por sua natureza, por seu
conteúdo ou por sua forma, mas apenas por um atributo, a coercibilidade, presente na norma
jurídica e ausente na norma da moral.
Vale dizer, assim, que uma regra social passa a ser jurídica no momento em que seu
cumprimento se torne coercitivo. Não há falar em obrigatoriedade porquanto nem mesmo a
norma jurídica pode ser considerada obrigatória no estrito sentido do termo; ela é apenas
exequível, seu cumprimento pode ser exigido através do uso da violência e não apenas de um
julgamento moral.
Não obstante, direito e moral confundem-se na medida em que o conteúdo de suas
normas é o mesmo, como já exposto. A partir dessa constatação, Kelsen debruça-se sobre as
relações entre Direito e Moral. Indaga se o direito é, ou deve ser, parte da Moral, ou se uma
ordem jurídica pode não ser moral e ainda assim ser considerada direito, haja vista a tese de
que o direito, sendo moral, é justo, e não o sendo, é injusto.
Não é simplesmente o fato de a norma jurídica ser coercitiva e a norma moral não ser
que irá definir este problema, pois este é apenas um atributo da norma, não sendo bastante
para sua justificação.
A justificação do direito pela moral, ou seja, a definição daquele como parte desta,
imprescindiria, do ponto de vista científico, segundo Kelsen, de uma ordem moral absoluta,
isto é, de uma moral que seja a única válida universalmente, porquanto a Ciência admite
apenas o conhecimento objetivo.
Um determinado ordenamento jurídico pode ser objeto de ciência somente quando seu
conhecimento possa ser objetivamente conhecido. Todavia, a moral objetiva é para Kelsen
impossível, haja vista a existência de diferentes ordens morais no tempo e no espaço.
Conforme já exposto, não há, segundo ele, nem sequer um elemento material comum entre
todos os sistemas morais possíveis: ou seja, não existe um valor moral objetivo, o qual
poderia justificar uma ordem jurídica como moral ou justa.
O elemento comum a todos os sistemas morais humanos reside apenas no caráter
normativo desses ordenamentos. Assim, é moralmente aceito o comportamento que observa
uma norma social: é nisto que reside, para Kelsen, o valor da moral, na forma, pois a matéria
da moral é sempre relativa, por divergentes nas diversas ordens sociais possíveis.
26
Por outras palavras, o único valor moral comum a qualquer ordem social possível é a
própria norma, ou melhor, o cumprimento dessa norma, o que dá uma forma vazia ao conceito
de moral e possibilita qualquer tipo de ordenamento, qualquer conteúdo, tornando-a relativa.
A partir dessa premissa, Kelsen induz que a relação entre Direito e Moral reside não
no seu conteúdo, mas na sua forma. É o caráter normativo de ambos que os vincula, como
explicitado no excerto que segue:
Não se poderá então dizer, como por vezes se diz, que o Direito não é apenas
norma (ou comando), mas também constitui ou corporiza um valor. Uma tal
afirmação só tem sentido pressupondo-se um valor divino absoluto. Com
efeito, o Direito constitui um valor precisamente pelo fato de ser norma:
constitui o valor jurídico, ao mesmo tempo, é um valor moral (relativo). Ora,
com isto mais se não diz que o Direito é norma. (KELSEN, 2000, p. 74).
Com isso, Kelsen nega que o Direito constitua um mínimo moral obrigatório e
coercitivamente exigido, pois do que se exigiria uma Moral absoluta ou um conteúdo moral
comum a todos os sistemas de Moral positiva, o que já fora por ele antes rejeitado. Ora, uma
parte de alguma coisa somente pode ser definida como “mínima” em comparação com o todo.
Assim, para que o direito constitua um “mínimo moral”, é imprescindível que se conheça de
antemão o tamanho da moral, o que é por Kelsen impossível, haja vista sustentar a
relatividade das ordens morais.
Tal tese, do direito como um mínimo moral, foi defendida pelo jurista alemão Georg
Jellinek, podendo ser representada por dois círculos concêntricos, onde a moral engloba o
direito, sendo o direito, portanto, integralmente moral.
Podemos citar, ainda, a teoria dos círculos secantes, desenvolvida por Claude Du
Pasquier, segundo o qual o direito é apenas em parte moral, e em parte amoral, ou
essencialmente técnico-jurídico. Essa tese é defendida também por Miguel Reale.
Kelsen, contudo, como já dito, não diferencia moral e direito por sua essência. Para
ele, ambas as ciências (ética e jurídica) tem por objetos normas de idêntico conteúdo, sendo
que a norma jurídica se desprende da moral ante seu atributo de coerção.
O conteúdo da Justiça, segundo Kelsen, é vazio, na medida em que seu conceito pode
ser cientificamente definido apenas como uma norma geral a qual prescreve um tratamento de
um por outro indivíduo.
27
Como as normas de justiça não respondem elas mesmas o que é a justiça, o objeto de
seu enunciado pode assumir qualquer conteúdo, o qual será valorado não segundo um valor
de justiça – porque a norma não o revela – mas somente pelo cumprimento ao comando que
ela dispõe.
Sendo a justiça uma norma – norma social que prescreve um tratamento – a
investigação científica do problema da justiça, segundo Kelsen, reside não em decidir o que é
justo, mas apenas no que é tido como justo a partir das normas humanas.
Kelsen rejeita o juízo de valor sobre a norma jurídica fundado na justiça. A norma
jurídica é um valor em si mesma. Pelo que, o juízo de valor não pode incidir sobre normas.
Indaga que:
Como poderia também, uma norma, que constitui um valor - e toda norma
válida constitui um valor -, como poderia um valor ser valorado, como
poderia um valor ter um valor ou ter mesmo um valor negativo? Um valor
valioso é um pleonasmo, um valor desvalioso, uma contradição nos termos.
(KELSEN, 1996, p. 7.)
A validade da norma jurídica independeria, assim, da validade da norma da Justiça.
Ambas constituem valores e, como tais, não se anulam mutuamente: não pode um valor ser
um desvalor ou o contrário. É exatamente nesta relação entre Direito e Justiça que reside a
divergência entre a doutrina do jusnaturalismo e do juspositivismo. Para esta corrente, o
direito é em si um valor e, portanto, válido; para aquela, o direito apenas deve remeter a um
valor de justiça objetivo, pois do contrário não será válido.
É sabido que a teoria pura do direito é a proposta de uma ciência que descreva e defina
seu objeto, qual seja, a norma jurídica, o direito. Por pura, Kelsen pretende dar à sua teoria
total independência de qualquer juízo valorativo. O valor da jurisprudência é a própria norma,
a cujo cumprimento se dá um valor positivo e a cujo descumprimento um negativo. É a norma
que valora um fato da natureza – uma conduta humana – e não um fato da natureza que valora
uma norma – como justa ou injusta.
Assim, podemos sintetizar que para Kelsen a justificação do direito pela moral é
impossível. A validade da norma jurídica é apurada pelo próprio direito. É o direito quem a
cria e quem a pode revogar; não se cogita, portanto, de um julgamento de valor moral nem no
tocante à validade da norma jurídica, nem quanto a sua eficiência.
28
Os fundamentos dessa conclusão serão mais claramente expostos no capítulo que
reservamos ao direito natural, especialmente quando tratarmos da objeção kelseniana à
concepção jusnaturalista do direito.
29
4 NORMATIVIDADE E CIÊNCIA JURÍDICA
Segundo Kelsen, o que é bom é o que deve ser; o dever ser, por sua vez, corresponde a
uma norma; logo, haja vista a definição de direito como norma, o que é conforme o direito é
bom.
É a norma que exprime um valor e não o valor que exprime uma norma, pois não se
pode deduzir de um conceito uma norma: uma norma somente pode ser deduzida de outra
norma e assim sucessivamente até que se chegue à norma fundamental da ordem jurídica.
Tal impossibilidade – de a norma originar-se a partir de um conceito – decorre do fato
de que um conceito não descreve o que o objeto deve ser, ao passo que a norma possui esta
característica. Um conceito é capaz apenas de exprimir o que o objeto é, ou como ele é.
Portanto, jamais enuncia um valor (se seu objeto ou alguma de suas propriedades é negativo
ou positivo); é a norma que estatui valores, no sentido de que um ato, que a ela corresponda,
constitui um valor positivo e outro, que a contrarie, um valor negativo.
A crítica kelseniana, tem como ponto de partida o direito positivo; contudo nele não se
encerra; antes, procura avaliar critérios para sua validade universal. O direito positivo é um
dado que decorre da lógica normativa-transcendental, cujo fundamento é a norma
fundamental (Grundnorm). Essa lógica da normatividade jurídica é o fundamento de validade
de qualquer ordenamento jurídico.
Nesse sentido, Kelsen rompe, em certa medida, com o positivismo jurídico que
buscava compreender a ciência jurídica apenas como um fenômeno empírico, tal como as
ciências da natureza, através das leis da causalidade.
O positivismo é uma atitude normativa, ele nada afirma sobre a realidade, apenas cria
normas para o conhecimento desta. Nesse sentido, o positivismo nem poderia ser
propriamente denominado uma filosofia.
A regra fundamental do positivismo é a do fenomenalismo: não há diferença real entre
essência e fenômeno. Toda a filosofia anterior, como platonismo e aristotelismo, acreditava
que o mundo se trata de aparências por trás da essência de cada coisa.
30
Kelsen sofreu ataques dos positivistas (quais positivistas) por fundamentar sua Teoria
Pura em uma norma transcendental hipotética. Ele próprio se defende, nos seguintes termos:
Tem-se oposto à teoria jurídica positivista da Teoria Pura do Direito que ela
própria é apenas uma teoria jusnaturalista, pois vê o fundamento de validade
do direito positivo na por ela chamada norma fundamental, ou seja, afinal,
numa norma que se situa fora do direito positivo.
É verdade que a norma fundamental não é uma norma do direito positivo,
isto é, de uma ordem coativa globalmente eficaz posta através da legislação
ou do costume. Este é, porém, o único ponto em que existe uma certa
semelhança entre a teoria da norma fundamental e a do jusnaturalismo. Em
todos os outros pontos as duas teorias estão em diametral oposição uma à
outra.
[...] O direito positivo é válido porque tem um determinado conteúdo, e, por
isso mesmo, é justo; não é válido porque tem o conteúdo oposto e, por isso
mesmo, é injusto. Nesta determinação do conteúdo do direito positivo
através do direito natural, situado para além do direito positivo, reside a
essencial função do direito natural.
Também a teoria Pura do Direito pergunta pelo fundamento de validade de
uma ordem jurídica positiva, isto é, de uma ordem coativa criada pela via
legislativa ou consuetudinária e globalmente eficaz. Porém, não dá a esta
pergunta uma resposta categórica, isto é, incondicionada, mas tão-só uma
resposta hipotética, isto é, condicionada. Ela diz que se considerarmos o
direito positivo como válido então pressupomos a norma segundo a qual nos
devemos conduzir tal como prescreve a primeira constituição histórica em
conformidade com a qual foi criada a ordem jurídica positiva. (KELSEN,
1996, p. 113)
A lógica normativa é transcendental não no sentido especulativo metafísico, mas como
uma hipótese sine qua non para a existência de qualquer sistema jurídico. A Grundnorm não
pode ser explicada na medida em que esse ipsum subsistens.
Portanto, contrariamente às ciências da natureza, a ciência do direito não pode ser
compreendida pelas leis da causalidade mas sim da normatividade, esta a qual é fundada na
lógica transcendental da norma fundamental. Somente em tais pressupostos é que a validade
de qualquer sistema jurídico pode ser apurada universalmente. Cabe ressaltar, novamente, que
esse elemento universal comum a toda e qualquer ordem jurídica reside apenas na forma e não
no conteúdo da norma.
Enquanto os fenômenos das ciências naturais são interpretados pela causalidade, os
fenômenos jurídicos são definidos pela imputação. Conforme esclarece Kelsen, toda conduta
humana descrita em uma norma jurídica possui dois significados: o primeiro, subjetivo, da
31
ordem do ser: a conduta humana é um fato da natureza, assim como uma fruta caindo de uma
árvore; o segundo, um significado objetivo: sua significação jurídica que lhe dá a norma.
O princípio da imputação determina, distintamente do que o faz o princípio da
causalidade, que se A é, B deve ser.
A normatividade remete ao que Kelsen define como estática jurídica: esta consiste na
norma jurídica segundo seu conteúdo. Já a dinâmica jurídica reporta-se à lógica da criação do
direito.
É a crítica racional do direito que induz à dinâmica jurídica; esta dá sentido ao
ordenamento jurídico, lhe explicita suas condições a priori, as quais, em última análise,
remetem à Grundnorm. Esta norma fundamental é uma exigência da razão, uma vez que o
sistema de normas não pode existir por si só.
São essas condições que animam todo o sistema de normas no sentido de que “o
próprio direito regula sua própria criação” (KELSEN, 2000, p. 405), uma vez que uma norma
é sempre criada a partir de outra superior.
Como esclarece Simone Goyard-Fabre, “o estudo da dinâmica jurídica procura
mostrar como, obedecendo às leis gerais imanentes à atividade do pensamento, um sistema de
direito forja por si só suas categorias e seus conceitos” (GOYARD-FABRE, 2007, p. 244).
No que tange à filosofia juspositivista, Kelsen não inova quanto à estática jurídica (o
positivo), tanto debatida na história das idéias jurídicas; sua contribuição é, contudo, deveras
inovatória no tocante à dinâmica do direito (o normativo).
A ciência jurídica, tal como Kelsen a define, é quem purifica o direito, ou seja, quem
abstrai a moral, a política, a economia, isto é, todo conteúdo que preenche a norma jurídica.
Kelsen captou um traço que existe no universo jurídico, que é o traço sistêmico. O
mundo das leis sempre se articula como um sistema formal dedutivo no qual se parte sempre
do geral para o particular. O direito é um edifício de deduções lógico-normativas. Ele estava
tentando separar o direito dos elementos que na experiência real aparecem mesclados com ele
como a moral, religião, política; a realidade jurídica só existe mesclada, por óbvio, mas o que
é o aspecto jurídico entendido em si mesmo? É o aspecto lógico-normativo.
32
Tal esforço abstrativo desde a norma positiva é que induz ao reconhecimento da
normatividade do direito. Assim, somente após conhecer e descrever o seu objeto é que a
hipótese de validade universal da ciência jurídica é lançada.
33
5 DIREITO NATURAL E A OBJEÇÃO DE KELSEN
5.1 NATUREZA DAS COISAS E NATUREZA HUMANA
O jusnaturalismo é a doutrina do direito natural. Fundamenta-se na ideia da natureza
como fonte normativa. É marcada pelo idealismo jurídico, no sentido platônico do termo, na
medida em que propõe um modelo ideal, em oposição ao real.
Assim, essa doutrina é também caracterizada pelo dualismo entre uma ordem
transcendente e uma ordem empírica. É uma teoria, portanto, idealista-dualista.
Opõe-se, o jusnaturalismo, à doutrina do direito positivo, o positivismo jurídico. Esta,
diametralmente oposta, é marcada por uma concepção realista do direito: rejeita uma ordem
ideal à qual se subordina a ordem real, pois reconhece somente esta como existente, sendo
assim uma teoria monista do direito.
Há que se colocar que o conceito de direito natural é ambíguo: segundo a concepção
clássica do direito natural, este se refere a um dado da natureza, fundado ontologicamente
como um fato, num sentido metafísico; já sua concepção moderna remete à natureza humana,
aos instintos do homem, num sentido antropológico.
A noção de direito natural, sobretudo sua concepção clássica, reside na ideia de que as
leis da natureza e as leis do direito natural emanam de uma mesma fonte, normalmente ligada
a uma autoridade divina. Este ser supremo, o Criador do Universo é bom por definição,
irradiando de si uma moral absoluta que ordena o bem na Terra.
A ideia de um direito natural com referência à natureza do homem é uma tentativa de
desvencilhar o jusnaturalismo da metafísica-religiosa que marcou a concepção clássica desta
corrente filosófica.
Contrariamente a uma fonte metafísica e inatingível, a natureza humana pode ser
conhecida empiricamente, o que certamente abriu as portas da ciência e, por consequência, da
modernidade, ao direito natural.
34
Kelsen, em seu artigo A doutrina do direito natural, rejeita ambas as concepções
jusnaturalistas, com a seguinte objeção:
Se por ‘natureza’ se entende a realidade empírica do acontecer fático em
geral ou a natureza particular do homem tal qual ela se revela na sua conduta
efetiva – interior ou exterior –, então uma doutrina que afirme poder deduzir
normas da natureza assenta num erro lógico fundamental. Com efeito, esta
natureza é um conjunto de fatos que estão ligados uns aos outros segundo o
princípio da causalidade, isto é, como causa e efeito – é um ser; e de um ser
não se pode concluir um dever-ser, de um fato não se pode concluir uma
norma, nenhum valor pode ser imanente à realidade empírica.
Só quando confrontamos o ser com um dever-ser, os fatos com as normas, é
que podemos apreciar aqueles por estas e julgá-los como conformes com as
normas, isto é, como bons, como justos, ou como contrários às normas, quer
dizer, como maus, como injustos.
Só assim poderemos valorar a realidade, isto é, qualifica-la como valiosa ou
desvaliosa. Quem julga encontrar, descobrir ou reconhecer normas nos fatos,
valores na realidade, engana-se a si próprio.
Com efeito, quem assim procede tem de – consciente ou inconscientemente
– projetar sobre a realidade dos fatos as normas constitutivas dos valores por
ele de qualquer maneira pressupostas, para depois poder deduzi-las desta
mesma realidade. (KELSEN, 1996, p. 72)
Exsurge do excerto acima citado uma inversão que marca toda a obra de Hans Kelsen,
já exposta nos capítulos anteriores, qual seja, a de que o valor reside na norma e não o
contrário: é o normativo que justifica o fático, o dever-ser avalia o ser.
A seu ver, não é possível encontrar valores no mundo dos fatos, a não ser por uma
projeção inconsciente de valores constituídos em normas, e, por impossível a dedução de uma
norma a partir de um fato, da ordem do ser, um valor não decorre, por consequência, de um
fato.
Kelsen rechaça a tentativa de fundar o direito natural na natureza humana, ou seja, de
deduzir normas a partir da conduta natural do homem, pois se “os homens conduzem-se de
fato da maneira como são determinados pelas suas pulsões; é um contra-senso prescrever aos
homens que se conduzam tal como eles efetivamente se conduzem sem nenhum comando
nesse sentido” (KELSEN, 1996, p. 78).
Kelsen sustenta, com isso, uma falsidade lógica da teoria que sustenta como fonte do
direito natural a natureza do homem. Ora, se o homem age naturalmente de um modo, e se
este modo, por ser da natureza humana, é justo, uma norma justa deveria prescrever
35
exatamente a mesma conduta e, seria, nesse sentido, inútil, uma vez que o homem
naturalmente já se comportaria conforme prescreveria a norma.
Empiricamente, Kelsen verifica que os homens possuem impulsos múltiplos e
distintos entre si, o que impossibilita a dedução de uma norma de dois impulsos conflitantes.
Assim, diz:
Se do impulso do amor ao próximo, do desejo de paz existente em muitos
homens se conclui o preceito da paz, então deve admitir-se que do impulso
agressivo igualmente existente e, portanto, igualmente natural se segue o
preceito que nos manda conduzirmo-nos de conformidade com este impulso.
Haverá, porém, alguma doutrina do direito natural que esteja disposta a tirar
essa conclusão? Pode uma norma que prescreva que nos conformemos com
o impulso do amor ao próximo valer ao lado de uma norma que prescreva
que nos conformemos com o impulso da agressão? E que dizer do impulso
de domínio, de tanta importância para a natureza humana, o impulso para se
afirmar como superior aos outros e, consequentemente, para subordinar os
outros? (KELSEN, 1996, p. 80)
Na verdade, a doutrina do direito natural, como esclarece Kelsen posteriormente, não
enxerga todos os impulsos humanos como naturais, mas apenas aqueles mais frequentes e
comuns, do homem “normal”.
Ocorre que, nesse sentido, “o conceito de ‘natureza’ sofre uma mudança radical de
significado”, pois, “no lugar da natureza real, da natureza tal como é, entra uma natureza
ideal, a natureza como dever ser – de conformidade com o direito natural” (KELSEN, 1996,
p. 82).
A inversão do direito natural, segundo Kelsen, é que o direito natural não é deduzido
da natureza, mas a natureza é deduzida do direito denominado natural. Seria, portanto, um
dever-ser real que dá origem a um ser ideal, e não o contrário.
5.2 RAZÃO PRÁTICA
Há, ainda, uma terceira corrente idealista do direito, denominada “racionalista”, que
enxergam a natureza do homem não no mundo ou em seus instintos, mas em sua razão. Da
razão são deduzidas as normas do direito natural: é um direito racional.
36
Em seguida do exame das concepções do direito natural ligadas à natureza das coisas e
à natureza do homem, Kelsen passa à análise do direito natural racionalista. Esta corrente de
pensamento tem por fonte do nosso conhecimento moral a razão prática, cujo conceito é por
Kelsen contestado e reputado contraditório:
Do ponto de vista da psicologia empírica, a função específica da razão é o
conhecimento dos objetos que lhe são dados ou propostos. O que nós
designamos como razão é a função cognoscitiva do homem.
A normação, a legislação não é, porém, uma função do conhecimento. Com
a fixação de uma norma não se conhece um objeto já dado, tal como ele é,
mas exige-se algo que deve ser. Neste sentido, a normação é uma função do
querer, não do conhecer. Uma razão normativa é ao mesmo tempo uma
razão cognoscitiva e querente, é, simultaneamente, conhecer e querer.
Estamos em face do conceito em si contraditório de razão prática, que
desempenha um papel decisivo não só na teoria do direito natural concebida
como teoria do direito racional mas ainda na ética. Este conceito de razão
prática é de origem teológico-religiosa.
Se analisarmos as coisas mais de perto veremos que a razão, da qual o direito
natural é deduzido, não é a razão empírica do homem tal como ela
efetivamente funciona, mas uma razão especial, a razão “reta”, a razão não
como ela é de fato, mas como deve ser. (KELSEN, 1996, p. 86)
Kelsen distingue a razão – que é a faculdade de conhecer os objetos – da vontade –
que é movida por paixões e volições. A contradição imanente ao conceito de razão prática
decorre do fato de que a razão nunca é prática, mas sempre analítica. A razão não pode
querer, mas apenas conhecer.
Contrariamente a Kelsen, Kant concebe razão prática e vontade como uma mesma
coisa, ou melhor, a razão prática controla os fundamentos determinantes da vontade. Além da
capacidade congnosciva da razão teórica (razão pura), esta possui certos princípios práticos
que orientam o nosso dever-ser.
Esses princípios da razão prática emanam não da natureza das coisas ou da natureza
humana, mas das leis a priori da razão pura. Nesse sentido Kant se utiliza dos argumentos
jusnaturalistas para sua Ética. Todavia, como esclarece Kelsen:
[...] como, segundo Kant, a razão pura, para a qual – e não para a razão
prática – ele aqui remete, é a faculdade cognoscitiva do homem e, nesta
medida, pertence à sua natureza, e como ele [...] presume que os princípios
práticos “residem na nossa razão”, existe um parentesco muito estreito entre
a sua ética e a doutrina jusnaturalista do direito racional. Este parentesco
assenta sobre o conceito de razão prática, comum a ambas as doutrinas.
37
Assim, a crítica kantiana da moral não escapa à objeção de Kelsen, antes referida,
quanto ao contraditório conceito de razão prática, pois esta tem como princípios leis derivadas
de categorias a priori da razão pura cognosciva, a qual, por definição, não pode originar
normas de conduta.
38
6 FILOSOFIA MORAL KELSENIANA
6.1 HERENÇA DE HUME
O ceticismo moral de Kelsen identifica-se com a filosofia de David Hume. Hume não
enxerga na moral qualquer referencia à realidade objetiva. Segundo o filósofo escocês, um
juízo moral não é capaz de representar uma verdade ou falsidade sobre o mundo, mas apenas
uma aprovação ou reprovação segundo nossos sentimentos.
O seguinte excerto de O Tratado da natureza humana demonstra, em síntese, o
pensamento de Hume quanto ao conhecimento racional e objetivo da moral:
A razão é a descoberta da verdade ou da falsidade. A verdade e a falsidade
consistem na concordância ou discordância com as relações reais das ideias,
ou com a existência real das coisas. Portanto, tudo que não seja suscetível a
essa concordância ou discordância é incapaz de ser verdadeiro ou falso e
nunca pode ser objeto de nossa razão. Ora, é evidente que nossas paixões,
volições e ações não são sujeitas a nenhum acordo ou desacordo desse tipo,
pois são fatos e realidades completos em si mesmos e não implicam
referência alguma a outras paixões, volições e ações. É impossível, por
conseguinte, declará-las verdadeiras ou falsas, contrárias ou conformes à
razão.
Este raciocínio é duplamente vantajoso para nosso presente propósito. Prova
diretamente que os méritos das ações não derivam de uma conformidade
com a razão, nem seu caráter condenável de uma contrariedade a ela; e
evidencia a mesma verdade também de maneira mais indireta, mostrandonos que, como a razão não pode jamais evitar ou produzir imediatamente
uma ação, reprovando-a ou aprovando-a, não pode ser fonte de distinção
entre o bem e o mal moral, que constatamos terem essa influência. Ações
podem ser louváveis ou condenáveis, mas não podem ser racionais –
louvável e condenável, portanto, não é o mesmo que racional ou irracional.
O mérito e o demérito das ações frequentemente contradizem e às vezes
cerceiam nossas propensões naturais. Mas a razão não tem tal influência.
Logo, as distinções morais não são frutos da razão. A razão é inteiramente
inativa, jamais pode ser a fonte de um princípio tão ativo quanto a
consciência ou um senso moral (HUME apud MORRIS, 2002, p. 185).
Ou seja, primeiro Hume distingue paixões e emoções de raciocínios lógicos (relação
entre idéias) e conhecimento da realidade material. Em seguida, identifica os juízos morais
com o mérito de uma ação humana. O mérito de uma ação humana, por sua vez, não é um
silogismo e tampouco expressa um conhecimento da realidade da matéria de fato. Logo, o
mérito de uma ação humana não é resultado de um esforço racional, mas constitui apenas
39
reflexos de nossas paixões e volições, expressas em uma consciência moral individual ou
intersubjetiva. Assim, os juízos morais e, em última análise, a Justiça, são apenas adequações
a sentimentos humanos reiteradamente vivenciados e aceitos em sociedade. A moral seria,
assim, uma criação humana.
Hume, portanto, divide o entendimento humano em duas espécies, a saber, a
comparação de idéias e a dedução da matéria de fato. Como a virtude não constitui objeto de
nenhuma dessas duas operações, não há como concebê-la racionalmente. Chega a debochar de
quem sustenta a idéia de uma moralidade que se possa conhecer através da razão, ao dizer
que:
[…] certos filósofos propogaram, de maneira bastante diligente, a opinião de
que a moralidade é suscetível de demonstração; e, embora ninguém jamais
tenha sido capaz de avançar um único passo nessas demonstrações, ainda
assim é dado como certo que essa ciência pode ser levada a um grau de
certeza igual ao da geometria ou da álgebra. (HUME apud MORRIS, 2002,
p. 196).
Para comprovar sua tese, tal como Kelsen depois o fez seguindo seus passos, Hume
examinou algumas máximas da moral no sentido de descobrir sua origem – se racional ou
não. Nesse sentido, vale citar alguns exemplos. O primeiro é o do parricídio:
De todos os crimes que as criaturas humanas são capazes de
cometer, o mais terrível e antinatural é a ingratidão, sobretudo
quando é cometida contra os pais e quando se mistura aos
crimes mais flagrantes que são a violência física e a morte. Isso
todos os homens reconhecem, tanto os filósofos como o povo;
apenas os filósofos levantam a questão de saber se a
culpabilidade e a depravação moral dessa ação podem ser
descobertas por um raciocínio demonstrativo ou são sentidas
por um sentido interno [“felt by an internal sense”], e por meio
de algum sentimento ocasionado naturalmente pela reflexão
sobre tal ação. A solução dessa questão invalidará rapidamente
a primeira opinião, se pudermos mostrar a existência das
mesmas relações em outros objetos que não sejam
acompanhados pela noção de alguma falta ou iniquidade. A
razão ou ciência consiste apenas na comparação de ideias e na
descoberta de suas relações. Se as mesmas relações tiverem
características diferentes, deve-se seguir, evidentemente, que
essas qualidades não são descobertas unicamente pela razão.
Portanto, para pôr tudo isso à prova, escolhamos um objeto
inanimado qualquer, como um carvalho ou um olmo; e
suponhamos que, ao deixar cair suas sementes, ele produza logo
abaixo de si um broto que, crescendo gradativamente, acaba por
encobrir e destruir a árvore-mãe. Pergunto, pois, se neste caso
falta alguma relação que possa ser descoberta no parricídio ou
ingratidão. A primeira árvore não é causa da existência da
40
segunda, e esta última a causa da destruição da primeira, do
mesmo modo que um filho quando mata seu pai? Não basta
responder que aqui falta uma escolha ou uma vontade. Pois, no
caso do parricídio, a vontade não dá origem a nenhuma relação
diferente, sendo apenas a causa de que deriva a ação; e,
consequentemente, produz as mesmas relações que, no caso do
carvalho ou do olmo, surgem de outros princípios. É a vontade
ou escolha que determina um homem a matar seu pai; e são as
leis da matéria e do movimento que determinam um broto a
destruir o carvalho que o gerou. Aqui, portanto, as mesmas
relações têm causas diferentes; mas as relações ainda são as
mesmas, E como sua descoberta não se faz acompanhar de uma
noção de imoralidade em ambos os casos, segue-se que tal
noção não surge dessa descoberta. (HUME apud Morris, 2002,
p. 187).
Note-se que, com isso, Hume não rejeita que o parricídio seja um “crime terrível”, ele
apenas refere que o valor negativo que se dá ao ato (o de ser terrível) decorre de um
sentimento interno e não de um dado da razão.
Com o mesmo raciocínio, Hume questiona “por que o incesto na espécie humana é
criminoso, e por que a mesma ação e as mesmas relações nos animais não possuem a menor
torpeza e deformidade moral?” (HUME apud MORRIS, 2002, p. 187).
O vício de uma ação considerada desvirtuosa reside, para Hume, sempre no sujeito –
que julga a ação – e nunca no objeto. Não havendo a coisa em si desvirtuosa, a moral será
então sempre relativa porquanto a matéria de fato é sempre um sentimento e nunca um objeto.
A partir de tal conclusão, Hume passa então a investigar se existem alguns princípios
dos quais decorram esse nosso sentimento moral. Considera impossível que todos esses
sentimentos nasçam de uma qualidade original do ser humano. Rejeita, também, a noção de
que a virtude seja natural e o vício inatural:
Enquanto isso, pode nos ser oportuno observar, a partir dessas definições de
natural e inatural, que nada pode ser menos filosófico do que esses sistemas
que afirmam que a virtude é igual àquilo que é natural, e que o vício é igual
ao que é inatural. Porque, no primeiro sentido da palavra, sendo natureza
oposto a milagre, tanto o vício como a virtude são igualmente naturais; e, no
segundo caso, enquanto oposto ao que é incomum, talvez se descubra que a
virtude é o mais inatural. Pelo menos deve-se reconhecer que a virtude
heróica, por ser tão incomum, é tão pouco natural quanto a mais brutal
barbárie. Quanto ao terceiro sentido da palavra, é certo que tanto o vício
como a virtude são igualmente artificiais e fora da natureza. Porque, por
mais que se possa discutir se a noção de um mérito ou demérito em certas
ações é natural ou artificial, é evidente que as próprias ações são artificiais, e
realizadas com um certo desígnio e intenção; de outro modo, elas jamais
poderiam ser classificadas sob alguma dessas denominações. É impossível,
41
portanto, que o caráter de natural e inatural possa marcar, em algum sentido,
os limites de vício e virtude. (HUME apud MORRIS, 2002, p. 196)
Em seguida, Hume, em O Tratado da natureza humana, passa a examinar a Justiça.
Destaca como uma máxima que “nenhuma ação pode ser virtuosa, ou moralmente boa, a
menos que haja na natureza humana algum motivo para produzi-la que não seja a noção de
sua moralidade” (HUME apud MORRIS, 2002, p. 196).
Assim, Hume sustenta que a ação humana não é em si virtuosa, mas possui um motivo
virtuoso, presente na natureza humana. Nesse sentido, ele não nega que o senso de justiça
decorre de uma lei da natureza, “se entendermos por natural aquilo que é comum a alguma
espécie, ou mesmo se restringirmos seu significado àquilo que é inseparável da espécie”
(HUME apud MORRIS, 2000, p. 508).
Já foi dito que a noção de Justiça, em Hume, remete à somente dois fatos da realidade:
a limitação da generosidade humana e a escassez de recursos naturais. Assim, se o homem
fosse extensivamente generoso e se a natureza fornecesse recursos ilimitados, a Justiça não
teria razão de existir. A Justiça é, portanto, um artifício humano, criado em função de uma
preocupação com o nosso próprio interesse e ao interesse comum.
A Justiça não é, nesse sentido, uma relação de idéias que se possa conceber
racionalmente, mas apenas uma convenção criada a partir de algumas impressões da vida em
sociedade.
Hume, assim, rejeita a ideia de Justiça como um dado anterior ao contrato social
abstrativamente imaginado como o fundamento da vida em sociedade:
Farei apenas uma observação antes de abandonar esse tema, a saber, que,
embora afirme que, no estado de natureza, ou no estado imaginário que
precedeu a sociedade, não existia justiça nem injustiça, mesmo assim não
afirmo que era lícito, em tal estado, violar a propriedade dos outros. Sustento
apenas que não havia essa coisa de propriedade; e, como consequência, não
poderia haver algo como a justiça ou a injustiça (HUME apud MORRIS,
2002, p. 203).
Em sua análise sobre as promessas, seu raciocínio fica mais claro:
Se a moralidade pudesse ser descoberta pela razão e não pelo sentimento,
seria ainda mais evidente que as promessas não poderiam fazer nenhuma
alteração nela. Supõe-se que a moralidade consista numa relação. Toda nova
imposição da moralidade, portanto, deve surgir de alguma relação nova dos
objetos; e, como consequência, a vontade não poderia produzir de imediato
42
alguma mudança nos costumes; ela somente poderia ter esse efeito ao
produzir uma mudança nos objetos. Mas como a obrigação moral de uma
promessa é puro efeito da vontade, sem a menor mudança em parte alguma
do universo, conclui-se que as promessas não tem qualquer obrigação natural
(HUME apud MORRIS, 2002, p. 203).
O filósofo escocês enumera três leis sine qua non para a vida em sociedade: a
estabilidade da posse, a de sua transferência por consentimento e a do cumprimento de
promessas. Contudo, nega que tais leis sejam naturais. Afirma que “essas leis, por mais que
sejam necessárias, são inteiramente artificiais, e uma invenção humana; e, como
consequência, que a justiça é uma virtude artificial e não natural (HUME apud MORRIS,
2002, p. 204)”.
Das citações acima, pode-se concluir que Hume entende que a sociedade humana não
é algo natural e, por consequência, que as criações humanas para possibilitar e facilitar essa
vida social também não são naturais.
Reconhece, contudo, que algumas leis devem ser necessariamente observadas para a
subsistência de qualquer sociedade de homens. Vale dizer, é um interesse humano que
fundamenta o que é certo e errado. A moralidade reside, então, no prazer, ou no sentimento de
aprovação, que a observância dessas regras proporciona.
6.2 CETICISMO MORAL DE KELSEN
Kelsen trilha os passos de Hume, ao argumentar que o conflito de valores é
solucionado pelo sentimento humano, pela vontade e não por uma atividade consciente
racional. Tal inferência é por ele exposta em sua teoria sobre a hierarquia dos valores, na qual
explica que um conflito entre dois valores é um problema racionalmente indissolúvel.
O problema dos valores, para Kelsen, é que, por sua pluralidade, haverá sempre um
conflito entre eles. Assim, por exemplo, na atual questão das células-tronco, de um lado temse o valor da vida do embrião e, de outro, o valor da saúde de pacientes. No aborto há o
confronto do valor vida com o valor liberdade. Na pena de morte novamente figura a vida em
conjunto com o valor da segurança pública. A solução do conflito entre valores é, segundo
Kelsen, sempre um juízo emocional e subjetivo:
43
A resposta à pergunta sobre a hierarquia de valores – como vida e liberdade,
liberdade e igualdade, liberdade e segurança, verdade e justiça, apego à
verdade e compaixão, indivíduo e nação – será necessariamente diversa,
dependendo da pessoa a quem a pergunta se dirige: se a um cristão
praticante, que considera a salvação de sua alma, ou seja, seu destino após a
morte, mais importante que os bens terrenos; ou a um materialista, que não
acredita na imortalidade da alma. A resposta não poderá ser a mesma, se
dada sob convicção de que a liberdade é o valor maior, quer dizer, do ponto
de vista do liberalismo; ou se dada sob o pressuposto de que a segurança
econômica é o objetivo final de uma ordem social, quer dizer, do ponto de
vista do socialismo. A resposta terá sempre o caráter de juízo de valor
subjetivo e, portanto, relativo. (KELSEN, 1996, p. 7)
O juízo moral é, em última análise, sempre um julgamento entre valores, entre
interesses. A hierarquia entre tais valores é, para Kelsen, sempre relativa, não podendo ser
solucionada pelo conhecimento racional, e ipso facto a moral não possui caráter de ciência.
Em O Problema da Justiça, Kelsen investiga as várias máximas da conduta moral as
quais se pretendem válidas e justas universalmente, em qualquer ordem social e em qualquer
tempo.
Assim, por exemplo, a fórmula do suum cuique – a qual enuncia que se deve dar a
cada um o que é seu – não responde ela mesma o que é de cada um. Da mesma forma, a
chamada regra de ouro – “não faça aos outros o que não queres que façam a ti mesmo” – não
soluciona o problema de que os indivíduos possuem valores distintos e que uma tal ação pode
ser reputada boa por um sujeito e má por outro: ou seja, ainda que o que eu faça ao meu
próximo correspondesse ao que eu gostaria que ele me fizesse, ele próprio pode desejar uma
ação diversa, porque de diversa maneira procederia para com um terceiro .
Na mesma contradição é apanhado o imperativo categórico de Kant: “age sempre de
tal modo que a máxima do teu agir possa por ti ser querida como lei universal”. Ora, o que um
determinado indivíduo possa querer como lei universal não exclui a possibilidade de outro
não a querer ou querer coisa diversa. A exigência de que todos queiram as mesmas coisas,
como máximas universais, remete à ideia de um bem geral e absoluto, cujo conceito o
imperativo categórico não nos dá. Como explica Kelsen:
É patente que um egoísta pode querer uma lei universal do egoísmo e,
simultaneamente e consequentemente, renunciar à ajuda dos outros podendo,
portanto, querer sem contradição que a sua máxima se torne uma lei
universal. A contradição que aqui surge é a contradição entre a máxima e
uma lei moral pressuposta por Kant, por força da qual devemos contribuir
para o bem-estar dos outros. Só desta pressuposição, e não do imperativo
categórico, se segue que o homem não “pode” querer, ou seja, afinal, não
44
deve querer, que o princípio do egoísmo se torne uma lei universal.
(KELSEN, 1996, p. 4.)
Também a fórmula do mesotes, a qual enuncia que a justiça está no meio termo, não
responde à questão do que é justo. Como esclarece Kelsen ao citar Aristóteles, a virtude
poderia ser encontrada no meio de dois vícios – o vício do excesso e o da falta: assim, por
exemplo, a coragem é uma virtude porque é o meio termo entre covardia e temeridade. Para o
grande filósofo, o meio termo da virtude e do bem moral poderia ser encontrado tal como um
matemático pode encontrar o ponto médio de uma reta a partir dos seus extremos. A
contradição em tal comparação reside, segundo Kelsen, no fato de que os extremos da citada
reta são dados da realidade – da ordem do ser -, ao passo que os extremos morais (vícios) são
informados pela autoridade social, através de uma norma – da ordem do dever-ser. Vale dizer,
não é a fórmula do mesotes que nos indica quais são os vícios, mas uma ordem social anterior,
a qual pode variar no tempo e espaço, como já exposto alhures, é que o faz.
Kelsen analisa, ainda, o princípio de justiça comunista formulado por Marx. O
conceito de justiça no marxismo remete ao estágio final da revolução comunista, quando,
segundo Marx, cada qual produziria segundo sua capacidade e cada qual receberia segundo
suas necessidades. O conceito de Justiça confunde-se com o próprio sistema, pois, em uma
comunidade como esta, todos deveriam cumprir voluntariamente seus deveres e todos teriam
todas as suas necessidades supridas. Ocorre que, como coloca Kelsen, a capacidade de cada
indivíduo e, sobretudo, as suas respectivas necessidades não podem ser apuradas
subjetivamente, a critério de cada um, mas imprescindiriam de uma ordem a qual dispusesse
objetivamente tais critérios. Portanto, também no marxismo a Justiça confunde-se com uma
norma a qual lhe dá um valor.
Ideais como liberdade e igualdade não podem servir como parâmetros morais
absolutos. A liberdade como bem absoluto é contrária à possibilidade social e, portanto, não
pode constituir um valor moral. Quanto ao princípio da igualdade, no sentido de que todos
devem ser tratados de forma igualitária, ele pressupõe e se justifica, como diz Kelsen, na
desigualdade existente naturalmente entre os homens, e não na igualdade. Portanto é a
desigualdade um dado da natureza e não o seu valor oposto.
Por fim, o preceito moral que diz: “trate os iguais de forma igual e os desiguais de
forma desigual”, a nada mais corresponde senão a uma exigência da lógica, pois toda norma
45
determina que certos indivíduos sejam tratados de uma forma - ou seja, que aqueles que são
iguais sejam tratados de igual forma - e que outros sejam tratados de maneira distinta, por que
não se enquadram na hipótese subjetiva da norma. Ora, como expõe Kelsen:
[…] se uma norma prescreve por via geral que os homens, sob determinadas
condições, devem ser tratados de determinada maneira, quer dizer, se,
quando estamos em face de seres humanos e determinadas outras condições
se verificam, se deve verificar um certo tratamento, o mesmo tratamento, um
tratamento igual, deve ser aplicado em cada caso sob iguais condições, isto
é, os seres humanos, em condições iguais e, portanto, iguais, devem ser
tratados igualmente, precisamente porque a norma apenas determina estas e
nenhuma outra condição, apenas este nenhum out tratamento, e determina
aquelas e este por via geral. A igualdade que consiste em deverem os que são
iguais ser tratados igualmente é, portanto, uma exigência da lógica e não
uma exigência da justiça (KELSEN,1996, p. 57).
Assim como as citadas fórmulas morais, outras tantas referidas por Kelsen, como a
moral consuetudinária ou o princípio da retribuição não foram capazes resolver o problema da
Justiça, qual seja, de explicar o seu conteúdo.
Reservamos para o final o exame de Kelsen sobre a regra de justiça do amor ao
próximo, pois, a nosso ver, esta se distingue das demais e não induz às mesmas conclusões.
O princípio do amor ao próximo é definido por Kelsen como “satisfazer a necessidade
de outrem, libertá-lo do sofrimento, prestar-lhe ajuda quando necessitado” (KELSEN, 1996,
p. 46).
O princípio cristão do amor ao próximo é, assim, a única norma de justiça racional
que, segundo Kelsen, independe de um ordenamento social anterior. Com efeito, se o
destinatário do tratamento (amor) é qualquer um, sem distinção, não é necessário que uma
norma o defina. Também o tratamento (auxílio a quem sofre ou necessita) não precisa de uma
regra anterior que o determine, pois a sua realizaçãot pode ocorrer com sucesso de diversas
formas, atendendo à vontade que lhe impulsionou (amor). Assim, o amor ao próximo se
distingue das demais normas de Justiça, por ser aplicável em qualquer sociedade humana;
vale dizer, ele constitui um valor moral em si mesmo, ainda que Kelsen rejeite essa dedução.
As normas de Justiça antes citadas não respondem elas mesmas, em seus enunciados,
o que é a justiça, ou o que é o bem e o mau; esses valores são por elas pressupostos, ou seja,
devem ser dados por uma norma distinta que, em última análise, remete sempre, segundo
Kelsen, a uma ordem social relativa.
46
A exceção é, como dito, a norma do amor ao próximo, que é a única regra moral
racional – por não necessariamente pressuposta a partir de um dado metafísico - que
estabelece em si mesma um valor de Justiça, com caráter geral.
47
7 CRÍTICA DO CETICISMO MORAL
7.1 A POSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO OBJETIVO DA MORAL
O ceticismo moral, como já tratado, constitui uma corrente de pensamento filosófico
que sustenta a impossibilidade do conhecimento objetivo da moral. Nega a existência de
valores morais objetivos, válidos universalmente.
Vimos que Hume e Kelsen trataram do problema epistemológico da moral de maneira
semelhante. Ambos fazem a crítica das máximas da moral e da justiça, o que os leva à
conclusão de que valores morais são contraditórios no tempo e no espaço e de que o conflito
entre esses valores não é algo que se possa resolver de maneira racional. Em última análise:
não seria possível o conhecimento objetivo da moral, não seria possível conceber sequer uma
norma de justiça universal.
Iniciaremos a nossa análise a partir dos fundamentos de Hume.
Já dissemos que, como sugere Hume, não fosse o egoísmo, a generosidade limitada do
homem – ou seja, se todos os homens fossem igualmente generosos -, não haveria motivo
para se falar em justiça, por inexistente a noção do bem e do mal.
Contudo, tal ilação, a nosso ver, não induz necessariamente à conclusão de que não
existe fundamento natural para a moral, porquanto o egoísmo é uma característica da natureza
humana.
Não nos parece válida, também, a comparação feita por Hume, antes citada, onde ele
nega que o parricídio seja objetivamente um mal. Na comparação entre o homem e o
carvalho, de um lado temos um comportamento humano, objeto da moral; de outro, uma ação
da natureza, de um objeto inanimado, que não constitui, por definição, objeto da moral. Com
efeito, a relação entre um carvalho que, ao deixar cair sua semente, faz gerar uma nova
árvore, não é uma relação de pai e filho, haja vista essas categorias não se aplicarem a seres
inanimados.
Nesse ponto, Kelsen está mais correto quando, como Kant, não faz comparações entre
relações humanas e fatos naturais causais. As ciências naturais regem-se pela lei da
48
causalidade, o que não se aplica às ciências humanas ou sociais - tal como a ciência moral - as
quais são regidas por leis distintas.
No caso do parricídio, a relação original – entre pais e filhos – é resultado da
causalidade, pois a concepção humana é um dado da natureza física; é, assim, um fato natural.
Contudo, a destruição dessa relação através de um parricídio é um fato antinatural. É
antinatural não no sentido de contrariar uma lei física, mas no sentido de ofender uma lei
moral.
Ora, não se pode conceber uma sociedade a qual sobreviva tendo como um bem moral
o parricídio: esta é, na verdade, uma impossibilidade material: tal sociedade, que admitisse
como moralmente correto que um filho matasse seus pais, se extinguiria pelo simples fato de
que os homens não desejariam ter filhos.
Por outro lado, é perfeitamente possível conceber, na natureza, que uma árvore que
nasça de outra destrua a primeira, sem que isso importe a extinção de uma floresta. Para isso,
basta constatar que florestas existem.
Uma floresta é a forma natural pela qual as árvores e demais plantas se reúnem. De
igual forma, a comunidade é a forma natural pela qual os homens se reúnem. Por isso
concordamos com Aristóteles, quando identifica na natureza humana uma necessidade de os
homens se relacionarem uns com os outros.
“O homem é um animal político”: nesta afirmação do Grande Filósofo reside a nossa
lei fundamental: é uma exigência da natureza humana a convivência em sociedade. Por
“animal”, deduzimos que a natureza política é um instinto, e não um dado da razão, ele
antecede a razão.
A quem não convença que a natureza política do homem é um fato autoevidente,
replicamos que a vida em sociedade é uma exigência tanto material (instinto de procriação e
prazer sexual) quanto racional (pela razão o homem descobre que terá uma vida melhor se em
convívio com outros homens).
Já dissemos que, a nosso ver, justiça, moral e direito relacionam-se como uma relação
entre fim e meio: a justiça é o fim que se é atingido através da moral e do direito. Portanto, a
justiça, distintamente do direito e da moral, não é um mero instrumento, mas é uma coisa em
si.
49
Se temos como premissa que a vida em sociedade é um princípio da natureza humana,
tanto por uma exigência material quanto racional, tudo o que favoreça a existência e o
desenvolvimento dessa sociedade política constitui um bem; pelo contrário, o que prejudique
a existência e favoreça a destruição da sociedade é um mal. Não é à toa que é exatamente este
o conceito de Justiça para o Aristóteles: “o termo ‘justo’ se aplica a qualquer coisa que
produza e preserve a felicidade, ou as partes componentes da felicidade, da comunidade
política” (ARISTÓTELES, 2008, p. 23).
Note-se que este poderia perfeitamente ser o conteúdo da “Norma Fundamental”
hipotética de Kelsen; todavia, a definição dessa norma como uma lei natural desestruturaria
toda a Teoria Pura desde suas bases, o que, a nosso ver, contudo, não impediria a concepção
de uma ciência do direito, como demonstraremos no próximo item quando trataremos do
conteúdo do direito.
Desse princípio moral fundamental decorrem algumas outras leis. Cumpre ressaltar
que o fato de que não possamos conceber racionalmente todas as leis ou princípios naturais do
comportamento humano não é objeção ao nosso argumento. Ora, o fato de não conhecermos
todas as leis da física não significa que elas não existam, ou que somente existam as quais
conheçamos.
Como vimos no exame da filosofia moral kelseniana, a regra de justiça do amor ao
próximo constitui uma regra de justiça objetiva, ou seja, independe que uma ordem normativa
subjetiva lhe dê valores, ela constitui um valor no seu enunciado mesmo.
Portanto, assim como o amor ao próximo – o auxílio a um outro ser humano
necessitado – constitui um valor moral válido universalmente, o parricídio constitui um fato
universalmente imoral.
O incesto talvez não constitua, tal como um parricídio, um mal moral autoevidente
mas, indiretamente, atenta contra o mesmo bem: o desenvolvimento da sociedade, a variação
genética, a integração entre grupos e aldeias distintas. Tal como uma sociedade parricida, uma
sociedade incestuosa não teria chances de se desenvolver.
Em vista da análise feita da obra de Hans Kelsen, cumpre ressaltar, por fim, que
Kelsen não nega a conexão entre moral e direito, ou deste com a política, ou com a
sociologia; apenas não reconhece essas disciplinas conexas com o objeto da ciência jurídica.
50
Kelsen identifica a Justiça com uma norma de justiça: é justo o homem cujo
comportamento corresponda a uma norma de justiça, é justa uma ação que corresponda a uma
norma de justiça.
Ele conclui, então, que a justiça é sempre relativa, que a razão humana não é capaz de
compreender valores absolutos. Em sua obra “O Que é a Justiça?”, ele deixa claro que não se
pode conceber racionalmente um valor de justiça que seja reconhecido como tal
independentemente de tempo e espaço.
Contudo, esclarece que, ao contrário do que muitos podem pensar, essa filosofia
relativista valores não é amoral, ou imoral: Seu valor moral reside no princípio da tolerância,
que, como preceitua, “é a exigência de compreender com benevolência a visão religiosa ou
política de outros, mesmo que não a compartilhemos e, exatamente porque não a
compartilhamos, não impedir sua manifestação pacífica” (KELSEN, 2000, p. 203)
Nesse sentido, Kelsen enxerga um valor no relativismo moral que é o princípio de
tolerância que nasce da coexistência das diversas ordens morais. Com essa afirmação Kelsen
deixa escapar sua crença em pelo menos um valor moral universal.
Pensamos também que a tolerância constitui um bem universalmente válido. Em uma
sociedade de homens, cada qual com a sua razão, com o seu arbítrio, a convivência só será
possível quando aceitas mutuamente as diferenças.
7.2 O CONTEÚDO DO DIREITO
Conforme assinala Miguel Reale (1998, p. 34), o problema do valor da conduta
humana não pode ser resolvido pela ciência do direito, e nunca poderá. Daí o importante papel
da filosofia do direito, pois é esta quem busca os fundamentos da ordem jurídica.
O primeiro obstáculo que encontramos quando nos colocamos na posição de conhecer
algo da realidade é: o que é (quid est). Vimos até agora que o conteúdo do direito e da moral
são os mesmos; isso, contudo, não significa que direito e moral sejam a mesma coisa.
51
Vimos, também, que, segundo Kelsen, o problema do conteúdo do direito não é afeto à
ciência do direito. O direito positivo, para desenvolver-se como ciência, precisou romper com
a axiologia.
Todavia, entendemos que o direito positivo, além de uma ciência, é um instrumento.
Como qualquer instrumento criado pelo homem, não possui um fim em si mesmo, mas é um
meio para atingir esse fim.
Um instrumento pode ser utilizado tanto para o fim que lhe foi idealizado quanto para
fins diversos dos inicialmente previstos. Assim, por exemplo, uma tesoura pode ser utilizada
tanto para a confecção de uma bela peça de vestuário como para a prática de um homicídio.
Tal como uma ferramenta humana, o direito positivo é uma criação artificial do
homem: nisso devemos concordar com Hume e Kelsen. Contudo, a artificialidade do direito
não implica que ele seja desprovido de uma fonte natural, assim como as ciências naturais são
artificialidades humanas, mas possuem um fundamento natural: as leis da física.
Kelsen, também, está coberto de razão, ao afirmar que não cabe à ciência do direito
dizer como o direito deve ser, porquanto uma ciência presta-se somente a conhecer e
descrever seu objeto, e não a valorá-lo em comparação com outros objetos. Ora, pensemos
numa máquina, num automóvel: é um objeto artificialmente criado pelo homem, possui uma
definição clara do que é (conceito do objeto) e de como funciona (descrição de um objeto),
assim, pode ser um objeto de uma ciência, a ciência automobilística. À ciência
automobilística não importa saber se o automóvel pode ser utilizado indevidamente (para
colocar a vida dos outros em risco, por exemplo), ou se ele pode ser um objeto de uma
política social e econômica de um Estado. Todavia, esse objeto pode afetar outras ciências,
cujo objeto pode então repercutir em mais algumas ciências, e assim sucessivamente.
O problema desse ciclo é que nenhuma ciência é capaz de conhecer devidamente o
objeto de outra, e a ciência mesma desse objeto não é capaz de conhecer suas múltiplas
implicações na realidade e, como consequência, nas demais ciências.
As ciências estudam apenas os recortes abstratos da realidade; não há ciência que
estude as divisões dentro da estrutura objetiva da realidade. Essa ciência seria a ontologia, ou
teoria geral do Ser. Ocorre que a ontologia não pode ser estudada pelo próprio método
52
científico que tem como pressuposto uma ontologia prévia, então esta fica retirada do mundo
das ciências e se torna uma coisa chamada filosofia.
Voltemos ao nosso automóvel. Possui, este, um manual de uso, o qual descreve o seu
funcionamento. O conhecimento ali exposto provém de uma ciência automobilística cujo
conteúdo foi adquirido ao longo do tempo através de reflexões racionais e da empiria. É esta
uma ciência a qual se fundamenta, sobretudo, em leis da física, em leis da natureza. É certo
também, que essa ciência é também um instrumento, como tantas outras são também
instrumentos. Não era à toa que Kant considerava a Física como a única ciência de fato.
Por ser, a automobilística, antes de uma ciência, um instrumento, o desenvolvimento
de seu conhecimento envolve questões que, em princípio, não lhe afetam, tais como
segurança, adequação a normas de trânsito, estética, etc.
Assim é o direito. É uma ciência, mas é, antes, um instrumento. Não fosse a
necessidade que temos desse instrumento, não haveria ciência alguma do direito. Tal como as
ciências em geral, o direito parte de uma ontologia prévia. O direito, tal como a moral, nasce
da necessidade de se positivar algumas exigências da natureza humana, ou seja, de alguns
princípios que regem a relação do homem com o mundo e consigo mesmo como espécie.
Para a concretização do impulso natural da vida em sociedade, o homem cria
instrumentos: a moral, o direito, a política, a economia. O conteúdo desses instrumentos,
depois transformados em ciência, nasce de alguns princípios naturais e autoevidentes, tal
como tratamos na crítica do ceticismo moral.
Tentaremos esclarecer um pouco melhor como essa definição de Justiça se manifesta
na realidade. Sabemos que o desenvolvimento da sociedade é um bem, que a felicidade da
comunidade é, portanto, igualmente um bem. Assim, por exemplo, uma norma jurídica que
coíba o assassinado é justa, na medida em que preserva a comunidade. Contrariamente, um
ordenamento jurídico que não proíba o roubo da posse estável ou da propriedade é injusto,
pois desestimula a manutenção dos laços de confiança da respectiva sociedade.
Em uma sociedade primitiva, de pequeno porte, seria fácil compreender todas essas
normas e, portanto, definir quais normas são justas ou injustas. Ocorre que, com o
desenvolvimento dessas comunidades primitivas em sociedades complexas como as Cidades e
53
os Estados, esvaiu-se aquele sentimento inicial que uniu a comunidade em sua geração
originária.
Daí a necessidade que temos filosofia do direito e da filosofia moral: investigar os
fundamentos dos regramentos morais e jurídicos, cujo sentido original foi perdido pelas
sociedades hoje conhecidas.
O direito positivo, tal como concebido por Kelsen, tem como fonte um ato de vontade
humano, o qual não é fruto da razão, mas de um sentimento. Com ele concordamos que a
vontade da criação normativa não é proveniente da razão humana, mas discordamos que se
trate simplesmente de paixões e volições subjetivas do homem. Sustentamos que o ato de
vontade pelo qual uma norma é criada tem origem no instinto natural humano de convivência
em sociedade.
A existência de uma lei natural não impossibilita a construção de uma ciência jurídica,
desde que ela possa ser empiricamente verificada. Ora, o instinto comunitário pode ser
constatado na realidade não só do homem, mas dos animais em geral. A diferença
fundamental entre as comunidades dos animais irracionais e as comunidades humanas é que
aquelas prescindem de uma ordem normativa e estas não.
O próprio Estado, o qual é criado a partir de uma ordem jurídica, é um instituto criado
com inspiração no direito natural. Aristóteles tem razão quando diz:
Quando várias aldeias se unem numa única comunidade, perfeita e grande o
bastante para ser quase ou totalmente auto-suficiente, passa a existir o
Estado, que nasce das meras necessidades da vida e continua a existir no
interesse de uma vida boa. Portanto, se as formas anteriores de sociedade são
naturais, assim também é o Estado, porque ele é a finalidade delas e a
natureza [completada] é a finalidade. (ARISTÓTELES, 2008, p. 38)
O Estado, portanto, é a organização social que melhor condiciona o homem a ser tal
como a sua natureza quer que ele seja: um animal político. Organizações sociais anteriores ao
Estado, a saber, a família e as aldeias, prestam-se apenas à subsistência do grupo e limitam,
portanto, a emergência dos valores morais naturais do homem; no Estado, o interesse humano
vai além da mera subsistência e busca a felicidade e o bem estar. É nesse contexto que
exsurgem valores tais como o bem, a justiça, o altruísmo, etc., pois as comunidades de
subsistência não propiciam ao homem explorar as virtudes mais íntimas de sua alma, na
medida em que o instinto de sobrevivência preocupa-se apenas com o que é necessário, e não
com o que é bom.
54
Em vista do exposto, concluímos que o conteúdo do direito pode ser concebido e
compreendido e valorado segundo o princípio natural da convivência humana em sociedade.
55
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há quem afirme não existir certo ou errado, sob o argumento de que “tudo é relativo”.
Contudo, a experiência de pouco menos de três décadas de vida me foram bastantes para
concluir que absolutos são inegáveis.
Ora, dirija-se ao maior relativista moral vivente e desfira-lhe um tapa no rosto sem
razão: verás que sua reação não será a de alguém que não acredita no certo e no errado. Sua
reação será instintivamente negativa, sem que haja no ato uma relação mental instantânea a
um ordenamento moral particular. Ou seja, uma moral relativa não pode dar origem a tal
sentimento mas é um instinto humano, decorrente de uma moral absoluta, que o faz.
Do exemplo antes citado podemos concluir que a noção do certo e do errado não
escapa de nossas reações, ainda que possamos escondê-la em nossas ações. Trata-se de um
dado objetivo da natureza, de um instinto, e não simplesmente de uma convenção social. Há o
que é certo e há o que é errado, e os indivíduos reagem negativamente quando tratados de
maneira errada ou injusta.
Esse instinto, conforme demonstramos nesta pesquisa, decorre da exigência natural ao
homem do convívio em comunidade. A partir desse princípio, e por ele condicionado, os
homens produzem normas a fim de tornar possível a vida em sociedade, desenvolvê-la e fazêla próspera e a apta a produzir a felicidade de seus membros.
Só é possível saber o que é mau se o que é bom for previamente conhecido. Da mesma
forma, apenas é possível conhecer o injusto a partir do conhecimento do justo. Valores como
o amor, o respeito, a dignidade, o altruísmo, representam o bem em qualquer sociedade e em
qualquer tempo, porquanto a preservam. Há um padrão mínimo de moralidade a ser
observado para o funcionamento de uma ordem social. Como demonstramos ao longo deste
escrito, práticas como o parricídio, o descumprimento a promessas, o egoísmo ilimitado, a
usurpação da posse estável ou da propriedade, entre outros, constituem valores morais
negativos, ou imorais, na medida em que prejudicam o desenvolvimento da comunidade.
Assim, não obstante as diferentes culturas, bem como a mudança de seus valores em
função do tempo, existem leis morais objetivas aplicáveis a todas elas, as quais, se não
observadas, levam a comunidade à destruição.
56
Com moral objetiva não quisemos nos referir a um comportamento único em cada
situação. Isso nos equivaleria aos animais: ora, a moral não opera na consciência humana
como o faz o instinto nos animais. A moral é um instrumento da parte não animal de nossa
existência, a saber, o livre arbítrio e a razão, não obstante o fundamento da moral ser anterior
à razão – o direito natural. Ora, os animais não possuem arbítrio, embora possam ser livres
materialmente; tal ocorre porque seu arbítrio é controlado pelos instintos. No homem a
relação é inversa: o arbítrio é quem controla o os instintos. Vale dizer, o homem é
naturalmente movido ao convívio social, mas pela razão é que concebe como tal sociedade
deve funcionar.
A moral é a prática da justiça natural para com o outro. Sendo justiça a virtude
perfeita, ela é perfeita porque, como diz Aristóteles, “quem a possui pode praticar sua virtude
em relação a outros e não apenas a si mesmo; pois há muitos homens que podem praticar a
virtude em seus assuntos privados, mas não podem fazê-lo em suas relações com um outro”
(ARISTÓTELES, 2008, p. 35).
Ora, a virtude em relação ao outro não é mecânica, como já dito, pois não é movida
por instintos. Trata-se de uma relação entre duas ou mais consciências, entre dois ou mais
livre arbítrios; isso exige uma certa maleabilidade das partes envolvidas de ambos os lados.
Essa maleabilidade é o que chamamos de tolerância, o que constitui um traço marcante da
moral universal.
A tolerância, ou seja, essa maleabilidade no tratamento com o outro, contudo, não
pode possuir uma amplitude infinita, devendo ser, pois, limitada a fim de que não se atinja o
campo do imoral, ou seja, daquilo que prejudica a sociedade e a felicidade de seus membros.
Com “felicidade”, não quisemos nos referir à felicidade individual de cada integrante
da comunidade, visto que isso é naturalmente impossível, mas à criação de condições para
que, qualquer um, independentemente da posição social que ocupa, possa atingir esse bem
estar.
A moral objetiva ou universal apresenta ainda outra característica: ela não reside
somente na ação ou somente no sujeito, mas no Ser. Ora, um homem justo pode cometer uma
injustiça, assim como um homem injusto pode eventualmente praticar uma ação justa, o que,
todavia, não modifica a identidade de cada homem no universo da moral. Isso equivale a dizer
que, assim como qualquer lei natural, a moral opera no Ser e deste é dependente. Portanto, a
57
finalidade do direito natural presente no Ser é a criação de um universo moral, no qual os
homens que dele participem sejam bons e que a sociedade humana seja preservada.
Defendemos a tese de que o direito natural, presente na ordem do Ser, informa a
moral, de tal modo como as leis da natureza informam a física. Da mesma forma que a física
atua de modo a harmonizar do universo, a moral atua em direção à harmonia das comunidades
humanas.
Voltemos, agora ao final, ao problema inicialmente proposto: a relação entre direito e
moral: já dissemos - e nisso concordamos com Kelsen - que a moral e o direito possuem um
mesmo conteúdo e uma mesma forma. Sua distinção essencial sua reside no atributo da
coercitividade da norma jurídica. Acrescentamos a essa noção, ainda, que o direito é
instrumental, é um instrumento criado artificialmente pelo homem.
A função do direito reside na necessidade do homem em garantir coercitivamente a
subsistência da comunidade, haja o que houver. Ora, dissemos que há um princípio na
natureza humana que impulsiona o homem ao convívio em sociedade. Contudo, não há na
natureza uma lei que organize essa sociedade: é o homem, através de sua razão, quem deve o
fazer.
A fim de organizar a sociedade, o homem utiliza-se do conteúdo da moral preexistente
e lhe dá um atributo coercitivo, transformando-a em norma jurídica. A lei é, assim, uma
ferramenta política para que a moral, ou uma parte dela, se cumpra coercitivamente. Portanto,
o direito positivo é artificial, a Moral é natural.
Nesse sentido, uma lei pode ser justa ou injusta, a depender do seu conteúdo. A norma
do Reich Nazista que determinava o extermínio de uma parte do seu povo, sem que estas
pessoas tenham ofendido o princípio natural da preservação o da sociedade – ou seja, sem um
motivo justo -, é moralmente má e, portanto, injusta.
Normas
de
Estados
totalitários
que
limitem
a
liberdade
do
homem
desnecessariamente, com o falso propósito de preservar a comunidade, são também normas
moralmente inválidas e injustas.
Assim, o direito, como um todo, pode ser injusto e inválido. Ainda que essa ordem
jurídica possa produzir efeitos por um tempo, a tendência natural é que a sociedade que por
58
ela é regulada seja destruída ou necessite suplantar essa ordem jurídica a fim de que isso não
ocorra.
Em arremate, cumpre-nos ressaltar a importância dessas noções nas discussões
jurídicas atuais, quanto aos direitos humanos e às garantias individuais, à ética da
administração pública, à liberdade religiosa e de expressão, à hermenêutica, ao direito
internacional, entre tantos outros problemas práticos do direito, os quais os homens, se
desprovidos da luz filosófica do estudo de questões universais, não poderiam compreender.
59
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2008.
BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2010.
DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad.: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
GOYARD-FABRE. Filosofia Crítica e Razão Jurídica, São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.
244.
MORRIS, Clarence (org.). Os Grandes filósofos do direito: leituras escolhidas em
direito. Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
KANT, Immnuel. Metafísica dos costumes. São Paulo: Edipro, 2003.
KELSEN, Hans. O Que é a Justiça? São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______ Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986
______ Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. O Problema da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito, 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
60