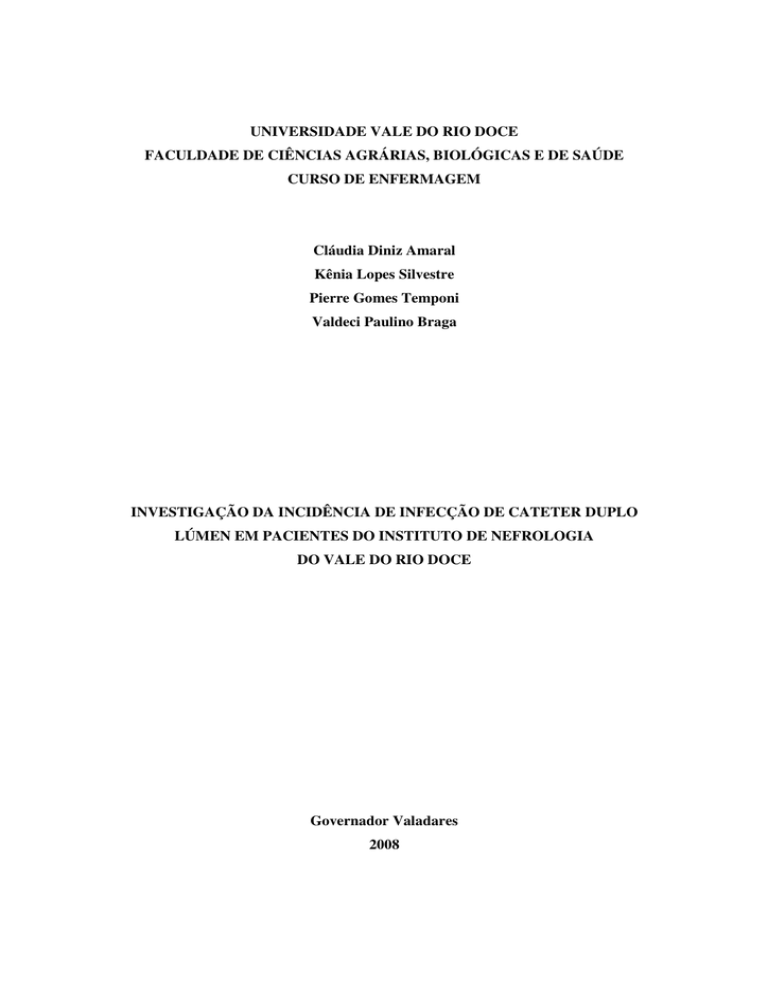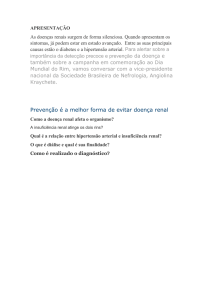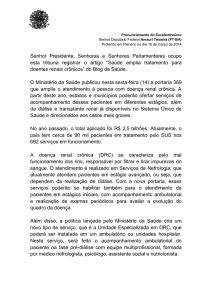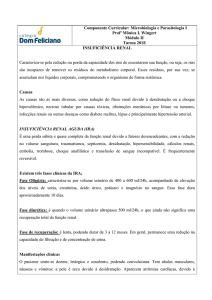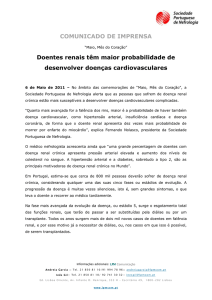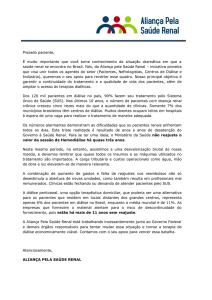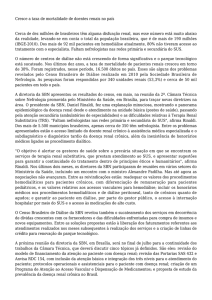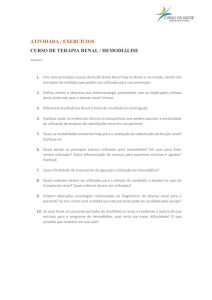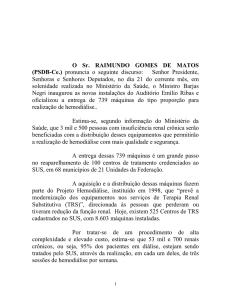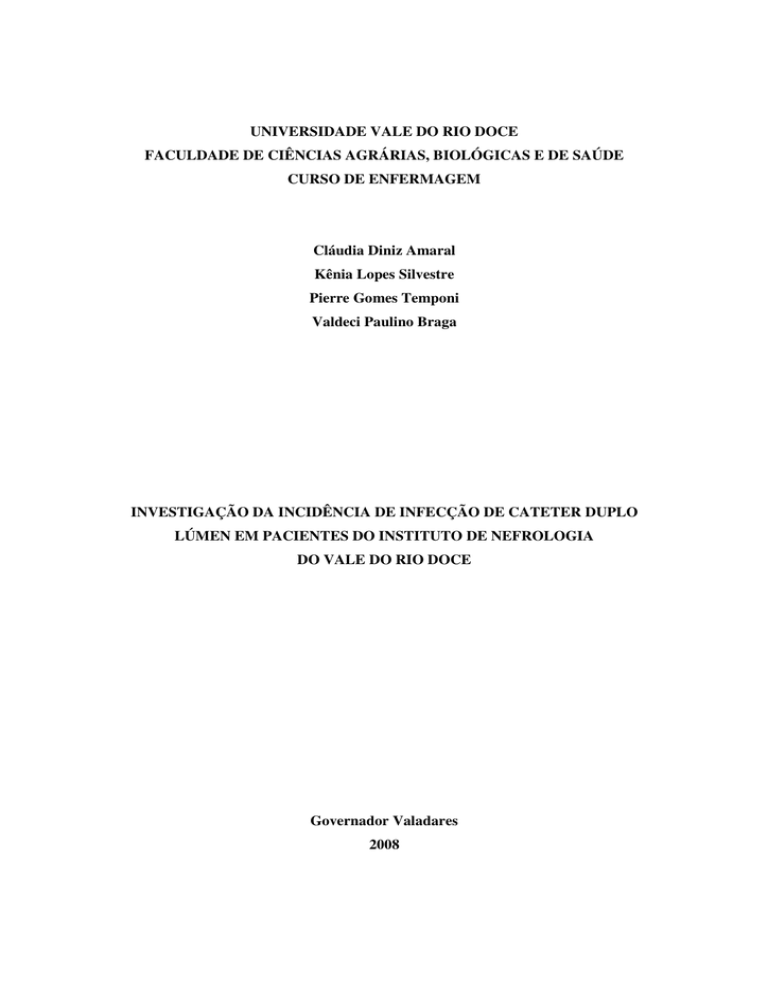
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS E DE SAÚDE
CURSO DE ENFERMAGEM
Cláudia Diniz Amaral
Kênia Lopes Silvestre
Pierre Gomes Temponi
Valdeci Paulino Braga
INVESTIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CATETER DUPLO
LÚMEN EM PACIENTES DO INSTITUTO DE NEFROLOGIA
DO VALE DO RIO DOCE
Governador Valadares
2008
1
CLÁUDIA DINIZ AMARAL
KÊNIA LOPES SILVESTRE
PIERRE GOMES TEMPONI
VALDECI PAULINO BRAGA
INVESTIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CATETER DUPLO
LÚMEN EM PACIENTES DO INSTITUTO DE NEFROLOGIA
DO VALE DO RIO DOCE
Trabalho de conclusão de curso apresentado
como exigência parcial para obtenção do
grau de Bacharelado em Enfermagem pela
Faculdade das Ciências da Saúde da
Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE.
Orientadora: Profª. Êrick da Silva Ramalho
Governador Valadares
2008
2
CLÁUDIA DINIZ AMARAL
KÊNIA LOPES SILVESTRE
PIERRE GOMES TEMPONI
VALDECI PAULINO BRAGA
INVESTIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CATETER DUPLO LÚMEN
EM PACIENTES DO INSTITUTO DE NEFROLOGIA
DO VALE DO RIO DOCE
Trabalho de conclusão de curso apresentado
como exigência parcial para obtenção do
grau de Bacharelado em Enfermagem pela
Faculdade das Ciências da Saúde da
Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE.
Orientadora: Profª. Êrick da Silva Ramalho
Governador Valadares, 17 de Novembro de 2008
Banca Examinadora:
_______________________________________________________________
Profª. Êrick da Silva Ramalho - Orientadora
Universidade Vale do Rio Doce
_______________________________________________________________
Profª. Ivanete Niley Rodrigues de Abreu - 1ª Examinadora
Universidade Vale do Rio Doce
______________________________________________________________
Profª. Dalila Leão de O. Almeida - 2 ª Examinadora
Universidade Vale do Rio Doce
3
DECLARAÇÃO DE AUTORIA
Cláudia Diniz Amaral, aluna do Curso de Graduação de Enfermagem da FACS –
UNIVALE, identidade n° MG-14.922.792 emitida pela SSP/MG, declaro para os devidos
fins e sob as penas da lei que este Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é
“Investigação da Incidência de Infecção de Cateter Duplo Lúmen em Pacientes do
Instituto de Nefrologia do Vale do Rio Doce”, é de minha exclusiva autoria, estando a
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, junto a Faculdade de Ciências da Saúde –
Curso de Enfermagem, autorizada a divulgá-la , mantendo cópia em biblioteca central, sem
ônus, por se tratar de exigência parcial para certificação de Bacharel no Curso de
Graduação em Enfermagem.
Governador Valadares, 17 de novembro de 2008.
__________________________________________
Cláudia Diniz Amaral
4
DECLARAÇÃO DE AUTORIA
Kênia Lopes Silvestre, aluna do Curso de Graduação de Enfermagem da FACS –
UNIVALE, identidade n° MG-10.254.619 emitida pela SSP/MG, declaro para os devidos
fins e sob as penas da lei que este Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é
“Investigação da Incidência de Infecção de Cateter Duplo Lúmen em Pacientes do
Instituto de Nefrologia do Vale do Rio Doce”, é de minha exclusiva autoria, estando a
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, junto a Faculdade de Ciências da Saúde –
Curso de Enfermagem, autorizada a divulgá-la , mantendo cópia em biblioteca central, sem
ônus, por se tratar de exigência parcial para certificação de Bacharel no Curso de
Graduação em Enfermagem.
Governador Valadares, 17 de novembro de 2008.
__________________________________________
Kênia Lopes Silvestre
5
DECLARAÇÃO DE AUTORIA
Pierre Gomes Temponi, aluno do Curso de Graduação de Enfermagem da FACS –
UNIVALE, identidade n° MG-12.896.524 emitida pela SSP/MG, declaro para os devidos
fins e sob as penas da lei que este Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é
“Investigação da Incidência de Infecção de Cateter Duplo Lúmen em Pacientes do
Instituto de Nefrologia do Vale do Rio Doce”, é de minha exclusiva autoria, estando a
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, junto a Faculdade de Ciências da Saúde –
Curso de Enfermagem, autorizada a divulgá-la , mantendo cópia em biblioteca central, sem
ônus, por se tratar de exigência parcial para certificação de Bacharel no Curso de
Graduação em Enfermagem.
Governador Valadares, 17 de novembro de 2008.
__________________________________________
Pierre Gomes Temponi
6
DECLARAÇÃO DE AUTORIA
Valdeci Paulino Braga, aluno do Curso de Graduação de Enfermagem da FACS –
UNIVALE, identidade n° M.8.987.771 emitida pela SSP/MG, declaro para os devidos fins
e sob as penas da lei que este Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é “Investigação
da Incidência de Infecção de Cateter Duplo Lúmen em Pacientes do Instituto de
Nefrologia do Vale do Rio Doce”, é de minha exclusiva autoria, estando a Universidade
Vale do Rio Doce – UNIVALE, junto a Faculdade de Ciências da Saúde – Curso de
Enfermagem, autorizada a divulgá-la , mantendo cópia em biblioteca central, sem ônus, por
se tratar de exigência parcial para certificação de Bacharel no Curso de Graduação em
Enfermagem.
Governador Valadares, 17 de novembro de 2008.
__________________________________________
Valdeci Paulino Braga
7
Dedicamos este trabalho a todos que se empenham na
luta por uma vida mais digna aos indivíduos com
Insuficiência Renal.
E a todos aqueles que são capazes de tratar o paciente
como ser humano, enxergando-o e aceitando-o em sua
totalidade, muito além do que a ciência de nossa
profissão nos permite.
8
AGRADECIMENTOS
A Deus, que se faz presente em todos os momentos de nossas vidas, transmitindo-nos
sabedoria, luz e força.
Aos nossos pais pelo apoio, carinho e exemplo de vida, ensinando-nos a viver com
dignidade e coragem as trilhas deste caminho.
Aos nossos irmãos, o amor e gratidão no nosso laço de união.
À nossa Orientadora Êrick, por sua atenção e contribuição na elaboração deste trabalho.
Aos nossos colegas de jornada que por quatro anos foram mais que parceiros, foram
verdadeiros colaboradores nesse aprendizado.
Aos pacientes hemodialíticos pelo exemplo de garra e determinação diante das experiências
de vida e obstáculos enfrentados.
Dividimos com vocês a honra dessa vitória!
9
RESUMO
Atualmente, no Brasil, as infecções associadas a cateteres correspondem a 20% de todas as
complicações dos acessos vasculares com incidência alta e grave. Estima-se que em torno
de 8% dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica em tratamento hemodialítico no
Brasil fazem uso de cateteres de uso temporário ou permanente. Com isso, o objetivo da
pesquisa foi investigar a incidência de infecção de cateter duplo lúmen em pacientes do
Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce. Para tanto, a pesquisa se alicerçou em teóricos
tais como Brunner & Suddarth (2006), Guyton & Hall (1997) e Daugirdas (2003), com
estudos voltados para as complicações provenientes desse procedimento, assim como
quanto aos fatores de risco e das respectivas medidas de prevenção e controle no uso do
CDL. Além disso, entrevistou-se 52 pacientes de maio a outubro de 2008, utilizando como
procedimento de coleta de dados entrevistas em forma de questionário e levantamento de
dados nos prontuários da Instituição nos pacientes que havia necessidade em repassar o
Cateter de Duplo Lúmen. Após a investigação desses itens, constatou-se de acordo com o
método laboratorial utilizado pela Instituição, a hemocultura, que há dentre os casos 60%
de infectados, demonstrando a ocorrência de incidência da infecção no uso do CDL.
Palavras-Chave: Infecção de Cateter Duplo Lúmen. Incidência. Investigação.
10
ABSTRACT
Nowadays, in Brazil, the infections associates the catheters correspond to 20% of all the
vascular accesses complications with high and serious incidence. Esteem itself that about
8% of the patients with Renal Inadequacy Chronicle in treatment in hemodialisy in Brazil
do catheters temporary or permanent use use. With that, the research goal was going to
investigate the catheter infection incidence double lúmen in patient of Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce. For so much, the research if alicerçou in theoretical suches
like Brunner & Suddarth (2006), Guyton & Hall (1997) and Daugirdas (2003), with
directed studies to the complications coming of this procedure, as well as regarding the risk
factors and of the prevention and control respective measures in CDL's use. Besides, it
interviewed 52 patient of May October 2008, using like data interviews collection
procedure in data questionnaire and rising form in information on the patient of the
Institution in the patients that there was need in review Cateter de Duplo Lúmen. After the
investigation of these items, it verified according with the method laboratory used by the
Institution, hemocultura, that there is among the cases 60% of infected, demonstrating the
infection incidence occurrence in CDL's use.
Words-key: Infection of Cateter Duplo Lúmen. Incidence. Investigation.
11
LISTA DE SIGLAS
AVC – Acidente Vascular Cerebral
ADH – Hormônio Antidiurético
BUN – Nitrogênio Uréico Sanguíneo
CAPD – Diálise Peritoneal Ambulatorial e Contínua
CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CCPD – Diálise Peritoneal de Ciclagem Contínua
CDL – Cateter Duplo Lúmen
DPA – Diálise Peritoneal Automatizada
DPI – Diálise Peritoneal intermitente
DRC – Doença Renal Crônica
DRET – Doença Renal em Estágio Terminal
ECG – Eletrocardiograma
FAV – Fistula Artério Venosa
FG – Filtração Glomerular
HD – Hemodiálise
INVRD – Instituto de Nefrologia do Vale do Rio Doce
IR – Insuficiência Renal
IRA – Insuficiência Renal Aguda
IRC – Insuficiência Renal Crônica
IRCFT – Insuficiência Renal Crônica em Fase Terminal
K- Coeficiente de Filtração Capilar
PCIH – Programa de Controle de Infecções Hospitalares
PVP-I – Polivinilpirrodidona Iodo
SBN – Sociedade Brasileira de Nefrologia
SUS – Sistema Único de Saúde
TFG – Taxa de Filtração Glomerular
TRS – Terapia Renal Substitutiva
12
LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO 01 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Faixa Etária no Instituto de Nefrologia Vale do Rio
Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 02 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Sexo no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 03 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Atividade Laboral no Instituto de Nefrologia Vale do
Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 04 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Escolaridade no Instituto de Nefrologia Vale do Rio
Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 05 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Renda Familiar no Instituto de Nefrologia Vale do Rio
Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 06 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Etiologia no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce
no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 07 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Modalidade Inicial de Terapia Renal Substitutiva no
Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro
de 2008.
GRÁFICO 08 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com as Instruções Recebidas de como Cuidar do CDL no
Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro
de 2008.
GRÁFICO 09 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com a Dificuldade em Cuidar do CDL no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 10 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Tipo de Dificuldade em Cuidar do CDL em no
Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro
de 2008.
13
GRÁFICO 11 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com as Repassagens do CDL devido ao não funcionamento
no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a
Outubro de 2008.
GRÁFICO 12 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Tamanho do CDL utilizado no Instituto de Nefrologia
Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 13 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Sítio de Punção no Instituto de Nefrologia Vale do Rio
Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 14 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Número de Pacientes e vezes implantadas no Instituto
de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 15 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Número Implantes e Reimplantes no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 16 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva, de acordo com o
Número de Pacientes e a Modalidade Atual no Instituto de Nefrologia
Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 17 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Motivo da Retirada do CDL no Instituto de Nefrologia
Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 18 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva, de acordo com o
Tempo Médio de Permanência com cada Cateter no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 19 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com os Resultados dos exames de Hemocultura no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
GRÁFICO 20 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de CDL,
de acordo com o Antibiótico apontado no exame de hemocultura
aplicado no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de
Maio a Outubro de 2008.
14
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 17
2 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA EXCRETOR ...................................... 19
2.1 RINS ............................................................................................................................... 19
2.1.1 Suprimento Sangüíneo Renal ................................................................................... 20
2.1.2 O Néfron como Unidade Funcional do Rim............................................................ 20
2.2 URETERES, BEXIGA E URETRA .............................................................................. 21
2.3 FILTRAÇÃO DA URINA ............................................................................................. 22
2.3.1 Etapas de formação da urina.................................................................................... 23
2.3.1.1 Filtração Glomerular ................................................................................................ 23
2.3.1.2 Reabsorção e Secreção pelos Túbulos Renais.......................................................... 23
2.4 EXCREÇÃO DE PRODUTOS RESIDUAIS, ELETRÓLITOS E ÁGUA.................... 24
2.5 OUTRAS FUNÇÕES RENAIS ..................................................................................... 25
2.5.1 Regulação da pressão arterial .................................................................................. 25
2.5.2 Regulação do Equilíbrio Ácido-básico..................................................................... 25
2.5.3 Regulação da Produção de Eritrócitos .................................................................... 26
2.5.4 Regulação na Produção de 1,25-diidroxivitamina D3............................................ 26
2.5.5 Síntese de Glicose....................................................................................................... 26
3 PRINCÍPIOS FISIOPATOLÓGICOS: SINAIS, SINTOMAS E SÍNDROMES
NEFROLÓGICAS.............................................................................................................. 28
3.1 SINAIS E SINTOMAS NEFROLÓGICOS ................................................................... 29
3.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL ................................................................................ 30
3.3 PRINCIPAIS SÍNDROMES NEFROLÓGICAS........................................................... 30
3.3.1 Síndrome Nefrítica ou Glomerulonefrite Aguda .................................................... 30
3.3.2 Síndrome Nefrótica ................................................................................................... 31
3.3.3 Anormalidade Urinárias Assintomáticas ................................................................ 31
3.3.4 Insuficiência Renal Aguda – IRA............................................................................. 32
3.3.4.1 As Causas da Insuficiência Renal Aguda dividida em três principais categorias .... 32
15
3.3.4.1.1 Insuficiência Renal Aguda Pré-renal..................................................................... 32
3.3.4.1.2 Insuficiência Renal Aguda Intra-renal................................................................... 33
3.3.4.1.3 Insuficiência Renal Aguda Pós-renal .................................................................... 33
3.3.5 Insuficiência Renal Crônica – IRC .......................................................................... 33
3.3.6 Infecção Urinária....................................................................................................... 34
3.3.7 Nefrolitíase ................................................................................................................. 34
3.3.8 Pielonefrite ................................................................................................................. 34
4 TRATAMENTOS DIALÍTICOS................................................................................... 35
4.1 TRATAMENTO CONSERVADOR: DIETA E MEDICAMENTOS........................... 36
4.2 HEMODIÁLISE............................................................................................................. 37
4.3 FÍSTULAS E ENXERTOS ............................................................................................ 39
4.4 CATETER DUPLO LÚMEN......................................................................................... 40
4.4.1 Técnica de Inserção ................................................................................................... 42
4.4.1.1 Complicações Decorrentes da Inserção.................................................................... 42
4.5 DIÁLISE PERITONEAL............................................................................................... 44
4.5.1 Tipos de Diálise Peritoneal ....................................................................................... 45
4.5.1.1 Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) ................................................. 45
4.5.1.2 Diálise Peritoneal Cíclica Contínua (CCPD) ........................................................... 46
4.5.1.3 Diálise Peritoneal Intermitente (DPI)....................................................................... 46
4.5.2 Possíveis Complicações ............................................................................................. 47
4.6 TRANSPLANTE RENAL ............................................................................................. 48
4.6.1 Transplante de um Doador Vivo.............................................................................. 49
4.6.2 Transplante de um doador cadáver ......................................................................... 50
5 INFECÇAO DE CATETER DUPLO LÚMEN ............................................................ 52
5.1 PATOGÊNESE .............................................................................................................. 53
5.2 PRINCIPAIS AGENTES ............................................................................................... 55
5.3 APRESENTAÇÃO CLINICA ....................................................................................... 56
5.4 INCIDÊNCIA................................................................................................................. 56
5.5 COMPLICAÇÕES ......................................................................................................... 58
16
5.6 CLASSIFICAÇÃO DAS INFECÇÕES NO SITIO DE INSERÇÃO............................ 59
5.7 FATORES QUE PREDISPÕE INFECÇÃO.................................................................. 59
5.8 MANIFESTAÇÕES DE INFECÇÃO EM CORRENTE SANGUÍNEA ...................... 60
5.8.1 Abordagem de uma Presumida Infecção do Acesso Vascular .............................. 60
5.9 MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM HEMODIÁLISE ................................................... 61
6 METODOLOGIA............................................................................................................ 64
7 LEITURA E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................. 66
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................. 96
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 97
GLOSSÁRIO .................................................................................................................... 104
APÊNDICES ..................................................................................................................... 107
17
1 INTRODUÇÃO
A IRC - Insuficiência Renal Crônica - é uma doença progressiva e irreversível. A
Insuficiência Renal - IR - ocorre quando os rins não são capazes em remover os resíduos
metabólicos do corpo nem realizar as funções reguladoras. As substâncias normalmente
eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos corporais em conseqüência da excreção
renal prejudicada, levando a uma ruptura nas funções metabólicas e endócrinas, bem como
distúrbios hídricos, eletrolíticos e ácidos básicos (Brunner e Suddarth, 2006).
De acordo com Guynton e Hall (1997), as disfunções renais podem ser causadas
devido a malformações congênitas como a presença de cistos, o crescimento insuficiente
(rins hipoplásicos) ou casos de rim único. Esses distúrbios podem ser assintomáticos ou, em
certas circunstâncias, degenerar em afecções graves.
O ritmo da progressão depende da doença original e das causas agravantes como
hipertensão, infecção urinária, nefrite, gota e diabetes mellitus. Muitas vezes ocorre a
destruição renal, devido ao desconhecimento e descuido dos portadores das insuficiências
renais (Berne e Levy, 2000). Todo paciente pertencente ao chamado grupo de risco para
desenvolver a IRC deve ser submetido a exames para averiguar a presença de lesão renal
(análise de proteinúria) e para estimar o nível de função renal (TFG- Taxa de Filtração
Glomerular) anualmente (Romão Júnior, 2004).
Este Trabalho de Conclusão de Curso têm como tema “Investigação da Incidência
de Infecção de Cateter Duplo Lúmen - CDL - em pacientes do Instituto de Nefrologia do
Vale do Rio Doce”. Para tanto, destacou-se como embasamento teórico, Brunner &
Suddarth (2006), Guyton & Hall (1997) e Daugirdas(2003), nas abordagens sobre IRC,
Hemodiálise e Cateter Duplo Lúmen que consubstanciaram o corpus deste trabalho.
Para o objetivo principal que foi investigar sobre a incidência de infecção do CDL,
houve o levantamento da existência de protocolo da Instituição que descrevesse a
implantação e remoção do CDL; o relacionamento dos dados nos prontuários durante e
após utilização do Cateter Duplo Lúmen no tratamento, no período de maio a outubro de
2008; a identificação as variáveis sócio-demográficas como idade, sexo, escolaridade, a
18
aquisição dos dados que ocorreram no processo infeccioso manifestado em paciente IR
submetido em hemodiálise.
A Metodologia de estudo da pesquisa foi delineada de cunho quali-quantitativa,
analítica de natureza aplicativa, a qual foi realizada no Instituto de Nefrologia do Vale do
Rio Doce, através de consulta retrospectiva e prospectiva dos prontuários e entrevistas no
período de maio a outubro 2008. Os sujeitos da pesquisa foram 52 pacientes entre o sexo
masculino e feminino, porém foram escolhidos somente 26, ou seja, aqueles que realizavam
hemodiálise por Cateter Duplo Lúmen. Foi feito um convite a esses pacientes participarem
da pesquisa os quais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Posteriormente, foi realizada uma entrevista individual utilizando como instrumento um
questionário com questões fechadas.
Para melhor compreensão das informações e dados levantados, o trabalho foi
estruturado em capítulos. O segundo capítulo relatou a anatomia e fisiologia do sistema
excretor, formação da urina, excreção de produtos residuais, regulação do equilíbrio ácido
básico, da pressão arterial, da produção de eritrócitos.
O terceiro capítulo abordou os princípios fisiopatológicos: sinais, sintomas e
síndromes nefrológicas.
O quarto capítulo trouxe os tipos de tratamentos dialíticos: tratamento conservador,
hemodiálise, CAPD, DPI, CCPD e transplante renal. O quinto capítulo referiu-se à infecção
do cateter duplo lúmen; os principais agentes etiológicos envolvidos nas infecções,
apresentação clínica, incidência, complicações, classificação das infecções no sitio de
inserção, fatores predisponentes e medidas de prevenção. Após esse embasamento teórico,
o último capítulo apresentou a amostragem dos dados colhidos feitos através de consulta
retrospectiva e prospectiva dos prontuários e entrevistas no período de maio a outubro
2008. Tais dados foram transformados em gráficos para uma melhor análise e conclusão.
Nas considerações finais, conclui-se que com após verificação nos prontuários
dos dados laboratoriais, através da hemocultura, foi possível constatar a incidência de
infecção no uso do CDL. A ocorrência dentre os casos pesquisados foi de 60% de
infectados, porém, ressalta-se que não se obteve resultados de todos os pacientes que
retiraram ou repassaram o CDL, pois não foram realizados e/ou anotados nos prontuários
com suas respectivas causas definidas.
19
2 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA EXCRETOR
Livrar o corpo dos materiais inaproveitáveis que são ingeridos ou que são
produzidos pelo metabolismo é uma das principais funções do sistema excretor. Após a
digestão dos alimentos as substâncias absorvidas participam de inúmeros processos, pois as
células estão em contínua atividade metabólica, produzindo substâncias úteis que são
mantidas e reaproveitadas em benefício do próprio organismo. Os resíduos do metabolismo
são eliminados pelo mesmo sistema excretor, os rins, ureteres, bexiga e uretra, e a excreção
de substâncias ocorre no mesmo ritmo com que se formam ou ingressam no organismo
(GUYTON e HALL, 2002).
Os produtos de degradação, também conhecidos como resíduos do metabolismo
precisam ser eliminados do organismo tão rapidamente quantos são produzidos. O sistema
excretor também é responsável por eliminar a maioria das toxinas e outras substâncias
estranhas que são produzidas pelo corpo ou que são ingeridas, assim como água e sais
minerais em excesso. Uma compreensão completa é necessária para avaliar os indivíduos
com disfunção urinária aguda ou crônica para a implementação do cuidado de enfermagem
adequado (GUYTON e HALL, 2002).
2.1 RINS
Os rins participam como órgãos excretores, e as substâncias presentes em excesso
ou que sejam nocivas, são excretadas na urina em quantidades adequadas (CONSTANZO,
2004).
Os dois rins localizam-se sobre a parede posterior do abdome, fora da cavidade
peritoneal. No ser humano adulto cada rim pesa cerca de 150 gramas e tem,
aproximadamente, o tamanho de um punho fechado (GUYTON e HALL, 2002).
Segundo os mesmos autores, quando o rim é seccionado em duas partes do alto para
baixo, as principais regiões que podem ser observadas são o córtex externo e a região
20
interna, denominada medula. A medula é dividida em múltiplas massas de tecido em forma
de cones, denominadas pirâmides renais. A base de cada pirâmide origina-se na borda entre
o córtex e a medula e termina na papila, que se projeta no espaço da pelve renal, que é a
continuação, em forma de funil, da extremidade superior do ureter. A borda externa da
pelve é dividida em sáculos de extremidades aberta, denominados cálices principais, que se
estendem para baixo e se dividem em cálices menores, que coletam a urina proveniente dos
túbulos de cada papila. As paredes dos cálices, a pelve e o ureter contém elementos
contrateis que propelem a urina em direção a bexiga, cuja urina é armazenada até ser
eliminada pela micção.
2.1.1 Suprimento Sangüíneo Renal
O fluxo sangüíneo para os dois rins corresponde, normalmente, cerca de 22% do
débito cardíaco, ou seja, cerca de 1.100ml/min. A artéria renal penetra no rim através do
hilo e, a seguir, ramifica-se progressivamente para formar as artérias interlobares, as
artérias arqueadas, as artérias interlobulares e as artérias aferentes, que deságuam nos
capilares glomerulares, e grandes quantidade de líquidos e de solutos (exceto as proteínas
plasmáticas) são filtradas, dando início à formação da urina (GUYTON e HALL, 2002).
2.1.2 O Néfron como Unidade Funcional do Rim
No ser humano, cada rim é constituído em média de 1.000.000 néfrons, cada um
com capacidade de formar urina. O rim é incapaz de regenerar novos néfrons. Por
conseguinte, em casos de lesões, ou de doenças renais, ou com envelhecimento normal,
ocorre diminuição do número de néfrons. Depois dos 40 anos de idade, o número de
néfrons funcionantes diminui, habitualmente, em cerca de 10% a cada 10 anos, de modo
que, aos 80 anos de idade, muitos indivíduos têm 40% a menos de néfrons funcionantes dos
21
que tinham aos 40 anos. Essa perda não ameaça a vida, visto que a ocorrência de mudanças
adaptativas nos néfrons remanescentes permite que eles excretem as quantidades
apropriadas de água, eletrólitos e produtos de degradação (GUYTON e HALL, 2002).
Cada Néfron é constituído por um tufo de capilares glomerulares, denominados
glomérulos, através do qual grande quantidade de líquidos é filtrada do sangue e, um túbulo
longo, no qual o líquido filtrado é convertido, durante o seu trajeto até a pelve renal, em
urina. Apesar de se ter a mesma constituição, os Néfrons apresentam diferenças entre eles,
que depende do grau de profundidade que se encontram na massa renal. São divididos em
dois grupos: corticais e justamedulares, que são distinguidas pela localização de seu
glomérulo. Os néfrons corticais são encontrados no córtex do rim, esses néfrons têm alça de
Henle relativamente curta, que só atingem a medula externa. Contudo, os néfrons
justamedulares têm seus glomérulos próximos ao limite cortiço-medular e são diferenciados
por suas longas alças de Henle e pelos vasos retos. As alças capilares longas que
mergulham na medula do rim apresentam filtração glomerular mais intensa, essenciais para
a concentração de urina (NETTINA, 2003).
2.2 URETERES, BEXIGA E URETRA
A urina, que é formada dentro dos néfrons, flui para dentro do ureter e um tubo
fibromuscular longo que conecta cada rim a bexiga. Os ureteres são tubos musculares
estreitos, cada qual com 24 a 30cm de comprimento, que se originam na porção inferior da
pelve renal e terminam no trígono da parede vesical. Existem três áreas estreitas de cada
ureter: a junção uretopélvica, o segmento uretal próximo à junção sacroilíaca e a junção
uretevesical (BRUNNER E SUDDARTH, 2005).
A bexiga é um órgão de depósitos ou de armazenamento e se caracteriza por sua
área central oca, com parede muscular lisa, localizada atrás do osso púbis. A bexiga,
também denominada vesícula, apresenta duas entradas (ureteres) e uma saída (a junção
uretrovesical), que é circundada pelo colo da bexiga. A bexiga adulta tem capacidade para
suportar de 300 a 600ml de urina (CONTANZO, 2004).
22
A uretra origina-se a partir da base da bexiga: no homem ela atravessa o pênis, na
mulher ela desemboca exatamente antes da vagina. No homem, a próstata, glândula que se
situa exatamente abaixo do colo da bexiga, circunda a uretra posteriormente e lateralmente
(BRUNNER e SUDDARTH, 2005).
2.3 FILTRAÇÃO DA URINA
O sistema urinário/excretor desempenha vários papéis essenciais para a homeostasia
corporal normal. Essas funções compreendem a formação da urina, excreção de produtos
residuais, regulação da excreção de eletrólitos, ácido e água, e a auto-regulação da pressão
arterial (BRUNNER e SUDDARTH, 2005).
As intensidades de excreção de diferentes substâncias na urina representam a soma
de três processos renais: filtração glomerular, reabsorção de substâncias dos túbulos renais
para o sangue e secreção de substâncias do sangue para os túbulos renais. A formação de
urina começa com a filtração de grande quantidade de líquido, praticamente isento de
proteínas, dos capilares glomerulares para a cápsula de Browman. As substâncias do
plasma, à excreção das proteínas, são, em sua maioria, livremente filtradas, de modo que
suas concentrações no filtrado glomerular, na cápsula de Browman, são quase as mesmas
que as do plasma. À medida que deixa a cápsula de Browman e passa pelos túbulos, o
líquido filtrado é modificado pela reabsorção de água e de solutos específicos para o
sangue, ou pela secreção de outras substâncias dos capilares peritubulares para os túbulos
(GUYTON e HALL, 2002).
As moléculas de proteína também não são encontradas, amiúde, na urina, entretanto,
as proteínas de baixo peso molecular (globulinas e albumina) podem ser periodicamente
excretadas em pequenas quantidades. A proteinúria transitória, em quantidades inferiores a
150mg/dl, é considerada normal e não exige avaliação inicial adicional. Proteinúria
persistente geralmente significa lesão dos glomérulos.
23
2.3.1 Etapas de formação da urina
2.3.1.1 Filtração Glomerular
Como ocorre em outros capilares, a filtração glomerular (FG) é determinada pelo
equilíbrio entre as forças hidrostáticas e coloidosmótica que atuam através da membrana
capilar e pelo coeficiente de filtração capilar (k), o produto da permeabilidade pela área de
superfície de filtração dos capilares. Os capilares glomerulares têm intensidade de filtração
muito maior que a maioria dos outros capilares, devido à elevada pressão hidrostática nos
glomérulos e ao grande valor de K. No ser humano adulto de porte médio, a FG é de cerca
de 125ml/min ou 180l/dia. A fração do fluxo plasmático renal que é filtrado (fração de
filtração) é, em média, cerca de 0,2; isso significa que cerca de 20% do plasma que flui
pelos rins são filtrados através dos capilares glomerulares (GUYTON e HALL, 2002).
2.3.1.2 Reabsorção e Secreção pelos Túbulos Renais
Para muitas substâncias a reabsorção desempenha um papel muito mais importante
do que a secreção na determinação de sua excreção urinária final. Entretanto, a secreção é
responsável pelo aparecimento na urina de quantidade significativa de íons de potássio, de
íons de hidrogênio e algumas outras substâncias (GUYTON e HALL, 2002).
Constanzo (2004) analisa que a água e muitos solutos, por exemplo, (Na+,Clglicose, aminoácidos, uréia, Ca 2+, Mg2+, fosfato, lactose e citrato) são reabsorvidos a
partir do filtrado glomerular, para o sangue capilar peritubular. Os mecanismos para essa
reabsorção dependem de transportadores na membrana das células epiteliais renais, e na
secreção tubular, uma substância se movimenta dos capilares peritubulares ou vasos retos
24
para dentro do filtrado tubular. A reabsorção e a secreção envolvem, freqüentemente, o
transporte passivo e ativo, podendo precisar do uso de energia. O filtrado fica concentrado
no túbulo distal e nos ductos coletores, sob a influência do hormônio antidiurético (AD),
transforma-se em urina, a qual então entra na pelve renal.
2.4 EXCREÇÃO DE PRODUTOS RESIDUAIS, ELETRÓLITOS E ÁGUA
Segundo Brunner e Suddarth (2005), quando os rins estão funcionando,
normalmente, o volume de eletrólitos excretados por dia é exatamente igual à quantidade
ingerida. Mais de 99% da água e sódio filtrados nos glomérulos são reabsorvidos para o
sangue no momento em que a urina deixa o corpo. Quando mais sódio é excretado que
ingerido, resulta a desidratação, se menos sódio é excretado que ingerido, ocorre a retenção
de líquidos. A regulação do volume de sódio excretado depende da aldosterona, um
hormônio sintetizado e liberado pelo córtex da supra renal. Com a aldosterona aumentada
no sangue, menos sódio é excretado na urina, porque a aldosterona incentiva a reabsorção
renal de sódio. A liberação de aldosterona pelo córtex da supra renal, está, em grande parte,
sob o controle da angiotensina II. Os níveis da angiotensina II são, por sua vez, controlados
pela renina, uma enzima que é liberada de células especializadas dos rins. A ativação desse
sistema aumenta a retenção de água e a expansão do volume de líquido intravascular.
A regulação da quantidade de água excretada também é uma importante função do
rim, com a ingesta hídrica elevada, é excretada um grande valor de urina diluída. Uma
pessoa deve ingerir cerca de 1 a 2 litros de água por dia; 400 a 500ml dessa ingesta será
eliminada pelos pulmões durante a respiração ou nas fezes. Quando a ingesta hídrica
diminui, a densidade específica normalmente aumenta; com uma ingesta hídrica elevada, a
densidade específica diminui (NETTINA, 2007).
Nos pacientes com doença renal a densidade urinária específica não varia com a
ingesta hídrica, e diz-se que a urina do paciente apresenta uma densidade específica fixa.
Os distúrbios que provocam uma densidade urinária baixa incluem-se os diabetes melitos,
25
glomerulonefrite e lesão renal grave. Aqueles que podem causar uma densidade específica
aumentada incluem os diabetes melitos, nefrose e perda hídrica excessiva.
2.5 OUTRAS FUNÇÕES RENAIS
2.5.1 Regulação da pressão arterial
O sistema renal e os líquidos corporais são responsáveis pelo controle da pressão
arterial: quando o organismo contém líquido extracelular em quantidade excessiva, ocorrem
o aumento do volume sanguíneo e elevação da pressão arterial. Por sua vez, a elevação da
pressão arterial exerce efeito direto sobre os rins, que passam a secretar o excesso de
líquido extracelular, com a conseqüente normalização da pressão. Na presença de pressão
baixa, o rim excreta quantidade de líquido muito menor do que a ingerida (GUYTON e
HALL, 2002).
2.5.2 Regulação do Equilíbrio Ácido-básico
Juntamente com os pulmões e os tampões dos líquidos corporais, os rins contribuem
para a regulação do equilíbrio ácido-básico através da excreção de ácidos e da regulação
das reservas de tampões dos líquidos corporais (GUYTON e HALL, 2002).
Ainda, os mesmos autores afirmam que, os rins representam o único órgão capaz de
eliminar do organismo certos tipos de ácidos gerados pelo metabolismo das proteínas,
como o acido sulfúrico e o ácido fosfórico.
26
2.5.3 Regulação da Produção de Eritrócitos
Quando os rins sentem uma diminuição na pressão de oxigênio no fluxo sanguíneo,
eles liberam eritropoietina, que por sua vez estimula a medula óssea a produzir eritrócitos,
para fazer com que a quantidade de hemoglobina seja disponível para transportar oxigênio
(BRUNNER e SUDDARTH, 2005).
No indivíduo normal, os rins são responsáveis por quase toda a eritropoietina
secretada na circulação. Em indivíduos com doença renal grave ou que tiveram os rins
removidos e foram submetidos à hemodiálise, verifica-se o desenvolvimento de anemia
grave em decorrência da redução na produção de eritropoietina (GUYTON e HALL, 2002).
2.5.4 Regulação na Produção de 1,25-didroxivitamina D3
Os rins são responsáveis pela conversão da vitamina D inativa em sua forma ativa, a
1,25-diidroxivitamina D3 (calcitrol) (BRUNNER e SUDDARTH, 2005).
O calcitrol é essencial para a deposição normal de cálcio no osso e para a reabsorção
de cálcio pelo trato grastrointestinal. Ainda, desempenha importante papel na regulação do
cálcio e do fosfato (GUYTON e HALL, 2002).
2.5.5 Síntese de Glicose
Durante o jejum prolongado, os rins sintetizam glicose a partir de aminoácidos e de
outros precursores pelo processo conhecido como gliconeogênese. A capacidade dos rins de
adicionar glicose ao sangue, durante períodos prolongados no jejum, rivaliza com a do
fígado (GUYTON e HALL, 2002).
27
Na presença de doença renal crônica ou de falência aguda dos rins, essas funções
homeostáticas são perdidas, e verifica-se o rápido aparecimento de anormalidades
pronunciadas no volume e na composição dos líquidos corporais. Em caso de insuficiência
renal completa, ocorre em poucos dias, acúmulo suficiente de potássio, ácidos, líquidos e
outras substâncias no corpo para causar morte, caso não sejam instituídas intervenções
clinicas, como a hemodiálise, para restaurar, ao menos em parte, o equilíbrio
hidroeletrolítico do corpo (GUYTON e HALL, 2002).
28
3 PRINCÍPIOS FISIOPATOLÓGICOS: SINAIS, SINTOMAS E SÍNDROMES
NEFROLÓGICAS
As doenças renais estão entre as causas mais importantes de morte e de
incapacidade em muitos países do mundo. No Brasil, cerca de 1.628.025 indivíduos são
portadores de doença renal crônica, e 65.121 são submetidos em diálise. O número de
pacientes em programa dialítico cresce no Brasil à medida de 10% à custa de uma
incidência de mais de 100 pacientes novos por milhão de habitantes/ano (GUYTON e
HALL, 2002); (MS, 2007).
Segundo Hudak e Gallo (1997), a capacidade de concentração urinária normalmente
diminui de forma progressiva depois dos 40 anos de idade, as pessoas mais velhas podem
exigir um maior volume urinário para manter a homeostasia em face de ingestões
“normais”.
Para Gonçalves et al (2006), as doenças renais podem manifestar-se sob diversas
formas clínicas: alguns pacientes têm sinais e sintomas relacionados diretamente ao trato
urinário, como hematúria macroscópica ou disúria, podem ter manifestações não
específicas que ocorrem também em doenças extra-renais, como edema ou hipertensão
arterial. Adicionalmente, muitos pacientes assintomáticos, e a presença de patologias são
observados em exames complementares.
O diagnóstico pode ser estabelecido em diversos níveis. Inicialmente, busca-se
agrupar os dados clínicos em síndromes – conjunto de sintomas e sinais comuns a várias
doenças (diagnóstico sindrômico); posteriormente, aprofunda-se a investigação procurando
a doença responsável por aquele quadro clínico. Uma vez detectada a presença de
nefropatia primária ou secundária, é preciso verificar o grau de dano anatômico e funcional,
a fim de criar um plano terapêutico adequado.
29
3.1 SINAIS E SINTOMAS NEFROLÓGICOS
HEMATÚRIA: presença de sangue na urina que pode ser macroscópica ou
microscópica, vista a olho nu, sugere patologia na uretra;
OLIGÚRIA: diminuição da quantidade de diurese (<400ml/24h). A principal causa
de oligúria é a IRA ou IRC;
POLIÚRIA: aumento do volume urinário, diurese > 3000ml/24h;
NOCTÚRIA/NICTÚRIA: representa a presença de micção noturna e maior
freqüência à noite, respectivamente. Muitos pacientes têm o hábito de levantar durante a
noite para urinar, o que não caracteriza presença de noctúria;
DISÚRIA, POLACIÚRIA, URGÊNCIA: são os sintomas miccionais, refere-se à
dor ou a sensação de queimação durante a micção, também chamada de ardência uretral
miccional (disúria); a polaciúria significa micções em intervalos anormalmente breves,
ocasionada muitas vezes por irritação ou inflamação da mucosa vesical; a urgência é uma
sensação exagerada de desejo miccional, pode ser causada por irritação ou inflamação
vesical;
EDEMA: ocorre devido a um aumento no volume de líquido intersticial, quando
ocasionado por doença renal costuma ser generalizado, decorrente de proteinúria maciça ou
retenção hidrossalina;
DOR LOMBAR (FLANCO): quando se trata de doença renal, a dor lombar costuma
ser unilateral com localização ao ângulo costovertebral e irradiação para o hipocôndrio, ou
em direção ao ligamento inguinal ou região genital. Esse tipo de dor, com características de
cólica (aumenta e diminui), não tem uma posição de alívio, e está associada em grande
parte com náuseas, vômitos e hematúria – chamada cólica renal.
30
3.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL
A avaliação laboratorial inicial depende das hipóteses diagnósticas formuladas, mas
para definição das principais síndromes nefrológicas clínicas os exames de urina,
hemograma, bioquímica (uréia, ácido úrico, cálcio, fósforo, Na, K, Cl, CO2), e a ecografia
do sistema urinário ou abdominal total, são suficientes.
Segundo Barros (2002), o exame de urina é um dos procedimentos laboratoriais
mais solicitados pelos médicos das mais variadas especialidades e, para pacientes com as
mais variadas queixas clínicas, ou mesmo para indivíduos normais que apenas se submetem
à avaliação periódica, sem sintomatologia alguma. Assim, o exame de urina de rotina, é
entendido como um teste de triagem de ampla utilização. Embora tais exames sejam
interpretados dessa forma, podem fornecer informações úteis que possibilitam o
diagnóstico de eventuais problemas nos rins e nas vias urinárias, tais como processos
irritativos, inflamatórios, infecciosos, bem como alguns distúrbios metabólicos como, por
exemplo, diabetes e acidose.
3.3 PRINCIPAIS SÍNDROMES NEFROLÓGICAS
3.3.1 Síndrome Nefrítica ou Glomerulonefrite Aguda
É um tipo de insuficiência renal aguda intra-renal, habitualmente causada por reação
imune anormal que provoca lesão nos glomérulos. Cerca de 95% dos pacientes com essa
doença, ocorre lesão dos glomérulos dentro de 1 a 3 semanas após a infecção,
habitualmente causada por certos tipos de estreptococos β do grupo A. A infecção pode
consistir em faringite estreptocócica, amigdalite estreptocócica ou, até mesmo, infecção
estreptocócica da pele. Não é a infecção propriamente dita que provoca lesão dos rins. Na
verdade, à medida que são produzidos anticorpos contra o antígeno estreptocócico durante
31
as poucas semanas subseqüentes, os anticorpos e o antígeno reagem para formar
imunocomplexo insolúvel que é retido nos glomérulos, sobretudo na membrana basal dos
glomérulos (GUYTON e HALL, 2002).
A inflamação aguda dos glomérulos, geralmente, desaparece por volta de duas
semanas e, na maioria dos pacientes, os rins readquirem quase sua função normal semanas
seguintes ou dentro de alguns meses. Todavia, algumas vezes nos casos graves, ocorre
falência renal total ou quase completa, resultando em insuficiência renal crônica
(GUYTON e HALL, 2002).
3.3.2 Síndrome Nefrótica
É uma doença glomerular primária caracterizada por: aumento acentuado de
proteína na urina (proteinúria), diminuição de albumina no sangue (hipoalbuminemia),
edema, colesterol e lipoproteínas de baixa densidade séricos elevados (hiperlipidemia)
(BARROS et al, 2006)
A causa de perda de proteína na urina consiste no aumento da permeabilidade da
membrana glomerular. Por conseguinte, doenças como, a glomerulonefrite crônica, que
afeta primariamente os glomérulos e com freqüência provoca aumento acentuado da
permeabilidade da membrana glomerular; amiloidose, resulta da deposição de substâncias
proteinóide anormal nas paredes dos vasos sanguíneos e que lesa gravemente a membrana
basal dos glomérulos, são capazes de aumentar a permeabilidade desta membrana podendo
causar a síndrome nefrótica (GUYTON e HALL, 2002).
3.3.3 Anormalidade Urinárias Assintomáticas
De acordo com Gonçalves et al (2006), essa síndrome é definida pela presença de
proteinúria não nefrótica, hematúria e leucocitúria, em forma isolada ou associada, na
32
ausência de achados de outras síndromes. A presença de proteinúria de 24h > 150mg indica
patologia renal, com exceção de situações especiais, com o exercício, febre, insuficiência
cardíaca congestiva, dentre outros (BARROS et al, 1999).
3.3.4 Insuficiência Renal Aguda – IRA
E uma perda súbita e quase completa da função renal (PFG diminuída) durante um
período de horas a dias. Embora, com certa freqüência, acredita-se que a IRA seja um
problema observado apenas em pacientes hospitalizados, porém ela também ocorre no
ambiente de pacientes externos (BARROS et al, 1999).
Segundo Brunner e Suddarth (2005) esse fato se caracteriza, clinicamente, pela
presença de anúria ou oligúria (às vezes), com elevação das taxas de uréia e creatinina ou
com a redução da depuração de creatinina endógena (DCE). O caráter agudo é evidenciado
pela verificação de que a função renal era normal nos últimos três meses ou pela redução
diária de filtração glomerular (BARROS et al, 2006).
3.3.4.1 As Causas da Insuficiência Renal Aguda dividida em três principais categorias
3.3.4.1.1 Insuficiência Renal Aguda Pré-renal
O fato de que a anormalidade ocorre no sistema que precede o rim, isso pode
representar a conseqüência de insuficiência cardíaca, com débito cardíaco reduzido e baixa
pressão arterial, ou condições associadas à diminuição do volume sanguíneo e a baixa
pressão arterial, como ocorre na hemorragia intensa (GUYTON e HALL, 2002).
33
3.3.4.1.2 Insuficiência Renal Aguda Intra-renal
Isto ocorre devido às anormalidades do próprio rim, incluindo anormalidades que
afetam os vasos sanguíneos, os glomérulos ou os túbulos (GUYTON e HALL, 2002).
3.3.4.1.3 Insuficiência Renal Aguda Pós-renal
Indica a obstrução do sistema coletor urinário em qualquer ponto a partir dos cálices
até o orifício da bexiga. As causas mais importantes de obstrução das vias urinárias fora do
rim consistem em cálculos renais causados pela precipitação de cálcio, uratos ou cistina
(GUYTON e HALL, 2002).
3.3.5 Insuficiência Renal Crônica – IRC
Para Gonçalves et al (2006), a IRC constitui a fase final de evolução de muitas
nefropatias, em alguns casos por suas caracterizações, porém sem características evolutivas
clínicas, somente é diagnosticada com o aparecimento de sintomas urêmicos. É definida
pela presença de sinais e sintomas urêmicos com evolução superior a seis meses e redução
gradual da apuração de creatinina endógena e/ou evidência de rins diminuídos de volume
e/ou sinais de uremia crônica (por exemplo: neuropatia periférica, osteodistrofia renal,
anemia (BARROS et al, 2006).
34
3.3.6 Infecção Urinária
É definida por urocultura com bacteriúria significativa ou sintomas como disúria,
polaciúria, febre, dor lombar (BARROS et al, 2006).
3.3.7 Nefrolitíase
É definida pela eliminação de cálculo e visualizada por exame de imagem ou por
remoção cirúrgica. Essas doenças quando são descobertas pelo médico geralmente tem
tratamento que pode manter um controle adequado e evitar maiores problemas aos rins.
Entretanto, o paciente tem que ter muito rigor no tratamento e nunca deixar de comparecer
para o acompanhamento. (BARROS et al, 2006).
3.3.8 Pielonefrite
A lesão intersticial renal, que em geral, pode resultar de lesão vascular, glomerular
ou tubular que destrói nefróns individuais, ou pode envolver a lesão primária do interstício
renal por venenos, fármacos e infecções bacterianas, é denominada pielonefrite. A infecção
pode resultar de diferentes tipos de bactérias, porém, particularmente de Escherichia coli
que se origina da contaminação fecal das vias urinárias. Essas bactérias alcançam os rins
através da corrente sanguínea, ou, mais comumente, ao ascenderem, a partir do trato
urinário inferior, pelos ureteres até os rins. Na pielonefrite de longa duração, a invasão dos
rins pelas bactérias não apenas provocam lesão do interstício medular renal como também
resulta em lesão progressiva dos túbulos renais, dos glomérulos e de outras estruturas do
rim. Por conseguinte, ocorre perda de grande parte do tecido renal funcional, e pode-se
verificar o desenvolvimento de insuficiência renal crônica (GUYTON e HALL, 2002).
35
4 TRATAMENTOS DIALÍTICOS
Goshorn (2002) relata que com ajuda de exames sanguíneos, o profissional da saúde
diagnostica a insuficiência renal. Ainda de acordo com o autor, o tratamento para a
insuficiência renal consiste nos seguintes moldes:
•
Tratamento conservador - dieta e medicamentos;
•
Hemodiálise - por cateter duplo lúmen e por fístula arteriovenosa;
•
Diálise peritoneal;
•
Diálise peritoneal ambulatorial continua CAPD;
•
Diálise peritoneal intermitente DPI;
•
Diálise peritoneal cicladora continua CCPD;
•
Transplante renal - doador vivo ou cadáver.
Para Riella (2003), mesmo considerando-se o progresso científico alcançado neste
campo, não significa redução de problemas. Observa-se que o crescimento da sobrevida dos
pacientes em tratamento de hemodiálise tem aumentado gradualmente, bem como os gastos
dos sistemas de saúde, e que a mortalidade nos primeiros noventa dias em tratamento de
hemodiálise permanece elevada. Dessa forma é imprescindível o papel do Enfermeiro
inserido neste contexto como agente transformador; buscando metas e educando
permanentemente a sua equipe, o paciente e a família, conscientizando-os quanto à
importância dos cuidados, à prevenção e à detecção de complicações, evitando
conseqüências, visando diminuir a ansiedade e a dependência do paciente. O Enfermeiro
deve ajudar apoiando o paciente, tornando-se útil nos cuidados com as mudanças trazidas
pela insuficiência renal crônica e seu tratamento (BRUNNER, 2005).
Conforme Lima et al (2001) um dos fatores que contribuem para adaptação do
paciente renal a esta nova situação de vida é, sem dúvida alguma, o trabalho da equipe de
saúde.
36
4.1 TRATAMENTO CONSERVADOR: DIETA E MEDICAMENTOS
Esse tipo de tratamento visa manter as funções fisiológicas num estado
relativamente satisfatório, quando não é absolutamente indispensável ou quando já não é
possível atacar as próprias causas do mal. É adotado para os pacientes que ainda tem o que
se chama de função residual e tem como objetivo retardar o início da terapia dialítica por
meio de suporte médico, nutricional e medicamentoso (GAUTHIER e HIRATA, 2001).
Para Foster, Bennett e Dorothea (2000), o paciente que apresenta insuficiência renal
crônica (IRC), mas ainda não está sendo submetido à diálise (fase pré-dialítica ou
tratamento conservador) deve cuidar de sua alimentação, principalmente no que diz respeito
ao sódio e à proteína de origem animal.
A progressão da doença não é totalmente justificada pelo uso excessivo da proteína,
porém, acredita-se que o aumento da ingestão de proteína eleva a proteinúria (eliminação
protéica através da urina), aumentando o ritmo de progressão da doença renal. A
alimentação restrita em proteína atrasa a entrada para a diálise quando comparada à dieta
não restrita. O efeito protetor da dieta hipoprotéica inclui diminuição da pressão
intraglomerular, menor excreção de amônia e fosfato, menor geração de produtos
nitrogenados tóxicos e íons inorgânicos responsáveis pelos distúrbios clínicos e
metabólicos característicos da uremia, diminuição dos lipídeos séricos e redução de fatores
mitogênicos e de crescimento (CUPPARI et al, 2002).
De acordo Censo (2006), em janeiro de 2006 a prevalência de pacientes em diálise
por milhão da população (pmp) era de 383, tendo tido um aumento médio de cerca de 8,9%
nos últimos dois anos. O número absoluto de pacientes em tratamento dialítico, nesta
ocasião, era de 70.872, correspondendo a um aumento absoluto de 9,9% ao ano. Cerca de
10,6% dos pacientes em diálise fazem tratamento utilizando medicinas de grupo e/ou
seguros de saúde particulares, e 89,4% fazem diálise subsidiados pelo Ministério da Saúde.
95% cento do total de 619 centros de diálise no país em janeiro de 2006 eram conveniados
com o SUS e 4,8% eram conveniados apenas com outras seguradoras de saúde privadas.
Para Santos (2008), os cuidados adotados no tratamento conservador ou fase prédialítica visam assegurar a qualidade de vida para o cliente, permitindo o prolongamento
37
dessa fase, ou seja, a não indicação de uma terapia de substituição renal, por um período
que pode ser entre seis meses e cinco anos. Durante o tratamento conservador, o cliente
pode escolher tipos de terapias dialíticas mais adequadas ao seu estilo de vida, além da
programação em tempo adequado do acesso dialítico (fístula arteriovenosa ou cateter
peritoneal).
O desafio é trabalhar a restrição da dieta individualmente, pois cada um comete
transgressões nessa área por motivos diferentes. Os hábitos alimentares da família podem
marginalizar o cliente, pela necessidade de sua dieta ser preparada, separadamente, o que
pode gerar reclamações e sentir-se excluído. Os clientes sofrem perda nas relações sociais,
sendo muitas vezes segregados por não poderem beber ou comer algo que esteja fora da sua
dieta e, a partir dessas experiências negativas, eles se excluem dos aniversários, encontros
familiares ou com amigos. O enfermeiro pode intervir junto a esse cliente e à família
informando-os sobre os benefícios da dieta e a melhor maneira de lhe oferecer apoio sem
desencadear sentimentos de impotência (BRASIL, 2004).
4.2 HEMODIÁLISE
Segundo Souza (2004), quando os rins falham, os produtos da degradação
metabólica e o excesso de água podem ser removidos do sangue através da hemodiálise ou
da diálise peritoneal. Na hemodiálise, o sangue é removido do corpo e circulado através de
um aparelho denominado dialisador, o qual realiza a sua filtração.
Segundo Santos (2004), a hemodiálise consiste em retirar do organismo produtos
tóxicos que são filtrados pelo rim normal (uréia, creatinina, fósforo, etc.). Neste processo,
utilizam-se membranas de celulose, que são imersas em uma solução eletrolítica ou solução
de diálise. Esta solução possui composição semelhante à do plasma de um indivíduo com
função renal normal.
Para realizar uma hemodiálise o sangue deve chegar ao filtro em grande quantidade
num volume superior a 200 ml. Para obter um volume de sangue tão grande é necessário
que um cirurgião vascular una uma veia a uma artéria do braço para aumentar bastante o
38
volume de sangue que passa no vaso, tornando-o volumoso e resistente. A fístula artériovenosa, assim formada, deverá ser sempre bem protegida e vigiada pelo paciente para ter
um longo período de uso. Uma hemodiálise eficiente e prolongada depende muito dos
cuidados com a fístula artério-venosa (MARTINS e RIELLA, 2003).
Através da membrana, o líquido, os produtos da degradação metabólica e as
substâncias tóxicas presentes no sangue são filtrados para o dialisador. O sangue purificado
retorna ao corpo da pessoa.
Os fenômenos físico-químicos utilizados para se obter a filtração do sangue são:
difusão, osmose e ultrafiltração. Enquanto a difusão visa à remoção de solutos, a osmose e
a ultrafiltração visam à retirada de solventes (água). A glicose na solução de diálise tem
poder osmótico. Para a realização da hemodiálise é necessário um acesso; que se dá através
da confecção de uma fístula artério-venosa (FAV) ou cateteres percutâneos (jugular,
femoral, subclávia). As complicações mais comuns durante a hemodiálise em ordem de
freqüência são: hipotensão, câimbras, náuseas e vômitos. As menos freqüentes são:
síndrome do desequilíbrio, síndrome do primeiro uso, arritmias, tamponamento cardíaco,
sangramento intracraniano (acidente vascular cerebral – AVC), convulsões, hemólise e
embolismo gasoso (RAMBAUSEK, 1990).
Os rins trabalham vinte e quatro horas por dia, a hemodiálise, não é uma
substituição dos mesmos, porque ela acontece três vezes por semana durante três horas,
ocorrendo um acúmulo de substâncias prejudiciais ao sangue entre as sessões, ocasionando
sintomas como: náuseas, êmese, anorexia, hipertensão, edema, prurido, dispnéia e mal estar
geral (MARTINS e RIELLA, 2001).
Ferreira et al (2005) afirmam que quando se deu início ao tratamento de hemodiálise
e até hoje a grande preocupação dos Nefrologistas é o acesso vascular. Quinton e Scribner,
em 1960, utilizaram um dispositivo colocado na artéria radial e na veia umeral, através da
anastomose, criaram uma fístula arteriovenosa. Brescia e Cimino, em 1966, criaram o
melhor acesso vascular, a fístula arteriovenosa primária ou nativa. Os cateteres
propriamente ditos surgiram nos anos 70.
Assim, na atualidade, a hemodiálise se constitui no método dialítico amplamente
adotado, sendo realizado em 85% dos pacientes que se submetem ao tratamento dialítico no
Brasil (NORONHA et al, 1997).
39
Os acessos vasculares (AV) para a hemodiálise são:
• Fístula artériovenosa (FAV), FAV artificial (prótese);
• Cateteres percutâneos tunelizáveis e não-tunelizáveis.
4.3 FÍSTULAS E ENXERTOS
Um acesso venoso ideal, segundo Riella (2003), é aquele que oferece um fluxo
sangüíneo satisfatório, longa durabilidade, baixo índice de complicações como estenose e
infecções, o acesso venoso que corresponde com estes critérios é a fístula nativa,
confeccionada através da anastomose entre a artéria radial e a veia cefálica, a braquial e a
cefálica ou a braquial e a basílica, preferencialmente no membro não dominante, o mais
distal possível.
Enxertos arteriovenosos são criados suturando-se um pedaço de artéria ou veia
bovina, ou enxerto de veia safena no vaso do próprio paciente. Situados geralmente no
antebraço ou porção superior da coxa, confeccionados em pacientes com comprometimento
vascular, quando uma fístula não pode ser criada, o custo de um enxerto é cerca de quatro
vezes maior, e tem menor sobrevida e maior risco de infecção, trombose e estenose. A
maturação de um enxerto requer um tempo de duas a três semanas, sua extremidade deve
ser mantida elevada por vários dias, sua função é verificada através da pulsação venosa,
sopro e frêmito; só é considerado maduro quando o edema e o eritema desaparecem e o
traçado do enxerto é facilmente palpado, tardiamente um enxerto pode desenvolver
complicações
infecciosas
como
abcesso
espinhal,
osteomielite
e
endocardite
(DAUGIRDAS, 2003; BRUNNER, 2005).
Em enxertos o braço edemaciado, a difícil colocação das agulhas, a dificuldade com
a hemostasia na retirada das mesmas são indicadores que levam a uma estenose e o
enfermeiro precisa ser criterioso em seu exame físico para diagnosticar precocemente,
deve-se instruir e educar o paciente para que tenha conhecimento suficiente para detectar
estes sinais evitando complicações tardias (DAUGIRDAS, 2003).
40
4.4 CATETER DUPLO LÚMEN
Na década de 70 surgiu uma enorme demanda de cateteres inovados no mercado,
todos se adequando a anatomia do corpo humano, permitindo uma maior fixação, e
impedindo a penetração de microorganismo a partir da pele. Os cateteres temporários são
usados em pacientes com Insuficiência Renal Aguda, os que necessitam de hemodiálise por
intoxicação, quando a doença renal está em estágio terminal, onde a necessidade da
hemodiálise é urgente e a paciente não dispõem de acesso permanente disponível
(RIELLA, 2003).
Dois tipos de cateter são disponíveis para realização de HD. Os cateteres
permanentes com cuff (cateter tunelizado) são usados em pacientes que não apresentam
outra forma de acesso vascular viável, sendo utilizados por longos períodos. Entretanto, um
significante número de pacientes requer acesso vascular apenas temporário, como na
presença de IRA. Nestes pacientes, o cateter temporário de duplo lúmen, também
denominado cateter venoso central não-tunelizados, é utilizado, permanecendo viável por
cerca de 30 dias (WEIJMER et al, 2004). O cateter de duplo lúmen (CDL) também é
chamado de cânula venosa percutânea e é de acesso vascular temporária mais utilizada para
hemodiálise (FERMI, 2003).
Os cateteres podem ser implantados nas veias subclávias, jugulares internas e
femorais. A veia subclávia era tradicionalmente escolhida, seu uso diminuiu devido a
complicações como trombose venosa. A preferência que se dá hoje é para a veia jugular
interna à direita, devido à facilidade para sua execução. Reserva-se o acesso pela veia
femoral aos pacientes acamados, pela segurança e facilidade de punção, utilizando-se em
atendimentos ambulatoriais e com tempo de permanência mais prolongado, sendo
implantado pelo nefrologista (RIELLA, 2003).
O cateter femoral é útil para realizar um tratamento de hemodiálise inicial, a
desvantagem se dá na dificuldade para os cuidados de enfermagem e higiene adequada,
sendo que são grandes as chance de infecções e de trombose venosa. As cânulas
subclaviculares são fáceis para serem inseridas, não destroem os vasos sangüíneos e
fornecem um fluxo de sangue adequado (FERMI, 2003).
41
Os cateteres sem cuff se forem usados por um tempo superior a algumas semanas
podem resultar em altas incidências de infecções. Cateteres de silicone com dois cuffs,
aumentam o conforto do paciente por proporcionarem menos disfunção posicional. O
Permcath permite um fluxo maior de sangue, previne infecções, por ser de silicone com luz
dupla e por possuir cuff, é implantado cirurgicamente em veia jugular interna ou subclávia
em pacientes que não possuem vascularização para confecção de uma fístula arteriovenosa,
obesos, diabéticos e crianças (DAUGIRDAS, 2003).
Estima-se que em torno de 8% dos pacientes com IRC em tratamento hemodialítico
no Brasil fazem uso de cateteres de uso temporário ou permanente (ROMÃO JUNIOR,
2008).
Segundo Daugirdas (2003), os cateteres duplo lúmen de inserção percutânea,
também denominado de cateter venoso não tunelizado, apresentam vantagens como:
praticidade, rapidez na implantação, uso imediato, é indolor durante a sessão de
hemodiálise, produz baixa resistência venosa e é de retirada rápida e fácil. Por outro lado,
ainda segundo o autor, a localização inadequada da ponta desse cateter poderá acarretar
baixo fluxo sanguíneo e conseqüentemente a ineficiência da hemodiálise.
O acesso venoso central para hemodiálise através de cateteres tem caráter
temporário sendo um método seguro para tratamento dialítico naqueles pacientes que
necessitam de início imediato. Ideal seria diagnosticar com antecedência a disfunção renal e
que todos tivessem seu acesso venoso definitivo (fístula artério-venosa), confeccionado e
com maturação suficiente para punção e realização de hemodiálise, evitando a utilização de
cateteres pelos riscos de complicações e problemas estéticos (FERMI, 2003).
As indicações do acesso venoso para hemodiálise são:
a) Acesso venoso para hemodiálise por tempo menor que três semanas, inseridos de
forma percutânea;
b) Necessidade de hemodiálise imediata em pacientes com insuficiência renal com
clearence de creatinina menor de 25 ml/min e níveis de creatinina sangüínea maior de 4
mg/dl;
c) Dificuldade de diálise peritoneal efetiva para o tratamento da insuficiência renal;
d) A preferência de local de inserção é a veia jugular interna direita. Outras opções
incluem: veia jugular externa direita, veias jugulares externa e interna esquerdas, veias
42
subclávias, veias femorais e veia cava inferior por acesso translombar. A utilização da veia
subclávia acompanha-se de taxa de obstrução e estenose venosa em torno de 42% a 50%
(SANTOS, 2004).
4.4.1 Técnica de Inserção
Segundo Riella (2003), a via de acesso preferida é a veia jugular interna direita pelo
menor incidência de estenose venosa do tronco braquiocefálico direito e pela maior
facilidade de acesso ao átrio direito, sendo a posição ideal de localização do cateter ao nível
da junção cava superior átrio direito, confirmado através de fluoroscopia na sala cirúrgica
ou por radiografia do tórax. Deve-se utilizar o lado contra-lateral ao membro superior
planejado para confecção do acesso venoso definitivo (fístula artériovenoso) para a
inserção do cateter venoso central para a hemodiálise, evitando o risco de hipertensão
venosa no membro superior.
Daugirdas (2003) afirma que o cateter mais utilizado é o de duplo lúmen nãotunelizado de material rígido composto de poliuretano ou vinil, através de punção
percutânea venosa. O paciente é colocado em decúbito dorsal com coxim colocado em
baixo dos ombros, para facilitar a hiperextensão do pescoço e a cabeça levemente rodada
para o lado contra - lateral ao da punção. Utiliza-se a anestesia local com lidocaina 1%
como rotina para este procedimento e antissepsia com iodopolvidine. Quando não se
consegue a via de acesso venoso jugular ou subclávio deve se usar como via de acesso
venoso de exceção a via femoral .
4.4.1.1 Complicações Decorrentes da Inserção
Riella (2003) divide as complicações decorrentes da inserção de cateteres venosos
para hemodiálise em agudas e crônicas. As complicações agudas são decorrentes da punção
43
e da introdução direta do cateter no sistema venoso, são resolvidas na grande maioria das
vezes, com a retirada da agulha de punção ou do cateter e compressão local, como nos
casos de punção arterial e hematomas de região cervical. Já, a principal complicação
crônica dos acessos venosos centrais para a hemodiálise são as infecções do cateter, o
paciente apresenta febre, secreção purulenta no orifício de saída do cateter e hiperemia na
região. Nos casos de infecção localizada na pele deve-se tratar com antibiótico e observar a
evolução, quando temos infecção no túnel do cateter ou sepse, necessária se faz retirar o
cateter, colher cultura da secreção, hemocultura, antibiograma e uso de antibioticoterapia
(MELO et al, 2005).
Quando ocorre trombose do cateter podemos desobstruir utilizado soro fisiológico,
passagem de fio guia e trombolíticos (estreptoquinase ou uroquinase – 5.000 UI/ml) intra luminal (DAUGIRDAS, 2003). Não se deve utilizar a veia subclávia para inserção de
cateteres para hemodiálise pelo risco de estenose e trombose venosa profunda, em torno de
30%. Neste último caso deve-se retirar o cateter e realizar anticoagulação (FERMI, 2003).
O conhecimento do enfermeiro perante essas técnicas enriquece a qualidade do
serviço, tornando-se eficaz e mais seguro, evitando menor índice de contaminação em
cateteres ou punções em fístulas, podendo proporcionar melhor qualidade de vida para os
usuários e em troca benefícios para o trabalhador. Em acessos vasculares para hemodiálise;
quando se trata de uma fístula arteriovenosa após sua construção o membro superior deve
manter-se elevado, evitar comprimir com curativos, avaliar com freqüência o fluxo
sangüíneo, nunca usar a fístula para punção venosa, realizar junto ao paciente exercício
com a mão para ajudar em sua maturação, a qual leva em média de quatro a seis semanas.
A higiene feita com rigidez e a inserção das agulhas na técnica são princípios básicos para a
manutenção de uma fístula arteriovenosa. Em relação ao acesso vascular são as causas mais
freqüentes de hospitalizações de pacientes em hemodiálise crônica (DAUGIRDAS, 2003).
44
4.5 DIÁLISE PERITONEAL
Na diálise peritoneal, um cateter é inserido através de pequena incisão na parede
abdominal até o espaço peritoneal. O dialisado drena através da ação da força da gravidade
ou é bombeado através de um cateter, sendo mantido no espaço peritoneal durante um
período suficiente para permitir a filtragem dos produtos da degradação metabólica
presentes no sangue para o dialisado. Em seguida, o dialisado é drenado, descartado e
substituído (SOUZA, 2004).
Para Santos (2004), a diálise peritoneal é um processo de tratamento para
insuficiência renal aguda e crônica que utiliza a membrana peritoneal como membrana
dialisadora. É realizada pela introdução de solução de diálise na cavidade abdominal e os
produtos tóxicos movem-se do sangue para a solução de diálise por difusão e ultrafiltração.
A remoção dos produtos residuais e do excesso de água ocorre quando o dialisado é
drenado.
Santos (2004), afirma que o sangue que circula na membrana peritoneal, assim
como o sangue de todo o corpo, está com excesso de potássio, uréia e outras substâncias
que devem ser eliminadas. Na diálise peritoneal, um liquido especial, chamado dialisato,
flui por um tubo especial no abdômen do cliente. Líquidos, resíduos e substâncias químicas
passam de minúsculos vasos de sangue da membrana peritoneal para o dialisato.
As substâncias tóxicas passarão, aos poucos, através das paredes dos vasos
sanguíneos da membrana peritoneal para a solução de diálise. Depois de algumas horas, a
solução é drenada do abdômen e a seguir volta-se a encher o abdômen com uma nova
solução de diálise para que o processo de purificação seja repetido. Alguns dias antes da
primeira diálise, o cateter que permite a entrada e a saída da solução de diálise da cavidade
abdominal é colocado através de uma pequena cirurgia feita por um cirurgião. O cateter
fica instalado permanentemente (MELO et al, 2005).
45
4.5.1 Tipos de Diálise Peritoneal
Goshorn (2002), Souza (2004) e Santos (2004) concordam que a Diálise Peritoneal
se processa de três maneiras diferentes:
• Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) ;
• Diálise Peritoneal Cíclica Contínua (CCPD);
• Diálise Peritoneal Intermitente (DPI).
4.5.1.1 Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD)
Na CAPD, a solução de diálise fica no abdômen em média 06 horas cada ciclo. O
processo de drenar o dialisato e substituí-lo por uma solução nova leva de 30 a 40 minutos.
A maioria das pessoas troca manualmente à solução quatro vezes por dia (MARTINS e
RIELLA, 2001).
Fermi (2003) acrescenta que a solução de diálise está sempre presente na cavidade
peritoneal. A drenagem do líquido que estava na cavidade é trocada após um período
mínimo de 4 horas e máximo de 6 horas por tornar-se saturada e, infunde-se então uma
nova solução. Apenas durante a noite, para não incomodar o bem estar do paciente, a
solução permanece por mais de 6 horas. Para renovar o líquido saturado é necessário
realizar as trocas no mínimo quatro vezes ao dia.
Ainda de acordo com o mesmo autor, o paciente, ou algum familiar recebe um
treinamento da técnica das trocas pela enfermeira da unidade de diálise. Essa técnica é
simples, mas exige destreza manual, noções básicas de assepsia e várias outras orientações.
A drenagem do dialisado gasto e o influxo de solução fresca de diálise são
realizados manualmente, contando com a gravidade para mover o líquido para dentro e para
fora do abdômen (DAUGIRDAS et al, 2003).
As soluções dessa modalidade são embaladas em sacos plásticos flexíveis, claros ou
em recipientes plásticos semi-rígidos. Para pacientes adultos as soluções estão disponíveis
46
em volumes de 1,5; 2; 2,5; ou 3 litros, sendo o volume padrão 2 litros (DAUGIRDAS et al,
2003).
4.5.1.2 Diálise Peritoneal Cíclica Contínua (CCPD)
Também chamada de diálise peritoneal automatizada (DPA), neste método a diálise
ocorre durante a noite, enquanto o paciente dorme. O paciente é conectado a uma máquina
cicladora automática que periodicamente substituí a solução de diálise da cavidade
peritoneal por uma nova solução por meio da força da gravidade. Antes da infusão, a
máquina aquece a solução e, por meio de pinças e temporizadores, as cicladoras regulam o
tempo e o volume da infusão, tempo de permanência e o tempo e o fluxo da drenagem. Em
casos de eventuais problemas, alarmes sonoros são acionados acordando o paciente que
deverá verificar o que está acontecendo e corrigir o problema; para isto o paciente, ou
algum familiar, recebe treinamento para manusear a máquina cicladora pela enfermeira da
unidade de diálise (FERMI, 2003).
A preferência pela DPA tem sido largamente uma escolha de técnica dialítica, por
ser feita durante a noite, possibilita às crianças e adolescentes assistir suas aulas na escola
em tempo integral e, reduz o impacto do tratamento dialítico na vida dos pacientes e seus
familiares. Por esta razão, a DPA assegura um maior nível de reabilitação psicológica e
social desses pacientes quando comparada a outras modalidades de tratamento dialítico
(VERRINA & PERFUMO, 2004).
4.5.1.3 Diálise Peritoneal Intermitente (DPI)
Nesse método de tratamento a solução de diálise é infundida e drenada a cada 30
minutos na cavidade peritoneal. A sua duração é de, no mínimo, 24 horas, duas vezes por
47
semana. Indicado para pacientes com IRA, é realizado somente nos hospitais e atualmente
esta em desuso para IRC (FERMI, 2003).
4.5.2 Possíveis Complicações
Segundo Fermi (2003), muitas são as complicações que podem ocorrer nos métodos
de diálise peritoneal, tais como: vazamento pericateter; falha na drenagem; infecção do
orifício de saída; extrusão do cuff; dor durante a infusão; peritonite e hérnia.
Melo et al (2005), aborda a ocorrência de infecções como sendo um grande
problema relacionado à realização da terapêutica dialítica através da diálise peritoneal, seja
por CAPD, CCPD ou DPI. Como o cateter instalado no peritônio atua como um “veículo de
comunicação” entre os dois meios (intra e extracorpóreo), um descuido nas técnicas,
instrumentos e locais (que devem ser perfeitamente assépticos), bem como na adequada
assepsia do tecido, pode acarretar em uma peritonite, prevalecendo um prognóstico
extremamente agravado. Para que isto não aconteça se faz necessário o perfeito cuidado do
quem realiza os procedimentos, seja este o enfermeiro ou a pessoa capacitada/treinada para
troca de compartimentos plásticos, etc.
Para Foster, Bennett e Dorothea (2000), o perfeito acondicionamento do material
utilizado, a desinfecção do local onde se realizam os procedimentos, a devida lavagens das
mãos, a integridade dos utensílios usados (esterilizados), a assepsia do local (tecido) e a
realização dos procedimentos corretos são alguns dos cuidados essenciais que o enfermeiro
deve atentar durante a execução e na monitoração do trabalho de sua equipe. O enfermeiro
também deve atuar orientando os pacientes e/ou familiares que realizam a CAPD ou CCPD,
cujos procedimentos normalmente são realizados na casa dos mesmos por pessoas, que
foram preparadas pelo profissional enfermeiro.
48
4.6 TRANSPLANTE RENAL
De acordo com BARROS et al (2006), o transplante renal é indicado para o
tratamento da IRCFT de quase todas as etiologias, incluindo as mais comuns, como
glorulonefrites, nefropatia diabética, nefrites interticiais, doenças císticas, vasculares e
outras.
O transplante é considerado bem sucedido quando se atinge valores de filtração
glomerular maior que 50ml/min. Além de melhorar a sobrevida, os benefícios de um
transplante bem sucedido inclui a resolução da anemia, o retorno das funções endócrinas,
sexual e reprodutivas normais e a melhora dos níveis de energia, tornando viável o retorno
para emprego em tempo integral e para uma atividade física mais extenuante. As principais
desvantagens do transplante renal inclui o risco cirúrgico, os efeitos colaterais e o custo dos
imunossupressores. Há contra-indicações absolutas ou relativas ao transplante renal:
(1) Doença maligna incurável. (2) Infecção incurável. (3) Doença
cardíaca avançada. (4) Doença pulmonar avançada. (5) Doença
hepática progressiva. (6) Doença vascular cerebral coronariana, ou
periférica extensa. (7) Anormalidades graves do trata urinário
inferior. (8) Coagulopatia persistente. (9) Idade maior que 70 anos.
(10) Doença mental ou psiquiátrica grave. (11) Condições
psicossociais adversas graves: alcoolismo, drogadição, nãoaderência ao tratamento (BARROS et al, 2006, p.275).
Para Cesarino e Casagrande (1998), transplante de órgão, mais do que um
procedimento técnico-científico se constitui numa reavaliação de hábitos, valores sociais,
princípios religiosos, éticos e morais. É um procedimento cirúrgico que consiste na
transferência de um órgão (coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado) ou tecido (medula
óssea, ossos, córneas) de um indivíduo para outro, a fim de compensar ou substituir uma
função perdida. Sendo assim, no transplante de rim implanta-se um rim sadio em um
indivíduo portador de insuficiência renal terminal. Esse novo rim passará a desempenhar as
funções que os rins doentes não conseguem mais manter.
49
No Brasil, somente 10 % dos pacientes que estão na lista de espera conseguem
realizar esse tratamento (BRASIL, 2004). A primeira lei que regularizou o transplante de
órgãos foi a nº. 4.280/63. Em janeiro de 1998 entrou em vigor a Lei nº. 9.434/97, que
ampliava os critérios da doação em vida. Ela permitia que qualquer pessoa juridicamente
capaz pudesse doar para transplante um de seus órgãos duplos, desde que a doação não
comprometesse a sua saúde e que fosse de forma gratuita. Podem-se destacar alguns pontos
nesta lei:
•
Proibição da comercialização de órgãos;
•
Definição dos critérios para a doação (doador vivo e cadáver);
•
Punição para os infratores;
•
Exibição pública da lista de espera;
•
Proibição de doação por pessoa não identificada (sem documentos) ou sem
autorização familiar.
Em 23 de março de 2001, foi editada a Lei nº.10.211, que no seu Art. 9.0 diz:
É permitido à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de
tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou
transplantes em cônjuges ou parentes consangüíneos até o quarto
grau (pais, filhos, irmãos, avós, tios e primos), ou em qualquer outra
pessoa, mediante autorização judicial.
4.6.1 Transplante de um Doador Vivo
Parizi e Costa (2004) destacam alguns pontos chaves no transplante de doador vivo:
• O doador vivo ideal é um gêmeo idêntico, embora qualquer membro da família
imediato possa ser um doador se for clinicamente aceitável;
50
• Qualquer pessoa adulta que seja saudável tenha função renal normal e não
apresente, durante extensa e minuciosa avaliação médica, evidências de risco de
doença renal ou de outros órgãos vitais após a doação, pode ser doadora, desde
que demonstre esse desejo espontâneo;
• A doação por parte de indivíduos que apresentam distúrbios psiquiátricos, abuso
de álcool, fumo ou drogas, e por pessoas de idade muito avançada, ou portadores
de câncer é contra-indicada;
• A compatibilidade ABO e a histocompatibilidade juntamente com uma reação
cruzada de leucócitos negativa determinam a compatibilidade doador-receptor.
• Não é necessário que o fator Rh seja equivalente;
• Realiza-se um estudo completo que inclui histórico ,exame físico, ECG,
hemograma, BUN (nitrogênio – uréico - sangüíneo), creatinina, bioquímica,
estudos da coagulação,e títulos virais;
• Uma aortografia de irrigação avalia a anatomia vascular e a angiografia renal
indica o rim de escolha enquanto exclui a presença de lesões renais.
4.6.2 Transplante de um doador cadáver
Segundo Parizi e Costa (2004), para o doador por morte cerebral, há uma rotina e
um protocolo nacional que são seguidos rigidamente pelas equipes de transplante. Os
principais passos são os seguintes:
• Constatar a morte cerebral;
• Afastar qualquer doença que inviabilize o transplante;
• Reconhecer a viabilidade do órgão a ser doado;
• Realizar as provas de compatibilidade;
• Procurar o receptor mais parecido (compatível);
• Enviar o órgão ao local da cirurgia do receptor.
Parizi e Costa (2004) afirmam que:
51
• O doador cadáver ideal deve ser jovem, livre de infecção e câncer;
• Deve estar normotenso até um curto período antes da morte, e sob observação
hospitalar por várias horas antes da morte;
• O tratamento pré-operatório do doador cadáver é vital para o sucesso do
transplante;
• Deve ser mantidas a perfusão do órgão, oxigenação e hidratação.
Toda morte cerebral deve ser comunicada pelo médico à família da vítima e a
central de transplantes (PARIZI e COSTA, 2004).
Segundo Souza (2004), os procedimentos terapêuticos e cirúrgicos do programa de
transplante, envolvem a capacitação de órgãos, manutenção da saúde, recuperação do
receptor e um atendimento de enfermagem sistematizado ao cliente candidato ao
transplante. O papel do enfermeiro abrange também os cuidados e orientações do pósoperatório do receptor, acompanhando o mesmo nas consultas posteriores após a alta
hospitalar.
Segundo Riella (2003), pode-se perceber que o tratamento baseado em transplante
renal é bastante complexo e requer uma assistência de enfermagem especializada para
superar o comprometimento orgânico decorrente do tratamento. Os cuidados de
enfermagem no pós-operatório incluem monitorar sinais vitais e funções fisiológicas,
avaliar condições hemodinâmicas e volume de liquido intravascular, realizar curativos
estéreis, atentar para sinais de septicemia.
52
5 INFECÇÃO DE CATETER DUPLO LÚMEN
Os mistérios inerentes às infecções têm sido desvendados desde que, no final do
século XIX, Koch, Pasteur e outros microbiólogos descobriram a conexão existente entre
bactérias e infecções (SCHULL, 2001).
Ferreira (2005), as infecções associadas ao cateter correspondem a 20% de todas as
complicações dos acessos vasculares; sua incidência é alta e grave, levando a retirada
temporária desse acesso.
Cabe destacar que a literatura é vasta de resultados de pesquisa que mostram altos
índices de infecção associados ou não ao cateter em pacientes com insuficiência renal
crônica em tratamento hemodialítico. Neste sentido, a prática assistencial no serviço de
terapia renal deve estar apoiada em um conjunto de atividades criteriosamente
estabelecidas, entre elas a vigilância epidemiológica dessas infecções (FERREIRA, 2005).
Pittet (2005) citado por Ferreira (2007), diz que a infecção relacionada à saúde é
apontada como uma das mais sérias problemáticas e um desafio em âmbito mundial. E,
esse agravo se torna ainda maior mediante a variabilidade de recursos e condutas aplicadas
na assistência, seja no domicilio ou na instituição (FERREIRA, 2007).
Ainda Ferreira, o uso de cateter venoso central é apontado como um importante
fator de risco para infecção da corrente sanguínea, acarretando no prolongamento da
internação, aumento da morbimortalidade, e elevação dos custos de hospitalização.
As infecções em cateteres permanentes ou temporários são desafios importantes
para os profissionais da saúde, portanto, a obtenção de uma via vascular à circulação
sanguínea depende de profissionais especializados, levando em consideração a sua elevada
complexidade (FERREIRA, 2005).
Montaña (2002), infecções mais comuns em hemodiálise são de origem bacteriana
(relacionadas ao cateter) e viral (relacionadas a transfusões sanguíneas e tempo de
tratamento). O acesso vascular é um pré-requisito para o tratamento hemodialítico, eles
podem ser transitórios como o cateter venoso central (CVC), ou permanente como a fístula
arteriovenosa (FAV), entre outros (GONZALEZ et al, 2000).
53
Szymanski (2001) citado por Montaña (2002), a susceptibilidade dos clientes com
IRC para infecções agrava-se devido à imunidade mediada por células que estão
danificadas como produtos da uremia que não são completamente corrigidos com a
hemodiálise, somado a isso, estão as patologias de base.
O mecanismo da infecção é a migração da bactéria a partir da pele através do sitio
de inserção pela superfície externa do cateter ou pela contaminação do lúmen do cateter
durante a HD. Raramente, a infecção é causada por soluções contaminadas. O risco de
infecção está relacionado ao local de inserção e aumenta linearmente com tempo de
permanência (OLIVEIRA, 2005).
5.1 PATOGÊNESE
Bonvento (2007) envolve a presença de um agente infeccioso, um veículo de
inoculação e a quebra de barreira. Dentre as espécies microbianas mais prevalentes, temos:
Staphylococcus coagulase negativo (27%), S. aureus (16%), Enterococcus (8%), Gramnegativos (19%), E. coli (6%), Enterobacter spp (5%), P. aeruginosa (4%), K. pneumoniae
(4%) e Candida spp (8%).
Os mecanismos de colonização do cateter podem ocorrer de duas formas:
a) A superfície externa do cateter, túnel subcutâneo e a pele circunvizinha podem
ser colonizados através da microbiota própria da pele, das mãos dos profissionais e dos
anti-sépticos contaminados (quanto maior o número de bactérias, maior a probabilidade de
infecção).
b) A propagação de bactérias pela superfície interna do cateter pode ocorrer por dois
mecanismos principais:
• Manipulação inadequada do canhão do cateter, também chamado de hub;
• Contaminação das soluções de infusão por manipulação direta da substância
administrada ou durante o processo de fabricação industrial da solução (neste caso terá
caráter endêmico).
54
Oliveira (2005) diz que, os microorganismos atingem o acesso vascular de diversas
maneiras: durante a inserção através da colonização da pele periorifício, contaminação do
canhão (conexão entre o sistema de infusão e o acesso vascular), infundido contaminado ou
de soluções contaminadas usadas para manter permeável o cateter, via hematogênica de um
foco infeccioso à distância ou no caso de monetarização hemodinâmica, pela utilização de
transdutores contaminados.
Oliveira (2005) explica que um dispositivo biomaterial desencadeia uma reação
inflamatória, na tentativa do corpo humano fagocitar o cateter. Com isso, ocorrem
desgranulação dos neutrófilos e, em conseqüência do consumo das substâncias
antimicrobianas endógenas, deficiência na sua capacidade de fagocitose e lise intracelular
de microrganismos. Além disso, há liberação de mediadores antiinflamatórios, como a
elastase, que apresenta ação anticomplemento. Em decorrência destes fatores, existe maior
suscetibilidade à infecção quanto maior for a não biocompatibilidade do material do cateter.
Segundo Biernat (2008) Microorganismos podem aderir e colonizar qualquer
superfície biomaterial, colocando o paciente em risco de infecção local e sistêmica.
É fator marcante na patogênese das infecções a formação de biofilme ou capa de
fibrina e microrganismos aderidos nas superfícies do cateter, sob a forma de uma matriz de
substâncias poliméricas extracelulares: seu fator precipitante é lesão endotelial, seja no
local da punção venosa, seja na ponta do cateter. O biofilme determina uma barreira
protetora aos microrganismos com base em ao menos dois mecanismos: dificuldade de
difusão de antibióticos
pela matriz e pela redução na taxa de multiplicação destes
microrganismos, impossibilitando a ação de certos antibióticos (FROEHNER, 2005).
Os biofilmes são a forma predominante dos microrganismos na natureza. Qualquer
dispositivo médico é suscetível ao desenvolvimento de biofilmes. No caso dos cateteres,
essas colônias de microrganismos estão imersas em uma matriz extracelular de
exopolissacarídeos, aderentes entre si, com a superfície tecidual e o próprio dispositivo.
Apresenta maior resistência a remoção pelos fagócitos e anticorpos. Os antibióticos são
menos efetivos, pois ocorre a inativação ou barreira à sua penetração, sendo estas colônias
um nicho de resistência microbiana. Cepas em biofilme são até 1.500 vezes mais resistentes
do que as formas livres à ação de anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes (OLIVEIRA,
2005).
55
O biofilme funciona como uma barreira, impedindo a efetiva ação dos antibióticos e
mecanismos naturais de defesa contra infecção (BIERNAT, 2008).
Segundo Oliveira (2005), logo que é inserido um dispositivo, já acontece esta
interação. Nas primeiras três horas surge atração microbiana e a partir deste período já tem
início a aderência microbiana. Em 24 horas, observamos a agregação de colônias
polimicrobianas e a partir de 48 horas pode-se observar a dispersão de microrganismos para
focos metastáticos. Os microrganismos podem produzir toxinas microbianas e enzimas
líticas (elastase, proteases e hemolisinas), promovendo necrose e invasão tecidual.
5.2 PRINCIPAIS AGENTES
Os principais agentes etiológicos envolvidos nas infecções relacionadas ao acesso
vascular dependem do tipo de acesso e da fonte de contaminação. Nos cateteres periféricos,
os destaques são: Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus aureus e cândida
spp. Nos cateteres venosos centrais, além dos agentes descritos anteriormente, temos:
enterobactérias, micobactérias e fungos dos gêneros: Trichophyton beiglii, Fusarium sp. e
Malassezia furfur. Quando a fonte é o infundido contaminado, predominam a tribo
(Klebsiella sp., Serratia marcescens, Enterobacter cloacae e Enterobacter agglomerans),
Burkholderia cepacea, Ralstonia pickettii, Stenotrophomonas maltophilia, citrobcter
freundii, Flavobacterium sp. e Candida tropicalis. Quando a possível fonte é sangue e
hemoderivados, os agentes mais freqüentes são: Enterobacter cloacae, Serratia marcescens,
Flavobacterium msp., Burkholderia cepacea, Yersinia sp. e Salmonella sp (OLIVEIRA,
2005).
Em geral, o Staphylococcus aureus está amplamente distribuído na superfície
corpórea, e, para se desenvolver, o microrganismo deve ultrapassar as barreiras naturais da
pele, sobreviver e multiplicar-se nos tecidos (FERREIRA, 2007)
56
5.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA
Para Daugirdas (2003) o paciente em diálise com bacteremia geralmente apresenta
febre, calafrios e sinais de toxemia. Às vezes, entretanto, os sinais e sintomas de infecção
são marcadamente brandos, ou mesmo ausentes. Embora o rubor, o edema e o exudato no
local do acesso sejam sinais úteis para se incriminar esse local como a fonte de infecção,
um local de acesso infectado pode ter aparência absolutamente normal. Febre e calafrios
logo após a manipulação do cateter (no início ou no final da sessão da diálise) sugerem
bacteremia relacionada com esse acesso.
Oliveira (2005) assevera que, o paciente com bacteremia geralmente apresenta
calafrios, febre e estado geral comprometido, ou pode estar assintomático. O local do
acesso pode estar edemaciado, doloroso, com rubor e secreção, ou com aspecto normal.
Sintomas como febre e calafrio após a manipulação do cateter como no início da sessão de
diálise sugerem bacteremia relacionada ao cateter. O adiamento do tratamento da sepse
aumenta a morbidade e mortalidade. Sintomas mais insidiosos podem estar presentes
principalmente em pacientes idosos ou imunossuprimidos e incluem febre baixa, letargia,
hipotensão, confusão, hipoglicemia, ou cetoacidose diabética.
5.4 INCIDÊNCIA
O local de acesso venoso é a fonte de 50-80% das bacteremias dos pacientes em
diálise. A bacteremia pode levar a endocardite, meningite, osteomielite, abscesso
paraespinhal ou formação de embolo séptico (DAUGIRDAS, 2003).
Ribeiro (2008), a taxa de bacteremia em pacientes portadores de cateter é
aproximadamente de 4% a 18%, sendo responsável por pelo menos 8 mil casos anuais de
sépsis e demais infecções relacionadas ao cateter. A bacteremia na maioria dos casos,
apresenta uma elevação da temperatura corporal, porém há casos em que há somente a
hipertermia resultando em uma complicação infecciosa não associada à bacteremia.
Continua Ribeiro, os mesmos autores descrevem que, são necessárias algumas medidas
57
para prevenir a infecção, como a desinfecção adequada das mãos, técnica asséptica na
inserção do cateter e realização de curativos livres de contaminação.
Complicações infecciosas do acesso vascular são fontes principais de morbidez e
mortalidade entre os pacientes em hemodiálise. Segundo estudos, em cerca de 48 a 73% de
todas as bacteremias que ocorrem no tratamento, o cateter temporário duplo lúmen, é o
principal responsável por essas complicações (PITTA, 2003).
Ainda Pitta (2003), é significativo o número de pacientes em tratamento
hemodialítico por meio de cateter temporário duplo-lúmen que apresentam infecção e
necessitam de internação hospitalar.
Para Daugirdas (2003), a infecção é a causa mais importante da perda do cateter e
aumenta a morbidade e mortalidade. A infecção acontece geralmente pela migração da
flora da pele do próprio paciente pelo local de punção e pela superfície externa do cateter,
ainda que possa resultar de contaminação dos conectores do cateter, contaminação da luz
durante a diálise ou de soluções infundidas. Os cateteres podem-se também, tornarem
colonizados de locais mais remotos durante bacteremia. Bactérias gram-positivas
(geralmente espécies de Staphylococcus) são as mais comuns.
Estudos realizados por Daugirdas (2003), comprovam que cateteres com cuff
reduzem a incidência de infecções relacionadas à migração do cateter usado geralmente em
caso de insuficiência renal aguda, com duração aproximadamente de uma semana.
Os cateteres sem cuff se forem usados por um tempo superior a algumas semanas
podem resultar em altas incidências de infecções. Cateteres de silicone com dois cuffs
aumentam o conforto do paciente por proporcionarem menos disfunção posicional. O
Permcath permite um fluxo maior de sangue, previne infecções, por ser de silicone com luz
dupla e por possuir cuff, é implantado cirurgicamente em veia jugular interna ou subclávia
em pacientes que não possuem vascularização para confecção de uma fistula arteriovenosa,
obesos, diabéticos e crianças (DAUGIRDAS, 2003).
58
5.5 COMPLICAÇÕES
As complicações podem ser precoces ou tardias, a infecção é a maior causa de perda
de cateter, aumentando a morbidade e mortalidade, podendo surgir pela migração da flora
da pele do próprio paciente, pelo local da punção, pela superfície externa do cateter e
contaminação da luz durante a hemodiálise de soluções infundidas (DAUGIRDAS, 2003).
Riella (2003) confirma em suas pesquisas que o Staphylococcus aureus é o
responsável pela maioria das infecções tanto em fistulas arteriovenosas nativas, quanto em
enxertos e cateteres temporários. As complicações em veias femural as a baixa
permanência pelo local ser sujeito a maior índice de infecção, quebra do cateter,
coagulação, trombose, fistula arteriovenosa, formação de hematoma subcutâneo ou
retroperitonial e dissecção do vaso. Em subclávia, lesão de artéria, pneumotórax,
hemotórax, hemorragia, tamponamento cardíaco, arritmias cardíacas, coagulação,
trombose, estenose e infecção. Na veia jugular interna lesão do nervo laríngeo recorrente,
da traquéia, da carótida, do duto torácico, hematomas volumosos podem ocasionar
desconforto respiratório, infecções, trombose, quebra do cateter, tracionamento, localização
incomoda para o paciente e fixação difícil.
Froehner (2005) explica que, as infecções são consideradas complicadas se
associadas à trombose séptica, endocardite infecciosa, osteomielite ou disseminação
hematogênica da infecção. A trombose séptica é uma infecção intravascular e é suspeitada
na permanência de bacteremia ou fungemia mesmo depois de adotada a conduta adequada;
geralmente ocorre pela permanência de um trombo infectado ou abscesso intraluminal
mesmo após a remoção do cateter.
Ainda Froehner (2005), conforme as diretrizes propostas pela Sociedade Americana
de Doenças Infecciosas e Sociedade Americana de Medicina Intensiva, o diagnóstico de
bacteremia relacionada a cateter venoso inclui hemocultura de duas amostras de sangue, ao
menos uma obtida de veia periférica, devido à alta taxa de falsos-positivos obtida de
amostras pelo cateter (possivelmente pela capa ou biofilme de fibrina e microrganismos).
Havendo a suspeita de bacteremia e também a intenção de não remover o cateter
venoso central, hemoculturas pareadas quantitativas ou qualitativas podem ser utilizadas.
As hemoculturas quantitativas indicam bacteremia se o número de colônias obtidas pelo
59
cateter for cinco vezes superior à obtida pelo sangue periférico, demonstrando sensibilidade
de 90% e especificidade de 99% (FROEHNER, 2005).
5.6 CLASSIFICAÇÃO DAS INFECÇÕES NO SÍTIO DE INSERÇÃO
Infecção do sítio de inserção é classificada com os seguintes sinais: calor, edema,
dor, hiperemia e secreção purulenta. A presença de secreção purulenta no local de inserção
do cateter já é o suficiente para o diagnóstico para infecção do sitio de inserção (CDC,
2002).
Segundo Besarab e Raja (2003) quase todos os cateteres inseridos em veias centrais
desenvolvem coágulos de fibrina de uma há várias semanas após implantação, tais coágulos
são clinicamente silenciosos no início até que obstruam a parte distal do cateter, sendo
estes, propícios para desencadear infecção.
5.7 FATORES QUE PREDISPÕE INFECÇÃO
Os fatores locais que predispõe infecção são: higiene pessoal precária, uso de
curativos oclusivos, acúmulo de umidade em volta da inserção do cateter. Também a
colonização nasal e de pele, o agente etiólogico Staphylococcus aureus, assim como a
colonização do cateter são fatores para infecção sistêmica. Outros fatores de risco para
infecção são: localização do acesso no membro inferior; cirurgia no acesso recente;
hematoma; dermatite e prurido sobre o acesso; pacientes mais velhos; diabetes;
imunossupressão; níveis séricos elevados de ferritina e baixos de albumina (DAUGIRDAS,
2003).
Para Ferreira (2007) dentre os principais fatores de risco para aquisição da infecção
relacionada ao cateter, tem-se a sua constituição, incluindo o número de lumens, o local e a
técnica de inserção e o tipo de curativo. Outros fatores envolvidos são: tempo de
permanência do cateter, manipulação freqüente do sistema, a exemplo da pressão venosa
60
central ou administração de medicamentos, doença de base, estado clinico do paciente e
experiência dos profissionais, dentre outros.
5.8 MANIFESTAÇÕES DE INFECÇÃO EM CORRENTE SANGUÍNEA
Infecção da corrente sanguínea tem as seguintes manifestações clinicas: febre,
pirogenia (calafrios, tremores), bacteremia ou fungemia, sendo associado à pelo menos a
uma amostra de hemocultura positiva sendo outra fonte aparente de infecção, exceto o
cateter (DAUGIRDAS, 2003).
5.8.1 Abordagem de uma Presumida Infecção do Acesso Vascular
Para Daugirdas (2003) deve-se obter amostra para hemocultura e proceder à
remoção no cateter no paciente febril com cateter temporário (femural ou jugular interna),
na ausência da fonte obvia da infecção. Deve ser realizada cultura da ponta do cateter.
Ainda Daugirdas, o adiamento na remoção de um cateter infectado pode resultar em
complicações sépticas perfeitamente preveníveis (por exemplo, endocardite).
Sempre que o paciente apresentar sinais de infecção, aconselha-se a coleta de
hemocultura, administração de antibiótico e remoção do cateter (FERMI, 2003).
Para Oliveira (2005) o grupo de trabalho do National Kidney Foundation’s Disease
Outcomes and Quality Initiative (NKF/DOQI) recomenda o tratamento de bacteremia
relacionada ao cateter com antibióticos parenterais por três semanas; caso seja necessária a
remoção do cateter, um acesso novo permanente só dever ser colocado depois da
negativação das culturas no período de pelo menos 48 h após o termino da
antibioticoterapia.
61
5.9 MEDIDAS DE PREVbENÇÃO EM HEMODIÁLISE
RDC 154, todo serviço de diálise deve implantar e implementar um Programa de
Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos (PCPIEA), subsidiado pela
portaria GM/MS 2616, de 12 de maio de 1998, ou instrumento legal que venha a subsidiála.
As
ações
mínimas
necessárias,
a
serem
desenvolvidas,
deliberada
e
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das
infecções dos hospitais, compõe o Programa de Controle de Infecções Hospitalares.
Organização:
1. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de
ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível
da incidência e da gravidade das infecções hospitalares;
2. Para a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da
instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar.
Montaña (2002), todo serviço de diálise deve contar com o apoio de uma Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que deve elaborar programas específicos para
essa especialidade. Esses programas devem incluir sorologias de rotina, imunização,
vigilância epidemiológica, treinamento e educação.
Davidson (1997) sugere a implementação de rotinas de procedimentos nos serviços
e registro apropriado, além do treinamento em serviço da equipe de trabalho com a
implantação de medidas de biossegurança.
As medidas para diminuir a incidência de infecção do acesso vascular descritas por
Azeredo são “curativo oclusivo no local, troca de curativo pelo profissional, três vezes por
semana na hemodiálise utilizar álcool a 70% para reduzir o risco de infecção e usar luvas
descartáveis quando for manipular vias de acesso para proteger o cliente e o profissional”
(AZEREDO, 2002).
62
Oliveira (2005) considera como cuidados durante a inserção do cateter venoso
central – duplo lúmen:
• Friccionar PVP-I (polivinilpirrodidona iodo) degermante nas mãos, por dois
minutos;
• Paramentar (usar gorro, máscara, luvas e avental estéreis);
• Fazer a anti-sepsia da pele do paciente com PVP-I, por 2 minutos(Caso o médico
ou paciente sejam alérgicos a PVP-I, substituir por clorexidina );
• Curativo do cateter – examinar diariamente o curativo trocá-lo, sempre que
estiver, úmido, sujo, a cada sessão de hemodiálise, e quando for retirado o acesso
venoso;
• Manipulação do cateter de forma asséptica;
• Lavar as mãos, calçar luvas estéreis, utilizar mascara (profissional e paciente),
limpar o local de inserção com soro fisiológico e secar a região com gaze.
Para a profilaxia de infecção na manipulação do cateter durante a sessão de HD, a
diretriz número 15 do National Kidney Foundation’s Disease Outcomes and Quality
Initiative, Oliveira (2005) recomenda:
• Friccionar os conectores oclusivos das extremidades dos cateteres, por 5 minutos,
com gaze embebida em solução de polivinilpirrodina, antes de sua remoção;
• Após remover os conectores dos cateteres, embebê-los em uma solução de
polivinilpirrodina;
• Manter o lúmen do cateter estéril;
• Para prevenir infecção, o lúmen e as pontas do cateter não devem permanecer
expostos ao ar. Uma tampa ou seringa deve ser conectada no cateter, e deve ser
mantido um campo limpo sobre os conectores do cateter;
• Pacientes devem usar máscara cirúrgica em todos os procedimentos de
manipulação do cateter;
• O enfermeiro deve usar luvas e máscara cirúrgica para todos os procedimentos de
manipulação do cateter;
• A operação dever ser repetida quando o paciente é desconectado no final da
sessão de diálise ou por qualquer outra razão;
63
• Manipular o cateter o mínimo possível; qualquer problema com o fluxo sanguíneo
dever ser solucionado com precisão.
No computo geral das medidas de prevenção e controle da infecção nos serviços de
diálise, tem sido amplamente enfatizado o rigor nos princípios básicos de assepsia:
higienização das mãos, manuseio de material esterilizado, processamento de artigos, uso de
equipamento de proteção individual, dentre outros, os quais atendem a manutenção da
segurança biológica (FERREIRA, 2007).
Turrini (2000), após uma pesquisa de campo entre os profissionais de enfermagem,
concluiu que entre os vários fatores de risco para se adquirir infecção hospitalar estão à
falta de lavagem das mãos por parte da equipe e o dimensionamento inadequado de
profissionais da área.
As ações de enfermagem englobam a participação na implantação, na vigilância, no
controle e na verificação da manutenção do cateter. Como também, ações educativas com a
equipe de enfermagem e orientações para o paciente, incluindo a necessidade de
documentar as ações implantadas e observações no contato com o paciente, por meio de
anotações para acompanhar sua evolução. Assim, é importante ter profissionais
conscientes, competentes, atualizados, capacitados para a autocrítica e o desempenho do
trabalho em equipe, com vistas a interferir positivamente no seu meio, em benefício da
coletividade (RIBEIRO, 2008).
64
6 METODOLOGIA
A trajetória metodológica delineada é de cunho quali-quantitativa, analítica, de
natureza aplicativa e está subsidiada no estudo retrospectivo e prospectivo dos prontuários
de pacientes do Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce, situado na cidade de Governador
Valadares, no período de Maio a Outubro de 2008.
Inicialmente, foi realizada uma reunião com a equipe multiprofissional do setor
envolvido, tendo como finalidade esclarecer os objetivos da pesquisa bem como os
procedimentos que seriam realizados no estudo e a relevância de investigar a incidência da
infecção de cateter duplo lúmen no Instituto supramencionado.
Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALE, respeitando os
horários agendados, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado
àqueles que aceitaram participar da pesquisa. Em seguida, fizemos uma leitura individual
com cada um, a fim de esclarecer dúvidas sobre o que está especificado no mesmo. Sanadas
as dúvidas dos participantes solicitamos a assinatura de cada um.
Do ponto de vista ético, foi esclarecido que os achados são de caráter confidencial e
a obtenção dos dados documentais foi realizada somente após a autorização dos
responsáveis pela instituição (APÊNDICE).
O procedimento de coleta de dados se deu através de entrevistas em forma de
questionário, previamente elaborado, contendo questões fechadas sobre variáveis sóciodemográficas. Tais variáveis são necessárias para se demonstrar estatisticamente os grupos
com maior incidência do problema alvo; baseado nesse levantamento esses mesmos grupos
passam então a ser considerado como grupos de risco para Infecção de Cateter Duplo
Lúmen.
Os sujeitos da pesquisa são pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC),
submetidos ao tratamento hemodialítico por meio de Cateter Duplo Lúmen (CDL), sendo a
implantação do referido cateter no período estabelecido de 01 de Maio a 30 de outubro de
2008, ou seja, seis meses consecutivos. A seleção do grupo para estudo foi desde o
momento em que o cateter foi implantado até a sua remoção definitiva, havendo observação
rigorosa.
65
A população atendida no Instituto neste período foi de 52 pacientes, porém,
participaram da entrevista apenas 26, visto que para tal consideram-se somente os pacientes
que permaneciam em uso do CDL.
Ao final da seleção, quatro pacientes foram submetidos a outras modalidades de
terapia renal substitutiva, sendo que destes três passaram para FAV e 01 para CAPD, o que
não resulta em exclusão da amostra estatística uma vez que estava em uso do CDL no ato
da entrevista.
66
7 LEITURA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados ordinais obtidos foram analisados e condensados de forma univariada,
resultando em uma amostra parcialmente satisfatória para a conclusão da pesquisa.
Posteriormente, tais resultados foram organizados em gráficos (a seguir) demonstrando
seus respectivos percentuais e, procedendo então, a análise descritiva e comparativa em
relação à literatura vigente.
67
GRÁFICO 1 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Faixa Etária no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
Observa-se por meio do GRÁFICO 1 que as idades dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL variam de 18 a 80 anos, sendo que, 03 pacientes ou 11,50%
tem entre 18 e 40 anos; 10 pacientes ou 38,50% têm de 41 a 60 anos e 13 pacientes ou
50,00% tem de 61 a 80 anos.
De acordo com Bregman (2004) e Barros et.al (2006), o declínio da taxa de filtração
glomerular está intimamente relacionada a fatores não modificáveis (de evolução mais
rápida), como a idade avançada, sendo que esta é considerada um fator de risco para o
desenvolvimento da IRC. Confirmando esta afirmativa, a faixa etária mais atingida foi de
61 a 80 anos seguida pela faixa etária de 41 a 60 anos, totalizando 88,50% da população
estudada. Conclui-se então que a porcentagem da população idosa é bastante significativa.
68
Corroborando também com esses achados, Guyton e Hall (2002) reforçam dizendo
que a partir dos 40 anos ocorre uma diminuição do número de néfrons funcionantes,
levando o indivíduo à perda progressiva da função renal e dos glomérulos. Foi possível
ainda, observar que a faixa etária de 18 a 40 anos teve um menor percentual de indivíduos
acometidos. Esta menor proporção pode ter relação direta com o não conhecimento da
patologia ou com o não tratamento da IR quando em fase inicial.
Do ponto de vista da rede de Atenção Primária, é imprescindível que ocorra o
esclarecimento da população sobre o significado e a natureza assintomática e progressiva
da IRC e o controle de seus fatores de risco, pois são passos importantíssimos para a
prevenção e detecção precoce da patologia (BARROS et.al, 2006).
69
GRÁFICO 2 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Sexo no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de
Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
De acordo com o GRÁFICO 2, a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva por meio de CDL em relação ao sexo foi de 16 pacientes ou 61,50% do sexo
feminino e 10 pacientes ou 38,50% do sexo masculino. Marques, Pereira e Ribeiro (2005)
dizem que o sexo masculino é um fator de risco para o desenvolvimento da IRC.
Contraditoriamente a literatura, pode-se observar que a maioria dos pacientes em terapia
renal substitutiva por meio de CDL envolvidos no estudo são do sexo feminino.
Vale ressaltar que outras pesquisas, como a de Marques, Pereira e Ribeiro (2005) e
D`Ávila et al (1999), mostram que o percentual de mulheres está se equiparando ao valor
do percentual de homens, este aumento, provavelmente, é devido ao seu atual estilo de
vida, muito parecido com o do público masculino, uma vez que elas estão cada vez mais
inseridas no mercado de trabalho, com uma dupla jornada (trabalho e família), sendo este
um agravante para o comportamento de busca de saúde deficiente, deixando-as mais
expostas aos mesmos fatores de riscos que os homens.
70
GRÁFICO 3 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Atividade Laboral no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce
no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 3 demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva
através de CDL, de acordo com a Atividade Laboral, e identificou-se que, 19 pacientes ou
73,00% são aposentados, 05 pacientes ou 19,00% não são aposentados e 02 pacientes ou
8,00% trabalham.
Confirmando os achados, uma pesquisa realizada em Florianópolis sobre problemas
biopsicossociais em pacientes com IRC sob tratamento hemodialítico, constatou que os
problemas psicossociais mais evidentes foram diminuição da renda familiar, afastamento
do emprego, capacidade de trabalho e recreação alterada, entre outros (MASO, SILVA E
MARIGA, 2003).
Daugirdas, Blake e Ing (2003) afirmam que pacientes em diálise levam vidas
altamente anormais, dependentes de um procedimento, de uma equipe, além da exposição a
outros estresses. Além do alto custo da TRS alia-se como fator agravante a análise de que
estes portadores fazem parte da população que deveria estar produzindo e gerando renda
para o país.
71
GRÁFICO 4 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Escolaridade no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 4 demonstra a demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL, de acordo com a Escolaridade. Identificou-se que 11 pacientes
ou 42,00% não possuem nenhum grau de escolaridade; 08 pacientes ou 31,00% possuem o
ensino fundamental incompleto; 07 pacientes ou 27,00% possuem o ensino fundamental
completo.
Observou-se que 73,00% dos pacientes em tratamento não concluíram o ensino
fundamental ou não possuem grau de escolaridade. Sabe-se que a baixa escolaridade
interfere diretamente no processo de adoecimento, uma vez que eles têm mais dificuldade
de acesso à informação e a assistência à saúde. Ainda no quesito escolaridade é possível
observar também que nenhum dos pacientes em estudo atingiram o nível médio de ensino
bem como o ensino superior por conseguinte.
72
GRÁFICO 5 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Renda Familiar no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 5 demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva
através de CDL, de acordo com a Renda Familiar. Foi identificado que, 26 pacientes ou
100% recebem de 1 a 3 salários; nenhum paciente ou 0% correspondem aos itens de 3 a 5
ou mais de 5 salários. Nota-se, portanto, certa homogeneidade sócio-econômica do grupo
estudado, isto é, de forma unânime os pacientes hemodialíticos se enquadram na classe
média baixa. Rodrigues Neto (2001) em um estudo prospectivo da qualidade de vida de
pacientes em Hemodiálise em nove centros de diálise ma grande São Paulo, identificou que
a principal variável relacionada à qualidade de vida é o baixo nível sócio-econômico.
Assim sendo, pessoas com baixa renda possuem mais dificuldade de acesso aos
serviços de saúde. Doenças como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e
Glomerulonefrite que poderiam ser tratadas ou controladas agravam-se, levando-as a
procurarem o serviço de diálise já com grau avançado de IRC.
73
GRÁFICO 6 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Etiologia no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
De acordo com GRÁFICO 6 a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com a Etiologia foi de 22 pacientes ou 73,00% com
hipertensão arterial sistêmica, 05 pacientes ou 17,00% têm diabetes mellitus, 03 pacientes
ou 10,0% por outros e nenhum ou 0,0% glomerulonefrite. O perfil de distribuição de
etiologia da IRC em pacientes em diálise tem mudado nos últimos anos. A principal causa
conhecida de IRC em 1983 era a glomerulonefrite crônica (28%), mas segundo relatório
recente do Ministério da Saúde, relativo ao período de 1997 a 2000, a principal causa de
IRC passou a ser a hipertensão arterial (35,6%), seguida pelas glomerulonefrites crônicas
(WROCLAWSKI, 2002).
Observou-se que a etiologia mais diagnostica foi a hipertensão arterial sistêmica,
com 38% dos casos, seguida pelo número de causas indeterminadas que é bastante
significativa, pois uma das dificuldades em detectar a IRC deve-se ao fato do paciente
74
chegar neste estágio, tendo vários fatores de risco (multifatorial), sendo difícil seu
diagnóstico. Outra etiologia muito importante é o diabetes mellitus, pois algumas vezes o
paciente diabético com IRC é subdiagnosticado, uma vez que a maioria deles morre antes
de iniciar o tratamento ambulatorial ou a TRS.
75
GRÁFICO 7 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Modalidade Inicial no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce
no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 7 mostra a distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva
através de CDL de acordo com a Modalidade Inicial, 25 pacientes ou 96,00% iniciaram
utilizando-se de HD e 01 paciente ou 4,00% por meio de DPI.
Nota-se que a maioria dos pacientes estudados teve como método inicial de
tratamento a Hemodiálise, não tendo sido relatado paciente algum para as modalidades
CAPD e CCPD. Assim, conforme citado no capítulo IV e condizente com a pesquisa de
campo, na atualidade a hemodiálise se constitui no método dialítico amplamente adotado,
sendo realizado em 85% dos pacientes que se submetem ao tratamento dialítico no Brasil
(NORONHA et al, 1997).
76
GRÁFICO 8 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com as Instruções Recebidas em relação ao cuidado no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 8 demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva
através de CDL de acordo com as Instruções Recebidas em relação ao cuidado, 25
pacientes ou 96,00% receberam informações/instruções em relação ao cuidado com o CDL
e 01 paciente ou 4,00% não recebeu as devidas informações/instruções.
A interpretação do gráfico acima ilustrado possibilita ainda, a percepção de que
somente um paciente dos entrevistados relata não ter recebido ou ter sido instruído quanto
aos cuidados com o CDL.
Fermi (2003), ressalta que o paciente, ou algum familiar deve receber noções
básicas de assepsia e várias outras orientações.
Para Foster, Bennett e Dorothea (2000), o enfermeiro deve atuar orientando os
pacientes e/ou familiares quanto aos procedimentos do tipo manuseio no momento do
banho evitando que molhe, proteção do cateter ao dormir não alterando o posicionamento,
entre outros que normalmente são realizados em casa, por pessoas, a princípio,
“despreparadas”.
77
A proteção do acesso torna-se uma das prioridades do cuidador, prevenir
desenvolvendo conhecimentos em relação ao acesso vascular para junto da equipe
multidisciplinar é custo benefício primordial (FERMI, 2003).
78
GRÁFICO 9 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com a Dificuldade em Cuidar do CDL no Instituto de Nefrologia Vale
do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 9 demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva
através de CDL de acordo com a Dificuldade em cuidar do mesmo, 17 pacientes ou 65,00%
possuem dificuldade e 09 pacientes ou 35,00% não apresentam dificuldade.
Observa-se que o percentual de diferença entre as categorias analisadas é
consideravelmente alto, correspondendo a 30,00%, isto é, a cada 2 pacientes 1 possui
dificuldade. Presume-se que este fato ocorra devido à noção do paciente em relação ao
contexto bem como a destreza e o perfil comportamental dos pacientes estudados. A
presença de secreção na inserção pode ser causada pelo curativo inadequado, falta de
higiene local e falha na orientação ao cliente quanto aos cuidados com o cateter, dentre
outras causas (VIEIRA e LUCONI, 2005).
79
GRÁFICO 10 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Tipo de Dificuldade em Cuidar do CDL em no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 10, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o Tipo de Dificuldade em cuidar do mesmo, 16
pacientes ou 55,00% apresentam dificuldade no momento do banho; 11 pacientes ou 38%
dificuldade no momento de dormir e 02 pacientes ou 7,00% apresentam dificuldade em
mantê-lo fixo no pescoço.
Para as estatísticas supramencionadas, considerou-se mais de uma resposta por
paciente, sendo que há casos de contradição por parte de alguns quando de acordo com o
gráfico anterior mostrou não possuir dificuldade mas se enquadrou nos quesitos analisados
pelo atual gráfico.
Pode-se observar também que, as questões abordadas abrangem especificamente as
necessidades dos pacientes em terapia renal substitutiva por meio de CLD, tendo-se obtido
índice zero ou 0,0% para outra resposta. A presença de secreção na inserção pode ser
80
causada pelo curativo inadequado, falta de higiene local e falha na orientação ao cliente
quanto aos cuidados com o cateter, dentre outras causas (VIEIRA e LUCONI, 2005).
81
GRÁFICO 11 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com as Repassagens do CDL devido ao não funcionamento do mesmo
no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados aplicado aos pacientes em TRS através de CDL no INVRD.
O GRÁFICO 11, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com as Repassagens do CDL devido ao não
funcionamento do mesmo, 15 pacientes ou 58,00% repassaram o catete e 11 pacientes ou
42,00% não repassaram. Conclui-se, portanto que, há um alto percentual de repassagens
entre o grupo estudado devido ao não funcionamento do cateter.
82
GRÁFICO 12 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Tamanho do CDL implantado no Instituto de Nefrologia Vale
do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 12, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o Tamanho do CDL implantado, em 65
implantações ou 53,30% utilizou-se o cateter de número 20(20cm); em 28 implantações ou
22,90% utilizou-se o cateter de número 17,5(17,5cm); em 23 implantações ou 18,80%
utilizou-se o cateter de número 15(15cm) e 06 ou 5,0% das implantações não tiveram o
tamanho determinado no prontuário.
A escolha do tamanho do cateter se dá pelo profissional médico nefrologista
realizador da implantação, sendo que para tal leva-se em consideração a estrutura
anatômica, isto é, porte e estatura do paciente a ser implantado.
83
GRÁFICO 13 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Sítio de Punção no Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no
período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 13, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o Sítio de Punção, em 55 implantações ou
45,10% a via de escolha foi a Jugular D; em 30 implantações ou 24,60% via Jugular E; em
15 implantações ou 12,30% via Subclávia D; em 11 implantações ou 9,00% via Subclávia
E; em 04 implantações ou 3,30% via Femural E; em 02 implantações ou 1,60% via Femural
D e 05 ou 4,10% das implantações não tiveram o sítio de punção determinado no
prontuário.
De forma sincrônica para com os resultados obtidos por meio da atual pesquisa,
Riella (2003), afirma que a via de acesso preferida é a veia jugular interna direita pelo
menor incidência de estenose venosa do tronco braquiocefálico direito e pela maior
facilidade de acesso ao átrio direito, sendo a posição ideal de localização do cateter ao nível
84
da junção cava superior átrio direito, confirmado através de fluoroscopia na sala cirúrgica
ou por radiografia do tórax.
85
GRÁFICO 14 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Número de Pacientes e vezes implantadas no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 14, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o Número de Pacientes e vezes implantadas,
onde de 52 pacientes 28 ou 53,85% implantaram somente uma vez e 24 ou 46,15%
implantaram duas ou mais vezes.
O atual gráfico possibilita-nos observar que quase a metade dos pacientes
implantados foram submetidos à reimplante. Este fato pode ser atribuído a diversas causas,
tais como: hipofluxo, sinais flogísticos dentre outros.
86
GRÁFICO 15 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Número de Implantes e Reimplantes no Instituto de Nefrologia
Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 15, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o número Implantes e reimplantes, onde no
total de 122 implantações 94 ou 77,05% foram reimplantes e 28 ou 22,95% implante único.
A junção dos dados do gráfico anterior e deste permite compreender que de um
grupo de 52 pacientes 24 foram responsáveis por 94 de 122 implantações.
87
GRÁFICO 16 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva, de acordo
com o Número de Implantados e a Modalidade Atual no Instituto de Nefrologia Vale
do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
No que se refere à distribuição dos pacientes em diálise de acordo com o tipo de
modalidade, 28 pacientes ou 53, 84% fazem hemodiálise através de FAV, 23 pacientes ou
44,24% através de CDL e 01 paciente ou 1,92% realiza CAPD.
Existem no Brasil cerca de 67.000 pacientes em diálise, dos quais 90% estão em
hemodiálise. Com a queda da mortalidade e a tendência de ocorrer menos óbitos durante a
diálise nos próximos anos, somado a um número crescente de ingresso de hipertensos,
diabéticos e idosos que não serão transplantados por falta de órgãos, fará com que o número
de pacientes que fazem hemodiálise venha a crescer no Brasil como já ocorre em outros
países (VIEIRA e LUCONI, 2005).
Está associado a este elevado índice de preferência pela modalidade de HD o
gráfico da renda familiar (26 pacientes ou 100,00% dos pacientes recebem de 1 a 3
salários), pois uma vez que a modalidade de CAPD necessita de intervenções na estrutura
do domicilio e muitas vezes o paciente não tem instrução ou não tem um cuidador que o
faça. A unidade dialisadora é responsável ainda pelo resíduo de saúde que produz, tendo
88
como responsabilidade a distribuição do material para o tratamento e conseqüente sua
coleta.
89
GRÁFICO 17 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Motivo da Retirada no Instituto de Nefrologia Vale do Rio
Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
No que se refere a distribuição dos pacientes em diálise de acordo com o Motivo da
Retirada, do total das 122 implantações 19 ou 15,60% das retiradas de CDL deve-se a
hiplofuxo; 12 ou 9,80% a sinais flogísticos; 08 ou 6,60% perda de fístula; 03 ou 2,50%
hemorragia de óstio e 80 ou 65,50% das retiradas não tiveram causas descritas/definidas
nos prontuários.
Observa-se que a maioria das retiradas de CDL não tiveram suas respectivas causas
definidas e devidamente anotadas nos prontuários. Assim sendo, inferiormente ao
percentual de causas indefinidas, apenas 42 ou 34,50% das 122 ou 100% das implantações
foram anotadas de forma eficaz. Dentre as causas apontadas o motivo de maior prevalência
foi o hipofluxo, correspondendo a 19 ou 15,60% dos casos de retiradas.
É considerado como uma das complicações tardias de acesso para a hemodiálise por
meio de CDL a coagulação do cateter, que ocorre quando não são tomados os cuidados
necessários com a lavagem, com a heparinizaçao das vias ou quando o cateter não permite
90
um bom fluxo de sangue (FERMI, 2003). Importante atentar para as lavagens das vias do
cateter com soro fisiológico ao término das sessões de hemodiálise para remover qualquer
coágulo que possa ter-se formado.
91
GRÁFICO 18 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Tempo Médio de Permanência com cada Cateter no Instituto
de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
No que se refere à distribuição dos pacientes em diálise de acordo com o Tempo
Médio de Permanência com cada Cateter, é possível observar que o referido tempo varia de
04 a 51 dias.
A visualização do gráfico acima e sua conseqüente interpretação mostra-nos que o
paciente a que se atribuiu o número 01 (um) apresenta 51 dias como tempo médio de
permanência com o CDL sendo este o maior índice registrado entre os pacientes estudados.
Vale ressaltar que as médias analisadas são apenas dos pacientes entrevistados, visto
que para tal considerou-se apenas os pacientes em uso de CDL.
Alguns dos casos analisados não tiveram a retirada ou troca do CDL efetuada até o
fim da pesquisa (31 de Outubro), deste modo, atribui-se a média considerando a data da
implantação e o término da investigação.
Ainda de acordo com os dados contidos no gráfico, é possível obter uma média
geral do tempo de permanência, somatizando-se as médias dos pacientes e posteriormente
92
dividindo-se pelo número total dos mesmos. Através do presente raciocínio chegamos a
uma média geral de 26 dias ou 3 semanas e 5 dias.
Fermi (2003), o acesso venoso central para hemodiálise através de cateteres tem
caráter temporário sendo um método seguro para tratamento dialítico naqueles pacientes
que necessitam de início imediato.
Santos (2004), as indicações do acesso venoso para hemodiálise são por tempo
menor que três semanas, inseridos de forma per cutânea.
A incidência de infecção grave aumenta com o tempo de uso, com uma incidência
significativa de bacteremia associada ao uso por mais de 3 semanas (SCHWAB et al,
1988).
93
GRÁFICO 19 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com os Resultados dos exames de Hemocultura no Instituto de
Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 19, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com os Resultados dos exames de Hemocultura, do
total de 20 hemoculturas efetuadas no período de maio a outubro de 2008, 08 pacientes ou
40% dos exames apresentaram resultado negativo a microorganismos, 03 pacientes ou 15%
apresentaram em seus resultados Enterobacter sp, 02 pacientes ou 10% Staplylococcus
áureos e todas as demais espécies apontadas no gráfico apresentaram categoricamente 01
paciente ou 05% cada.
Conclui-se que, 12 pacientes ou 60% dos submetidos à hemocultura mostraram-se
infectados, porém, sabe-se que o exame de ponta de cateter de CDL é um exame específico
94
e, seria ideal que fosse realizada a cultura de ponta de cateter quando houvesse a presença
de sinais flogísticos no local de inserção.
Ainda Ribeiro (2008) elucida que, o agente etiológico Staphylococcus aureus é
residente da flora natural da pele, sendo um dos fatores primordiais de sua prevalência na
infecção da inserção do cateter.
95
GRÁFICO 20 – Distribuição dos pacientes em terapia renal substitutiva através de
CDL, de acordo com o Antibiótico apontado no exame de hemocultura aplicado no
Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce no período de Maio a Outubro de 2008.
Fonte: Prontuários do INVRD correspondentes ao período de Maio a Outubro de 2008.
O GRÁFICO 20, demonstra a distribuição dos pacientes em terapia renal
substitutiva através de CDL de acordo com o Antibiótico apontado no exame de
hemocultura, do total de 12 ou 100% das infecções, 04 ou 33,33% mostraram-se sensíveis a
Ciprofloxacina + Gentamicina, da mesma forma, 07 ou 58,34% a Gentamicina +
Vancomicina, e, por fim, 01 ou 8,33% não teve droga atribuída.
Observa-se que a maioria dos casos foram tratados com a associação de
Gentamicina e Vancomicina. Cruzando-se os dados anteriores aos atuais, nos é possível
afirmar que, apenas foram tratadas por meio da associação de Ciprofloxacina +
Gentamicina as infecções causadas pela Enterobacter sp e E. coli. E quanto ao caso de
droga não especificada trata-se de um negativo fermentador.
96
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou investigar o índice de incidência de infecção por cateter
duplo lúmen no período de maio a outubro de 2008. O estudo realizado com o
embasamento teórico-científico e com a pesquisa de campo no Instituto de Nefrologia Vale
do Rio Doce, em Governador Valadares.
Os cateteres temporários são usados em pacientes com IRC, retomando conceitos
elucidados por Riella (2003), que necessitam de hemodiálise por intoxicação, doença renal
que está em estágio terminal e pacientes que dispõem de acesso permanente disponível e a
necessidade da hemodiálise é urgente. Conforme visto com Romão Júnior (2008) estima-se
que em torno de 8% dos pacientes com IRC em tratamento hemodialítico no Brasil fazem
uso de CDL.
Dada a importância que possui esse procedimento, foi visto que cuidados e
manuseios no uso desse cateter requer muito atenção tanto da parte da equipe profissional
de saúde, quanto do paciente.
A partir desse ponto, percebeu-se a probabilidade da ocorrência de infecção nesse
setor hemodialítico, o que foi comprovado através da investigação e análise nesta pesquisa.
Portanto com o cruzamento dos dados da investigação, com a coleta de dados utilizada para
esse fim, observou-se que dos vinte exames de hemocultura (método laboratorial utilizado
pela Instituição investigada) possibilitaram deparar com o índice de microorganismo
presente e suas variações conforme exposto no gráfico de número 19.
A hemocultura demonstrou que dentre os casos analisados, houve 60% de pacientes
infectados o que demonstra a ocorrência de incidência da infecção no uso do CDL.
Contudo, ressalta-se que o exame de ponta de cateter de CDL é um exame específico e o
ideal, retomando nossa análise no gráfico 19, que fosse realizada a cultura de ponta de
cateter quando houvesse a presença de sinais flogísticos no local de inserção.
Em conclusão, espera-se que esta pesquisa possa de certa forma ter contribuído para
suscitar novas investigações quanto a monitorização e à avaliação do cateter duplo lúmen
melhorando cada vez mais a qualidade da assistência em pacientes hemodialíticos.
97
REFERÊNCIAS
______. Lei n.º 10.211, de 23 de março de 2001. Altera dispositivos da Lei n.º 9.434, de 4
de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e tratamento. Diário Oficial da União, Brasília, 24 mar.
2001. (Edição extra).
______. MS - Ministério da Saúde. Agência nacional de vigilância sanitária. ResoluçãoRDC nº 154, 15 de junho de 2004.
AJZEN, H.; SCHOR, N. Nefrologia. São Paulo: Manole, 2002. Angiologia e Cirurgia
Vascular, Porto Alegre: 1993.
AZEREDO, M.A. Atuação do enfermeiro no controle dos acessos vasculares no setor de
hemodiálise. Rio de Janeiro: USC, 2002. 24p.
BARROS, Alba Lucia Botura Leite de et al. Anamnese e exame físico: avaliação
diagnóstica de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 272 p.
BARROS, Elvino et al. Nefrologia: Rotinas, Diagnósticos e Tratamento. 2.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2002.
BARROS, Elvino et al. Nefrologia: Rotinas, Diagnósticos e Tratamento. Porto Alegre:
Artmed, 3.ed. 620p. 2006.
BIERNAT, João Carlos. Contaminação de lúmen de cateter de hemodiálise: prevenção
e tratamento. Ed.: M-EDTA, 2008.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Regulamento técnico
para o funcionamento dos Serviços de Diálise - Resolução-RDC nº 154, de 15 de junho
de 2004. Brasília; 2004.
BRASIL. Sistema Nacional de Transplantes. Lei Federal nº 9.434, de 4 de fevereiro de
1997. Disponível em URL: http://www.saude. gov.br/transplantes/legislacao.htm
98
BASILE-FILHO A et al. Sepse primária, relacionada ao cateter venoso central. Medicina,
Ribeirão Preto, 31: 363-368, jul./set. 1998.
BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N. (Ed.).Fisiologia. 4.ed.Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000. 1034 p.
BESARAB, A; Raja RM. Acesso vascular para hemodiálise. In: Daugirdas JT, Ing TS.
Manual de diálise. 3ª ed. Rio de Janeiro: Medsi; 2003.
BREGMAN, Raquel. Prevenção da Progressão da Doença Renal Crônica (DRC). - J
Bras Nefrol Volume XXVI - nº 3 - Supl. 1 - Agosto de 2004. Disponível em
<http://www.sbn.org.br/JBN/26-31/v26e3s1p011.pdf>. Acesso em 29 de Out. de 2007.
BONVENTO, Marcelo Vascular access and catheter associated blood-stream
infections. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2007, vol.19, n. 2.
BRUNNER & SUDDARTH.Tratado de Enfermagem médico-cirúrgico.10.ed. vol. 3.Rio
de Janeiro:Guanabara Koogan.2006
BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Censo da SBN Jan/2005. Available from: http://
www.sbn. org.br.
Centers for Disease Control and Prevtion. Staphylococcus aureos resistant to vancomycin –
United States, 2002. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.. 2002.
CESARINO, C. B.; CASAGRANDE, L. D. R. Paciente com insuficiência renal crônica
em tratamento hemodialítico: atividade educativa do enfermeiro. Rev. Latinoamericana Enfermagem, v. 6, n. 4, 1998.
CONSTANZO, Linda S. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2004. 464 p.
CUPPARI, L et al. Doenças renais. In: Cuppari L. Guias de medicina ambulatorial e
hospitalar UNIFESP/ Escola Paulista de Medicina - nutrição clínica no adulto. 1.ed. São
Paulo: Manole. 2002. p. 167-199.
99
DAUGIRDAS, John T.; BLAKE, Peter G.; ING, Tood S. Manual de Diálise. Rio de
Janeiro : Medsi. 3ª edição. 2003.
DAVIDSON, E. Perfil epidemiológico das infecções hospitalares no setor de
hemodiálise do Hospital Universitário Pedro Ernesto-HUPE-UERJ:Um estudo
direcionado para a prática profissional. Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, 1997.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
D`AVILA, Ronaldo; et al. Sobrevida de Pacientes Renais Crônicos em Diálise
Peritoneal e Hemodiálise. J. Brás. Nefrol; 21(1): 13-21, mar. 1999. Disponível em
<http://bases.bireme.br/cgi/wxislind.exe/iah/online/?sisScript=iah/iah.xis&src=google&bas
e=LILACS&Iang=p&nextAction=Ink&exprSearch=247787&indexSearch=ID>. Acesso
em 29de outubro de 2008.
ELLIS, J. R.; HARTLEY, C. L. Enfermagem contemporânea: desafios, questões e
tendências. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
FERMI, Marcia Regina Valente. Manual de diálise para enfermagem. Rio de Janeiro:
Médica e Científica, 2003. 140 p.
FERREIRA V, Andrade D. Cateter para hemodiálise: retrato de uma realidade.
Medicina (Ribeirão Preto) 2007; 40 940: 582-88, out./dez.
FERREIRA, M. V. F. Controle de infecção relacionada a cateter venoso central:
Revisão integrativa. 2007. 149 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de enfermagem de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007.
FERREIRA, Viviane; ANDRADE, Denise de. Infecção em pacientes com temporário
duplo-lúmen para hemodiálise. Revista Panamericana de Infectologia, v. 7, p. 16-21,
2005.
FOSTER, PC; BENNETT, AM; DOROTHEA E. Orem. In: George JB, Teorias de
enfermagem: os fundamentos à prática profissional. Porto Alegre (RS): Artes Médicas;
2000. p. 83-101.
100
FROEHNER JUNIOR, Ilário. Cateteres venosos centrais totalmente implantáveis para
quimioterapia em cem pacientes portadores de neoplasia maligna. Florianópolis. 2005. p.
74.
GAUTHIER, J; HIRATA M. A enfermeira como educadora. In: Santos I, Figueiredo
NMA, Duarte MJRS, Sobral VRS, Marinho AM. Enfermagem fundamental: realidade,
questões, soluções. São Paulo: Editora Atheneu; 2001.
GONÇALVES, Luiz Felipe. et al. Nefrologia – Rotinas, Diagnósticos e Tratamento. 3.
ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
GONZALEZ, R. O. L. et al. Costo beneficio en utilización de cateter mahurkar versus
fístula arteriovenosa. Ver. Enf. IMSS, v. 8, n. 2; 2000.
GOSHORN J. Tratamento de pacientes com distúrbios urinários e renais. In: Smeltzer
SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico – cirúrgica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 1086-134.
GUYTON, A. C. & Hall, J.E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 10.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
HUDAK, Carolyn, M., GALLO, Bárbara M. Cuidados Intensivos de Enfermagem: Uma
abordagem hólistica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1997.
LIMA, et al. Hemodiálise: Educando pacientes para o auto cuidado. Revista de
Enfermagem Atual. Vol. 1, nº 3, Maio/Junho. Rio de Janeiro, 2001.
MARQUES, Andreza B.; PEREIRA, Daiane C.; RIBEIRO, Rita C.H.M. Motivos e
Freqüência de Internação dos Pacientes com IRC em Tratamento Hemodialítico.
2005. Didponível em: <<http://cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/Vol-12-2/2.pdf>. Acesso
em 29 de outubro de 2008.
MARTINS, CM; RIELLA, MC. Nutrição e hemodiálise. In: Riella MC e Martins CM.
Nutrição e o rim. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001. p. 114-131.
101
MASO, Ivete Krauzer; SILVA, Olvani Martins; MARIGA, Tânia Inez. Percepções do
Cliente com Insuficiência Renal Crônica em Relação ao Momento da Hemodiálise.
Revista Técnico-científica de Enfermagem. Curitiba: Maio. v.1, n. 6. 2003.
MELLO, VDF et al. Papel da dieta como fator de risco e progressão da nefropatia
diabética. Arq Bras Endocrinol Metab. 2005;49(4):485-494. Disponível
em:http://www.scielo.br/scielo.php. Acessado em 20/08/2008.
MINAS GERAIS. Resolução SES N. º 0267, de 08 de outubro de 2003.
MONTANÃ, S.M.M., CRUZ, I.C.F. Produção científica de enfermagem sobre o controle
da infecção: Implicações para o enfermeiro de métodos dialíticos. Net, Rio de Janeiro, set.
2002. Disponível em: < http://www.uff.br>. Acesso em: 17 de julho de 2003.
Nassar GM, Ayus JC. Infectious complications of the hemodialysis Access. Kidney Int
2001.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro Guanabara Koogan,
c2007. 1854 p.
NORONHA, I. L. et al. Nephrology, dialysis and transplantation in Brazil. Nephrol. Dial.
Transplant, Oxford, n.12, p. 2234-43, nov., 1997.
OLIVEIRA, Adriana Cristina de. Infecções hospitalares: abordagem, prevenção e
controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 710 p.
PARIZI, R. R.; SILVA, N. M. Transplantes. In: COSTA, S. I. F. et al. (Org.). Iniciação à
bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2004.
PITTA, Guilherme, Vaz R, Vaz D. Fístula Artério-venosa retrógrada. XXIII Congresso
Brasileiro de Nefrologia. 2003.
RAMBAUSEK, M.H. Diálise peritoneal ambulatorial contínua. São Paulo 14 p. 1990.
102
RIELLA, M. C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 3.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
RIBEIRO, R. C. H. M.; OLIVEIRA, Graziela Allana Alves de; RIBEIRO, D. F.;
CESARINO, Claudia Bermardi; MARTINS, M. I.; OLIVEIRA, Sônia Aparecida da Cruz.
Levantamento sobre a Infecção do Cateter de Duplo Lúmen. Ata Paulista de
Enfermagem, v. 21, p. 216-216, 2008.
RODRIGUES NETO, João Felício. Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise: um
estudo prospectivo. São Paulo. 2001. Disponível em: <http://bases.bireme.br/cgibim/wxislind.exe/iah/bvsSP/?IsisScript=iah/iah.xis&nexAction=Ink&base=TESESSP&Ian
g=p&format=detailed.pft&indexSearch=ID&exprSearch=288758>. Acessado em 04 de
novembro de 2008.
ROMÃO JUNIOR, João Egídio. Doença Renal Crônica: Definição, Epidemiologia e
Classificação. 2004. Disponível em: <http://www.sbn.org.br/JBN/2631/v26e3s1p001.pdf>. Acesso em 08 de Setembro de 2008.
ROMÃO JÚNIOR,João Egídio.Doença Renal Crônica: Definição, Epidemiologia e
Classificação.2004
SANTOS, I; PACHECO, GS. Promovendo o autocuidado junto ao cliente com
insuficiência renal crônica. In: Lima EX, Santos SI. Atualização de enfermagem em
nefrologia. Rio de Janeiro: Editora Anna Nery; 2004. p.157-82.
SANTOS, Paulo Roberto. Relação do sexo e da idade com nível de qualidade de vida
em renais crônicos hemodialisados. Ver. Assoc. Med. Bras., vo.52, n.5, p.356-359, Ago.
2008.
Censo da SBN Jan/2005. Available from: http:// www.sbn. org.br/ (Assessed October,
2008).
SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth: tratado de
enfermagem médico-cirúrgica. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v.
SOUZA, R.R. Anatomia Humana. Barueri: Manole, 2004.
103
TOMITA, Rúbia Yuri. Atlas Visual Compacto do Corpo Humano. São Paulo: Ridel,
[sd], 222p. 1999.
TURRINI, R. N. T. Percepção das Enfermeiras sobre fatores de risco para a Infecção
Hospitalar. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 174- 184,
jun. 2000.
VERRINA, E. PERFUMO, F. Technical aspects of the peritoneal dialysis procedure. In:
WARADY, B. A. SCHAEFER, F. S., FINE, R. N. ALEXANDER, S. R. (Eds), Pediatrics
Dialysis. Kluwer Academic Publishers: Printed in Great Britain, 2004. Chapter 8, p. 113133.
VIEIRA, José Aluísio; LUCONI, Paulo. Terapia Renal Substitutiva: Estudo do
Financiamento de Diálise no Brasil. Brasília: ABCDT. 2005.
WALDOW, V. Cuidado humano. Porto Alegre (RS): Sagra Luzzatto; 1998.
Weijmer MC, van den Dorpel MA, Van de Vem PJ, ter Wee PM, van Geelen JÁ,
Groeneveld JO, et al. andomized, clinical trial comparison of trisodium citrate 30% and
heparin as catheter-locking soluction in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2004.
WROCLAWSKI, Eric Roger et.al. Reunião de Diretrizes Básicas e Consenso Brasileiro
de Transplante Renal da Sociedade Brasileira de Urologia. Campos do Jordão: Ipsis.
2002.
104
GLOSSÁRIO
Alça de Henle: É a parte do néfron, unidade fundamental do rim, que fica entre os túbulos
proximal e distal, e é dividido no mínimo em duas partes: descendente e ascendente.
Azotemia: Aumento da uréia plasmática.
Dialisato: Solução de diálise.
Disúria: São os sintomas miccionais, refere-se à dor ou a sensação de queimação durante a
micção, também chamada de ardência uretral miccional.
Embolismo Gasoso: Ocorre quando a pressão é reduzida rapidamente,daí os gases saem do
sangue causando dores nos membros e abdômen.
Endocardite: Inflamação da membrana que reveste internamente o coração.
Estenose: Estreitamento congênito ou adquirido de uma estrutura oca.
Estreptoquinase: Trombolítico.
Fluroscopia: Uma seqüência de várias imagens simples, como um filme.
Glicosúria: Termo que indica açúcar na urina.
Glomerulonefrite: É um tipo de insuficiência renal aguda intra-renal, habitualmente
causada por reação imune anormal que provoca lesão nos glomérulos.
Hematúria: Presença de sangue na urina que pode ser macroscópica ou microscópica, vista
a olho nu.
Hemólise: Destruição dos glóbulos vermelhos com liberação de hemoglobina.
Hipoalbuminemia: Diminuição de albumina no sangue
Iodopolvidine: Anti-séptico.
Lidocaína: Anestésico local.
Nefrolitíase: É definida pela eliminação de cálculo.
Néfrons: Pequeno corpúsculo encarregado da função urinária.
Nefropatia: Denominação genérica das doenças renais.
Nictúria: Micção freqüente á noite.
Noctúria/Nictúria: Representa a presença de micção noturna e maior freqüência à noite,
respectivamente.
Oligúria: Diminuição da quantidade de diurese (<400ml/24h).
105
Osteodistrofia Renal: Avaliação do metabolismo do cálcio e fósforo.
Osteomielite: Infecção dentro da cavidade do osso.
Pielonefrite: A lesão intersticial renal, que em geral, pode resultar de lesão vascular,
glomerular ou tubular que destrói nefróns individuais.
Polaciúria: Significa micções em intervalos anormalmente breves, ocasionada muitas
vezes por irritação ou inflamação da mucosa vesical.
Poliúria: aumento do volume urinário, diurese > 3000ml/24h
Proteinúria: Presença de proteína na urina.
Síndrome Nefrótica: É uma doença glomerular primária caracterizada por: aumento
acentuado de proteína na urina , diminuição de albumina no sangue.
Trombose Venosa Profunda: É uma doença causada pela formação de coágulos no
interior das veias.
Ultrafiltração: É um tratamento médico que remove o excesso de sal e água do corpo dos
pacientes que sofrem de sobrecarga de líquido.
Uremia: Ocorre quando os rins não são mais capazes de filtrar os produtos residuais do
sangue.
Uroquinase: Trombolítico.
Azotemia: Aumento da uréia plasmática.
Dialisato: Solução de diálise.
Embolismo Gasoso: Ocorre quando a pressão é reduzida rapidamente,daí os gases saem do
sangue causando dores nos membros e abdômen.
Endocardite: Inflamação da membrana que reveste internamente o coração.
Estenose: Estreitamento congênito ou adquirido de uma estrutura oca.
Estreptoquinase: Trombolítico.
Fluroscopia: Uma seqüência de várias imagens simples, como um filme.
Hemólise: Destruição dos glóbulos vermelhos com liberação de hemoglobina.
Iodopolvidine: Anti-séptico.
Lidocaína: Anestésico local.
Nictúria: Micção freqüente á noite.
Osteodistrofia Renal: Avaliação do metabolismo do cálcio e fósforo.
Osteomielite: Infecção dentro da cavidade do osso.
106
Trombose Venosa Profunda: É uma doença causada pela formação de coágulos no
interior das veias.
Ultrafiltração: É um tratamento médico que remove o excesso de sal e água do corpo dos
pacientes que sofrem de sobrecarga de líquido.
Uremia: Ocorre quando os rins não são mais capazes de filtrar os produtos residuais do
sangue.
Uroquinase: Trombolítico.
107
APÊNDICES
108
109
110
111
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1 – Identificação do Responsável pela execução da pesquisa:
Título:
Investigação da Incidência de Infecção de Cateter Duplo Lúmen em Pacientes do Instituto Nefrologia do Vale do Rio
Doce
Pesquisador Responsável:
Êrick da Silva Ramalho
Se TCC incluir nome do aluno(a) Participante:
Cláudia Diniz Amaral, Kenia Lopes Silvestre, Pierre Gomes Temponi, Valdeci Paulino Braga.
Contato com pesquisador responsável
Endereço: Av. Brasil, 3984, Apto 101, Centro / Governador Valadares - MG.
Telefone(s): (33) 3276-0257
Comitê de Ética em Pesquisa
Rua Israel Pinheiro, 2000 – Campus Universitário – Tel.: 3279 5575
2 – Informações ao participante ou responsável:
1) Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada Investigação da
Incidência Infecção de Cateter Duplo Lúmen em pacientes no Instituto de
Nefrologia do Vale do Rio Doce na área de Enfermagem;
2) A pesquisa terá como objetivo(s): Investigar a incidência de Infecção de Cateter
Duplo Lúmen em pacientes submetidos a tratamento hemodialítico no Instituto
de Nefrologia do Vale do Rio Doce no período de maio a outubro de 2008.
3) Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações que informam
sobre o procedimento.
3.1) Você esta sendo convidado a participar de uma pesquisa, se trata de um trabalho
de conclusão do curso de Enfermagem da UNIVALE; a pesquisa procura investigar,
se ocorre ou não infecção de cateter duplo lúmen em pacientes submetidos a
tratamento hemodialítico.
3.2) Necessitamos da sua participação, respondendo ao questionário sendo sincero (a)
nas suas resposta; será uma conversa rápida de aproximadamente 15 minutos, e será
feita no próprio hospital, durante ou após as sessões de hemodiálise.
4) Durante sua participação, você poderá recusar responder a qualquer pergunta ou
participar de qualquer procedimento
constrangimento.
que
por ventura lhe causar algum
112
5) Você poderá se recusar a participar da pesquisa ou poderá abandonar o procedimento
em qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo.
6) A sua participação na pesquisa será como voluntário, não recebendo nenhum privilégio,
seja ele de caráter financeiro ou de qualquer natureza. Entretanto, lhe serão garantidos
todos os cuidados necessários a sua participação de acordo com seus direitos
individuais e respeito ao seu bem-estar físico e psicológico.
7) Prevêem-se como benefícios da realização dessa pesquisa, conhecimentos adicionais
para a equipe do Setor de Hemodiálise do Instituto de Nefrologia do Vale do Rio
Doce.
8) Serão garantidos o sigilo e privacidade aos participantes, assegurando-lhes o direito de
omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-lo. Na
apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes.
9) Os resultados obtidos com a pesquisa serão apresentados como trabalho de conclusão
de curso à banca examinadora em novembro de 2008, em eventos como congressos,
seminários, em publicações científicas, ficará uma cópia disponível na Biblioteca da
UNIVALE no Campus II e uma no laboratório de biossegurança da UNIVALE.
Confirmo ter sido informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo. A minha
assinatura abaixo indica que concordo em participar desta pesquisa e por isso dou meu
livre consentimento.
Governador Valadares, _____de ______________de 2008.
Nome do participante:____________________________________________________
Assinatura do participante:_________________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável:______________________________________
113
ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DO TCC
1) Faixa Etária
( ) 18 a 40 anos
( ) 41 a 60 anos
( ) Mais de 61 anos
2) Sexo
( ) Feminino
( ) Masculino
3) Atividade Laboral
( ) Aposentado
( ) Não é aposentado
( ) Trabalha
4) Escolaridade
( ) Sem grau de escolaridade
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
5) Renda Familiar
( ) 1 a 3 salários
( ) 3 a 5 salários
( ) Mais de 5 salários
6) Etiologia
( ) HAS
( ) DM
7) Modalidade inicial
( ) HD
( ) CAPD
( ) DPI
( ) Glomerulonefrite
( ) Outras
114
8) Recebeu informações de como cuidar do CDL?
( ) Sim
( ) Não
9) Sente alguma dificuldade em cuidar do CDL?
( ) Sim ( ) Não
10) Qual a dificuldade em cuidar do CDL?
( ) No momento do banho, evitando que molhe.
( ) Em mantê-lo fixo ao pescoço.
( ) No momento de dormir.
( ) Outra resposta.
11) Já teve que repassar o CDL devido o mesmo não ter funcionado?
( ) Sim
( ) Não
12) Já ocorreu Infecção de CDL?
( ) Sim
( ) Não