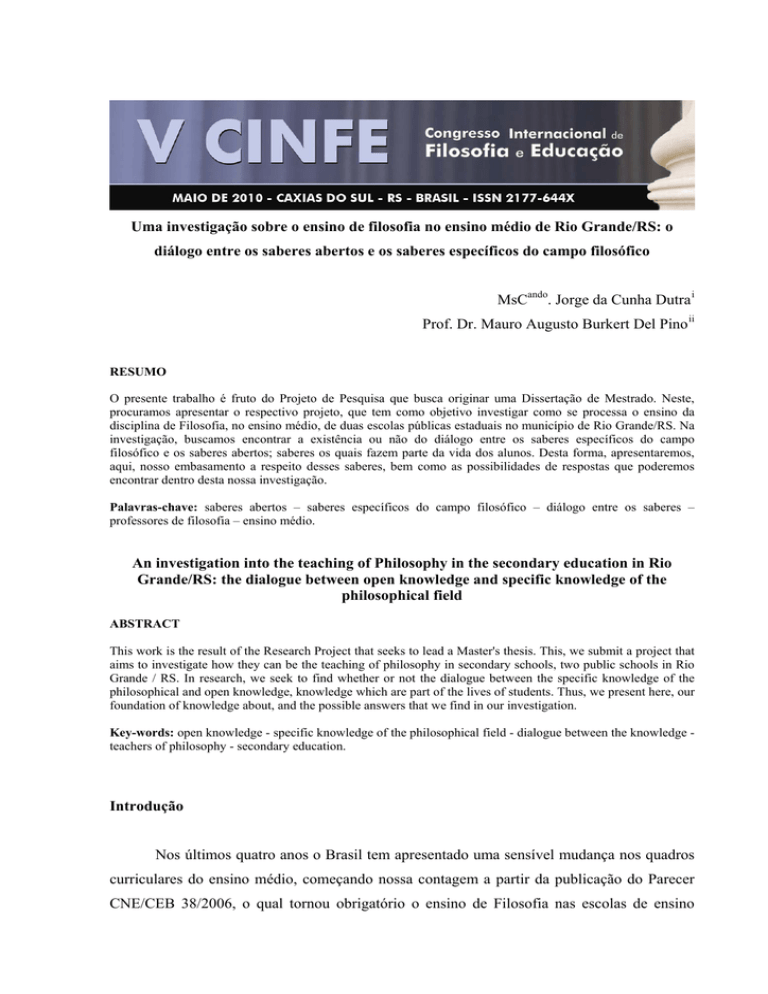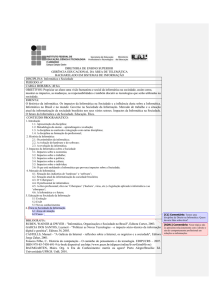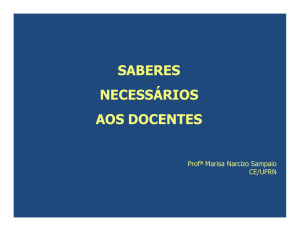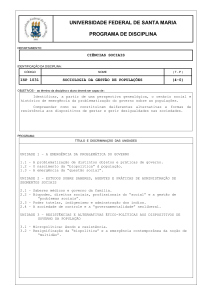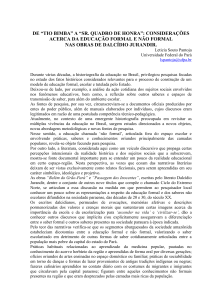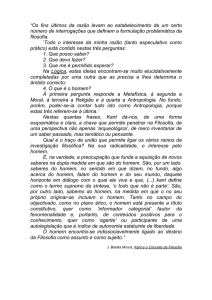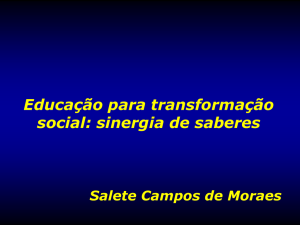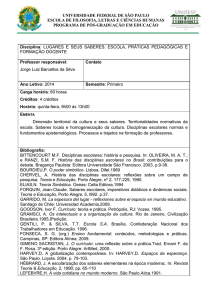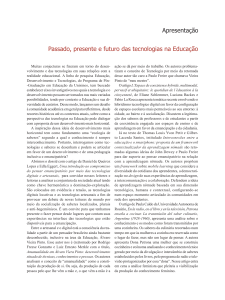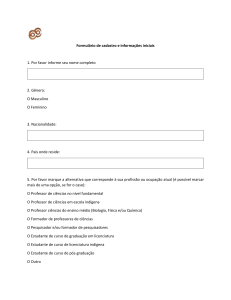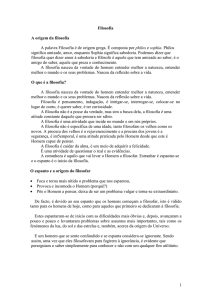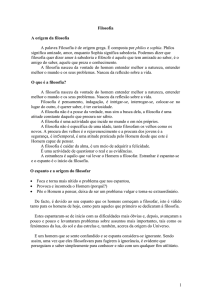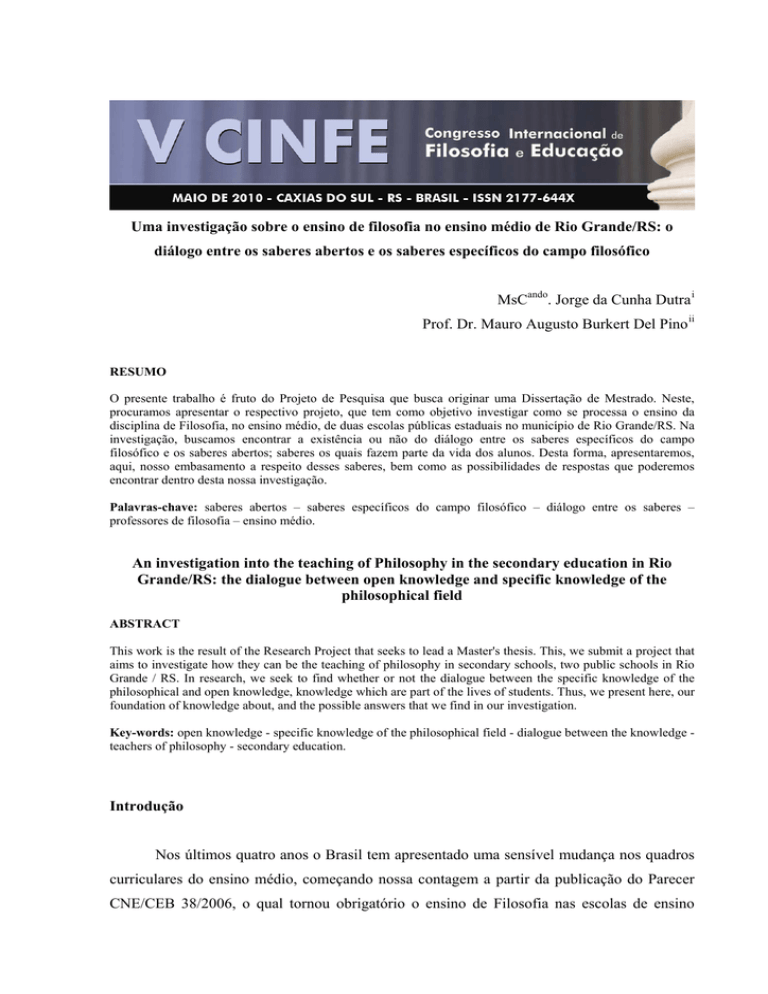
Uma investigação sobre o ensino de filosofia no ensino médio de Rio Grande/RS: o
diálogo entre os saberes abertos e os saberes específicos do campo filosófico
MsCando. Jorge da Cunha Dutra i
Prof. Dr. Mauro Augusto Burkert Del Pino ii
RESUMO
O presente trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa que busca originar uma Dissertação de Mestrado. Neste,
procuramos apresentar o respectivo projeto, que tem como objetivo investigar como se processa o ensino da
disciplina de Filosofia, no ensino médio, de duas escolas públicas estaduais no município de Rio Grande/RS. Na
investigação, buscamos encontrar a existência ou não do diálogo entre os saberes específicos do campo
filosófico e os saberes abertos; saberes os quais fazem parte da vida dos alunos. Desta forma, apresentaremos,
aqui, nosso embasamento a respeito desses saberes, bem como as possibilidades de respostas que poderemos
encontrar dentro desta nossa investigação.
Palavras-chave: saberes abertos – saberes específicos do campo filosófico – diálogo entre os saberes –
professores de filosofia – ensino médio.
An investigation into the teaching of Philosophy in the secondary education in Rio
Grande/RS: the dialogue between open knowledge and specific knowledge of the
philosophical field
ABSTRACT
This work is the result of the Research Project that seeks to lead a Master's thesis. This, we submit a project that
aims to investigate how they can be the teaching of philosophy in secondary schools, two public schools in Rio
Grande / RS. In research, we seek to find whether or not the dialogue between the specific knowledge of the
philosophical and open knowledge, knowledge which are part of the lives of students. Thus, we present here, our
foundation of knowledge about, and the possible answers that we find in our investigation.
Key-words: open knowledge - specific knowledge of the philosophical field - dialogue between the knowledge teachers of philosophy - secondary education.
Introdução
Nos últimos quatro anos o Brasil tem apresentado uma sensível mudança nos quadros
curriculares do ensino médio, começando nossa contagem a partir da publicação do Parecer
CNE/CEB 38/2006, o qual tornou obrigatório o ensino de Filosofia nas escolas de ensino
2
médio brasileiras. A disciplina escolar de Filosofia foi extinta dos quadros curriculares por
imposição da ditadura militar (ARANHA, 2001). O empenho pelo retorno da Filosofia ao
currículo escolar é antigo, desde a década de 80 do século passado (UNIVERSIA, 2006), e
veio fortemente se consolidando ao longo dos últimos anos. Segundo Íris Rodrigues,
professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
essa é uma luta nossa desde que terminou a ditadura. Começamos a batalhar pela
introdução da Filosofia no Ensino Médio e prosseguimos na luta para que houvesse
uma regulamentação. E essa norma, que é necessária, vem pela legislação
complementar que está saindo agora (UNIVERSIA, 2006).
Este processo de conquista começou a ganhar destaque legal no ano de 1997, quando o
então Deputado Federal Padre Roque (PT-PR) propôs o Projeto de Lei n° 3.178/97, que
visava modificar a LDB 1 9.394/96. O respectivo projeto teve como finalidade obrigar os
Estados brasileiros a incluírem em seus currículos a disciplina de Filosofia como disciplina
obrigatória no ensino médio (GALLINA, 2000).
Após este projeto ser aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, o então Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso vetou o projeto, no ano de 2001 (FAVERO et al,
2004). Somente cinco anos mais tarde, com o Parecer CNE/CEB 38/2006, é que começou
novamente a se efetivar a inclusão da disciplina de Filosofia; feito este que se tornou concreto
no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a entrada em vigor da Lei n° 11.684,
medida que tornou efetivamente obrigatório o ensino de Filosofia em todas as séries do ensino
médio, provocando uma nova redação na LDB 9.394/96 (SCHENINI, 2009). Atualmente,
com esta Lei em vigor, as escolas têm até o ano de 2011 para realizarem a inserção da
filosofia nas três séries do ensino médio (LORENZONI, 2009).
Observando este breve percurso histórico, em que se apresenta à reinserção da
Filosofia como disciplina obrigatória nas grades curriculares do ensino médio, tivemos como
intenção em nossa pesquisa, investigar duas escolas públicas estaduais do município de Rio
Grande/RS – sendo uma da região central e outra da região periférica da cidade. Nosso
objetivo é averiguar como são trabalhadas as aulas de Filosofia, das respectivas escolas, no
que diz respeito ao diálogo entre os saberes abertos e os saberes específicos do campo
filosófico.
1
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).
3
Pensamos este projeto, no sentido de que a abertura que o currículo de Filosofia
propicia às escolas lança um espaço para que o docente possa buscar a relação dos conteúdos
disciplinares com os saberes que se encontram presentes na vida dos próprios estudantes. Esta
abertura não significa apenas liberdade de trabalho pela ausência de diretrizes
oficiais obrigatórias, mas também, e sobretudo, a possibilidade de que os
professores, com todos os problemas enfrentados, e talvez em função mesmo desses
problemas, aproximem-se dos estudantes e consigam perspectivar o trabalho com a
filosofia de modo que superem resultados extremos e pouco expressivos, como o
mero exercício do confronto de opiniões, por um lado, e o mero estudo de
conteúdos, por outro (FAVERO et al, 2004, p. 274).
Para atingirmos nosso objetivo, procuraremos entrevistar os professores responsáveis
por esta disciplina, a fim de conhecer melhor como os mesmos desenvolvem as suas práticas
docentes. Esta entrevista (BOGDAN & BIKLEN, 1994; GOLDENBERG, 1997) nos
permitirá conhecer mais profundamente como se processa o ensino de filosofia, confirmando
se existe, ou não, o diálogo entre os saberes.
Defendemos que nosso trabalho tem relevância no que diz respeito ao eixo temático
“Educação, Epistemologia e Linguagem”, pois buscaremos investigar questões referentes à
construção do conhecimento na sala de aula, onde, professor e alunos terão a possibilidade de
realizar o exercício filósofo-epistemológico, na construção da disciplina de Filosofia.
Tendo concluído esta introdução, pretendemos apresentar este texto em três subseções.
O objetivo é abordar a questão dos saberes presentes no currículo e no processo de ensino
escolar. Nas subseções, falaremos, respectivamente, sobre os saberes docentes, os saberes
específicos do campo filosófico e os saberes abertos, clarificando a importância que cada um
destes apresenta no presente projeto. Por fim, apresentamos as considerações finais de nosso
trabalho, bem como os resultados esperados da pesquisa.
1. Abordagem sobre alguns dos saberes presentes no processo de ensino e no currículo
escolar
Começamos, agora, a abordar a questão dos saberes no processo de ensino e no
currículo escolar. Segundo Quero (2005), a utilização do termo saber é recente nas produções
científicas, observando que entre os anos de 1956 e 1961 não foi encontrado nenhum título de
artigo que utilizasse o termo “saber” em algum boletim científico internacional.
Em nosso trabalho interpretamos o termo “saber” como um conjunto de
conhecimentos necessários para o desempenho de alguma atividade, podendo referir-se tanto
a situações objetivas como situações subjetivas, tanto a situações teóricas, como a situações
4
práticas (MOTA et al, 2008). Acreditamos que o currículo das escolas deva levar em conta os
diversos tipos de saberes que podem existir neste ambiente. Neste sentido, vemos o currículo
escolar na perspectiva de Apple, onde deve-se buscar questionar sempre o “por quê” da
escolha de determinados tipos de conhecimento e não de outros. Para Apple
A questão não é saber qual conhecimento é verdadeiro, mas qual conhecimento é
considerado verdadeiro. A preocupação com as formas pelas quais certos
conhecimentos são considerados como legítimos, em detrimento de outros, visto
como ilegítimos (SILVA, 1999, p. 46) [grifo do autor].
Pensamos que os conteúdos escolares, vistos apenas como conteúdos a serem
transmitidos, devam ser questionados. Os docentes devem buscar saber o porquê de ensinar
tais conteúdos, qual o interesse real destes para a vida de seus educandos, entre outros
posicionamentos críticos que o pensamento de Apple (1997) nos ajuda a problematizar.
Retomando a questão do objeto de pesquisa, dentro dos diversos setores que compõem
a escola, iremos nos deter somente na sala de aula da disciplina de Filosofia. Ao observarmos
uma sala, reparamos dois tipos de sujeitos carregados de saberes específicos, ao mesmo tempo
em que apresentam-se permeados por um saber que os engloba por completo. Os sujeitos a
quem mencionamos, de um lado, é o professor (com seus saberes docentes) e, de outro, são os
alunos (com os saberes abertos). O saber global, a que nos referimos, é o saber filosófico.
Cada uma destas três categorias carrega consigo saberes que os constituem enquanto
tais. Buscando esclarecer a importância existente nestes três tipos de saberes presentes em
cada categoria, apresentamos três subseções, a fim de que possamos tornam mais claro o
porquê de nossa busca pelo encontro do diálogo entre os saberes abertos e os saberes
específicos do campo filosófico.
1.1. Os saberes presentes na docência
A primeira forma de saber que abordamos refere-se aos saberes docentes. Estes
saberes abarcam uma série de conhecimentos que se apresentam como sendo muito
importantes para a efetivação e o bom êxito do trabalho docente. Segundo Tardif (2005, p. 60)
o termo saber refere-se a “um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências,
as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes
chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser”.
De acordo com Gauthier et al (1998), os saberes que são considerados necessários ao
trabalho da docência são: saberes disciplinares; saberes curriculares; saberes das ciências da
5
educação; saberes experienciais; e saberes da ação pedagógica. Na medida em que estes
saberes são exercidos, vai se constituindo o exercício completo da docência, pois os
professores apresentarão consigo uma vasta gama de conhecimentos que os permitirão
trabalhar pedagogicamente na sala de aula. Tardif (2002, p. 36) define o saber docente “como
um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Por meio
destes, os professores se constroem enquanto profissionais do ofício de ensinar.
Levando em consideração a existência destes saberes, nosso trabalho deter-se-á
especificamente nos saberes curriculares da Filosofia, os quais aqui serão tratados como
saberes específicos do campo filosófico. Acreditamos que os docentes devam tomar posse dos
...saberes que podemos chamar de curriculares. Estes saberes correspondem aos
discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar
categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como
modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-se
concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos)
que os professores devem aprender a aplicar (TARDIF, 2002, p. 38).
Neste sentido, defendemos que os professores precisam ter um conhecimento rigoroso
de sua disciplina, de seu currículo, a fim de que compreendendo-o, possam desenvolver o
exercício epistemológico de sua matéria. Na educação escolar, uma disciplina não é ensinada
por si mesma, mas, de um modo específico, sofre significativas mudanças para se tornar um
programa de ensino (GAUTHIER et al, 1998). Desta forma, a Instituição “seleciona e
organiza certos saberes produzidos pelas ciências e os transforma num corpus que será
ensinado nos programas escolares” (GAUTHIER et al, 1998, p. 30). Assim, o docente, tendo
este programa em mãos, orienta seu trabalho na especificidade de seu estudo, valorizando os
trabalhos produzidos até então, a respeito de tal área.
Tendo este breve conhecimento sobre os saberes que os docentes necessitam dominar,
nas próximas subseções abordaremos os saberes que encontram-se presentes no processo
educacional e escolar de ensino-aprendizagem: os saberes específicos e os saberes abertos.
Começaremos o próximo tópico abordando o tema referente aos saberes específicos do campo
filosófico.
1.2. Os saberes específicos do campo filosófico e sua presença no currículo
Falar sobre a disciplina de Filosofia, no âmbito do ensino médio, requer levar em
consideração suas especificidades. Não se pode desenvolver um trabalho a respeito desta
6
disciplina sem considerar o que os filósofos e estudiosos da história da Filosofia construíram a
seu respeito. Segundo Nascimento (apud SILVEIRA, 2000, p. 142),
...não é possível fazer filosofia sem recorrer a sua própria história. Dizer que se pode
ensinar filosofia apenas pedindo que os alunos pensem e reflitam nos problemas que
os afligem ou que mais preocupam o homem moderno, sem oferecer-lhes a base
teórica para o aprofundamento e a compreensão de tais problemas e sem recorrer à
base histórica da reflexão em tais questões, é o mesmo que, numa aula de física,
pedir que os alunos descubram por si mesmos a fórmula da lei da gravidade sem
estudar física, esquecendo-se de todas as conquistas anteriores naquele campo,
esquecendo-se do esforço e do trabalho monumental de Newton.
Neste sentido, pensamos que a existência dos saberes específicos torna-se uma
presença inquestionável no currículo escolar da própria Filosofia, de forma que sem esta, a
disciplina será qualquer outra coisa, menos Filosofia. Fundamentando este posicionamento,
acreditamos que é necessário conhecer algumas das possibilidades de se trabalhar Filosofia,
levando em consideração suas especificidades. Para isto, Favero et al (2004) apresenta quatro
grandes modelos de estruturação do ensino de Filosofia no nível médio: o primeiro modelo
refere-se a Filosofia ser abordada por temas, onde predominam diversas temáticas, entre elas:
verdade, cultura, ideologia, condição humana, entre outras. O livro da professora Chauí
(2004) também apresenta sete unidades que podem fazer parte das temáticas, servindo como
uma valiosa fonte de consulta e estudo. O segundo refere-se ao trabalho por campos
filosóficos, de onde se prioriza questões sobre cultura geral, algumas fases da história da
Filosofia, ética, teoria do conhecimento, entre outros. O terceiro modelo refere-se ao trato da
Filosofia por seus problemas, de onde surgem debates a respeito do ser, do agir, da
metafísica, da ciência etc. O último modelo refere-se ao ensino por critérios cronológicos, o
qual dedica-se especialmente ao estudo da história da Filosofia.
Acrescentando ainda mais um modelo de estruturação do ensino de Filosofia, Gallo
(2004) defende o seu ensino como sendo um trabalho de criação de conceitos. Para esta linha
de pensamento,
É o conceito que permite à filosofia que seja dialógica: dialogamos, sim, mas a partir
de conceitos, ou o que dá no mesmo, com a Filosofia promovemos o diálogo dos
conceitos; assim como é o conceito que permite que ela produza uma crítica radial:
criticamos, mas criticamos a partir do conceito e pelo conceito (GALLO, 2004).
A criação de conceitos novos é o objeto da Filosofia. Para Deleuze & Guattari (1992),
este é o diferencial que torna o trabalho de filosofia algo especificamente filosófico.
Poderíamos até nos perguntar: “Que valeria um filósofo do qual se pudesse dizer: ele não
7
criou um conceito, ele não criou seus conceitos?” (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 14).
Tendo como suporte esta argumentação, temos presente mais um modelo que pode servir de
estrutura para o ensino de filosofia no nível médio.
Em defesa de um ensino dialógico, em busca da autonomia – sendo esta interpretada
“no sentido da formação de indivíduos que possam escolher por si mesmos em que mundo
querem viver” (GALLO & KOHAN, 2000, p. 195) –, acreditamos que o ensino de Filosofia
não pode basear-se somente nos conteúdos. O professor deve ir além da transmissão da
matéria; ele deve ser uma presença que estimule a reflexão crítica sobre os saberes, de modo
que sua prática consista
...em ajudar o aluno a aprender a filosofar, estimulando-o a exercitar a sua
capacidade cognitiva como um instrumento racional autônomo de investigação da
verdade. Sob pena de criar mentes servis, dependentes e tuteladas não devemos
ensinar pensamentos, mas podemos ativar o exercício do pensar (RAMOS, 2007, pp.
201-2).
Neste sentido, o exercício do pensamento sobre os conhecimentos filosóficos podem
nos possibilitar a compreensão dos demais tipos de conhecimento, atribuindo a estes, sentidos
significativos em nossas vidas (SEVERINO, 2003).
Tendo por base este raciocínio, defendemos o diálogo entre os saberes. Desta forma,
após clarificarmos o nosso entendimento sobre os saberes específicos do campo filosófico,
apresentaremos, na seguinte subseção, a importância da valorização dos saberes abertos.
1.3. A valorização dos saberes abertos no currículo escolar
Além dos saberes citados anteriormente, existem aqueles que não se encontram
presentes nos currículos escolares. A estes saberes chamamos de saberes abertos. Utilizamos
a definição deste conceito amparados em Arroyo (2008), que os define como capacidades
abertas. Decidimos chamá-los de saberes – e não de capacidades – por considerá-los como um
conjunto de conhecimentos que se apresentam, de diferentes formas, na vida social de
praticamente todos os seres humanos e que fazem parte de suas construções enquanto sujeitos
sociais presentes no mundo.
Citando exemplos desses saberes, podemos dizer que os mesmos referem-se
a
aprendizagem sobre: o convívio social, a cultura, a identidade, a ética, o trabalho, os direitos,
o caráter, a conduta, a consciência política, os conceitos, os preconceitos, a memória coletiva,
o cultivo do raciocínio, entre outros (ARROYO, 2008). No processo de descoberta desses
saberes, o docente, em diálogo com os alunos, poderá encontrar os diversos tipos de
8
conhecimentos que os mesmos trazem consigo e promover o ato de ensino-aprendizado
voltado à vida dos estudantes. A escola, o professor deve
não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os da [sic] classes
populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária –
mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a
razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos
(FREIRE, 2002, p. 33).
Defendemos que a escola deva levar em consideração os saberes que os alunos trazem,
não deixando que os mesmos fiquem somente “por conta das famílias, das igrejas, dos meios
de comunicação, por conta dos processos difusos de socialização” (ARROYO, 2008, p. 77). A
dificuldade de se trabalhar com os conteúdos abertos deriva do fato de que os docentes
assimilaram a idéia de serem apenas transmissores dos saberes elaborados pela comunidade
científica (TARDIF, 2005), abstendo-se, portanto, de trabalhar curricularmente os saberes
abertos, pois os mesmos não apresentam uma grande utilidade para o mercado.
Desta forma, consideramos de suma importância que o diálogo com esses saberes
encontrem-se presentes no currículo escolar, como fazendo parte deste. Pensamos isto, no
sentido de que com a valorização dos saberes abertos, constrói-se uma possibilidade de se
realizar um debate relacionando os conteúdos específicos com os conhecimentos presentes na
vida dos alunos.
Este diálogo busca trazer “mais vida” e menos tecnicismo ao ensino escolar.
Confirmando esta idéia, Gallo & Kohan (2000, p. 182) argumentam que a
...filosofia não pode ser ensinada no sentido de ser transmitida, pela mesma razão
pela qual ela não pode ser escrita, como diria Platão no Fedro (274c), porque ela
depende de uma atitude tão vivencial e ativa do sujeito que aquele que se situa como
suposto transmissor da filosofia se coloca num não-lugar filosófico. [grifo dos
autores]
Ao se trabalhar somente com a transmissão dos conteúdos, terminamos por romper
com a reflexão que o ensinamento filosófico pode proporcionar. Porém, a partir do momento
em que se “busca trabalhar com problemas propostos pelos alunos, este paradigma aproximase ainda mais de sua vivência cotidiana” (GALLO & KOHAN, 2000, p. 179). Os alunos
carregam consigo muitos aprendizados e é preciso que os professores trabalhem com estes
também, no exercício de sua docência.
Por aqui encerramos os esclarecimentos a respeito dos saberes. Tendo exercido esta
tarefa, nos deteremos, adiante, nas considerações finais do presente trabalho.
9
Considerações finais sobre a investigação
Diante do que foi exposto, acreditamos que nossa pesquisa contribui positivamente
para a investigação sobre o currículo escolar de Filosofia do ensino médio, tendo por base as
duas escolas envolvidas na pesquisa. Nesta busca pela existência, ou não, do diálogo entre os
saberes abertos e os específicos, supomos que iremos encontrar uma resposta afirmativa sobre
este ponto. Desta forma, procuraremos perceber se existe diferença entre a escola do centro e
a escola da periferia; se o diálogo entre os saberes influencia positiva ou negativamente o
interesse dos estudantes pela Filosofia; entre outros questionamentos que poderão surgir ao
longo da pesquisa.
A fim de realizar uma investigação que nos possibilite uma valiosa coleta de dados,
optamos por escolher a entrevista semi-estruturada (BOGDAN & BIKLEN, 1994) para
alcançar nossas respostas, por esta nos permitir manter certa organização do questionário, ao
mesmo tempo em que é possível adentrar em outras questões ao longo do processo
investigativo. Segundo Goldemberg (1997), a entrevista apresenta como vantagens uma maior
flexibilização das respostas; uma maior possibilidade de aprofundamento e debate sobre
assuntos complexos que possam surgir; e permite estabelecer uma relação de confiança e
amizade entre investigador e investigado.
Com isto, sabemos que o presente trabalho nos mostrará um pequeno recorte da
realidade das escolas estaduais do município, ao mesmo tempo em que nos permitirá um
maior aprofundamento sobre como se realiza esta relação entre o diálogo dos saberes. Tendo
estes dados em mãos – e confirmando-se a existência dialógica dos saberes –, poderemos ver
se é positiva ou não esta relação de diálogo e/ou realizar inúmeras análises, a fim de encontrar
uma melhor maneira de tornar o ensino de Filosofia uma disciplina interessante e importante
para a vida dos estudantes.
Referências Bibliográficas
APPLE, Michael W. Conhecimento oficial: a educação democrática numa era conservadora.
Petrópolis: Vozes, 1997.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2 ed. rev. e atual. São Paulo:
Moderna, 2001.
ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. 10 ed. Petrópolis: Vozes,
2008.
10
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma
introdução a teoria dos métodos. Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e
Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Lei n° 9.394/96. Brasília: MEC, 20 de dezembro de 1996. Disponível no site:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/LEIS/l9394.htm>. Acesso em: 05 ago. 2009.
______. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB N° 38/2006, Inclusão obrigatória das
disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. Relatores: César
Callegari,
Murílio
de
Avellar
Hingel
e
Adeum
Hilário
Sauer.
Processo
n°:
23001.000179/2005-11. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, aprovado
em 07 de julho de 2006. Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 14
de agosto de 2006.
CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2004.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? Tradução de Bento Prado Jr. e
Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
FAVERO, Altair Alberto et al. O Ensino da Filosofia no Brasil: um mapa das condições
atuais. Cadernos Cedes. Campinas, vol. 24, n. 64, p. 257-284, set./dez. 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Coleção
Leitura. 22 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
GALLINA, Simone Freitas da Silva. A disciplina de Filosofia e o ensino médio. In: GALLO,
Sílvio; KOHAN, Walter Omar (orgs.). Filosofia no Ensino Médio. Petrópolis: Vozes, 2000.
GALLO, Sílvio. A Filosofia no Ensino Médio. Carta na Escola. 20 ed. 11 out. 2007.
Disponível
no
site:
<http://www.cartanaescola.com.br/edicoes/20/a-filosofia-no-ensino-
medio/>. Acesso em: 23 out. 2009.
______. A função da filosofia na escola e seu caráter interdisciplinar. In: Revista SulAmericana de Filosofia e Educação. V. 2. 2004. Disponível no site: <http://vsites.unb.br/
Fe/tef/filoesco/resafe/numero002/textos/mesaredonda_silviogallo.htm>. Acesso em: 16 jan.
2010.
GALLO, Sílvio; KOHAN, Walter Omar. Crítica de alguns lugares-comuns ao se pensar a
Filosofia no ensino médio. In: ______ (orgs.). Filosofia no Ensino Médio. Petrópolis: Vozes,
2000.
GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre
o saber docente. Tradução de Francisco Pereira de Lima. Ijuí: UNIJUÍ, 1998.
11
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências
Sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997.
LORENZONI, Ionice. Filosofia e sociologia devem ser incluídas nas escolas até 2011. In:
BRASIL. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 27 mai 2009. Disponível no site: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13590:ensino-medio&
catid=211&Itemid=86>. Acesso em: 12 jan. 2010.
MOTA, Ednaceli Abreu Damasceno et al. Buscando possíveis sentidos de saber e
conhecimento na docência. Cadernos de Educação. | FAE/PPGE/UFPel | 30 ed. Pelotas: 109
– 134, janeiro/junho, 2008.
QUERO, Victor Díaz. Teoría emergente en la construcción del saber pedagógico. Revista
Iberoamericana de Educación. N. 37/03. Madri: OEI, 25 dez. 2005. Disponível no site:
<http://www.rieoei.org/1122.htm>. Acesso em: 24 nov. 2009.
RAMOS, Cesar Augusto. Aprender a Filosofar ou Aprender a Filosofia: Kant ou Hegel?
Trans/Form/Ação. São Paulo, 30(2), p. 197-217, 2007.
SCHENINI, Fátima. Filosofia e Sociologia no ensino médio. 20 fev. 2009. In: BRASIL.
Ministério da Educação. Disponível no site: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option
=com_content&task=view&id=12143>. Acesso em: 18 jan. 2010.
SEVERINO, Antônio. A importância da Filosofia na Formação das Crianças e Adolescentes.
In: EVANGELISTA, Francisco; GOMES, Paulo de Tarso (orgs.). Educar para o Pensar.
Campinas: Alínea, 2003.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
SILVEIRA, Renê José Trentin. Um sentido para o ensino de filosofia no nível médio. In:
GALLO, Sílvio; KOHAN, Walter Omar (orgs.). Filosofia no Ensino Médio. Petrópolis:
Vozes, 2000.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5 ed. Petrópolis: Vozes,
2005.
UNIVERSIA. Educação com visão crítica: MEC aprova obrigatoriedade da Sociologia e
Filosofia no Ensino Médio. 26 set. 2006. Disponível no site: <http://www.universia.com.br
/materia/materia.jsp?materia=12318>. Acesso em: 11 jun. 2008.
i
Jorge da Cunha Dutra é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da
UFPel. Possui graduação em Pedagogia pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (2002-2005) e
Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas (2006-2009). Atualmente é bolsista da CAPES e
atua como pesquisador na área referente ao currículo de Filosofia no Ensino Médio. Entre suas publicações,
destaca-se o artigo “FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: a construção de um currículo que busque o diálogo
12
entre os ‘saberes abertos’ e os ‘saberes específicos do campo filosófico’.”. Endereço eletrônico para contato:
[email protected].
ii
Mauro Augusto Burkert Del Pino é Diretor da Faculdade de Educação da UFPel. É Editor da Revista
"Cadernos de Educação" do PPGE/FaE/UFPel. É Professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas. Foi
Secretário Municipal de Educação de Pelotas-RS (2001-2004). É Doutor em Educação pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (2000) e Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1994). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Política de Formação Profissional, pesquisando
principalmente os seguintes temas: educação e trabalho, formação profissional, política educacional, exclusão
educacional e gestão educacional. Integra o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação da UFPel (PPGE). Entre suas publicações destaca-se o livro "Educação, Trabalho e Novas
Tecnologias: as transformações nos processos de trabalho e de valorização do capital". Endereço eletrônico para
contato: [email protected].