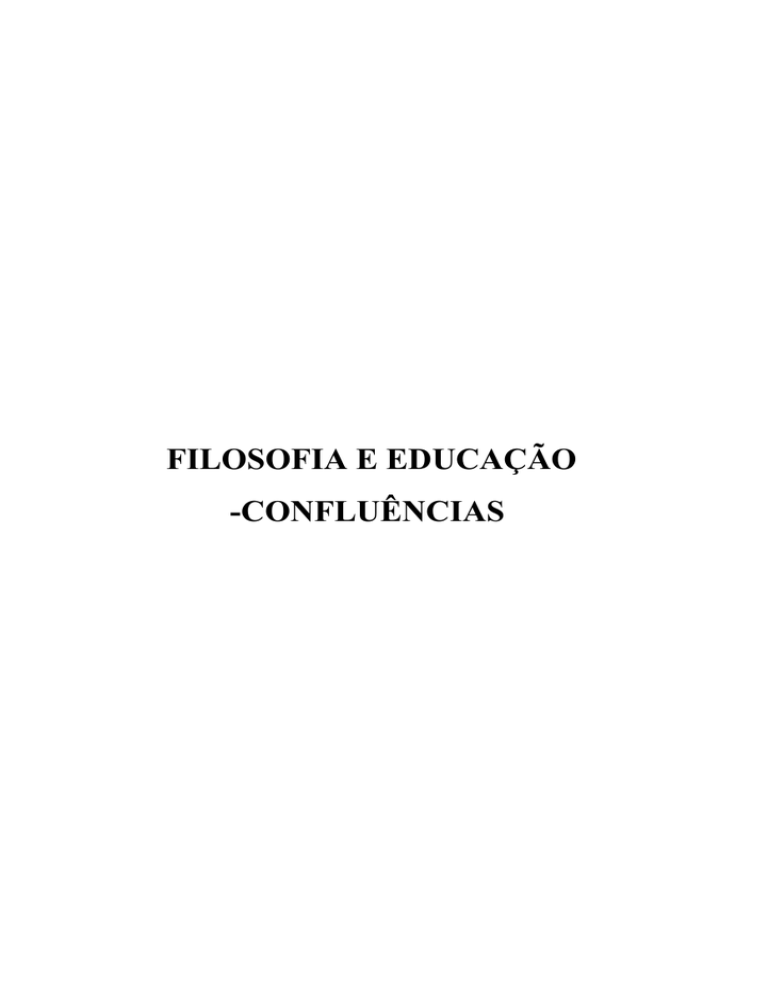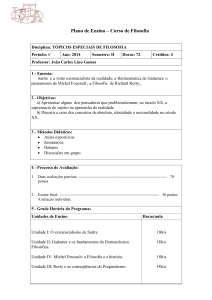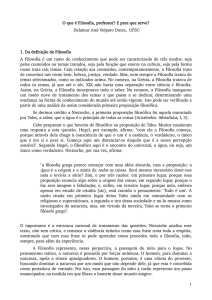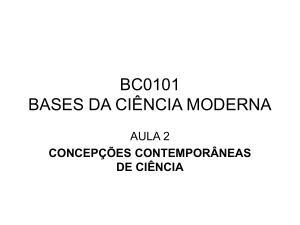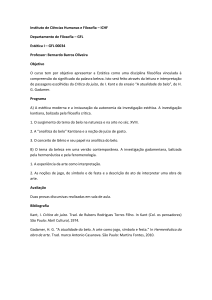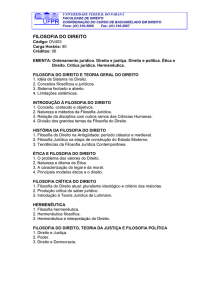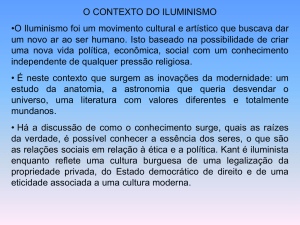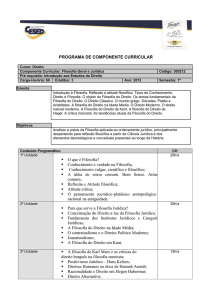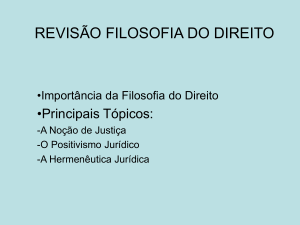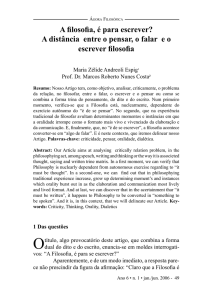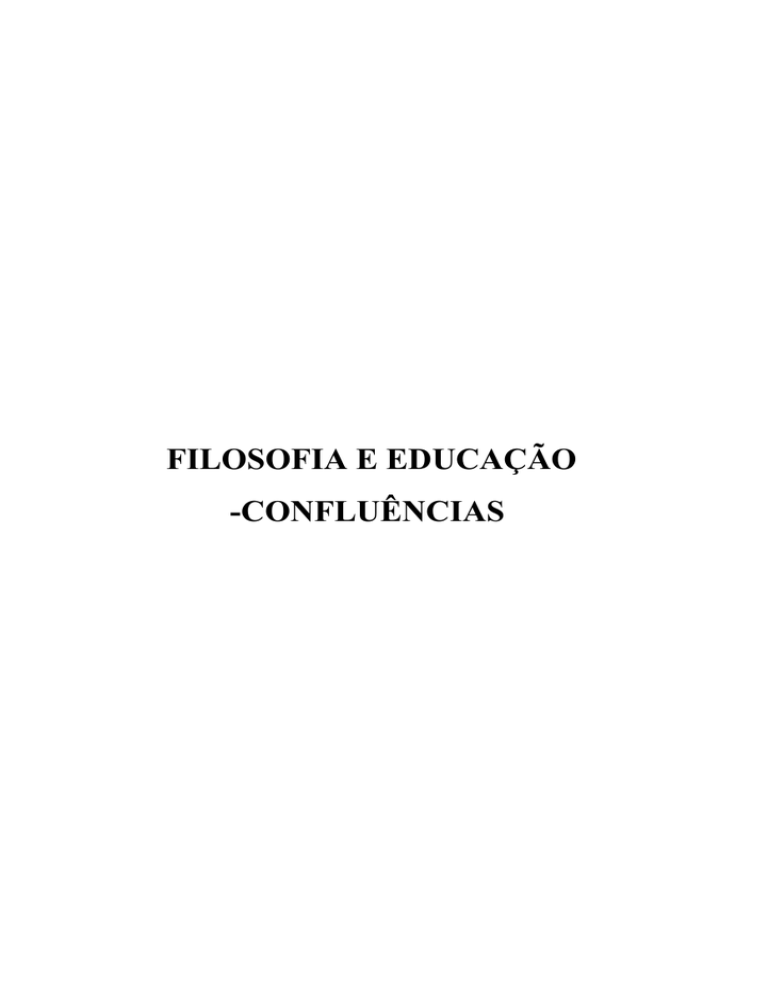
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO
-CONFLUÊNCIAS
Amarildo Luiz Trevisan
Noeli Dutra Rossatto
(Orgs.)
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO CONFLUÊNCIAS
__________________________________________________________
Filosofia e educação - confluências. Amarildo Luiz Trevisan;
Noeli Dutra Rossatto (Orgs.). Santa Maria, RS: Ed. FACOS/UFSM,
2004. p. 542.
ISBN 85 – 98031 – 11 - 9:
2. 3. 4.
__________________________________________________________
Ficha catalográfica elaborada por
Biblioteca Central da UFSM
2
“Pois elas [a filosofia pragmática e a filosofia hermenêutica] abandonam
o horizonte no qual se move a filosofia da consciência com seu modelo
do conhecimento baseado na percepção e na representação de objetos.
No lugar do sujeito solitário, que se volta para objetos e que, na reflexão
se toma a si mesmo por objeto, entra não somente a idéia de
conhecimento lingüisticamente mediatizado e relacionado com o agir,
mas também o nexo da prática e da comunicação quotidianas, no qual
estão inseridas as operações cognitivas que têm, desde a origem um
caráter intersubjetivo e ao mesmo tempo cooperativo”.
Jürgen Habermas
Consciência Moral e Agir Comunicativo
3
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
Amarildo Luiz Trevisan e Noeli Dutra Rossatto .................... 08
PRAGMATISMO E EDUCAÇÃO
A Prática do Pragmatismo: Aprender Vivendo, Viver Aprendendo
Floyd Merrell .......................................................................... 12
Pragmatismo, Filosofia e Verdade: Uma Introdução
Waldomiro José da Silva Filho ............................................... 48
ENSINO DE FILOSOFIA: NOVAS PROPOSTAS
Teoria dos Estágios da Argumentação
Frank Thomas Sautter ............................................................. 62
A Filosofia no Vestibular: Elitização do Ensino, ou, Democratização da
Filosofia?
Humberto Guido ..................................................................... 76
4
A Fala Docente e o Paradoxo do Ensino
Marcelo Fabri ......................................................................... 97
ENSINO DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS NO BRASIL
Sobre o Espaço da Filosofia no Currículo Escolar
Ronai Pires da Rocha ............................................................ 114
Ula – Um Diálogo Filosófico entre Adultos e Crianças
Sérgio Augusto Sardi ............................................................ 140
Prolegômenos ao Tema Ensino de Filosofia na Educação Fundamental
no Brasil
Leoni Padilha Henning ......................................................... 173
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE
FILOSOFIA
Formação Inicial do Professor de Filosofia: Algumas Considerações
Elisete Medianeira Tomazetti ............................................... 196
Formação do Professor de Filosofia e “as três metamorfoses” de
Nietzsche
Sílvio Gallo ........................................................................... 211
Formação de professores para o ensino de filosofia
José Pedro Boufleuer ............................................................ 226
CURRÍCULO E FILOSOFIA
Algumas Questões sobre Currículo e Filosofia
Henrique Garcia Sobreira ..................................................... 240
5
Currículo: uma Questão somente Técnica?
Roberto Luiz Machado ......................................................... 266
EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO
Entre Epistemologia e Hermenêutica - A Questão da Racionalidade e da
Historicidade do Conhecimento e o Debate sobre tese da
Complementaridade
Luiz Carlos Bombassaro ....................................................... 279
A Relação entre Epistemologia e Hermenêutica: uma análise a partir
da filosofia de Richard Rorty
Altair Fávero ......................................................................... 302
Filosofia e Educação: O ponto de vista neo-pragmático de Richard Rorty
Vitor Hugo Mendes .............................................................. 317
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO BÁSICA
Filosofia e Educação: Aprendendo uma Razão-Emoção CríticoReflexiva
Celso Henz ............................................................................ 340
Sobre o significado e o papel da pedagogia em Kant
Cláudio Almir Dalbosco ....................................................... 365
Filosofia e Educação Básica
Clovis R. J. Guterres ............................................................. 356
HERMENÊUTICA, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO
6
Hermenêutica, Linguagem e Educação
Nadja Hermann ..................................................................... 387
Pragmática do Saber: a Mudança de Paradigma na Educação
Amarildo Luiz Trevisan ....................................................... 403
Hermenêutica e Formação na Virada Lingüística
Noeli Dutra Rossatto ............................................................ 420
MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E FILOSOFIA
Ecologistas, antropófagos e outros bárbaros – uma contribuição
filosófica à educação
Valdo Hermes Barcelos ........................................................ 438
Formação de Professores, Educação Dialógico-Problematizadora e
Movimentos Sociais
Fábio da Purificação de Bastos ............................................. 468
ÉTICA E EDUCAÇÃO
A Ética Aristotélica das Virtudes e a Educação: complementaridade
entre o universalismo e o particularismo
Denis Coitinho Silveira ........................................................ 483
A Racionalidade Comunicativa e suas implicações na formação ética na
Educação
Luiz Cláudio Borin ............................................................... 523
Ética: uma Ação Comunicativa
Jerônimo José Brixner .......................................................... 532
7
Apresentação
O I Seminário Nacional de Filosofia e Educação –
Confluências, realizado entre os dias 13 e 16 de abril de 2004, nos
auditórios do Centro de Educação – CE e do Centro de Ciências Rurais
– CCR, da UFSM, reuniu um expressivo número de participantes para
debater diversas interfaces da relação entre Filosofia e Educação. As
inscrições para apresentação de trabalhos, em forma de comunicações e
oficinas pedagógicas, e para participantes, foram em grande número,
superando as expectativas mais otimistas, demonstrando o elevado grau
de interesse que despertou a temática do evento. O propósito do
seminário foi discutir as relações entre Filosofia e Educação na
perspectiva do debate crítico entre Filosofia Analítica e Pragmatismo, de
um lado, e Filosofia Continental, do ponto de vista da Hermenêutica
8
Filosófica e da Escola de Frankfurt, de outro. Em geral, os debates
pretenderam elucidar alguns problemas comuns que são observados no
processo de formação educativa e cultural, como: a busca de alternativas
para a crise dos fundamentos da educação, novos sentidos para a prática
pedagógica e a superação dos obstáculos enfrentados pelo ensino de
Filosofia nas escolas e universidades.
O encontro teve a pretensão de proporcionar o esclarecimento
de questões emergentes do contexto atual e suas implicações
pedagógicas, a partir da reflexão sobre algumas propostas filosóficas
que estão na base das discussões de grandes aportes teóricos do
pensamento contemporâneo, como Jürgen Habermas e Richard Rorty,
Donald Davidson e Hans-Georg Gadamer. Além disso, buscar uma
atualização e ressignificação das linguagens utilizadas no campo da
Educação e da Filosofia, de acordo com o desenvolvimento das novas
formas de pensar o conhecimento numa época marcada pelo pluralismo
de imagens, signos, símbolos e ícones da cultura do espetáculo. Assim,
o seminário procurou incentivar o entendimento crítico e a apropriação
do impacto de algumas propostas filosóficas recentes no saber
educacional, operacionalizando novas competências que poderiam
colaborar para a formação de uma cultura da sensibilidade, da
cientificidade e da solidariedade. Essa abertura permitiu repensar
algumas imagens dominantes na Filosofia contemporânea, incentivando
a criação de novos horizontes para reinterpretar as racionalidades
tomadas normalmente como idéias-força pelo campo educacional.
O evento contou com o apoio da Fundação e Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS, Fundação
Banco do Brasil, Direção do Centro de Educação e Gabinete do Reitor -
9
UFSM,
Grupo de Pesquisa Formação Cultural, Hermenêutica e
Educação (www.ufsm.br/filosofiaform), Programas de Pós-Graduação
em Educação e Filosofia - UFSM, Programa de Acesso ao Ensino
Superior – PEIES/UFSM, Programa de Pós-Graduação em Educação UFRGS, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões – URI – campus de Erechim, Santiago, Santo Ângelo e
Frederico Westphalen, Faculdade Palotina – FAPAS e
Editora
FACOS/UFSM.
A seguir, apresentamos os textos das palestras do evento que
resultaram na produção do livro. Na oportunidade, agradecemos a
contribuição valorosa e competente oferecida pelos palestrantes para o
esclarecimento das temáticas abordadas. Juntamente com os textos das
comunicações e oficinas pedagógicas já disponibilizados em forma de
CD-Rom, a reunião desses trabalhos dará uma idéia bastante
aproximada do que foi a experiência do seminário. Em última análise,
uma experiência acadêmica aberta, democrática e pluralista, com ênfase
na idéia de fazer Filosofia não como um saber sublime e distante dos
outros saberes, e sim, algo capaz de dialogar com as diferentes áreas do
conhecimento, debatendo, mas sempre respeitando e aprendendo com as
diferenças e semelhanças.
Prof. Dr. Amarildo Luiz Trevisan
Prof. Dr. Noeli Dutra Rossatto
10
Santa Maria, agosto de 2004.
PRAGMATISMO E EDUCAÇÃO
11
A PRÁTICA DO PRAGMATISMO:
APRENDER VIVENDO, VIVER APRENDENDO
Floyd Merrell∗
Na aprendizagem, a mente não é tudo
Esta é a premissa principal que guia as seguintes páginas: A
aprendizagem é uma questão de interdependência, inter-relacionalidade
e interatividade. É interdependência, porque cada passo pela estrada
pedagógica em direção ao conhecimento tem uma dependência com
todos os passos. É inter-relacionalidade, porque todo conhecimento tem
relação com os objetos do conhecimento, com o conhecimento das
múltiplas interpretações destes objetos, e com todos os signos através
dos quais o conhecimento é conhecimento. E a aprendizagem é
radicalmente interativa, porque qualquer mudança tem conseqüências
que afetam tudo. Deste modo, os passos da aprendizagem são como um
conjunto de jazz expressado em forma de uma dança sincopada.1
Professor da Universidade de Purdue/EUA e autor de vários livros, entre eles, A
semiótica de Peirce hoje. Salvador: Arcadia (no prelo), 2004 e Semiótica e vida
cotidiana. Salvador: Arcadia (no prelo), 2004. Endereço eletrônico: [email protected]
1
Desenvolvo com mais detalhes o tema da interdependência, a inter-relacionalidade e a
interatividade em Merrell (2000b, 2000c, 2002, 2003).
12
Esta premissa vai contra os modelos tradicionais da
experiência, a aprendizagem e o conhecimento do pensamento ocidental,
que consiste geralmente em reducionismo e dualismo. O reducionismo e
o dualismo têm expressão dentro de duas correntes filosóficas em luta
perpétua: empirismo e racionalismo. O empirismo é antes de mais nada
reducionistica; o racionalismo é sobretudo dualista. Os dois modelos
têm dificuldades que resultam num beco sem saída, porque não podem
abranger os fatos e os valores dos fatos ao mesmo tempo; também não
podem resolver os problemas da subjetividade e objetividade e o que
têm a ver com a experiência. Então, se o beco sem saída destes dois
modelos pode ter solução, parece que devemos resolver, pelo menos até
onde for possível, os problemas que eles revelam.
O problema principal do empirismo é que ele concebe a
experiência de maneira atomística e ignora a interdependência e a
interrelacionalidade de tudo que é possível, existente e necessário ou
provável. Não pode dar conta da realidade holística da experiência. Só
existem associações das sensações recebidas do mundo objetivo e o
sujeito tem a tarefa de coligir essas sensações numa construção
taxonômica que é geralmente pré-concebida. O problema é que este
processo explica a unidade de nossa experiência tomando como
premissa o fenômeno mesmo que presume explicar: a capacidade de
coligir as sensações de um modo habituado pressupõe o hábito que é
capaz de coligir as sensações de um modo costumado, que, por sua vez,
pressupõe o hábito de coligir as sensações de certo modo. O círculo é
vicioso, um impasse sem libertação.
O racionalismo dualístico, por outro lado, prioriza a mente,
quer dizer a intelectualidade, dentro do processo de interpretação das
13
sensações. Para o racionalismo, a aprendizagem e o conhecimento são
uma questão do funcionamento da mente, que tem o poder da
categorização dos objetos do mundo de um modo a priori e segundo
processos e estruturas pré-estabelecidas. O problema é que acaba dando
ênfase demais no rol da mente à interpretação, e exclui os fatores das
sensações recebidas. Então, as perguntas agora são: Como pode existir a
aprendizagem do que ainda não sabemos se a mente tem conhecimento
a priori? Se a mente não é ignorante, mas sabe dividir o mundo nas
categorias próprias, como é que pode errar? Como pode reconhecer os
erros? Como pode descobrir e aprender novidades que antes ficavam
fora do seu conhecimento para se dar conta de que os erros foram erros e
agora existem alternativas aos erros na forma de nova aprendizagem e
novo conhecimento possíveis? Temos mais outro círculo vicioso.
Outro problema que têm o empirismo e o racionalismo em
comum é a incapacidade de explicar o processo de abranger a
consciência da novidade, isto é, o processo da invenção de mundos
imaginários e o descobrimento de novas perspectivas e características do
mundo. Segundo o racionalismo, o poder da mente não é capaz de dar
conta suficientemente das suas próprias limitações: não existe uma
carestia de conhecimento. Segundo o empirismo, a mente parece nunca
irá carecer da capacidade de coligir as sensações que recebe num pacote
de generalidades para dar conta do mundo da experiência. Nos dois
casos faz falta uma certa dose de ignorância — a humildade de
reconhecer que nós somos pobres seres flutuando num mar de
ignorância — faz falta uma história adequada sobre o processo de
conhecer os nossos erros, e faz falta uma explicação do ato de inventar
ou descobrir novidades. Dito de outro modo, se a experiência fosse
14
produto exclusivo de atos mentais, e se a mente não reconhecesse
propriamente as suas limitações, então essa mente seria quase
incorrigível. Certamente algo fica fora da conta do empirismo e do
racionalismo. Precisamos de algo além da mente.
Em lugar de descrever a experiência desde fora, como se fosse
algo afastado do sujeito, eu sugiro que seria mais proveitoso se
tentássemos dar conta da experiência no ato mesmo em que estamos
experimentando os fenômenos da mente (interior) e nosso mundo
(exterior). O aspecto vital e comum da experiência humana é o processo
de perceber, conceber e aprender os fenômenos e, durante o processo, de
fazer o intento de sentir, e em algum nível da consciência de entender,
esse mesmo processo. Durante esse processo, nós dirigimos nossa
atenção aos fenômenos que achamos significativos e entendíveis. De
fato, podemos dizer que a natureza mesma da consciência consiste dessa
orientação ao redor da significação, ao processo de dar significado aos
fenômenos mentais (interiores) e os fenômenos percebidos e concebidos
do mundo (exteriores). A cada momento de nossa vida estamos no
processo de tirar significados do mundo, interiores ou exteriores, e
experimentamos nossa realidade em termos de esses significados.2
Sobre as debilidades da mente autônoma
Então, os objetos, acontecimentos, idéias e também outras
pessoas, são experimentados como ‘isto que experimentamos porque é o
que experimentamos’. Simples, certo? Somos autores da nossa
2
Sobre as inter-relações do interior e o exterior e o rol da criação do pensamento na
filosofia de Peirce, ver em conjunto as obras de Boler (1964), Dozoretz (1979), Fann
(1970) e Turley (1977).
15
experiência, e o que experimentamos é o que temos aqui dentro e aí fora.
Não? Não. Não é tão simples. Os objetos, acontecimentos, idéias, e
outras pessoas ficam sobrecarregados de significados, porque eles
mesmos são interdependentes, inter-relacionados e interativos, e nós
somos interdependentes, inter-relacionados e interativos com eles. Eles
não existem e nem são conhecidos e reconhecidos como átomos da
nossa experiência e nem como funções das nossas capacidades
intelectuais. Encontram-se em inter-relacão interdependente dentro do
mundo, que não consiste de ‘átomos’ de experiência no sentido
nominalístico do empirismo e racionalismo, senão que se encontram
dentro do fluxo em processo da totalidade interconectada e interativa.
Então não somos agentes autônomos; não somos simplesmente os
autores das nossas experiências.
Os objetos, acontecimentos, ideais e outras pessoas, e nós
mesmos, não estamos exclusivamente independentes de nossos mundos
interiores e exteriores nem estamos exclusivamente dependentes deles.
Um paradoxo? É. Mas é um paradoxo necessário. Sem a possibilidade
de perceber e conceber algo como se fosse uma entidade independente,
não poderíamos articular nossa percepção e concepção; não poderíamos
adquirir uma aprendizagem do nosso mundo. Ou melhor, não
poderíamos dar conta do mundo em termos de generalidades, e não
poderíamos nos dar a ilusão de que nossas generalidades são autosuficientes e completas. Mas não existe entidade nenhuma totalmente
independente. Tudo está interdependente com tudo o mais. Falando
dessa totalidade em termos gerais, inevitavelmente ela nos deixa num
mar de vaguezas, porque não podemos dar conta cabal dessa totalidade
sem entrar em contradições, inconsistências e paradoxos. Se nos damos
16
conta do mundo em termos gerais com respeito a entidades particulares
com toda confiança, caímos no marasmo das nossas limitações, de
vaguezas; se nos damos conta do mundo em termos da totalidade como
se essa totalidade fosse uma generalidade, nossa abordagem ficaria
eternamente incompleta.3
Parece que ficamos entre a espada e a parede. Dá uma sensação
incômoda. Por conseqüência, um refúgio lógico nos aprisiona desde o
empirismo e o racionalismo. Mas como fugimos daí? Então, como
podemos escapar dessa sensação de inconformidade?
Primeiridade
Segundidade
Terceiridade
FIGURA 1
Peirce, entre pólos opostos
3
Sobre a vaguidade e a generalidade no pensamento de Peirce, ver Brock (1979), EngelTiercelin (1992), Nadin (1982, 1983), Rescher and Brandom (1979), Rosenthal (1994,
2000) e Merrell (1997, 1998, 2000a).
17
Simplesmente dito, não podemos escapar. Isto é, não podemos
resolver o problema no sentido de escolher uma opção entre duas
opções, de dizer simplesmente ‘Sim’ ou ‘Não’ para entrar num caminho
‘verdadeiro’ ou ‘falso’. Isto é pensamento binário, dualístico. Charles
Sanders Peirce oferece outra possibilidade: pensamento triádico, e de
fato, radicalmente não-linear, de modo que entre cada par de opções
sempre existe outra opção..., e entre os pares de opções que ficam,
outras opções..., e outras..., e outras, sem fim.
Primeiridade
0
Segundidade
Terceiridade
FIGURA 2
Tem a ver com a concepção de Peirce das três categorias: Primeiridade,
Segundidade e Terceiridade (Figura 1).4 Como explicamos as
4
Para as categorias e o conceito do signo de Peirce, ver CP (2:227-390) e em geral
Almeder (1980) e Hookway (1985).
18
categorias? Bom, a resposta é, ao mesmo tempo, fácil demais, mas
talvez impossível demais. É fácil demais, porque é tão simples como o
ato de começar com o Zero e daí proceder a Um, Dois, Três. E acabou.
E é impossível demais, porque o Zero, de nenhum modo, é
simplesmente o ‘nada’, pelo menos no sentido comum do termo nas
línguas ocidentais como a ‘ausência de algo’ (Figura 2). O conceito de
Zero foi contribuição do Oriente ao Ocidente. Mas no Oriente tem outro
significado. Quer dizer o ‘nada’ no sentido comum de que não existe
coisa nenhuma e, além disso, quer dizer que existe, no ‘nada’, a
possibilidade da emergência, da criação de tudo que houve, que há e que
deverá haver no universo inteiro. Isso é uma complexidade tão
pantanosa que é impossível lhe dar uma explicação em palavras precisas
e sem ambigüidades e contradições. Então, como posso prosseguir?
Pela impossibilidade de possibilitar o impossível.
De qualquer maneira, vou tentar uma narrativa do Zero e das
categorias pelo seguinte caminho. Antes de tudo, há o ‘nada’ ou Zero.
Mas na matemática o Zero não é número. De modo semelhante, o ‘nada’
também não pode se contar entre as categorias de Peirce. Então parece
conveniente esquecer o ‘nada’ e Zero. Isto seria um passo gigantesco na
possibilitação do impossível. Ficamos só com os três números mais
simples da série infinita. De forma semelhante, e em termos das
categorias peirceanas, temos Primeiridade, Segundidade e Terceiridade.
Fácil demais? De novo, não. A vida está cheia de surpresas. É
sumamente difícil a questão das categorias, porque a Primeiridade é
apenas um; um, sem qualquer outra coisa. Como é isso? A Primeiridade
é o que é. É auto-contido, auto-reflexivo e auto-suficiente. Deste modo é
um, porque não entra em relação com mais nenhuma outra coisa e não
19
pressupõe a existência de outra coisa: só há um, Primeiridade. Se
pensamos na Primeiridade, já deixou de ser Primeiridade, porque agora
existe Primeiridade e alguém que está no ato de pensar nela. Então há
pelo menos duas entidades: o agente dos pensamentos e a categoria
Primeiridade. Se pronunciamos a palavra ‘Primeiridade’, então também
não é Primeiridade, porque agora há pelo menos três coisas, esta
Primeiridade que agora sumiu — sumiu porque não é mais
simplesmente o que é — alguém que pronunciou ‘Primeiridade’, e a
palavra mesma, ‘Primeiridade’.
Então há três entidades: Um, Dois, Três. A Primeiridade autocontida, auto-reflexiva e auto-suficiente; a Segundidade que consiste da
Primeiridade e um Outro (neste caso uma pessoa que fala
‘Primeiridade’); e a Terceiridade — esta palavra, ‘Terceiridade’. Mas
ainda não é tão simples. É tão complexo como o universo mesmo,
porque a Primeiridade incorpora a possibilidade de tudo que pode
existir, que existe e que poderá existir. Como é isso? Já escrevi que o
Zero é precisamente essa possibilidade de tudo. A diferença fica no fato
de que o Zero é a possibilidade pura. A Primeiridade, em contraste, é
algo: é o que é, ponto, sem nenhuma outra coisa. Isto quer dizer que é,
mas que não existe nenhum Outro. Não existe nenhum ‘eu’ ou qualquer
outra coisa à parte do que é — só é. Isto traz a implicação de que nem
‘eu’ nem ‘outra pessoa’ pode estar consciente desta Primeiridade,
porque se estamos em algum momento conscientes dela, então deixou de
ser Primeiridade.
Isto pode parecer absurdo. Se não podemos ter consciência
desta suposta Primeiridade, por que precisamos dela? Porque não
começamos pela Segundidade e, daí, passamos à Terceiridade, e a
20
história acabou? Porque ao contrário do Zero, que é possibilidade pura,
a Primeiridade tem ‘existência’, mas não tem existência para nós, isto é,
para nossa consciência. Por exemplo, vamos supor que você tem os
olhos fixos nesta página, e que há na parede, à direita, uma pequena
mancha preta que não consegue alcançar sua atenção. Os seus olhos
ficam focalizados nas marcas desta página mas não desviam o foco na
direção da mancha. Contudo, você, a sua atenção quase-consciente,
sente o preto que se destaca contra o fundo branco. Sente que há algo,
mas não alcança uma consciência até o ponto de reconhecer a mancha
pelo que é: uma mancha preta que ressalta desde um fundo branco.
Você só sente algo, sem distinguir este algo de qualquer outra coisa.
Não existe mancha separada da mancha percebida por você, nem existe
você como organismo que está plenamente consciente de algo separado
da sua consciência. Só existe a mancha, e além disso, um sentimento
vago e inconsciente de que há algo, sem distinção. Isto é a Primeiridade
da mancha. Isto pode parecer vago, mas de qualquer maneira vamos à
Segundidade, e talvez a natureza da Primeiridade fique um pouco
melhor esclarecida.
As categorias e a concepção do outro
Vamos supor que você levanta os olhos para fixá-los na
mancha. E reconhece que é uma mancha. Agora identificou o objeto,
que consiste em algo que está em contradição com esse algo, o fundo
desde o qual ressalta a mancha. Você fez uma distinção entre algo e
21
mais alguma outra coisa. Este algo é a Primeiridade — a mancha preta
— de que você antes não estava consciente, mas agora sim. Existem
duas coisas: isto e o Outro. Se isto é a Primeiridade, a Primeiridade em
união com o Outro é a Segundidade.
Mas o Outro, fora de todo contexto, como algo também autocontido, auto-reflexivo, e auto-suficiente, também é Primeiridade.
Quando os dois objetos — fundo branco e objeto preto ressaltado desde
o fundo — existem em união dentro da sua consciência, compõe a
Segundidade. Além disso, reconhecendo isto e o Outro como dois
objetos de Primeiridade, você toma consciência de que o objeto em
questão, a mancha, têm certas qualidades. É mais ou menos circular, tem
diâmetro de aproximadamente 20 centímetros e é preto. Você realizou,
então, três operações semióticas: (1) se deu conta de que havia algo
(Primeiridade), (2) estava consciente de esse algo em contraste com
algum Outro, e que pertencia à classe de objetos que têm como nome
‘manchas’— a identificação (Segundidade) e (3) reconheceu que esse
algo tem certas qualidades que compartilha com todos os objetos que
pertencem à classe de ‘manchas’. Esse reconhecimento de que algo tem
natureza geral, de que existe uma classe inteira de objetos com as
mesmas qualidades, marca a emergência da Terceiridade.
Em suma, as operações são: (1) algo, (2) algo que é
identificado dentro de certo sistema classificatório e (3) algo que
consiste de um conjunto particular de características. Em outras
palavras, (1) é a manifestação de que você tomou consciência de um
objeto que foi uma possibilidade; mas agora não é possibilidade porque
foi atualizado por você, (2) é uma indicação de que você reconhece o
objeto como este algo e não outra coisa e (3) este algo é precisamente
22
algo porque tem as qualidades gerais que pertencem a toda uma classe
de objetos. Primeiridade, Segundidade e Terceiridade. Simples e, ao
mesmo tempo, extremamente complicado.
Falando sério, qual é o rol do ‘0’ e o ‘Ø’?
Na Figura 3 temos um esquema das categorias, 0, Ø, e um
ponto dentro do signo de ‘raiz quadrada’. Indubitavelmente surgem as
perguntas: O que significam estes signos em relação às categorias? E a
aprendizagem?
Bom. Tudo começa do nada. Não quero dizer o nada em
sentido comum e corrente? Não. Quero dizer o ‘nada’, ou o ‘vazio’, no
sentido oriental, do Budismo. O ‘nada’ não é simplesmente nada. Não é
algo, mas também não é uma ausência total: contém, dentro de ele
mesmo, a possibilidade da emergência de tudo — este é mais ou menos
a idéia do ‘espaço’ dentro da teoria dos quanta da ciência ocidental.
Primeiridade
'Both + and -'
0
'Neither +
nor -'
'Either + or -'
Segundidade
Terceiridade
( )
FIGURA 3
23
O ‘conjunto vazio’, Ø, também não é simplesmente ‘nada’. E o
reconhecimento de que houve algo e agora não há, ou que nunca houve
nada, mas pode haver em algum momento no futuro. Quer dizer que o
‘nada’ não tem nada mais que isto, o ‘nada’; ao contrário, o ‘conjunto
vazio’ tem pelo menos mais alguma coisa, nós, com o reconhecimento
de que é um ‘conjunto vazio’. Não tem mais nada. Só estamos nós, com
a imaginação de que onde, no presente, não há nada, poderia ter havido
algo no passado ou poderá haver algo no futuro.
E o √•? Quando algo emerge no Ø e não tem emergido mais
outra coisa, então não temos mais que um binarismo simples. O Ø tem A
e não tem mais outra coisa, não tem não-A. Isto é tudo. É o equivalente
do número dentro do √ como ‘número imaginário’. O ‘número
imaginário, √-1, tem como solução a possibilidade de +1 ou -1. Mas
qual é? A resposta não pode ser +1, e não pode ser -1. Então não tem
resposta. Ou, podemos dizer que a resposta é +1 e -1 (‘Both + And –’),
ou que e é +1 ou -1 (‘Either + or –’), ou que não é nem +1 nem -1
(‘Neither + Nor –’). Na Figure 3 — onde uso os termos em Inglês para
ser mais específico —temos o começo da Primeiridade (+1), a
Segundidade (-1, o que +1 não é) e a Terceiridade. Que quer dizer o
nem +1 nem -1 da Terceiridade? Que a resposta de qualquer pergunta
pode ser que não é nenhuma das duas alternativas, mas alguma
alternativa que pode emergir em algum momento no futuro. E desde
onde vai emergir? Desde 0, Ø, √•, e o começo da Primeiridade e a
Segundidade. Isto é a idéia de processo.
Alem disto, a Terceiridade não tem valor. Quer dizer que não
tem nem o signo ‘+’ nem o signo ‘-’. É neutro. É o equivalente do ‘i’ (o
‘Ψ’ dentro do esquema triádico da Figura 3), que os matemáticos usam
24
no lugar de √-1. O símbolo i (ou Ψ) não tem valor; simplesmente é o
que é. Mais oferece a possibilidade da emergência de mais outra coisa,
de muitas outras coisas dentro do fluir do tempo.5
Como emergem as coisas do 0
Porque estou complicando as coisas tanto? É em parte porque
não posso simplesmente dar uma explicação concreta do ato criativo
durante o processo da aprendizagem. É também porque quero evitar o
reducionismo do empirismo e o dualismo mente/corpo e sujeito/objeto
do racionalismo. É porque a vida não é simples e ao mesmo tempo é tão
simples como um, dois, três. De qualquer maneiro, vou tentar dar conta
do modo em que as coisas emergem do ‘0’, do ‘nada’.
O físico dos quanta, John Archibald Wheeler, autor da famosa
tese dos ‘buracos negros’, dá um exemplo dos mais simples possíveis
para dar conta da complexidade do mundo, e além disso, para dar conta
do nosso papel como interdependentes de, e inter-relacionados e
interativos com nosso mundo. Wheeler quer dizer que não somos
simplesmente sujeitos dentro do mundo como objetos da nossa
contemplação. Somos co-participantes do grande drama da existência
como processo. Qual é esse exemplo de Wheeler?
Existe um jogo para a gente, depois de uma ceia agradável,
quando estão dentro da sala e com uma xícara de café na mão. Para
começar o jogo, uma pessoa sai da sala. As pessoas que ficam decidem
5
Devo mencionar que √-1 é classificado como um número ‘imaginário’; não tem
representação direta e concreta no mundo físico. Mais este número tem uso na teoria dos
quanta, a teoria da relatividade, na ciência da computação, e em muitos cálculos na
engenharia. Não existe dentro da realidade, mas é essencial para as descrições dela.
25
que o objeto do jogo vai ser algum objeto dentro da sala — uma cadeira,
um quadro, o piano, a luminária, etc. A pessoa ausente agora volta. E
começa fazendo perguntas sobre a natureza de esse objeto que foi
escolhido. Cada pergunta que faz é a possibilidade de que haja
adivinhado qual é esse objeto escolhido. E se não adivinhar bem, já sabe
que tem que ser outro objeto. No momento que adivinha, acaba o jogo, e
a pessoa que teve que admitir que o adivinhador adivinhou bem agora
tem que sair. E o jogo começa de novo (ou, se o adivinhador não
adivinhar qual é o objeto depois de fazer 20 perguntas, ele mesmo tem
que sair de novo).
Agora Wheeler conta que numa ocasião ele saiu da sala, e as
pessoas que ficaram presentes decidiram que não escolheriam nenhum
objeto. Wheeler mesmo teria que eliminar os objetos adivinhados depois
de cada pergunta que fez, um por um, até 20.
Figure 12 4
FIGURA
Möbius strip
Logo depois de fazer a pergunta 20, todos diriam: ‘Correto,
isto é!’. Wheeler mesmo, com a participação deles, e, além disso, com a
participação de todos os objetos da sala, colaboraram na emergência, na
criação do objeto do jogo. Isto é precisamente, escreve Wheeler, o nosso
26
rol como co-participantes com o universo físico. Somos coparticipantes com a auto-organização do universo. Somos uma parte do
nosso universo, e nossa percepção e concepção são co-existentes com
todas as características do universo mesmo. Quer dizer, o universo é coparticipante com a nossa criação como entidades infinitesimais deste
mesmo universo, e nós somos co-participantes com a totalidade do
universo.6
Então, de acordo com a Figura 3 o jogo de Wheeler das 20
perguntas começa do ‘nada’ (0), e daí temos possibilidades (Ø √•
Primeiridade), a maior parte delas erradas ( Segundidade), mas
sempre existe outras possibilidades, algumas um pouco mais prováveis
que outras ( Terceiridade). E continuamos, errando, de vez em quando
dando certo, e a cada passo aprendendo mais um pouco, dentro do jogo,
dentro do nosso universo.7
Um modelo do processo
Qual é a natureza do processo de co-participação? Exemplifico
o processo através do modelo topológico na Figura 4. É uma ‘Banda de
Möbius’. Consiste de uma banda de duas dimensões que é torcida e
conectada dentro de três dimensões. Uma banda de duas dimensões tem
um lado e outro lado. Porém, a Banda de Möbius não tem ‘lados’; só
tem ‘lado’. Dentro destas três dimensões que contêm a banda, não
6
Agora, sua teoria é complicada demais, e com minha experiência nas ciências e a
matemática — como professor nas escolas de segundo nível — eu alcanço entender um
pouco mais, não tudo. Mas acho que o exemplo que oferece é ótimo.
7
Eu gostaria de acreditar que de modo geral a teoria de Paulo Freire (1970) cabe dentro da
teoria de co-participação no sentido de que o mestre e o aluno colaboram na criação de
novidades para o aluno e no processo existe uma auto-conscientização de parte dele.
27
podemos dizer com certeza que parte da banda considerada como uma
banda de duas dimensões é de um lado e que parte é do outro lado. A
banda dentro de três dimensões é uma continuidade: não tem dois lados;
tem só um lado. Neste sentido a banda é como √-1, que tem a
representação neutra em i (ou Ψ na Figura 3). Dito de outra maneira, a
banda é como as categorias: Primeiridade (+1), Segundidade (-1), e
Terceiridade (i, a mediação entre +1 e -1 de modo que qualquer ponto na
banda não é nem de um lado nem de outro lado, porque não existem
‘lados’).
O ‘dobro’ da Banda de Möbius representa um aspecto da banda
em duas dimensões (‘este lado’) e ao mesmo tempo o outro aspecto da
banda (o ‘outro lado’). É como se Alice do País das Maravilhas pudesse
existir nos ‘dois lados’ do seu espelho simultaneamente. Existe um
mundo (0 Ø √• +1 [Primeiridade]) e seu mundo inverso (-1
[Segundidade]), e, além disso, existe o espelho (Ψ [Terceiridade]) que
une os dois mundos e dá a possibilidade de tudo que existe dentro de
estes dois mundos e tudo que pode emergir no futuro.
FIGURA 5
Agora, se
esmagamos a Banda de Möbius, ficamos com a Figura 5. É como se
28
transformássemos o objeto de três dimensões em só duas dimensões.
Mas não. A Figura não é exatamente de duas dimensões, porque existem
zonas de ‘sobreposição’. Quer dizer que o objeto tem de ser de duas
dimensões, e mais um pouco — uma dimensão ‘fractal’. Tudo bem. Mas
nós moramos num mundo de três dimensões de espaço e uma dimensão
de tempo. Então o modelo topológico de nosso mundo deve ser mais
complexo do que a representação na Figura 5. Deve ser como o
‘Triângulo de Penrose’—do físico Roger Penrose, que usa o exemplo
para ilustrar a complexidade do espaço do universo dos quanta (Figura
6). Agora, no ‘Triângulo de Penrose’ temos o equivalente da Figura 5
dentro dum mundo em quatro dimensões de espaço—que é comumente
o modo de ilustrar o universo da relatividade de três dimensões do
espaço e uma dimensão de tempo. Imediatamente nasce mais outra
pergunta: Tudo isto, que diabos pode ter a ver com a aprendizagem?
FIGURA 6
29
É o seguinte, sugiro. Em primeiro lugar, o modelo triádico do
signo peirceano é o modelo geral da sua filosofia. E este modelo
filosófico é, segundo Peirce, o modelo do universo e da própria vida.
Em segundo lugar, Peirce, o Peirce anti-cartesiano, o Peirce que resistia
a distinção entre corpo e mente e sujeito e objeto, é também um dos
autores mais profundos de uma filosofia do corpomente. Segundo esta
filosofia, a aprendizagem e o conhecimento não são simplesmente uma
questão própria da mente, da razão, do intelecto, da lógica clássica e
formal—que são fanaticamente dualísticas. A filosofia do corpomente
abrange interconexões de interdependência, inter-relacionalidade e
interação entre corpo e mente considerados como entidades distintas.
Mas não são entidades distintas. Ficam unificadas. São corpomente.
Quer dizer que há aprendizagem e conhecimento explícitos e tácitos que
misturam corpo e mente. Além disso, há língua e também linguagem
(língua mas todos os signos além de língua). Há concepção e também
sentimento-sensação (feeling). E há atenção focalizada ou focal
(consciente) e também atenção subsidiária (não-consciente) (Figura 7).
A filosofia do corpomente abrange muito mais do que uma filosofia
dualística.
30
Conhecimento
explícito
Concepção
b
Atenção
subsidiaria
a
c
Atenção
focal
Sentimento
-Sensação
(Feeling)
a =
b =
c =
Conhecimento
tácito
Interrelacionalidade
Interdependência
Interação
FIGURA 7
Um exemplo
Considere você o caso relativamente simples de dirigir um
carro. O aprendiz que quer ser motorista dentro das aulas tenta assimilar
as instruções verbais dadas a ele por seu professor, com um grande
número de exemplos visuais oferecidos. Mas tudo é dificílimo só com
signos verbais e visuais sem interdependência, inter-relacionalidade,
interação e co-participação com o mundo físico. Por isso ele permanece
excessivamente embaraçado a primeira vez que se encontra atrás do
volante. Ele deve se concentrar, só focalizando explícitamente e
intensivamente quase todos seus movimentos em série. A tarefa é
agonizante, e após muitas tentativas, ele acaba todo suado. Porém
depois de muita prática, sua destreza em dirigir gradualmente se torna
uma segunda natureza para ele. Ele aprende a colocar seus movimentos
31
‘em nacos’, aos poucos, em conjuntos maiores e maiores, até que,
finalmente, toda a atividade se torna mais ou menos subsidiária,
implícita e tácita — icônica seria outra maneira de dizer isto. Ele pode
agora dirigir quase ‘sem pensar’. Já não tem que ser consciente de suas
ações. Viraram hábito; são sedimentadas, automatizadas.
Uma vez que ele já não precisa mais estar consciente de muitos
de seus movimentos, os tem convenientemente embutidos como parte
de sua atividade de todos os dias, e compõe uma sinfonia contínua de
seu viver cotidiano. Enquanto dirige, ele pode agora se concentrar numa
conversação com um amigo a seu lado, as notícias no rádio, um jantar
de negócios que ele tem agendado com um cliente para esta noite, e
assim por diante. Poderia ser dito que ele está ‘dentro’ da sua direção do
carro. Seus movimentos viraram hábito, no sentido Perceiano (Boler
1964). Ele agora é capaz de levar a cabo seu ato de dirigir de um jeito
mais impensado, quase-mecânico; o hábito fica liberado da necessidade
de pensar a cada passo. Nas palavras de William James (1950 I:122):
“Quanto mais detalhes de nossa vida diária nós pudermos aprender pelo
caminho sem esforço da automação, tanto mais nossos mais altos
poderes mentais serão liberados para seu próprio trabalho.”
Dito de outra maneira, nosso motorista que já tem muita
experiência, ‘colocou em nacos’, aos poucos, signos individuais dentro
de conjuntos conglomerados de signos que foram tomados virtualmente
de maneira automática. Muitos signos se tornaram unidos dentro de um
signo como conjunto, e no processo signos que normalmente seriam
construídos como símbólicos ou indéxicos são postos paulatinamente
em termos de seu processamento. Quer dizer, ao invés de pensar
quando está dirigindo o carro, ‘Eu estou indo a x milhas por hora, então
32
eu deveria liberar a alimentação do combustível, pisar na embreagem, e
fazer um câmbio de velocidade’, isto é simplesmente feito. É feito pelo
corpomente; o corpomente aprendeu a fazer o que faz sem necessidade
da intervenção da mente; faz o que faz o corpomente em níveis de
conhecimento tácito em lugar de ser focalizado pela mente ativa; o
corpomente começa com sensações em lugar de concepções mentais.
Agora, para nosso motorista, os signos estão todos aqui e o
resultado desejado é trazido para a fruição, mas os signos não são
conscientemente e intencionalmente levados a seu fim cognitivo,
explícito, e bem-pensado pela mente. Pode-se dizer que os signos são
interpretados em termos de semelhança entre este contexto e numerosos
contextos comparáveis no passado pelo hábito do corpomente, como se
a relação fosse puramente icônica, ao invés de indexical e/ou
simbólica.8 Agora, para o corpomente na interatividade interdependente
e inter-relacionada, não há língua (simbolicidade) tomando lugar
explicitamente, nem existem quaisquer relações naturais de causa-efeito
(indexicalidade), mas meramente signos ‘colocados em nacos’ e uma
resposta em termos de relação de signos com um signo comparável
como ocorreu em numerosos momentos passados.
Nosso motorista pode, é claro, convenientemente ‘interromper’
sua atividade enquanto o diabo pisca o olho. Suponha que uma criança
8
Os três signos básicos de Peirce, ícones, índices e símbolos, têm inter-relação com as
categorias.
De maneira breve, pode-se dizer que um ícone possivelmente (de
Primeiridade) tem alguma qualidade que compartilha com algum objeto (por exemplo,
uma caricatura e a pessoa caricaturada), e se esta qualidade for inter-relacionada com o
objeto (como Segundidade), a iconicidade do signo ficaria estabelecida. Um índice tem
alguma relação existente (de Segundidade) com algum objeto (por exemplo, um
relâmpago e um trovão). E um símbolo tem alguma inter-relação com algum objeto
através de alguma convenção social (por exemplo, signos lingüísticos, lógicos ou
matemáticos) e por meio de algo ou alguém (o terceiro elemento, de Terceiridade, que
pode interpretar esse símbolo).
33
subitamente corre para a rua, passando em sua frente, surgida detrás de
um carro estacionado. Ele quase instantaneamente pisa no freio e
desvia-se para a direita. A criança afortunadamente escapa, mas ele bate
num carro estacionado. As ações iniciais do motorista foram, é claro,
impensadas. Depois do fato, contudo, quando ele foi interrogado pelo
policial de trânsito, ele pôde refletir sobre suas razões, no processo
dividindo-as
em
detalhes
e
peças
e
analisando
cada
peça
separadamente. Isto quer dizer, ele está agora propriamente ‘do lado de
fora’ de sua interatividade tácita, implícita, subsidiária e corpomental
de direção de carros. Como um par de jogadores de xadrez que podem,
em comum acordo, parar o jogo e mentalmente falar a respeito de suas
estratégias, ele pode agora saltar facilmente de um conjunto de signos
adequadamente categorizados para outro e conversar sobre os signos de
maneira explícita, focalizada e conceptual. Nosso motorista reverteu
agora o processo semiósico, pegando os conglomerados de signos que
ele se tornou acostumado a assimilar em conjunto e a interpretar de
maneira icônica, quebrando-os em suas partes constituintes, e
consciente e intencionalmente as interpretando em termos de seu caráter
como índices e símbolos, em acréscimo à sua natureza icônica.
Contra o dualismo
O químico e filósofo Michael Polanyi (1958) lutou por anos
com a idéia de que todos nós, desde o mais humilde espécime humano
atrás do volante de um carro até Einstein e um mestre do xadrez,
conduzimos os negócios do nosso viver cotidiano na presença de
basicamente dois diferentes tipos de consciência: focalizada e
subsidiária (Figura 7).
34
Se você agarra um martelo e prego para golpear na parede para
uma cerimônia de colocação-de-quadro, você começa por segurar o
prego em uma das mãos, tentando bater nele com o martelo seguro na
outra mão, e esperando evitar seu polegar. No processo, você presta
atenção tanto ao martelo quanto ao prego, mas não do mesmo jeito. Em
uma das mãos, você mantém contato visual com o efeito (indéxico) de
seus golpes no prego enquanto maneja seu martelo. Por um lado, você
não sente tanto o contato do instrumento com a palma de sua mão
quanto você sente que o martelo golpeou a cabeça do prego. Por outro
lado, você está alerta para o signo-sentimento (icônico) em sua palma,
seus dedos e polegar no prego e seus golpes, enquanto esforça-se para
coordenar suas ações.
Nos
termos
de
Polanyi,
você
está
subsidiariamente
(tacitamente, icônicamente) consciente do todo de sua atividade, o que
lhe dá um sentimento até certo ponto vago, em conjunção com o seu
contato visual focalmente (explicamente, indexicalmente) diretamente
conectado em direção à cabeça do prego (ver novamente a Figura 7). O
vago sentimento é agora visto não diretamente, mas indiretamente e
corpomentalmente. A atenção direcionada mentalmente é, em contraste,
bastante precisa. Em outra maneira de colocar a questão, você enfoca
com a mente sua atenção na cabeça do prego, mas ao mesmo tempo
você está subsidiariamente consciente do conjunto dos seus
movimentos através do corpomente. Sua consciência geral de ambos os
processos não é percebida diretamente, mas você tem confiança nisto
em relação a seus movimentos, culminando em bater no prego com seu
martelo. Você possui consciência subsidiária do todo do seu
movimento e a consciência focalizada de você atualmente está no
35
processo de cravar o prego na parede. Sua interatividade procede da
consciência
subsidiária
para
a
consciência
focalizada.
Neste
relacionamento de-para, o último é completamente consciente,
enquanto o anterior pode existir em vários graus de consciência.
Seu sentimento geral é o de um todo, tomado de maneira mais
automática, não-consciente, subsidiária e icônica. Sua atenção direta é
consciente, focalizada, e afinada para o signo-martelo descido com
força no signo-martelo. Se o signo-martelo está agora ligeiramente
encurvado, você ajusta a força e a direção de seu golpe com o signomartelo de forma a corrigir a entrada do signo-prego na parede, que é
um outro signo em relação contígua com o signo-prego e o signomartelo. Sua atenção focalizada compele você a ajustar seus
movimentos, assim como a coordená-los com seu sentimento
subsidiário pela atividade em geral. Você opera em níveis conscientes
(indéxicos e icônicos) assim como em níveis não-conscientes
(icônicos).
Signos simbólicos (lingüísticos) são processados basicamente
do mesmo jeito. Suponha que, enquanto pregava o prego na parede,
você ouviu uma voz no quarto ao lado e a mensagem: “Aqui está a
pizza que você pediu”. E você responde de acordo — mas,
infelizmente, não sem golpear seu polegar quando sua atenção voltou-se
em direção a um conjunto de signos totalmente diferentes. Você
percebeu subsidiariamente um conglomerado de sons, totalmente não
relacionados a seu objeto em termos de semelhança ou conexões
naturais, e você focalmente os ligou a seus “objetos semióticos” numa
maneira simbólica apropriada. A iconicidade está sempre lá: os sons
que você ouviu pareciam-se a sons passados na sua memória. E há a
36
indexicalidade: os sons, após terem progredido da atenção subsidiária
para a atenção focal, se ligaram a algum outro. Então, como um
resultado da palavra em seu polegar, você emite uma série profana de
signos dignos da admiração de qualquer carpinteiro respeitável.
E a aprendizagem? O conhecimento?
De novo a pergunta: Tem isso tudo algo a ver com a
aprendizagem e o conhecimento? Tem. A aprendizagem é processo,
nunca produto. É processo por meio da interdependência, interrelacionalidade e interação—para usar esse trio de termos já
acostumados. Isto é em geral a filosofia da educação de Alfred North
Whitehead (1957, ver também Gill, 1993).
Aprendizagem não é uma imagem metafórica como a de
arrumar as malas. Não é questão de encher o cérebro de fatos como se
jogássemos camisas, calças, calcinhas, e meias na mala, como se a
mente estivesse predisposta a organizar os fatos no sentido do
racionalismo dualístico. É um processo de co-participação (Carl Rogers
1983). Também não é a simples idéia de observar fatos objetivos como
se o sujeito fosse um observador neutro (a teoria do sujeito como
‘espectador’ [‘spectator theory’] segundo o termo de John Dewey
[1975]). Não. A aprendizagem é um processo de interação com o
mundo físico e com a comunidade dentro da qual se encontra o sujeito.
É a idéia de Dewey, e também de Peirce, de que a mente e o corpo, o
corpomente, é produto da evolução biológica, e por isso deve ser coparticipante de e com o mundo físico; deve ser de uma natureza
compatível com o mundo físico; deve estar em harmonia e em
37
coerência como o mundo físico (CP 2.754, 5.591, 6.604). O
corpomente e o mundo físico são interdependentes, inter-relacionados e
interativos. São como a metáfora de Ludwig Wittgenstein (1969) do rio
e seu leito, o leito desse rio. O rio mesmo não é a idéia do rio nem a
palavra ‘rio’ no sentido que é o que é, ontem, hoje e amanhã, uma
entidade fixa, ou fixada pela língua. O leito do rio e o rio mesmo são
co-participantes dum processo. O rio muda o leito e a forma do leito em
parte dirige o fluir do rio. É a mesma maneira entre corpo e mente como
co-participantes. Concebendo mente e corpo e as palavras ‘mente’ e
‘corpo’ como Primeiridade (+1) e Segundidade (-1) respectivamente,
então Terceiridade seria corpomente (i, Ψ). Corpomente, porém, não é
uma entidade estática. É dinâmica, cinética. A cinética existe dentro do
corpomente; então também é somática. Combinando os dois termos,
então teremos cinesomática.
A cinesomática como processo da vida é também processo da
comunicação. E como processo da comunicação, é processo de
aprendizagem. A abordagem, então, deve ser dialógica (Ponzio, 1990).
O processo dialógico estipula a aprendizagem e a aquisição do
conhecimento pela invenção e a re-invenção; isto é, a construção — de
uma filosofia construtivista (Goodman, 1978). Deste modo, o
conhecimento não é uma coisa obtida no passado e agora no presente
valorizada como objeto que é propriedade do sujeito — no sentido
dualístico. O conhecimento ‘acontece’. É um verbo, não um
nominativo, não algo de essência ou substância, não algo que o sujeito
adquire. Só ‘acontece’ (‘it just happens’). ‘Acontece’, porque como
verbo sempre está num processo de mudança. Muda mudando, como
verbo em perpétuo movimento. Deste modo, o sujeito dialoga com ele
38
mesmo (interior) e com o mundo e com os indivíduos da sua
comunidade (exterior). O sujeito fica interdependente, inter-relacionado
e interativo com ele mesmo, com o mundo e com a comunidade. É um
agente co-participante. Por isso o conhecimento implica a autoconscientização do sujeito (Freire, 1970).
As limitações
Mas esse conhecimento, como processo dialógico, sempre fica
sem terminar. Fica incompleto (subdeterminado) e/ou inconsistente,
contraditório ou paradoxal (sobre-determinado).9 Tudo sempre está
virando outra coisa diferente daquilo que foi. É como dança. A
dançarina e a dança são complementares. A dança precisa da dançarina
para que possa se desenvolver como dança, e a dançarina precisa da
dança para que consiga se desenvolver como dançarina. No ato da
performance, a dançarina e a dança não são duas; são uma — como
corpomente é um.
9
Para mais detalhe sobre a incompletudo, inconsistência, sobredeterminação a
subdeterminação ver Merrell (1997, 2002, 2003).
39
Primeiridade
Possibilidade
Inconsistência
('Both-And')
Sobredeterminação
Segundidade
Existência
Não-Contradição
('Either/Or')
Hiperdeterminação
Terceiridade
ProbabilidadeNecessidade
Incompletude
('Neither-Nor')
Subdeterminação
Figura 8
Esta união entre dançarina e dança, e entre corpo e mente, de
interdependência, inter-relacionalidade e interação implica também uma
‘visão perspectivista’. Mas não é o perspectivismo de Friedrich
Nietzsche; é de Nelson Goodman dos ‘Jeitos de Fazer Mundos’ (‘ways
of worldmaking’) (1978). Para Goodman, em primeiro lugar, o nosso
conhecimento do mundo é questão de uma perspectiva particular e
sentida através das sensações e o sentimento dentro do que eu
denomino corpomente é concebido e articulado através da língua. Em
segundo lugar, não existe só um mundo senão uma pluralidade de
40
mundos. Cada comunidade tem seu mundo — ou talvez mundos — e
entre uma comunidade e outra existem dois ou mais mundos. Nenhum
mundo particular é o que o Mundo Total, completo e coerente é, porque
não pode haver completude e consistência no nosso mundo, já que
somos finitos e falíveis—segundo Peirce (CP 1.151-53, 1.171-73,
5.587). E a coleção de todos os mundos que existem num momento no
tempo e no espaço compõe um mundo, mas não pode ser o mundo
completo e coerente. Qualquer coleção de mundos existentes e atuais
sempre fica incompleta, e se tem pretensões de completude, fica
inconsistente (Nadin 1982, Merrell 1987, 2000a). Os mundos em
conjunto sempre se encontram num processo de interdependência, interrelacionalidade e interação.
O toque pessoal do conhecimento
A aprendizagem e o conhecimento não são da esfera da
objetividade de acordo com as premissas tradicionais, cartesianas, do
ocidente. São de natureza pessoal, particular, individual. Então sempre
tem um forte toque de subjetividade.
Desta maneira são pós-objetivistas (Polanyi, 1958). Então
como é que não caímos dentro do ‘solipsismo’ de modo que não pode
haver comunicação entre nós? Já temos a resposta. Se o corpomente é
de processo natural igual a própria natureza, então existirá algo em
comum entre todos nós? Compartilhamos, entre nossas premissas,
predisposições, propensões, inclinações, e também até entre nossos
preconceitos, algum sentido do que nós somos, e do que são todas as
coisas orgânicas e inorgânicas do nosso mundo. Estou escrevendo de
41
processo, não produto, porque tudo que há sempre está num processo
de virar outra coisa do que é e do que foi. Nada fica estático; tudo
muda.
Quer dizer que a dança da aprendizagem e o conhecimento não
faz distinção bem marcada entre o sujeito da aprendizagem e o
conhecimento, e entre o objeto aprendido e o conhecido, entre sujeito e
objeto, e entre mestre e aluno. Isto testemunha as limitações do
empirismo reducionista e o racionalismo dualístico. Eles querem
descrever, explicar e ensinar os fenômenos como se existissem
objetivamente ‘fora’, e como se o sujeito que objetivamente aprende e
conhece esses fenômenos ficasse ‘dentro’. Mas não existe, propriamente
dito, ‘fora’ e ‘dentro’. É de novo o caso da Banda de Möbius da Figura
4. Onde quer que estivermos na banda — ou o mundo — sempre
estamos ‘dentro’. É como se fôssemos seres bidimensionais, de duas
dimensões, morando dentro da banda. Para nós, não haveria ‘fora’ e
‘dentro’; sempre estaríamos ali, ‘dentro’ da banda — dentro do nosso
mundo — e para nós, não poderia haver mais que um espaço de duas
dimensões e uma dimensão de tempo. (Ou, de outro jeito, é como se
fôssemos seres de três dimensões e morássemos dentro do ‘Triângulo de
Penrose’, da Figura 6, dentro de um espaço de três dimensões e uma
dimensão de tempo).
Seguindo a filosofia de José Ortega y Gasset (1964), somos nós
e as nossas circunstâncias, e não pode haver distinção absoluta entre nós
e as nossas circunstâncias, porque tudo está inter-relacionado,
interdependente e interativo. E, já que todos nós compartilhamos algo da
natureza mesma dentro de nós e entre nós e nosso mundo físico, nossa
aprendizagem e nosso conhecimento não podem ser completamente
42
afastados dos processos hermenêuticos, sobretudo à maneira de HansGeorg Gadamer (1975). Ou, melhor dito, é compatível com o processo
da ‘triangulação’ na ‘interpretação radical’ de Donald Davidson (1984).
Como os tripés das Figuras 1 a 3, duas pessoas em comunicação
ocupariam dois eixos e o objeto da comunicação ocuparia o terceiro
eixo. Mas não é simples questão de um triângulo, porque os três eixos
existem dentro de um sistema de interdependência, inter-relação e
interação. Quer dizer, o processo de interconexão entre os três lados do
‘triângulo’ é um ‘processo de integração’. E de onde começa essa
integração? Desde Zero, 0. O Zero engendra Ø e logo √, e valores
positivos e negativos, e daí tudo que há é engendrado.
Limitações, ou libertação?
Existem os objetos, atos e acontecimentos engendrados de
maneira tácita e os objetos, atos e acontecimentos explícitos, pelas
sensações e os sentimentos (feelings), e pela atenção conscientemente
focalizada e a atenção subsidiária, tudo segundo a Figura 7. E a Figura
7 em conjunção com a Figura 8 demonstra que do possível, passamos
pelo engendramento — quer dizer, invenção, construção — à existência
dos objetos, atos e acontecimentos do nosso mundo. Daí, pelas
premissas, predisposições, propensões, inclinações, e também os
preconceitos, temos a probabilidade e a necessidade de interpretar o
mundo segundo os costumes habituados. Da sobredeterminação e a
inconsistência (onde pode haver ‘Both-And’), passamos aos objetos,
atos e acontecimentos que são para nós a
existência e a
hiperdeterminação (por isso imperam as exigências de ‘Neither-Nor’) e
finalmente ficamos mais ou menos confortáveis dentro dos processos da
43
probabilidade-necessidade, que não pode menos que ficar incompleto e
subdeterminado (e entram as possibilidades de ‘Neither-Nor’).
Neste processo, não há exclusivamente nem subjetividade nem
objetividade, nem atenção focalizada nem atenção subsidiária, nem
conhecimento explícito nem conhecimento tácito, nem concepção nem
sensação-sentimento.
Não há mais que o fluxo, a efervescência, a
ebulição, a ondulação, a rítmica dança, da semiose (Figura 9).
A
semiose não é algo fixo; não é produto de mentes racionalísticamente
mecanizantes. É processo que acontece, entre nós e o nosso mundo que
inventamos e construímos. É o nosso mundo particular, engendrado
entre todos os mundos possíveis.
Sujetividade
Mente
Interdependência
Interatividade
Objetividade
Corpo
Segundidade
Interrelacionalidade
Idealismo ObjetivoRelativismo Sujetivo
Constructivismo
'CorpoMente'
Figura 9
44
Bibliografia
ALMEDER, Robert. The Philosophy of Charles S. Peirce. Totowa:
Rowman and Littlefield, 1980.
BOLER, John. “Habits of Thought.” In Studies in the Philosophy of
Charles Sanders Peirce, E. C. Moore and R. S. Robin (eds), 382-400.
Amherst: University of Massachussetts Press, 1964.
BROCK, Jarrett E. ‘Principle Themes in Peirce's Logic of Vagueness’.
In Peirce Studies 1, J. E. Brock, et al. (eds.), 41-50. Lubbock: Institute
for Studies in Pragmaticism, 1979.
DAVIDSON, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation.
Oxford: Clarendon Press, 1984.
DEWEY, John. Experience and Education. New York: Macmillan,
1975.
DOZORETZ, Jerry. ‘The Internally Real, the Fictitious, and the
Undubitable’. In Peirce Studies I, J. E. Brock, et al. (eds.), 77-87.
Lubbock: Institute for Studies in Pragmaticism, 1979.
ENGEL-TIERCELIN, Claudine. “Vagueness and the Unity of C. S.
Peirce’s Realism.” Transactions of the Charles S. Peirce Society 28
(1), 51-82, 1992.
FANN, K. T. Peirce’s Theory of Abduction. The Hague: Martinus
Nijhoff, 1970.
FREIRE, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Seabury
Press, 1970.
GADAMER, Hans-Georg. Truth and Method.
Crossroads, 1975.
New York:
GILL, Jerry H. Learning to Learn: Toward a Philosophy of
Education. New Jersey: Humanities Press, 1993.
GOODMAN, Nelson. Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett,
1978.
HOOKWAY, Christopher. Peirce. London: Routledge and Kegan
Paul, 1985.
JAMES, William. The Principles of Psychology, 2 vols. New York:
Dover, 1950.
45
MERRELL, Floyd. Peirce, Signs, and Meaning. Toronto: University
of Toronto Press, 1997.
____. Sensing Semiosis: Steps Toward the Possibility of Alternative
Cultural “Logics.” New York: St. Martins, 1998.
_____. Signs, Science, Self-Subsuming (Arti)facts. Dresden: Thelem,
2000a.
_____. Change through Body, Signs, and Mind. Chicago: Waveland
Press, 2000b.
_____. Learning Living, Living Learning: Signs, Between East and
West. Ottawa: Legas Press, 2002
_____. Sensing Corporeally: Toward a Posthuman Understanding.
Toronto: University of Toronto Press, 2003.
NADIN, Mihai. “Consistency, Completeness and the Meaning of Sign
Theories.” American Journal of Semiotics 1 (3), 79-98, 1982.
NADIN, Mihai. “The Logic of Vagueness and the Category of
Synechism.” In The Relevance of Charles Peirce, E. Freeman (ed.),
154-66. LaSalle: Monist Library of Philosophy, 1983.
ORTEGA y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo. Madrid:
Espasa-Calpe, 1964.
PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers of Charles Sanders
Peirce, C. Hartshorne and P. Weiss (eds.), vols. l-6. Cambridge:
Harvard University Press (reference to Peirce's papers will be designated
CP), 1931-35.
POLANYI, Michael. Personal Knowledge. Chicago: University of
Chicago Press, 1958.
PONZIO, Augusto. Man as Sign: Essays on the Philosophy of
Language, trans. S. Petrilli. Berlin: Mouton de Gruyter, 1990.
RESCHER, Nicholas and Robert Brandom. The Logic of
Inconsistency: A Study of Non-Standard Possible World Semantics
and Ontology. Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1979.
ROGERS, Carl. Freedom to Learn for the 80’s. Columbus, OH:
Charles Merrill, 1983.
ROSENTHAL, Sandra. Charles Peirce’s Pragmatic Pluralism.
Albany: State University of New York Press, 1994.
46
_____. Time, Continuity and Indeterminacy: A Pragmatic
Engagement with Contemporary Perspectives. Albany: State University
of New York Press, 2000.
TURLEY, Peter T. Peirce’s Cosmology. New York: Philosophical
Library, 1977.
WHITEHEAD, Alfred North. The Aims of Education. New York:
Free Press, 1957.
WITTGENSTEIN, Ludwig. On Certainty, trans. D. Paul and G. E.
M. Anscombe. New York: Harper and Row, 1969.
47
PRAGMATISMO, FILOSOFIA E VERDADE:
UMA INTRODUÇÃO
Waldomiro José da Silva Filho∗
[1] A diferença entre uma filosofia e outra não é apenas uma
diferença entre teorias, opiniões e pontos de vista: uma pessoa pode
torcer para o Internacional e outra para o Grêmio, porém isso não
significa, necessariamente, que entre elas exista uma grave discordância
sobre a política econômica do governo Lula, sobre a Teoria da
Relatividade nem, muito menos, sobre o que é a verdade ou sobre o que
é o conhecimento do mundo externo.
Ernest Tugendhat, no livro Lições Introdutórias à Filosofia
Analítica da Linguagem criou a seguinte imagem: “Um modo de
filosofar não se relaciona com outros modo de filosofar da mesma
maneira como um mood de dançar se relaciona com outros modos de
dançar. Formas de dançar não se excluem ou incluem mutuamente.
Pode-se numa mesma noite e com igual entusiasmo dançar um tango,
um boogie e um rock’n roll, sem nos preocuparmos com a valsa. Mas
não se pode seriamente filosofar de um modo sem rejeitar ou incorporar
os outros modos. Uma dança pode estar fora de moda, mas não se torna
por isso incorreta. Por seu lado, a filosofia, como toda ciência, ocupa-se
Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do Departamento de Filosofia
da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Endereço eletrônico: [email protected]
48
com a verdade. Por isso, filosofar de um jeito ou de outro pode ser
moderno ou antiquado, mas a constatação disso não é da conta daquele
que filosofa, e sim do historiador. Se me perguntam por que filosofo
deste jeito e não de outro, eu mesmo não posso responder ‘porque é
moderno’, mas apenas: ‘porque é o modo correto de filosofar’. Mas aí
cabe então a obrigação implícita de se legitimar a prentensão de
correção. A apresentação de um modo de filosofar inclui a tarefa de
relacioná-lo com outros modos possíveis de filosofar e, no confronto
entre eles, demonstrar sua correção” (Tugendhat, 1992, p. 14).
Por isso, quando filosofamos – quando nos perguntamos pelas
razões, quando examinamos nossas crenças, quando nos questionamos
sinceramente sobre o sentido das coisas e sobre a verdade – é importante
nos perguntarmos que diferença faz para nosso modo de compreender o
sentido das coisas adotarmos uma perspectiva teórica ou outra.
Para nós que vivemos no Brasil de hoje (para nós que estamos
preocupados com o destino da sociedade brasileira, que nos ocupamos
da política, da democracia e, principalmente, da educação), há uma
pergunta que não é trivial (nem é um luxo pequeno-burguês): como
pensar? O que podemos entender por razão, conhecimento, ciência,
verdade? Eu creio que o pragmatismo oferece um modo para enxergar o
sentido das coisas e sugere um modo de pensar; mas este é apenas um
modo e há muitos outros.
[2] As obras de Charles S. Peirce, William James, John Dewey,
Ludwig Wittgenstein, Willard von Quine e Wilfrid Sellars, significaram,
no horizonte da Filosofia Contemporânea, uma severa reação ao ideal de
uma fundamentação racional do conhecimento – ao menos nos moldes
do ideal cartesiano. E que, de algum modo, com a publicação de
49
Philosophy and the Mirror of Nature em 1979, Rorty outorgou ao
pragmatismo um sentido de tradição e uma má-consciência histórica
identificados ao abandono da filosofia como epistemologia e como
garantidora de crenças e ações morais racionais.
A obra recente de Hilary Putnam, Richard Rorty, Jurgen
Habermas, Donald Davidson e de Floyd Merrell (que nos brinda com
sua inestimável presença neste encontro) expressam um salto de grandes
proporções no sentido de pensar não o ser oculto, a verdade primeira, o
sentido originário, mas, sobretudo, a experiência singular e concreta das
mulheres e homens que vivem no mundo, que falam sobre ele e,
surpreendentemente, se compreendem mutuamente.
Ora, a idéia de uma fundamentação racional do conhecimento e
da ação esteve, no espírito do cartesianismo, vinculada à idéia de um
espírito (mind) reflexivo que procura compreender primeiramente a sua
própria existência interior e privada como base e pressuposto de toda
compreensão possível e se edificara sobre um “eu” que representa a si
mesmo sem as sombras do erro e da ilusão — posto que o “eu” diante de
si, diferentemente de quando está diante de um objeto, não pode, sob
qualquer hipótese, estar enganado: seria a consciência da consciência
que forma e constitui a sustentação sólida da razão e do conhecimento
(do ser, das coisas externas e dos outros espíritos).
A guinada pragmático-lingüística rompeu radicalmente com
essa perspectiva, elaborando de modo original e singular uma refutação
da idéia de “interioridade fundadora”, “subjetividade-espírito-mente”,
“significado e certezas privados” e “linguagem fenomenológica para os
sense data” ao afirmar (de Peirce a Wittgenstein e Quine) que nossa
compreensão do mundo não pode estar apartada das nossas crenças e
50
significados na linguagem e que, por sua vez, a expressão “significado”
e a expressão “linguagem” não podem significar outra coisa senão
“significado público” e “linguagem pública”. Com a emergência do
interesse pelo “significado da palavra” e pela “sentença”, sob a égide de
Gottlob Frege, e com o interesse pelo significado em geral, como está
em Peirce, o conhecimento se tornou — como a palavra, a sentença, o
signo — em arte pública e social (Quine , 1999, p. IX) e deixou de ser
um artefato privado.
[3] Do ponto de vista da história das idéias, o pragmatismo se
inscreve no leito da crise da unidade da razão e do conhecimento
científico que caracteriza a virada do século XIX para o século XX. O
surgimento e o êxito das Humanidades ou Ciências do Espírito fez com
que a Filosofia (como Ciência Geral do Conhecimento) não só perca
gradativamente a soberania sobre seus territórios como veja-se forçada a
incorporar novas categorias forjadas na investigação hermenêutica,
sociológica, lingüística e antropológica, como o signo, enunciado,
linguagem, ação, praxis, produção, compreensão. Num lugar, Habermas
fez ver que as Ciências do Espírito haviam reunido provas suficientes da
natureza contextual e contingente da razão, da verdade, do
conhecimento e, em geral, de todas as obras da mente humana
(Habermas , in Niznik e Sanders, 1996).
Este enfoque tendeu a uma naturalização da verdade e da razão
e, em muitos autores, passou a significar o fim de critérios gerais que
pudessem estabelecer uma distinção entre, de um lado, uma crença e, do
outro, uma crença verdadeira e, do mesmo modo, entre agir e agir
racional. O intérprete do fenômeno humano não pode mais assumir uma
perspectiva objetivante (um ponto de vista “de lugar nenhum” ou do
51
“Olho de Deus”) que se suponha externa ao domínio da existência
histórica, social e lingüística. A linguagem e o contexto da vida compõe
o repertório das condições que tornam possível a interpretação de
quaisquer coisas que sejam pertinentes aos membros da comunidade
lingüística dentro dos limites do mundo contingente. O intérprete não
poderia compreender seus objetos se já não estivesse envolvido num
processo no qual ele e seu objeto formam parte desde o primeiro
momento. Posto que para o intérprete não há maneira de escapar deste
contexto, uma interpretação pode ser mais profunda ou mais superficial,
mas nunca verdadeira ou falsa nem reivindicar uma garantia superior às
outras interpretações diversas.
Tudo isso nos leva a admitir o caráter plural, etnocêntrico,
gramatical, histórico e não-racional (no sentido clássico) das crenças
sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre os outros. Mais ainda, nos faz
pensar na incomensurabilidade das crenças, pois todos os regimes
simbólicos definem para seu domínio diferentes condições de verdade e
de satisfação, impondo formas de racionalidade e aceitabilidade
próprias, mas que deveriam gozar, todas, e sem o juízo de um Tribunal
da Razão Geral, da mesma dignidade.
Por fim, para Rorty, o pragmatismo histórico — cujas
referências são Dewey, James, Wittgenstein, Sellars e Quine, mas
também Nietzsche e Heidegger — deve ser entendido como o abandono
deliberado e programático de qualquer metafísica e epistemologia como
disciplinas possíveis (Rorty, 1980, p. 6): na tradição que iria de Dewey e
James até Davidson, o pragmatismo estaria liberto do projeto filosóficoepistemológico e, ao invés de uma “fundamentação epistemológica”,
dedicar-se-ia ao modo como nos inscrevemos na linguagem pública, no
52
hábito de uma comunidade, num esquema conceitual e seguimos regras
convencionadas como aquilo que estabelece o sentido de razão, do que
somos e sabemos e porque agimos. Hábitos e regras nascidos do acordo
que, por sua vez, não podem ser justificados, apenas descritos.
Tornou-se evidente que para aqueles que herdam os “jogos de
linguagem”, a “semiose ilimitada”, o “relativismo ontológico”,
“tradução radical” e “versões-de-mundo” em Wittgenstein, Peirce,
Quine e Goodman, que nosso conhecimento não consiste num
espelhamento imediato das coisas externas, mas na construção de
“narrativas” e “interpretações” que são, por sua vez, sistemas de
símbolos que ordenam e categorizam a experiência. Estas versões, ainda
mais, são plurais, prestam contas a formas diversas de construção e se
esgotam com a mesma freqüência com que se corrigem e renovam. A
guinada
lingüístico-pragmático-hermenêutica
dissolveria
o
fundacionismo, o representacionismo e o transcendentalismo e o lugar
da epistemologia e da metafisica seriam ocupado com “um mundo sem
substâncias ou essências”, “uma verdade sem correspondência com a
realidade” e “uma ética sem princípios” (Rorty, 1999).
[4] Entrementes, estou firmemente convencido que isto que
constitui a espinha dorsal e a anima do pragmatismo – a crítica do “mito
da subjetividade” ou “mito da interioridade” – não me obriga,
necessariamente, a abandonar a idéia de verdade e de objetividade nem
interdita, para mim, a possibilidade de argumentos transcendentais.
Mas será que eu não estou caindo em contradição? Se se admite
que não há realidade não-interpretada, que é um erro gramatical
distinguir a ordem da linguagem e ordem do mundo e que não há
conhecimento exterior às crenças e significados socialmente firmados,
53
enfim, se aprendemos corretamente a lição do pragmatismo,
como
podemos falar de verdade e de objetividade? Mais ainda, se realmente
nossa compreensão do mundo, das coisas e das outras mentes está
associado à história natural do gênero humano – se o conhecimento é
um fenômeno naturalizado – como é possível se falar de racionalidade e
reivindicarmos algum princípio transcendental?
Eu estaria enganado quanto ao sentido da lição de James,
Dewey e Wittgenstein segundo a qual o conhecimento tem
necessariamente uma face humana? Eu teria esquecido que, com
Dewey, devemos nos distanciar da epistemologia da representação e
deixar de falar de “representação exata”, de “representação inexata” ou
de “não-representação” nem do que é “aparente” e do que é “essencial e
real”? E, ainda, que o conhecimento é algo que temos razões para
acreditar e que sua justificativa é um acontecimento social que envolve
o acordo entre atores humanos (e não uma relação direta e bem sucedida
entre o sujeito cognoscente e a realidade)? ... Algo tão próximo da
terapia wittgensteiniana que, ao assinalar que “a harmonia entre
pensamento e realidade, como tudo que é metafísico, encontra-se na
gramática da língua”, interroga-se: “‘Deste modo você está dizendo que
a concordância entre os homens decide o que é certo e o que é errado?’
— Certo e errado é o que os homens dizem. E os homens estão de
acordo na linguagem” (Wittgenstein , 1973, § 241).
[5] Não posso me opor séria e sinceramente a tudo isto. Mas se
falamos que as mulheres e homens estão concordes na linguagem e que
este acordo – falível e plural – decide o que é certo e errado... do que
estamos falando quando dizemos que há compreensão na linguagem?
Como e a propósito de quê essa compreensão é possível? Rorty nos
54
convida a deixar de lado a Filosofia e adotarmos a Conversação... Mas
qual é o objeto e a meta do diálogo? Como é possível a conversação sem
os conceitos quase-transcendentais de “interpretação que visa a
compreensão” e de “verdade”?
Defendo que este que é, no meu modo de ver, o núcleo duro do
pragmatismo – a assunção do caráter público do significado e da
linguagem, a refutação do “mito do subjetivo” e a defesa da idéia de que
mulheres e homens podem se compreender mutuamente – envolve uma
teoria sobre como compreendemos o sentido da “realidade objetiva”.
Assim como no diálogo conduzido por Sócrates, o falar (um
fenômeno necessariamente social e público) não depende do fato de que
dois ou mais falantes falem do mesmo modo (compartilhando ponto a
ponto uma regra gramatical); ele requer, outrossim, que o falante
expresse suas crenças por meio de suas palavras, solicitando ser
interpretado pelo ouvinte e, do mesmo modo, que o ouvinte se envolva
na tarefa de interpretar as suas palavras como expressão de uma crença.
O intérprete, para compreender a fala do outro, parte da suposição de
que as sentenças que um falante tem por verdadeiras — especialmente
aquelas que sustenta com mais obstinação, as mais centrais no sistema
de suas crenças — são ou devem ser verdadeiras, at least in the opinion
of the interpreter (Davidson , 2001, p. 130) (sem esta “estrutura” não há
dialética, não há comunicação).
55
O carácter conceitualmente primitivo da verdade10 que está na
base do “princípio de caridade”, prescreve a necessidade de fundo de
crenças verdadeiras para que quaisquer conceitos e sentenças sejam
racionais. Donald Davidson, por exemplo, diz: “A verdade é importante
(...) não porque ela é especialmente valorosa ou útil, embora, é claro,
este possa ser o caso em determinadas ocasiões, mas porque sem a idéia
de verdade não seríamos criaturas pensantes, nem entenderíamos o que é
para qualquer entidade ser uma criatura pensante” (Davidson , 2000, p.
72).
[6] A interpretação radical, conceito central em Davidson,
prevê que o intérprete é aquele que busca estabelecer uma relação entre
o que é dito pelo seu interlocutor e as coisas que existem e acontecem no
mundo objetivo (e que causam suas crenças). Dessarte, a comunicação
lingüística é o que estabelece a distinção entre o subjetivo e o objetivo
(distinção fundamental para o conteúdo de uma crença). Na
comunicação real entre interlocutores, para que seja possível
compreender a linguagem doutrem devemos ser capazes de conceber ou
pensar aquilo que ele concebe ou pensa. Entrementes, não somos
obrigados a concordar com todos os seus pontos; mas, mesmo para
estarmos em desacordo somos obrigados a pensar a mesma proposição
e, deste modo, conceber a mesma coisa (Davidson, 1982, p. 318-27).
10
A verdade é, em Davidson, um conceito primitivo, qual seja, não pode ser definido. Isto
se dá porque uma definição qualquer de verdade terá que ser elaborada
proposicionalmente e, deste modo, recorrer a características próprias a proposições
verdadeiras, ou seja, implicará o próprio conceito de verdade: necessitamos sempre
dominar o conceito de verdade que esses traços característicos da proposição pressupõem.
Para definir a verdade precisamos dominar o conceito de proposição verdadeira e de
verdade, o que quer significar, o conceito de verdade é indefinível: “Uma noção geral e
pré-analítica da verdade é pressuposta pela teoria. Porque temos esta noção, podemos
determinar o que conta como evidência para a verdade de uma sentença-T” (Davidson, op.
cit., p. 223).
56
Para que alguém tenha uma crença será decisivo que compreenda a
possibilidade de estar equivocado e conheça o contraste entre verdade e
erro, crença verdadeira e crença falsa. No entanto, estes contrastes não
estão dispostos numa experiência ou na observação, mas na
interpretação que é constituída pela idéia de uma verdade objetiva,
pública (Davidson, 2001, p. 170).
O sentido de objetividade, para além da perspectiva idealista ou
realista e da “epistemologia da primeira pessoa”, é conseqüência de
uma espécie de triangulação: o conteúdo do pensamento de uma pessoa
depende das suas relações com outras pessoas e com o mundo, de modo
que para que se dê tal triangulação se requer dois seres (supostamente
racionais) que interagem com um objeto e que se inscrevem, pela
interpretacao radical, num diálogo. Porque ambos partilham o conceito
de verdade lhes é permitido dar um sentido à suposição de que cada um
deles tem uma crença e que eles são capazes ter crenças sobre um
mundo objetivo. Este externalismo tem dois elementos característicos: a)
há a necessidade ontológica de uma interação causal entre os objetos do
mundo e nossas crenças e b) há a exigência do caráter público e social
dos pensamentos e dos significados nas condições de uma comunicação
intersubjetiva.
Sem um intérprete que determine do exterior como uma cadeia
causal (que vai do mundo às palavras) determina o conhecimento do
significado de uma palavra, não há meio de definir se o sujeito utiliza
esta palavra corretamente ou não, com sentido ou não. Para explicar o
que e porque alguém disse ou fez alguma coisa necessitamos interpretar
os objetivos, intenções, razões e crenças que o falante desposa: o
trabalho de interpretação obrigatoriamente está associado ao ato de
57
outorgar desejos e crenças e outros pensamentos a uma fala. Por isso,
podemos afirmar que o diálogo é o contexto da objetividade. A
comunicação na linguagem impõe que o falante tenha um conceito de
mundo e imagine que o outro falante também tenha um conceito correto
do mundo. Imaginar que o outro não tem um conceito do mundo (que
nos seus traços mais gerais é verdadeiro como o nosso) é, de um lado,
compreender que a linguagem e a ação do outro são irracionais e, ao
mesmo
tempo,
pensar
na
impossibilidade
de
um
mundo
concebivelmente intersubjetivo. O conceito de um mundo intersubjetivo
é o conceito de um mundo objetivo, um mundo sobre o qual cada
comunicante pode ter crenças (Davidson, 1982, p. 325-7).
[7] Obviamente que isto que disse até aqui é apenas uma leitura
apressada e não serve para educar e domar o Pragmatismo. Creio
apenas, como horizonte da pesquisa sobre Pragmatismo e Filosofia
Americana, que as obras de Peirce, Davidson, Putnam e Floyd Merrell
nos ensinam a ver as coisas por um ângulo mais simples: a vida comum,
a convivência livre entre mulheres e homens de várias línguas e culturas,
não eliminam a especulação filosófica, mas alimentam-na. As
pretenções filosóficas estão associadas ao pensamento especulativo que
tenta conceber a estrutura incerta, falível, humana do diálogo que revê,
problematiza, semantiza nosso mundo. Como disse em outro lugar, estes
são ingredientes simples, mas profícuos para a pesquisa filosófica: uma
epistemologia e uma metafísica do ponto de vista do intérprete (e não da
primeira pessoa), uma perspectiva que solicita a possibilidade efetiva do
acerto e do erro, do outro e do mundo.
A verdade, para um pragmatista não é um dobrão espanhol que
pouquíssimas pessoas viram, menos ainda tocaram e apenas duas ou três
58
pessoas os possui (príncipes, sacerdotes, escolhidos). A verdade é uma
moeda de R$ 0,10; não digo que é uma moeda de R$ 0,01, que não vale
nada. Digo que qualquer um pode tê-la, que ela passa de mão-em-mão.
Todos nós possuimos a verdade desde que sejamos criaturas pensantes,
falantes e ouvintes.
Se perguntarmos a um filósofo metafísico “qual o sentido das
coisas, do conhecimento e da verdade?” ele nos apresentará uma
rigorosa reflexão sobre o “eu”, discutirá argumentos auspiciosos sobre
as garantias racionais da conduta e do existência do mundo externo,
demonstrará raciocínios de valor transcendental e anistórico. Mas se
fizermos a mesma pergunta a um pragmatismo ele dirá que tudo que há
de relevante para compreendermos que há um mundo e que podemos
conhecer e dominar o sentido de verdade se encontra no fato singelo de
que conversamos uns com os outros, que, no mais das vezes,
condordamos. Mas tudo isso necessita, antes de qualquer coisa, da
democracia, pois somente na democracia as discordâncias geram
crescimento, progresso, renovação.
Bibliografia
DAVIDSON, D. Inquiries into truth and interpretation. Oxford:
Clarendon Press, 1984 e reeditado em 2001.
_____. “Truth rehabilited”, in Robert Brandom (ed.), Rorty and his
critics. Massachusetts/Oxford: Basil Blackwell, 2000.
_____. “Rational Animal”, in Dialectica, n. 36, 1982.
HABERMAS, J. in: J. Niznik e J. Sanders (ed.), Debating the State of
Philosophy. Westport: Greenwood Publishing Group, 1996.
QUINE. Word and Object. Cambridge/Massachusetts: MIT Press,
1999.
59
RORTY, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton/New
Jersey: Princeton University Press, 1980.
_____. Philosophy and Social Hope. Penguin, 1999.
TUGENDHAT, Ernest. Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da
Linguagem. trad. Mario Fleig et al. Ijuí: Editora Unijuí, 1992.
WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell,
1973.
60
ENSINO DE FILOSOFIA: NOVAS PROPOSTAS
61
TEORIA DOS ESTÁGIOS DA ARGUMENTAÇÃO∗
Frank Thomas Sautter∗
Um princípio metodológico manifesto prescreve que não
devemos abandonar nossas teses até que tenhamos bons motivos para
fazê-lo, ou seja, até que elas se mostrem insustentáveis, até que elas se
mostrem incompatíveis com teses melhor assentadas. Ao examinarmos a
história recente da lógica – a história da lógica contemporânea –
auxiliados por este princípio, constatamos a pressa com que a tese
ortodoxa da natureza da lógica – a tese de que a lógica tem natureza
única, qual seja, formal-dedutiva – foi abandonada em prol de diversas
teses heterodoxas da natureza da lógica, mantidas por promotores da
lógica informal, do pensamento crítico, da teoria da argumentação, etc.,
segundo as quais a lógica tem natureza múltipla. Neste trabalho tomarei
o partido da ortodoxia contra essas variantes lógicas da heresia de
Nestório. Minha contribuição não consistirá num ataque direto às bases
das teses opostas. Ao invés disso procurarei mostrar, recorrendo a um
Texto publicado em CANDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei (orgs). Filosofia e
Ensino: um diálogo transdisciplinar. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004, p. 233-244.
∗
Doutor em Filosofia, UNICAMP, 2000. Professor do Departamento de Filosofia da
Universidade Federal de Santa Maria. Endereço eletrônico: [email protected]
62
exemplo concreto simples, que a incapacidade do cânone lógico para dar
conta de diversos aspectos da avaliação dos argumentos pode ser
aparente.
Utilizarei uma proposta elaborada por Peter Suber, cujo
material encontra-se à disposição na INTERNET (Suber, 2000). Antes,
contudo, como preparação à apreciação dessa proposta, vou recorrer
primeiro a um contraste entre retórica, dialética e filosofia, elaborado
por Armando Plebe e Pietro Emanuele (1992), e depois a uma leitura da
história da lógica proposta por Jaakko Hintikka (2001).
Combativo versus Colaborativo, Individual versus Coletivo
As duas dicotomias – combativo versus colaborativo e
individual versus coletivo – são utilizadas por Plebe e Emanuele para
distinguir as três disciplinas – retórica, dialética e filosofia – emergentes
no mundo grego ao longo do quarto século antes de Cristo e rivais entre
si. Enquanto que a retórica constituiu-se numa atividade individual e
combativa (agonística), a dialética opôs-se completamente a ela, por
estabelecer-se como uma atividade coletiva e colaborativa (não
agonística) (Plebe; Emanuele, 1992, p. 12). Para estes autores, a filosofia
concorda, pelo menos nesse primeiro momento da sua história,
parcialmente com ambas. À semelhança da retórica ela é uma atividade
individual, e à semelhança da dialética ela é uma atividade colaborativa
(não agonística). Essa localização da filosofia entre retórica e dialética
precisa ser acolhida com uma pitada de sal, pois surgiram exceções
notáveis. Mas, quanto ao caráter individual da atividade filosófica,
mesmo nalguns casos em que houve recurso ao diálogo, e, portanto,
63
aparentemente houve contra-exemplos à tese de Plebe e Emanuele, eles
mostram como essas situações podem ter sido bastante artificiais. Por
exemplo, citam uma passagem do Górgias de Platão em que Sócrates
pede ao seu interlocutor que lhe faça uma determinada pergunta; em tal
situação estamos, evidentemente, bastante distantes de um verdadeiro
diálogo. Não é decisivo para a minha exposição se esta leitura de Plebe e
Emanuele é fidedigna, exagerada ou simplesmente falsa. O ponto
interessante a respeito da dicotomia individual versus coletivo consiste
em que, na proposta de Suber, um argumento para ser qualificado como
um bom argumento precisa ser o resultado de uma atividade coletiva.
Quanto ao caráter colaborativo em detrimento do caráter
competitivo, o stylus conciliandi ao invés do stylus pugnax (Plebe;
Emanuele, 1992, p. 32), os autores tocam numa distinção de
fundamental importância para a avaliação da proposta de Suber.
Enquanto que a filosofia, por seu caráter colaborativo, guia-se por
critérios dicotômicos – verdadeiro versus falso, lícito versus ilícito,
válido versus inválido, para citar alguns – a retórica, por seu turno, por
ser uma atividade de caráter combativo, guia-se por critérios
“agonístico-hierárquicos” (Plebe; Emanuele, 1992, p. 22) em que há
uma gradação contínua do melhor para o pior. Um critério agonísticohierárquico é todo aquele em que se atribui um peso (ónkos, em grego, e
pondus, em latim) aos juízos segundo as diferenças de eficácia por eles
apresentadas (Plebe; Emanuele, 1992, p. 25). Fornecer objetivamente
um critério desse tipo representa um verdadeiro desafio aos defensores
do estilo combativo. Mostrarei que a proposta de Suber, apesar da sua
simplicidade, fornece um critério objetivo à eficácia argumentativa e
que esse critério objetivo acolhe, sob si, múltiplos pesos.
64
Excelência versus Prevenção, Regras Definitórias versus Regras
Estratégicas
Considerarei, agora, as teses de Hintikka e em que medida elas
poderão nos auxiliar a compreender a proposta de Suber. Hintikka inicia
seu artigo fazendo uma analogia do desenvolvimento da lógica com o
desenvolvimento da ética. Ele nos convida a fazer um contraste entre a
ética tal como era compreendida na antigüidade clássica e a ética tal
como passou a ser praticada a partir da era vitoriana. Segundo Hintikka,
a ética principia como “um estudo das diferentes formas de excelência”
(Hintikka, 2001, p. 35) e é completamente deturpada na era vitoriana
quando passa a ser “uma prevenção dos erros morais, uma preservação
das virtudes” (Hintikka, 2001, p. 35), ou seja, ela transforma-se de uma
atividade positiva, uma atividade em que bens são acrescentados, numa
atividade negativa, uma atividade visando a minimização da subtração
de bens supostamente possuídos. Um destino similar teria ocorrido à
lógica. Um começo nos Tópicos de Aristóteles caracterizado como uma
busca por excelência descamba para uma atitude defensiva nas obras dos
algebristas da lógica e de Frege (Hintikka, 2001, p. 36). Contudo, o
ponto interessante aqui é a lição extraída por Hintikka desse paralelismo
entre o desenvolvimento da lógica e o desenvolvimento da ética: para
ele, as tendências recentes que se opõem à lógica formal-dedutiva não se
encontram em melhor situação do que ela, pois “em cada livro-texto [de
lógica informal, pensamento crítico, teoria da argumentação, e
congêneres] há tipicamente capítulos sobre o que conhecemos pelo
nome de falácias” (Hintikka, 2001, p. 36), sendo tais capítulos nucleares
em boa parte dessas obras. Pois bem, para Hintikka é bastante óbvio que
65
as falácias constituem-se em aspectos essencialmente defensivos do
proceder argumentativo. Suber enfrenta essa dificuldade propondo uma
teoria da excelência argumentativa, como verei na seqüência.
Antes, contudo, quero fazer referência a uma distinção proposta
por Hintikka que explica o que está errado, ou melhor, o que está
faltando à lógica formal-dedutiva, quando se diz que ela é inadequada
para determinados propósitos práticos. Hintikka distingue entre regras
definitórias
e
regras
estratégicas
(Hintikka,
2001,
p.
37).
Exemplificando: no xadrez as regras definitórias são aquelas que
estabelecem o próprio jogo, determinando quais movimentos são
permitidos e, por exclusão, quais são proibidos, mas elas não explicam
como atingir a excelência no jogo. Quem determina o bem jogar são as
regras estratégicas. Assim, quem conhece as regras definitórias não está
propriamente apto a jogar. Consideremos, agora, o caso da lógica. Suas
regras definitórias nada mais são, segundo Hintikka, do que as regras de
inferência (Hintikka, 2001, p. 37), elas determinam somente os
movimentos permitidos e proibidos, e nada nos dizem sobre a excelência
na condução do processo argumentativo. Mas, o que serão, então, as
regras estratégicas do “jogo” da lógica? Para responder esta questão
podemos novamente recorrer ao exemplo do jogo de xadrez. Entende-se
que estratégias em xadrez envolvem o exame de longas seqüências de
jogadas, um planejamento a médio e longo prazo, nunca a referência a
uma jogada isolada. Assim, também as regras estratégicas da lógica não
podem se ocupar de inferências particulares (como ocorre quando nos
ocupamos, por exemplo, das falácias), mas devem se ocupar de
seqüências inteiras de passos argumentativos. O restante do artigo de
Hintikka é dedicado ao exame duma proposta de regras estratégicas para
66
a lógica baseada no seu método de árvores e cuja ênfase recai na
produção de novos conhecimentos e não na persuasão, como é o caso na
teoria da argumentação de Perelman e assemelhadas (Hintikka, 2001, p.
43 ss.). Ele conclui que não é preciso substituir a lógica formal-dedutiva
por nenhuma outra para se obter excelência na argumentação, quer
dizer, não é preciso e sequer se deve mexer nas regras definitórias da
lógica, o que é preciso é encontrar boas regras estratégicas, mesmo que
essas regras não possam ser mecanicamente aplicadas ou mesmo
ensinadas em sentido estrito, mas apenas compreendidas pela constante
exposição a situações que as empregam. Estou inteiramente de acordo
com Hintikka e entendo que a proposta de Suber é um exemplo daquilo
que se pode oferecer em prol da aplicabilidade da lógica formaldedutiva às situações cotidianas. Examinemos, portanto, a proposta de
Suber.
Teoria dos Estágios da Argumentação
Tradicionalmente, a avaliação do processo argumentativo leva
em conta somente a validade dos argumentos, a capacidade de persuasão
dos argumentadores, a veracidade e a aceitabilidade dos pontos-departida da argumentação. Suber propõe a identificação de diferentes
etapas argumentativas e, em decorrência disso, o estabelecimento de
distintos graus de persuasão em diferentes momentos da argumentação,
sem que seja preciso abandonar a lógica formal-dedutiva.
Para fixar a terminologia empregada na exposição da proposta
de Suber vou fazer uma breve exposição daquilo que entendo ser a
gênese e função do processo argumentativo.
67
Um processo argumentativo principia quando Fulano assere
uma tese e acolhe de Beltrano uma das seguintes reações possíveis,
excluída a absoluta indiferença:
a)
concordância, ou seja, Beltrano assente à tese de Fulano;
b) discordância, ou seja, Beltrano dissente da tese de Fulano;
c)
nem concordância nem discordância, ou seja, Beltrano suspende seu
juízo sobre a tese de Fulano.
O dissentimento da tese é uma situação na qual Fulano é
desafiado a justificar sua asserção, o dissentimento é uma situação na
qual Fulano é solicitado a oferecer razões em apoio à sua tese, caso
queira promover a adesão à mesma. Mas também a suspensão de juízo
sobre a tese é uma situação na qual Beltrano não compartilha da tese
asserida por Fulano e que pode levar Fulano a reagir sob forma de uma
persuasão racional. Designo “dissentimento em sentido amplo” às
situações em que Beltrano não compartilha da tese asserida por Fulano,
ou seja, àquelas situações nas quais há dissentimento propriamente dito
(dissentimento em sentido estrito) e àquelas situações nas quais há
suspensão de juízo. Em situações nas quais há dissentimento em sentido
amplo, Fulano desempenha o papel de proponente de uma tese,
enquanto que Beltrano desempenha o papel de oponente dessa mesma
tese. Designo “argumentação” ao processo de reação crítica do
proponente ao oponente, e vice-versa, e designo “argumento” ao
produto, integral ou parcial, desse processo.
Por exemplo, Fulano assere que o aborto deve ser legalizado.
Beltrano poderá reagir dissentindo, em sentido amplo, da asserção de
Fulano. O proponente da tese poderá, face ao desafio lançado pelo
68
oponente da sua tese, oferecer razões em apoio à legalização do aborto;
ele poderá, por exemplo, alegar que a liberdade de escolha é um valor a
ser respeitado. O oponente poderá objetar que a vida de uma pessoa é o
valor supremo. O proponente poderá contra-objetar que não há critérios
objetivos para determinar o momento a partir do qual um feto é uma
pessoa, e assim por diante.
O conjunto de ações e reações ao dissentimento, em sentido
amplo, à tese é a argumentação. A asserção e as réplicas do proponente
ao oponente constituem o argumento integral do proponente; o
dissentimento, em sentido amplo, e as tréplicas do oponente ao
proponente constituem o argumento integral do oponente.
Para compreender a teoria dos estágios da argumentação,
proposta por Suber, ainda é preciso ter em conta as seguintes dicotomias
relativas aos argumentos: positivo versus negativo, unilateral versus
multilateral, responsivo versus não-responsivo.
Um argumento é positivo quando ele oferece razões a favor de
uma asserção, e um argumento é negativo quando ele oferece razões
contra uma asserção. Argumentos positivos podem ser oferecidos por
ambas as partes, proponente e oponente, envolvidas no debate: um
argumento positivo do proponente é uma razão em favor da sua tese,
enquanto que um argumento positivo do oponente é uma razão em favor
do seu dissentimento da tese do proponente. Argumentos negativos
também podem ser oferecidos por ambas as partes, proponente e
oponente, envolvidas no debate: um argumento negativo do proponente
é uma razão contra o dissentimento da sua tese, enquanto que um
argumento negativo do oponente é uma razão contra a tese do
proponente. A Figura 1 contém uma representação de argumentos
69
positivos do proponente e do oponente, e a Figura 2 contém uma
representação de argumentos negativos do proponente e do oponente.
PROPONENTE
OPONENTE
Figura 1. Representação de argumentos positivos do proponente e do
oponente. Um argumento positivo de alguém é representado por uma
flecha saindo do e chegando ao retângulo que representa esse alguém.
PROPONENTE
OPONENTE
PROPONENTE
OPONENTE
70
Figura 2. Representação de argumentos negativos do proponente e do
oponente.Um argumento negativo de alguém é representado por uma
flecha saindo do retângulo que representa esse alguém e chegando ao
retângulo que representa seu adversário.
Um
argumento
é
unilateral
quando
ele
se
compõe
exclusivamente de argumentos positivos ou quando ele se compõe
exclusivamente de argumentos negativos, e um argumento é multilateral
quando ele se compõe tanto de argumentos positivos como de
argumentos negativos. A Figura 3 contém uma representação de
argumentos unilaterais do proponente e do oponente, e a Figura 4
contém uma representação de argumentos multilaterais do proponente e
do oponente. A Figura 5 contém uma representação do início de um
processo argumentativo.
PROPONENTE
OPONENTE
OPONENTE
PROPONENTE
71
OPONENTE
PROPONENTE
OPONENTE
PROPONENTE
Figura 3. Representação de argumentos unilaterais do proponente e do
oponente.
PROPONENTE
PROPONENTE
OPONENTE
OPONENTE
72
Figura 4. Representação de argumentos multilaterais do proponente e do
oponente.
PROPONENTE
(Tese)
OPONENTE
(Dissensão da tese)
Figura 5. Início de um processo argumentativo.
Um argumento é responsivo quando ele contém argumentos
dirigidos a objeções do adversário, e um argumento é não-responsivo
quando ele não contém argumentos dirigidos a objeções do adversário.
A Figura 6 contém uma representação do início do argumento relativo à
legalidade do aborto, utilizado anteriormente na exposição da
terminologia aqui empregada.
d
c
FULANO
a
d
c
e
BELTRANO
b
73
Figura 6. Exemplo de processo argumentativo, onde (a) é a tese de que o
aborto deve ser legalizado, (b) é a dissensão, em sentido amplo, da tese,
ou seja, o não-assentimento da legalização do aborto, (c) é a asserção de
que a liberdade é um valor a ser respeitado, (d) é a asserção de que a
vida humana é o valor supremo, (e) é a asserção de que não se tem
critérios objetivos para definir quando um feto é uma pessoa. A
marcação “x” na saída da flecha y representa o fato de que y responde a
x; por exemplo, d é uma resposta a c.
Suber identifica quatro estágios da argumentação:
a)
O Estágio 1 é, a rigor,
um estágio pré-argumentativo, um
estágio dogmático, no qual a tese é asserida mas ainda não se
oferecem razões em apoio à mesma.
b) O Estágio 2 é aquele estágio da argumentação no qual as partes
envolvidas propõem somente argumentos unilaterais, ou seja,
argumentos
exclusivamente
positivos
ou
argumentos
exclusivamente negativos, sem a preocupação em considerar
argumentos em apoio às distintas posições.
c)
O Estágio 3 é aquele estágio da argumentação no qual as partes
envolvidas
propõem argumentos multilaterais,
ou
seja,
argumentos que contém componentes positivos e negativos,
argumentos a favor das distintas posições no debate. Porém
ainda não há argumentos responsivos.
d) O Estágio 4 é aquele estágio da argumentação no qual as partes
envolvidas propõem argumentos multilaterais e responsivos, ou
seja, argumentos destinados a apoiar as diferentes posições da
74
controvérsia e que respondem a objeções do adversário ou que
respondem às defesas do adversário.
Esta teoria dos quatro estágios da argumentação fornece uma
valoração objetiva óbvia para o processo argumentativo. Ela constitui, a
meu ver, uma primeira aproximação daquilo que se pode entender como
o peso dum argumento, podendo ser ampliada, seja pelo reconhecimento
de distinções no interior dos estágios argumentativos, seja pelo
reconhecimento de novos estágios argumentativos. É vantajosa frente a
diversas propostas concorrentes por ser uma abordagem dinâmica,
sendo capaz de analisar a evolução e a involução dos argumentos.
Acima de tudo, constitui uma proposta compatível com o cânone lógico,
uma proposta que não nos obriga a abandonar a lógica formal-dedutiva.
Embora não tenha estabelecido a dispensabilidade de uma
segunda natureza lógica, caminhei um passo nessa direção. Se couber
valor de verdade às teses da natureza da lógica, pode ser o caso que uma
variante lógica da heresia de Nestório, aqui rejeitada, seja verdadeira,
mas seria negligência sustentá-la sem que se fizessem muitos esforços
na direção oposta.
Bibliografia
HINTIKKA, Jaakko. Is logic the key to all good reasoning.
Argumentation, v. 15 (2001): 35-57.
PLEBE, Armando; EMANUELE, Pietro. Retórica, dialética e filosofia:
uma antiga rivalidade. In: _____. Manual de retórica. São Paulo:
Martins Fontes, 1992. p. 11-34.
75
SUBER, Peter. Stages of argument [página da web]. 2000.
http://www.earlham.edu/~peters/courses/argstages.htm [acessado em
27.02.2004].
76
A FILOSOFIA NO VESTIBULAR:
ELITIZAÇÃO DO ENSINO OU DEMOCRATIZAÇÃO DA
FILOSOFIA?
Humberto Aparecido de Oliveira Guido∗
A Filosofia nos Processos Seletivos da Universidade Federal de
Uberlândia
A Universidade Federal de Uberlândia, doravante UFU, possui
dois sistemas de ingresso no ensino superior, a saber, o vestibular
tradicional e o Programa Alternativo para Ingresso no Ensino Superior
(PAIES). O sistema alternativo segue os padrões de seleção de outras
universidades que há mais tempo adotaram esta inovação, que consta de
exames periódicos para cada série do ensino médio, envolvendo
estudantes das escolas secundárias previamente cadastradas na
Comissão Permanente do Vestibular (COPEVE).
Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia; Coordenador do Grupo de
Estudo da Filosofia de G. Vico. Endereço eletrônico: [email protected]
77
As duas modalidades de seleção contam com as provas de
conteúdos específicos de Filosofia. No PAIES são quatro questões que
são apresentadas na forma de testes nos quais o candidato deve assinalar
Verdadeiro ou Falso nos enunciados propostos. No vestibular ocorrem
duas provas; uma na primeira fase, contendo dez questões de múltipla
escolha; a outra prova, na segunda fase, é composta de quatro questões
discursivas. A experiência de Uberlândia é pioneira11 e polêmica.
As polêmicas menores ocorrem no interior da UFU. As áreas
tecnológicas e da saúde, até hoje não concordam com a inclusão da
Filosofia nos processos seletivos. A alegação mais inusitada foi
apresentada, certa vez, por um diretor de uma das unidades acadêmicas
da área tecnológica durante reunião do conselho Superior em 2001. No
entendimento desse diretor, as provas de Filosofia obrigaram as escolas
secundárias à reduzir a carga horária de Matemática, este fato é
responsável pelo baixo desempenho dos estudantes do ciclo básico das
engenharias. Portanto, é preciso suprimir as provas de Filosofia para que
os estudantes do secundário voltem, o quanto antes, a ter mais aulas de
matemática para que depois, quando forem estudantes de engenharia,
não sejam reprovados na disciplina de Cálculo!
Outra polêmica, menos brejeira, ocorreu no Departamento de
Filosofia. Em 1995, o Conselho do Departamento foi solicitado para
elaborar o programa das provas. Na primeira ocasião que o assunto
esteve em pauta, os docentes debateram a pertinência da inclusão da
Filosofia nos processos seletivos. O corpo docente, composto na época
11
Algumas universidades adotaram, depois da UFU, a prova de Filosofia em seus
vestibulares, é o caso da UFMG que incluiu a Filosofia como prova específica para os
candidatos do Curso de Filosofia. No Paraná a UFPR e a UEL, há alguns anos atrás,
aprovaram a inclusão da Filosofia no vestibular.
78
de 16 professores, estava dividido, uns consideravam os riscos de
elitização do ensino superior que poderia ser acarretada com a novidade.
Outros acreditavam na introdução da Filosofia nas escolas secundárias
da região atendida pela UFU. Na segunda reunião dedicada à discussão
da matéria, os professores foram alertados pela COPEVE que a
deliberação do Conselho Departamental deveria resultar na apresentação
de um programa para as provas, pois a inclusão da Filosofia nos
processos seletivos já havia sido aprovada pela Comissão e começaria a
vigorar no vestibular de janeiro de 1996, independente da posição
favorável ou contrária do Departamento de Filosofia.
Aqui cabe uma digressão. Em 1994 a COPEVE, após avaliar o
modelo de seleção — ainda não havia o PAIES — tomou a decisão de
contemplar todas as disciplinas do ensino médio. A nova proposta foi
aprovada pelo Conselho Universitário, o que implicou na ampliação de
dez para doze provas de ingresso. O modelo estava e está respaldado
pela Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, que determina a
obrigatoriedade do ensino da Filosofia12 nas escolas secundárias. Na
ocasião em que promulgavam a Constituição do Estado de Minas
Gerais, os deputados estaduais acreditavam que esta seria a orientação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que ainda tramitava
no Congresso Nacional.
A situação do ensino da Filosofia antes da sua inclusão no vestibular
da UFU
12
Constituição do Estado de Minas Gerais de 21 de setembro de 1989, Título IV, Da
Sociedade, Capítulo I, Da Ordem Social, Seção III, Artigo 195, Parágrafo Único: “Para
assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado deverá garantir o ensino de Filosofia e de
Sociologia nas escolas públicas de Segundo grau”.
79
Após a promulgação da constituição mineira, a Secretaria
Estadual da Educação de Minas Gerais apresentou à rede oficial a
Proposta Curricular para o ensino da Filosofia (1990), que resultou do
trabalho empreendido durante o ano de 1990 em todas as regiões do
Estado. Dois professores do Departamento de Filosofia da UFU
participaram dos trabalhos de elaboração da Proposta Curricular na
região do Triângulo Mineiro. A proposta da Secretaria da Educação é
estruturada a partir de temas filosóficos, cujo conteúdo está em
conformidade com a antiga disciplina da Antropologia Filosófica,
característica dos tempos em que a Filosofia ficava a cargo dos clérigos,
que a tratavam como apêndice da Teologia.
A proposta curricular oficial deixa entrever esta deficiência, ou
seja, evidencia que os signatários da proposta, em sua maioria, não eram
licenciados em Filosofia, o que é comprovado quando se tem acesso à
lista de nomes dos responsáveis pela formulação final da proposta. No
conteúdo sugerido fica nítida a distância entre a atividade filosófica tal
como é praticada nos Cursos de Filosofia e a percepção que certos
profissionais de outras áreas do conhecimento têm da Filosofia,
tomando-a na perspectiva da Antropologia Filosófica de matiz teológico,
peculiar à cultura escolar até o final da década de setenta do século
passado.
A derrubada da obrigatoriedade da habilitação profissional do
ensino de segundo grau, com a Lei 7.044 de 1982, foi também o marco
para a definitiva introdução da Filosofia na vida escolar brasileira. Esta
afirmação não omite a relevância do cultivo da Filosofia nas décadas
passadas, remontando inclusive aos períodos colonial e imperial. Porém,
é inegável que somente a partir de 1982 é que a Filosofia torna-se
80
predominantemente laica, chegando até as escolas secundárias sob nova
orientação, libertando a atividade filosófica da pecha de educação moral
e evitando, também, a incidência no ensino religioso. Não se pretende
omitir a relevância das aulas de Filosofia no secundário clássico,
anterior à LDB de 1961 e à reforma produzida pela Lei 5.692 de 1971,
porém,
esta
modalidade
do
secundário
atendia
um
número
extremamente reduzido da população de meados do século passado, sem
penetrar na vida brasileira representada pelo grande contigente de
estudantes das modalidades científica e técnica do secundário de então.
A Proposta Curricular da Secretaria da Educação de Minas
Gerais representou um avanço para a implementação do ensino da
Filosofia, porém, enquanto proposta de ensino, a orientação da
Secretaria está distante da relevância que a atividade filosófica possui, o
que limita o alcance do trabalho crítico que esta disciplina proporciona.
O conteúdo programático oficial está muito próximo da linha temática
do livro Filosofando (1986), de Maria Lúcia Aranha e Maria Helena
Martins, que sugere temas. No entanto, muitos deles extrapolam a
especificidade da reflexão filosófica; na Proposta Curricular de Minas
Gerais são cinco os temas propostos: filosofia, o conhecimento, o
trabalho, política e existência. As abordagens relativas aos temas
trabalho e política estão mais próximos do ensino da sociologia e da
história, deixando de contemplar a significativa literatura filosófica
dedicada aos temas. A política, por exemplo, apresenta em seu conteúdo
programático apenas dois filósofos, Hobbes e Locke.
Apesar das deficiências da Proposta oficial, apenas a equipe de
Pratica de Ensino tomou conhecimento da Proposta oficial, os demais
professores, embora sabendo da participação de dois representantes do
81
Departamento de Filosofia da UFU nas discussões que culminaram na
Proposta, desconheciam a existência da versão final. Esta informação é
relevante porque em 1995 ainda não estava constituída a equipe de
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Filosofia, de modo que a
elaboração do Conteúdo Programático para as provas do vestibular, e
depois também do PAIES, foi elaborado por professores mais
identificados com o bacharelado, que ignoravam a existência de uma
proposta oficial para a Filosofia nas escolas da rede oficial de ensino.
Os conteúdos programáticos de Filosofia para os Processos Seletivos
da UFU: elitismo ou equívoco didático?
A elaboração do conteúdo programático de Filosofia para as
provas de ingresso no ensino superior ficou a cargo de uma comissão
composta por três professores, que tomaram a história da filosofia como
critério para a elaboração dos conteúdos, restringindo o ensino da
filosofia aos autores consagrados. A conseqüência da aplicação do
programa tem sido fator de inibição do filosofar, ficando o ensino da
Filosofia restrito à transmissão de doutrinas filosóficas a partir dos
autores selecionados e os seus respectivos textos. Outro fator limitador
do conteúdo programático foi a seleção dos autores. Apesar da
arbitrariedade de toda seleção, há consenso quanto à importância de
determinados pensadores, por terem sido paradigmáticos para o tempo
em que viveram e também para a posteridade, que se deixou influenciar
por esses pensadores. A seleção dos autores deixou evidente a
deficiência do programa, uma vez que as escolhas recaíram sobre as
especialidades dos professores do Departamento, ficando de fora nomes
expressivos do passado e do presente, tais como: Espinosa, Leibniz,
82
Nietzsche, Adorno, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Habermas,
além dos grandes movimentos que adentraram as sendas filosóficas do
século XX, desencadeados por pensadores sociais, tais como Foucault e
Derrida. Outro aspecto limitador da seleção se deve ao fato de que
alguns pensadores foram contemplados apenas por um aspecto do seu
pensamento, é o caso de Locke que aparece no programa apenas como
pensador político, sem ser abordado em sua significativa contribuição
para a teoria do conhecimento. Aconteceu também de, após 18 meses de
vigência do programa, alguns pensadores serem excluídos, foi o caso de
Maquiavel e Comte, para darem lugar a Pedro Abelardo e Guilherme de
Ockham que reforçaram o rol dos pensadores medievais.
A opção metodológica da comissão que elaborou o programa
para as provas era justificada com o argumento, segundo o qual, a rede
oficial de ensino teria que dar preferência para os licenciados em
Filosofia, pois os professores de outras habilitações não teriam
competência
para
tratar
dos
pensadores
em
suas
respectivas
especificidades. Porém, é oportuno lembrar que somente no final de
1998 o Curso de Filosofia da UFU formou a sua primeira turma de
licenciados. Portanto, entre 1996 e 1998 as aulas de Filosofia, nas
escolas
públicas
e
particulares,
ainda
eram
ministradas
predominantemente por professores de outras áreas do conhecimento.
Em um estudo conduzido pela, então, recém criada equipe de Prática de
Ensino, foi constatado que havia em Uberlândia, no segundo semestre
de 1996, 19 professores ministrando aulas de Filosofia nas escolas
públicas e particulares, dos quais apenas três eram licenciados, e mesmo
esses três professores manifestaram dificuldade em trabalhar o conteúdo
programático recém elaborado.
83
A adoção da história da filosofia como opção careceu de
fundamentação
metodológica.
A
apresentação
dos
conteúdos
programáticos não se fez acompanhar da fundamentação metodológica
para a execução dos conteúdos filosóficos nas séries do ensino
secundário. Foram oferecidos alguns cursos de extensão para
professores de Filosofia como tentativa de suprir esta deficiência.
Contudo, durante esses cursos somente os conteúdos programáticos
eram abordados e transmitidos, sem que a questão metodológica fosse
tratada durante as atividades de extensão. Apesar de haver, nas ocasiões
em que esses cursos foram oferecidos, um tópico intitulado Metodologia
do Ensino da Filosofia, essa atividade era consumida com a exposição
da relevância da Filosofia a partir da leitura de Antonio Gramsci. Em
que pese a relevância do pensador italiano, a questão metodológica não
era discutida com os professores do ensino médio.
Kant incluiu na sua vasta obra o problema do ensino da
Filosofia, antes dele outros o fizeram, no entanto em outro contexto,
anterior à Modernidade, isto é, no tempo em que a escola não era uma
realidade social e o ensino era um assunto privado, uma atividade
doméstica. Quando Kant fala do ensino da filosofia, ele aborda o
problema na perspectiva da educação escolar, de modo que as suas
ponderações têm valor metodológico e sugere ações para a prática
filosófica que colocam em questão a validade do ensino doutrinário que
obstrui o exercício da razão. Na arquitetônica da razão pura estão
contidas as considerações mais contundentes em favor do livre
pensamento; escreveu Kant:
84
... aquele que propriamente aprendeu um sistema
de filosofia, o wolffiano, por exemplo, nada mais
possui do que um conhecimento histórico completo
da filosofia wolffiana, mesmo que tenha presente na
mente e possa contar nos dedos todos os princípios,
explicações e provas junto com a divisão de todo o
sistema; ele só sabe e julga tanto quanto lhe foi dado
(1988, p. 236/237 — grifos do autor).
Prosseguindo em suas considerações, Kant constatou que a
Filosofia “é o sistema de todo o conhecimento filosófico” (1988, p.
237), enquanto sistema, a Filosofia “é uma simples idéia” (Ibdem) e
como idéia possui conotação subjetiva que adquire ares doutrinais
quando abdica da crítica em favor do dogmatismo. Assim é o ensino
ingênuo da Filosofia, uma transmissão opaca do conhecimento histórico
das muitas filosofias, este é o risco de toda prescrição dogmática para o
ensino da Filosofia. A elaboração do conteúdo programático de Filosofia
para os processos seletivos da UFU não atentou para o nó metodológico
a ser desatado tendo em vista o ensino da Filosofia.
A presença da Filosofia entre as disciplinas dos exames de
ingresso na UFU não incide na elitização do seu ensino. Esta convicção
remonta a Kant, para ele aquilo que era denominado de Filosofia no seu
tempo, não passava “de um conceito escolástico de Filosofia” (1988, p.
238 — grifos do autor), e como tal, impossível de se popularizar. Mas
há que se popularizar a Filosofia, para que o conhecimento seja a
manifestação da razão liberta das opiniões. Uma vez que a Filosofia não
está para o elitismo do seu ensino, o conteúdo programático das provas
incorre no equívoco didático, dito de outra forma, o ensino da Filosofia
carece da didática especial deste ensino. Recorrendo mais uma vez a
85
Kant, “só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da
razão” (1988, p. 237), esta é a grande tarefa a ser realizada após a
inclusão da Filosofia nas escolas secundárias da região de influência da
UFU.
É muito provável que Hegel encontrou inspiração na
arquitetônica da razão pura de Kant para formular o seu conceito de
história da filosofia. Por mais que Hegel critique Kant pelo formalismo
do seu sistema de crítica da razão, é inegável a influência da definição
de atividade filosófica como exercício da razão. Hegel entende por
Filosofia a experiência da consciência, uma experiência histórica, isto é,
no mundo. A História é a experiência do pensamento e o mundo é o
palco dessa experiência, o lugar no qual a consciência humana se
desdobra e se explica, para que neste exercício se reconheça como ser
real, que ao refletir sobre si mesmo atinge o auto-conhecimento para si.
O sistema hegeliano toma a Filosofia como a verdade. Resulta desta
definição de Filosofia o paradoxo da história da filosofia: como pode
aquilo que é, sempre, ter a sua história? Para resolver o paradoxo, Hegel
dedicou-se à história da filosofia.
A história é, segundo Hegel, “o trabalho de todas as gerações
precedentes do gênero humano” (1989, p. 87). Portanto, a história não é
produto, ela é processo. Aqui fica latente outra proximidade do
idealismo absoluto com Kant. Para este último — cabe recordar — o
exercício da razão é a propedêutica dela própria, Hegel por seu turno,
considerou a história da filosofia, isto é, a experiência da consciência
como “iniciação no conhecimento da própria ciência” (1989, p. 89),
note-se que a história da filosofia é somente a iniciação da razão que
percorre a série de trabalhos precedentes que produziram a cultura do
86
presente. Contudo, o mais importante é o pensamento, a sua experiência
incessante. Por isso, a história da filosofia é a “ciência da filosofia”
(1989, p. 90).
Kant remete o estudante de Filosofia ao exercício da razão,
Hegel exige a experiência do pensamento, nenhum desses ancestrais do
ensino moderno da Filosofia se manifesta em favor da doutrinação
filosófica. Muito pelo contrário, cada filosofia é tão só uma experiência
da consciência, e na medida em que se afasta do pensamento se torna
doutrina, por isso o conhecimento histórico é dogmático, porém, ele é
apenas prolegômenos, o dogmático Platão (1989) diria que é somente o
prelúdio da filosofia.
A ausência de critério para o ensino da Filosofia precisa ser
superada, a execução desta tarefa demanda maior reflexão sobre o
método a ser adotado tendo em vista as aulas de qualidade, única
maneira de vencer o alheamento do jovem e do adolescente para com a
reflexão filosófica, distância a ser vencida em decorrência de muitos
estereótipos atribuídos à Filosofia, dada a suposta falta de especificidade
do seu ensino. De acordo com Nielsen Neto é fundamental o rigor na
formação do professor de Filosofia:
Por isso, o ensino de filosofia, para ser eficiente,
não pode ser aleatório. Isso significa que ela só deve
ser ministrada por alguém licenciado. A
improvisação nunca deu certo em atividade alguma,
muito menos em filosofia. Mesmo entre os
licenciados na disciplina, é possível encontrar
alguns que não tiveram a oportunidade de examinar
com mais vagar certos momentos da história da
filosofia. Isso porque é essencial que o aluno
87
percorra a história do pensamento para perceber que
filosofia não é estado de espírito, nem, muito
menos, conduta de vida. É imprescindível que o
educando saiba disso e distinga o pensamento
filosófico de vulgaridades que são divulgadas em
seu nome (1986, p. 47).
Os proponentes do conteúdo programático de Filosofia para os
processos seletivos da UFU reputam-se partidários da história da
filosofia, porém, colocam-se distantes da definição clássica deste
disciplina enunciada por Hegel. Nisto há coerência, porque, Hegel só foi
ser estudado na França na década de 30 do século passado, na mesma
época em que as Missões Francesas introduziam as técnicas do estudo
acadêmico da Filosofia na Universidade de São Paulo, polo pioneiro da
implantação da Universidade no Brasil.
Com o passar do tempo a metodologia implantada pelos
mestres franceses ficou conhecida de maneira equivocada como História
da Filosofia, quando na realidade o que se fez foi a introdução das
técnicas da leitura estruturalista do texto clássico de Filosofia, cujas
origens remontam ao mesmo contexto alemão de Kant e Hegel, no qual
teve início, também, a prática da hermenêutica das obras filosóficas. A
técnica francesa para o estudo filosófico foi disseminada nos novos
cursos de Filosofia, tornando-se prática corrente e em oposição ao
ensino teológico da Filosofia. Assim, a comissão do Departamento de
Filosofia da UFU que elaborou o conteúdo programático de Filosofia
para a COPEVE propõe como metodologia do ensino da Filosofia para
adolescentes e jovens do ensino médio a mesma modalidade de leitura
instrumental dos textos clássicos praticada nos cursos de bacharelado.
88
Recuperado o equívoco que leva muitos professores de filosofia
a denominar de história da filosofia aquilo que é apenas leitura
estruturalista do texto filosófico, é possível tecer alguns poucos
comentários à deficiência desta opção metodológica, quando se trata do
ensino médio para adolescentes e jovens.
A história da filosofia, tal como foi enunciada por Hegel, é
essencial para as aulas de Filosofia, permite o contato do estudante com
aquilo que já é conhecido, preparando-o para indagar sobre aquilo que
ainda não lhe é manifesto. Aquilo que ainda permanece como não saber
precisa ser inquirido pelo aluno e este exercício não pode ser substituído
pelas respostas prontas extraídas deste ou daquele texto. A presença do
texto clássico nas aulas do ensino médio é indispensável, porém, o uso
deve estar voltado para a introdução da Filosofia, servindo de estímulo
para o exercício do pensamento do estudante.
O texto clássico não pode substituir a curiosidade do estudante,
não é um modelo a ser imitado; como modelo o texto proporciona o
conhecimento das experiências realizadas por outros pensadores, mas
não deve inibir a prática salutar e intransferível do pensar por si mesmo.
A este respeito Descartes foi magistral na introdução do seu Discurso do
método: “o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual
deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar de que
maneira me esforcei por conduzir a minha” (1987, p. 30).
Muito mais que o elitismo do ensino, o equívoco na redução da
história da filosofia à mera leitura estruturalista do texto filosófico
impõe uma especialização precoce e impossível de ser atingida nas
séries do ensino médio. Na melhor das hipóteses o aluno saberá o que é
a virtude, por exemplo, para um ou mais filósofos, porém, o estudante
89
estará de posse — se isto acontecer — de respostas limitadas, que
podem limitar a sua definição, ao invés de levá-lo a explorar o conceito
de virtude para atender as suas necessidades peculiares, inerentes à sua
formação como pessoa. Recordando mais uma vez as sábias palavras de
Kant sobre alguém que conhece a filosofia wolffiana, “ele só sabe e
julga tanto quanto lhe foi dado” (1988, p. 237), e para isto não é
necessário professor, basta a leitura atenta dos livros de Wolff. É
esperado algo mais do ensino da Filosofia, principalmente no momento
em que o adolescente começa a estabelecer um novo contato com o
mundo, deixando entrar em seus pensamentos novos conteúdos que
sejam capazes de lhe oferecer novas interpretações do mundo. No
pequeno escrito de intervenção, Resposta à pergunta: que é
esclarecimento? (1985) Kant se referiu à emancipação do entendimento
infantil, algo possível desde a mais tenra idade, mas que demanda
disciplina para que o adolescente atinja naturalmente a maturidade.
A saída da menoridade coincide com o uso autônomo da razão,
o que exige a independência de raciocínio. O esclarecimento é a
condição daquele adolescente que não se submete mais à tutela do outro,
que não se deixa guiar pelo outro. Esta deve ser a principal qualidade da
educação escolar. Outra vez a contribuição de Kant é considerável,
parafraseando-o é possível afirmar que o ensino da Filosofia nas escolas
eqüivale ao uso privado da razão, ao aprendizado da razão em
emancipação. O resultado do uso privado da razão é o seu uso público,
que cada um deve fazer, eis a definição dada por Kant: “entendo
contudo sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que
qualquer homem, enquanto SÁBIO, faz dela diante do grande público
do mundo letrado” (1985, p. 104 — grifos do autor). O ensino da
90
filosofia é, portanto, um problema filosófico e não pedagógico, porque o
responsável pelo ensino da razão, ou filosofar, é o filósofo, é ele o tutor
que uma vez liberto “do jugo da menoridade” atuará como o tutor dos
seus alunos tendo em vista a mesma liberdade (Kant, 1985, p. 102).
Mais recentemente, em 2001, foi feita uma nova revisão do
conteúdo programático, que resultou na elaboração de justificativas para
a seleção dos filósofos e dos temas escolhidos, porém, as diretrizes
metodológicas para a abordagem desses pensadores e suas obras
respectivas ainda não se fizeram presentes. Mais uma vez a elaboração
do programa não foi feita pela equipe de Prática de Ensino, apesar da
experiência acumulada nos últimos cinco anos de atividades dessa
equipe. Os responsáveis pela revisão do conteúdo programático foram
os mesmos que elaboraram a primeira versão, contudo, na elaboração da
nova proposta a comissão tentou incorporar algumas considerações
sobre o ensino da Filosofia feitas pela equipe de Prática de Ensino em
reuniões departamentais. Apesar do reconhecimento da pertinência das
reflexões conduzidas pela equipe de Prática de Ensino, a comissão
manteve a rigidez do conteúdo focado em pensadores e suas principais
obras. As novidades da revisão feita em 2001 foram a recondução de
Maquiavel, depois de cinco anos longe das provas, e a inclusão de
Hegel, restringindo-o à idéia de história.
A filosofia: democratização do ensino e emancipação social
As páginas precedentes apresentaram a leitura crítica de uma
experiência inédita e que merece ser discutida tendo em vista o
aprimoramento da atividade filosófica, não apenas na região em que a
91
Filosofia é parte integrante dos processos de ingresso no ensino
superior, até porque a presença da Filosofia no vestibular depende dos
humores dos dirigentes e representantes da comunidade local, que são
facilmente influenciados pelos argumentos utilitaristas que pretendem,
no caso específico de Uberlândia e sua universidade federal, a redução
do número de disciplinas requeridas para o ingresso na instituição. Está
em curso na UFU uma nova avaliação dos processos seletivos e a
orientação proposta pela COPEVE é a eliminação do vestibular
tradicional em favor do exame seriado do modelo alternativo, o PAIES.
Para tanto, a COPEVE tomou emprestado o modelo em prática na
UFPB. Certamente, a UFU não copiará integralmente o modelo UFPB,
contudo, é dada como certa a redução do número de disciplinas para os
exames de ingresso.
Dados preliminares dos trabalhos da Comissão de Avaliação
dos Processos Seletivos apontam para a possibilidade de cada curso
superior determinar as disciplinas necessárias para a definição do perfil
do futuro estudante, quebrando a universalidade das provas para todas as
carreiras universitárias. Caso a proposta de seleção induzida prosperar, a
universidade estará provocando um novo retrocesso na formação escolar
de adolescentes e jovens, regredindo ao estágio da primeira metade do
século passado, pois trará novamente o ensino médio compartimentado
conforme as carreiras universitárias almejadas pelos estudantes
secundaristas. A grande rede comercial de ensino criará cursos
secundários flexíveis, com carga horária mínima, de acordo com as
áreas do conhecimento. A degradação das condições de ensino no país
criam o temor de que o novo quadro do ensino médio será bem pior que
aquele de quarenta anos atrás, com as suas três modalidades de curso
92
secundário: o clássico destinado às humanidades, o científico para as
áreas tecnológicas e profissionalizante para que já está fadado à
exclusão social.
As críticas formuladas no tópico anterior têm o propósito de
aprimorar o ensino da Filosofia, pois dado o estado de abandono da
educação escolar básica, o simples fato da Filosofia estar presente no
processo seletivo de uma universidade pública trouxe muitos benefícios,
seja para a comunidade filosófica, seja para a melhoria do ensino médio.
As páginas seguintes apresentam as pequenas, mas não poucas,
conquistas alcançadas nestes últimos oito anos nos quais a Filosofia, por
força do vestibular e do PAIES, esteve presente nas escolas de
Uberlândia e região do Triângulo Mineiro.
Em pesquisa recente, feita em 2002 e tendo apenas as 23
escolas da rede pública da cidade de Uberlândia como universo, foi
constatado que há 19 professores em atividade — em 1996 eram 19
professores distribuídos entre as escolas públicas e particulares —, dos
quais 11 são licenciados em Filosofia — contra 3 da pesquisa de 1996.
Todos os professores da rede pública adotam o conteúdo programático
das provas do vestibular.
O número de professores licenciados atuando na rede pública
denota um dos muitos avanços alcançados com a inclusão e manutenção
da Filosofia entre as provas dos processos seletivos da UFU, dentre os
11 professores licenciados, 8 são egressos do Curso de Filosofia da
UFU, porém, nos últimos seis anos — o Curso de Filosofia da UFU
iniciou suas atividades no primeiro semestre de 1994, tendo a primeira
turma de licenciados em 1998 — foram formados 77 professores, um
93
número pequeno, e mais pequeno ainda é o número dos que
conseguiram ingressar nas redes pública e particular de ensino.
As escolas públicas e particulares de Uberlândia e a maioria das
escolas da região de influência da UFU incluíram a Filosofia em suas
grades curriculares, porém, a carga horária é mínima, apenas uma hora
aula semanal durante duas das três séries do ensino médio. O conteúdo
programático para as provas do vestibular é composto de 29 tópicos
relativos a 19 pensadores, o que obriga os professores a utilizarem o
expediente da transmissão de informações relativas ao pensador e à sua
doutrina, elucidando os aspectos centrais do seu sistema de pensamento.
As aulas de Filosofia não concorrem apenas para a ampliação
da cultura geral dos estudantes do ensino médio, a Filosofia contribui
para a melhoria global da instrução escolar. Em um estudo ainda inédito
relativo ao período de 1996 a 2000, o ex Presidente da COPEVE, Elias
Bitencourt, identificou a acentuada diminuição das provas em branco na
segunda fase e também a melhoria nas notas das questões discursivas
das demais disciplinas. Para o pesquisador o cruzamento de dados
permite a elaboração desta inferência: a Filosofia contribui para a
melhoria do ensino.
Apesar das limitações impostas pelo programa que se tornou
obrigatório e a carga horária diminuta, os estudantes do ensino médio
demonstram boa receptividade ao ensino da Filosofia, tanto é assim que
a procura pelo Curso de Filosofia da UFU aumentou significativamente
nos últimos cinco anos. Nos primeiros anos de funcionamento do Curso,
entre 1994 e 1999, a relação candidato/vaga não ultrapassava o
percentual de um candidato/vaga; a partir do vestibular de janeiro de
2000 a relação candidato vaga passou a ser, em média, de cinco
94
candidatos por vaga, no último vestibular — janeiro de 2004 — a média
foi de 5,53 candidatos por vaga. Este percentual é significativo quando
se trata de uma região interiorana e distante dos grandes centros urbanos
do país.
Além do crescimento da procura pelo Curso de Filosofia da
UFU, foi criado um novo Curso de Filosofia na cidade de Uberlândia,
mantido pela Faculdade Católica de Uberlândia, cujas atividades foram
iniciadas no primeiro semestre de 2001. A mantenedora do Curso
justificou a sua criação, entre outras razões, em virtude do excedente que
não ingressa no curso da UFU.
O funcionamento de dois cursos de Filosofia em uma mesma
cidade faz prosperar a atividade filosófica, criando condições para o
desenvolvimento de outras atividades além daquelas tipicamente
acadêmicas, é o caso da Filosofia Clínica que tem expandido a sua
atuação, chegando a oferecer, a partir de 2003, um Curso de
Especialização em Uberlândia, contando inclusive com professores
ministrantes egressos do Curso de Filosofia da UFU e que há alguns
anos se dedicam à esta atividade vinculada à Filosofia.
A tendência da introdução do ensino da Filosofia no ensino
fundamental é uma realidade em Uberlândia, três escolas particulares e a
Escola de Aplicação da UFU já introduziram as atividades que são
identificadas como filosofia para crianças. Nesses estabelecimentos
ainda não há licenciados em Filosofia coordenando e dirigindo estas
atividades, de modo que há este campo a ser explorado pelos professores
de Filosofia.
95
A mobilização pela inserção no mercado de trabalho é outra
meta buscada pelos egressos da UFU que, em conjunto com os poucos
licenciados oriundos de outras localidades, fundaram em 07 de junho de
2003 a Associação dos Graduados em Filosofia, que conta com
assessoria jurídica aos filiados e mantém um jornal informativo das
atividades da Associação, com espaço reservado à mobilização nacional
em prol da Filosofia. De acordo com os coordenadores da Associação, a
criação do órgão de classe surgiu durante o Curso de Licenciatura, na
época da Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado (2003, p. 1).
Apesar da sua natureza classista, a Associação evidencia o grau de
organização dos bacharéis e licenciados em Filosofia na defesa dos seus
interesses e, também, na defesa da propagação da Filosofia.
Talvez nem tudo seja decorrência da inclusão da Filosofia no
vestibular, mas certamente, este fato permitiu aos adolescentes e jovens
um primeiro contato com ela, mesmo que limitado, evidenciando que há
o interesse pela Filosofia, que o seu ensino consegue atrair a atenção dos
estudantes do ensino médio. Não serão os exames de admissão no
ensino superior que garantirão estas conquistas, e mais ainda, a sua
expansão. É preciso intensificar a mobilização em prol do ensino da
Filosofia nas escolas, ministrado em aulas destinadas à esta disciplina,
sem confundi-la com os supostos temas transversais que, sem a
Filosofia, jamais atingem aquilo que em décadas passadas foi chamado
de interdisciplinaridade. A ausência da Filosofia, como disciplina, faz
dos temas transversais apenas conceitos indeterminados de um ensino
limitado e inoperante. A defesa da Filosofia é a defesa da educação de
qualidade tendo em vista a emancipação da sociedade brasileira, pois
como dizia Kant, para encerrar, “é difícil para um homem em particular
96
desvencilhar-se da menoridade” (1985, p. 102), assim é a Filosofia, a
prática da liberdade conquistada no esforço coletivo de humanização do
mundo.
Bibliografia
ARANHA, M.L. & MARTINS, m.h. Filosofando, introdução à
filosofia. São Paulo: Moderna, 1986.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Constituição do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Livraria
Del Rey, 1990.
ASSOCIAÇÃO DOS GRADUADOS EM FILOSOFIA. Editorial.
Jornal da Associação do Graduados em Filosofia. Uberlândia, Ano 1,
n. 1, Dezembro de 2003.
DESCARTES, R. Discurso do método. In: ___. Descartes. Tradução de
J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, Volume I.
Coleção Os Pensadores, 1987.
HEGEL, G.W.F. Introdução à história da filosofia. In: ___. Hegel.
Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Nova Cultural,
Volume II. Coleção Os Pensadores, 1989.
KANT, I. Crítica da Razão Pura. In: ___. Kant. Tradução de Valério
Rohden. São Paulo: Nova Cultural, Volume II. Coleção Os Pensadores,
1988.
___. Resposta à pergunta: que é “esclarecimento”? In: ___. Immanuel
Kant: textos seletos. 2.ed. Tradução de Raiumndo Vier. Petrópolis:
Vozes, 1985. p. 100-117.
NIELSEN NETO, H. Prolegômenos à destruição do ensino no Brasil.
In: ___. (Org.) A filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF/SOFIA
Editora, 1986.
PLATÃO. A República — Livro VII. Tradução de Elza Moreira
Marcelina. Brasília/São Paulo: Editora da UnB/Ática, 1989.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS.
Proposta Curricular de Filosofia — 2º Grau. Belo Horizonte:
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 1990.
97
A FALA DOCENTE E O PARADOXO DO ENSINO
Marcelo Fabri∗
Uma abordagem fenomenológica do ensino e da filosofia permite
retomar o conceito de logos mediante um recurso metodológico que, à
primeira vista, pode parecer um mero jogo de palavras: no ensino e na
atividade filosófica, a relação dos educandos com uma fala docente vai
se tecendo graças a uma tensão sempre recomeçada entre o originário e
o pré-originário, entre princípio de orientação e ausência de princípio. A
fala docente, independentemente de todo o contexto, existe como
possibilidade de organização do caos dos fatos, como início de uma
disciplina que só poderia se estabelecer graças ao domínio do universo
indiferenciado dos fenômenos. Por isso, o ato de ensinar é uma espécie
de manifestação do humano, e não uma prática exclusiva de instituições
escolares. Por outro lado, a sincronia promovida ou aspirada pela
situação de ensino já traz em si o não-sincronizável das relações
humanas, a dúvida cética que sempre dá inicio a um novo processo de
construção do conhecimento. Na situação de ensino, a razão se
reencontra com o espectro do ceticismo.
Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia/UFSM. Endereço eletrônico:
[email protected]
98
O ensino é paradoxal porque, no momento mesmo em que se
reconhece a necessidade de demonstração de saberes ou a elevação dos
interlocutores ao plano comum do conceito como a condição de toda
aprendizagem, descobre-se igualmente que, no próprio ato de ensinar, a
tarefa crítica do saber tem início. Assim, o “mestre”, que é aquele que dá
início ao processo de unificação das diferenças, é também a base
humana ou hipóstase por meio da qual ocorre o lapso de tempo que
desestabiliza a sincronia do logos. Se é correto afirmar que somente um
“mestre” poderia trazer o sentido do que é demonstrar e conceituar,
também se pode dizer que a fala docente é aquela que ocasiona a
realização do sentido do logos a partir da situação concreta do ensino.
A fala docente
Comecemos com a pergunta: o que entender por fala docente? Na
perspectiva de Levinas, trata-se de uma expressão que remete à presença
concreta de outrem diante de mim, ao encontro com uma exterioridade
humana que me faz face e, assim sendo, me permite descobrir a
condição de separado em que me encontro. Em outros termos, outrem é
aquele que me desperta para a condição de existente que se desligou de
tudo o que possa formar um mundo comum, e é por isso que, na
perspectiva levinasiana, a relação ao outro provoca uma ruptura da
totalidade (Cf. Levinas, 1974). A relação inter-humana supõe uma
distância intransponível entre os interlocutores, e é graças a esta
separação que outrem pode propor o mundo a mim, trazendo com isso
um princípio de orientação, uma quebra da anarquia dos fatos (Levinas,
1974, pp. 64-65). Esta ruptura marca o início de toda construção teórica
e de toda crítica do conhecimento.
99
Temos, assim, dois movimentos que parecem se opor, mas que no
fundo convergem. Em primeiro lugar, é a superação do caos dos fatos
que se encontra em questão. O ensino é a condição de todo o fenômeno,
pois é ele que articula o aparecer das coisas com a linguagem. Sem a
presença daquele que ensina, tudo estaria imerso na indiferença e na
confusão. No segundo caso, é o próprio questionamento do sistema ou
ruptura da totalidade que se converte no sentido da vida filosófica ou do
trabalho científico. Daí poder-se dizer que a fala docente é o começo de
uma nova etapa do saber. Explica Levinas:
O ensino, como fim do equívoco ou da confusão, é
uma tematização do fenômeno. É porque o
fenômeno me foi ensinado por aquele que se
apresenta em si mesmo – apreendendo os atos desta
tematização que são os signos, isto é, falando – que
eu não sou mais o joguete de uma mistificação, mas
tomo em consideração os objetos. A presença de
outrem rompe a feitiçaria anárquica dos fatos: o
mundo torna-se objeto (1974, p. 72).
Outrem é a condição do ensino e da razão, isto é, da formação de
um mundo conceptual comum, é aquele que me traz a possibilidade de
organizar o mundo pelo saber, revelando-me o sentido da objetividade e
preparando as bases de toda universalização. Mas, curiosamente, outrem
é o diferente capaz de revelar-me que a busca de um plano comum entre
nós tem como contrapartida o encontro com uma diferença
intransponível, uma impossibilidade de nos colocarmos no mesmo
plano, numa palavra, outrem marca a origem de uma dissimetria que
torna praticamente impossível evitar o recomeço da crítica do
100
conhecimento. Ora, o começo desta crítica é o pôr-em-questão o
primado da universalidade e do sistema sobre os interlocutores.
A comunicação de idéias, a reciprocidade do
diálogo, já escondem a profunda essência da
linguagem. Esta reside na irreversibilidade da
relação entre Mim e o Outro, na docência do Mestre
coincidindo com sua posição de Outro e de exterior.
A linguagem só se pode falar, com efeito, se o
interlocutor for o começo de seu discurso, se ele
permanecer, por conseguinte, para além do sistema,
se ele não estiver no mesmo plano que eu (Levinas,
1974, p. 73. Grifo do autor).
Por conseguinte, o ensino é a condição de possibilidade da crítica
do conhecimento. Estranha condição, aliás, pois a aspiração fundamental
da filosofia, que desde Aristóteles se reconhece como sendo a realização
da epistême ou da teoria, é como que subvertida por um movimento que
não aspira ao repouso, que não aponta para a primazia do ato sobre a
potência. O filosofar será, então, um movimento de pôr-se-a-si-mesmo
em questão, o reconhecimento de que a linguagem proposicional, antes
de ser a condição primeira do exercício filosófico e científico, é como
que o produto da fala docente, vale dizer, é a situação na qual o mundo é
proposto a mim e pela qual a objetividade começa a ser possível. Para
Levinas, a objetividade “se põe num discurso, numa com-versa (entretien) que propõe o mundo. Esta proposição se mantém entre dois pontos
que não constituem sistema, cosmos, totalidade” (Levinas, 1974, p. 68).
Nesse sentido, toda proposição marca a presença concreta de uma
alteridade, sem a qual não haveria saber objetivo, e é precisamente esta
palavra vinda de outrem que pode ser chamada fala docente. Graças a
ela, o mundo pode ser tematizado e interpretado de modo permanente;
101
através dela, os interlocutores permanecem separados, resistindo à
totalização.
Em cada palavra pronunciada, anuncia-se uma tarefa de
esclarecimento, um esforço para ensinar, uma luta para atualizar o
presente. A fala docente é uma espécie de presentificação, uma luta
para vencer a corrosão do tempo, para evitar a queda infindável das
coisas presentes no mundo do passado. Do mesmo modo, o docente
representa uma oportunidade para que o eu receba um ensinamento, para
que o mundo venha até ele sob a forma de objeto tematizado. Daí poderse dizer que a fala docente é aquela que articula a própria crítica do
conhecimento. Ela propicia, a uma só vez, a entrada e a saída dos
indivíduos no mundo comum do saber ou dos sistemas teóricos. Por
isso, a fala docente é sempre uma batalha contra o caos e a anarquia dos
fatos, uma espécie de compromisso com a objetivação. O mestre põe em
marcha a obra conceptual, o trabalho de generalização. Por outro lado,
ele propicia a ocorrência ou ressurgimento do ceticismo, como se fosse
impossível duvidar sem o acolhimento de um mestre, daquele que é
origem de toda orientação e, consequentemente, de todo saber. De
algum modo, é pela presença de uma fala docente que se pode
compreender que a vida filosófica é sinônimo tanto de comunicação de
idéias quanto de exercício crítico das mesmas. A resposta de um mestre
não deixa de ser sempre uma pergunta, uma interrogação, um
questionamento a quem aprende. Acolher um mestre é ser colocado em
questão.
Temos, assim, dois movimentos em permanente tensão. Em
primeiro lugar, a relação com o outro abre a possibilidade da partilha, do
mundo comum, da universalidade. O trabalho do conceito depende desta
situação de ensino. Nas palavras de Levinas: “O pôr em questão das
102
coisas num diálogo não é a modificação de sua percepção; ele coincide
com a objetivação. O objeto se oferece, desde que tenhamos acolhido
um interlocutor” (1974, p. 41. Grifo do autor). Eis porque os fatos
deixam de ser indiferentes ou caóticos, ganhando uma orientação. De
outro lado, o acolhimento de um interlocutor é também a condição de
possibilidade da crítica e da autocrítica, numa palavra, é a oportunidade
de um recomeço de toda atividade teórica. O saber é essencialmente
crítico, pois sua realização depende de um questionamento que não pode
vir de mim mesmo. A situação de ensino coincide com a vida filosófica,
ela é o móvel mesmo do filosofar. Sem o acolhimento de um mestre, não
tomaríamos consciência de nossa imperfeição e de nossa arbitrariedade
(Levinas, 1974, p. 56). Por conseguinte, uma fenomenologia da fala
docente permite visualizar a tensão, sempre recomeçada, entre a busca
de um mundo comum por meio dos conceitos, e a descoberta de que a
tarefa crítica do saber depende da separação dos interlocutores, isto é, da
constatação de que eles não se encontram no mesmo plano. Pensamos
que a fala docente é a condição de possibilidade não só da razão, mas
também e, sobretudo, do ceticismo. Por quê?
Retorno do ceticismo e ensino
Um dos grandes problemas da filosofia, hoje, talvez seja o de
saber se há sentido em relacionar a razão com o seu adversário mais
temível: o ceticismo. A razão é, em certo sentido, a luta interminável
contra o ceticismo. Se este não pudesse retornar ou ressurgir, deixando
assim de incomodar e ameaçar, haveria nisto um sinal de que a razão
tornou-se uma quimera, um jogo de palavras, um exercício de retórica.
Não se trata de dizer que não temos mais produção filosófica de
103
qualidade, mas sim que há uma grande chance de que tenhamos
esquecido o significado da fala docente. O ceticismo não é uma simples
descrença na razão, mas sinal de que o logos se encontra em plena
atividade. O esquecimento da fala docente seria a causa de uma
indiferença generalizada, o sintoma de que as diferenças existentes
(correntes, atitudes e grupos filosóficos, por exemplo) perderam toda
chance de encontrar um sentido que as oriente e as conduza ao diálogo.
Tudo se passa como se estivéssemos distantes de toda possibilidade de
encontrar a origem e o começo do que falamos em nossas próprias
intenções, como se os diferentes jogos de linguagem merecessem uma
psicanálise sem fim. A esse respeito, Levinas afirma:
O mundo contemporâneo, científico, técnico e
gozador se vê sem saída – isto é, sem Deus – não
porque tudo lhe é permitido e, pela técnica, tudo
possível, mas porque nele tudo é igual. O
desconhecido logo faz-se familiar e o novo,
costumeiro. Nada é novo sob o sol. A crise inscrita
no Eclesiastes não está no pecado, mas no tédio.
Tudo se absorve, se deturpa pouco a pouco e se
enclausura no Mesmo. Encantamento dos lugares
pitorescos, hipérbole dos conceitos metafísicos,
artifício da arte, exaltação das cerimônias, magia
das solenidades – em todas as situações se suspeita e
se denuncia um aparato teatral, uma transcendência
de pura retórica, o jogo (2002, p. 31).
É possível ir além deste predomínio do jogo? Pensamos que a
reflexão sobre o ensino de filosofia representa, na atualidade, uma
inquietação que permite reagir a esta situação de jogo denunciada por
Levinas, indo além inclusive de interesses teóricos e profissionais.
Trata-se de repensar a própria filosofia mediante a discussão sobre o
104
ensinar e o aprender, sobre a inseparabilidade entre a fala docente e o
exercício crítico do pensar. A abundância de pesquisas e de publicações
é sem dúvida algo positivo para a vida de reflexão, mas não pode ser a
razão de ser desta vida. Diante de milhares de periódicos nacionais e
internacionais, de que maneira os estudantes se decidirão? Como
selecionar e interpretar a interminável bibliografia existente e disponível
hoje? Sem a situação de ensino, estaremos entregues à indiferença dos
fatos, ao caos da informação desmedida. Mais ainda: o que significa a
crítica cética num mundo em que tudo se tornou indiferente? Mesmo
quando se confunde com o trabalho de um treinador esportivo, com o
técnico que prepara os atletas para uma competição, um professor não
pode fugir à sua própria condição. A fala docente é necessária como
ponto de partida de todo processo educacional. Do mesmo modo, podese dizer que não há produção de idéias e conceitos que possa prescindir
da situação de ensino, que já não implique a fala docente. Toda vez que
esta situação é menosprezada ou violentada, cai-se inevitavelmente na
impessoalidade e na indiferença. Os interlocutores são forçados a
renunciar à separação. O filosofar esmorece.
A fala docente conduz ao seguinte paradoxo: o esforço para
sincronizar e universalizar, presente em todo ato de ensinar, choca-se,
infindavelmente, com a dissimetria da relação inter-humana, isto é, com
a impossibilidade de que as diferenças sejam ultrapassadas pelo discurso
elaborado e unificado. Mestre, assim o pensamos, é aquele que torna
possível a diferença sem a qual o discurso pedagógico e filosófico
estaria impedido de avançar, de retomar-se continuamente sob a forma
de um ter-de-responder ao outro. Um discurso fixado pela escrita, dizia
Platão, não pode responder, não pode prestar auxílio a si mesmo (Platão,
1975, 275 a - 276 a). Só uma fala docente poderia recuperar o já dito e
105
escrito, sob a forma de interpretação ou de um novo dizer. No ensino de
filosofia, é toda a história do pensamento que pode de novo falar. O
acolhimento do mestre marca o começo e o recomeço de todo o
filosofar.
A esse respeito, o Sócrates platônico nos parece exemplar. No
Primeiro Alcibíades, o mestre da ironia zomba das pretensões do jovem
aspirante à vida pública, supostamente dono de um saber consistente
sobre a justiça. “Foi o deus, Alcibíades, que até este dia me impediu de
conversar contigo; é a fé que tenho nele que me leva a asseverar-te que
só por meu intermédio chegarás a conseguir a glória ambicionada”
(Platão, 1975, 124 d). Eis a ironia socrática. A glória ambicionada – o
poder -- é justamente aquilo que a filosofia deve desprezar. O erro de
Alcibíades é pensar que o conhecimento é algo que pode encontrar um
termo e, a partir daí, ser aplicado à uma situação prática. Os problemas
filosóficos implícitos em questões morais e políticas são o convite a uma
busca permanente da sabedoria.
O que é a justiça? Sócrates
simplesmente não responde, apenas interroga o jovem pretensioso,
desarmando-o, deixando-o tonto. Como filósofo, Sócrates está
convencido de que sua presença é sinônimo de uma impossibilidade de
resposta final, de um fechamento da questão. Sócrates, que é capaz de
duvidar sempre, possui a certeza de que tem algo em seu poder. Sem ele,
quer dizer, sem a situação de ensino que ele representa, o jovem estaria
condenado à sedução do poder e da opinião pública. A justiça não é um
objeto a ser conhecido, mas um valor a ser buscado, um cuidado
permanente com o que há de mais nobre em nós: a alma (Platão, 1975,
133 a-c).
Assim, numa pólis ameaçada pela recusa da filosofia, Sócrates
cumpre a missão divina de desestabilizar esta in-diferença, mostrando o
106
descompasso entre a busca da glória política e a prática da filosofia. Se
é verdade que no diálogo o ato de caminhar juntos estabelece a
cumplicidade e o companheirismo entre os envolvidos, concorrendo
para uma certa sincronia das almas, não é menos verdade que a
interlocução propicia o choque e a violência da fala docente. “És
violento, Sócrates”, afirma Alcibíades. Ao que o mestre responde: “Pois
só por violência vou provar-te precisamente o contrário daquilo que não
quiseste demonstrar-me” (Platão, 1975, 115 d). O interlocutor se
descobre, então, constrangido a realizar um exame interminável de suas
idéias e de suas atitudes de vida. Ele encontrou o sentido do que seja
filosofar: o cuidado para que o exame das idéias e a inter-locução não
sejam traídos pelo “saber” que de certo modo o diálogo trouxe à tona.
A fala docente não é somente aquela que presentifica e orienta,
mas
choque ou trauma contestando a origem e a sincronia. Ela é,
portanto, a condição de toda posição e de toda refutação, ou ainda, é a
alteridade sem a qual o ceticismo não retornaria infindavelmente, nem
poderia ser refutado (Cf. Levinas, 1990, 256-266). O diálogo não é
apenas busca de uma ordem a ser realizada, ou um dizer perfazendo sua
sincronia num todo que se completa de modo definitivo. Ele é também
e, sobretudo, a vida da razão como impossibilidade de que os
interlocutores sejam absorvidos pelo discurso e pela ordem comum
construída. O diálogo deixa uma tarefa, uma abertura, um vazio que é,
fundamentalmente, consciência de uma responsabilidade, e não a
congruência ou fixação dos interlocutores num sistema. O que está dito
está dito, mas o dizer sempre recomeça sob a forma de uma nova
exposição ao outro, de uma certa convocação à resposta. Assim, o
ceticismo, ele mesmo, não é somente uma capacidade de duvidar, um
ato de pôr em questão uma verdade, o exercício da liberdade por parte
107
de um sujeito pensante, mas a diacronia que ressurge ou reincide, a
despeito do saber alcançado ou realizado e, sendo assim, ele é o espectro
de uma an-arquia retornando, interminavelmente, na história da filosofia
(Levinas, 1990, p. 160).
Daí poder-se dizer que a fala docente é princípio de orientação e
ruptura de toda origem, é sincronia e diacronia a uma só vez. Ensinar
não é somente um sinal de aproximação, mas também de distância,
sendo por isso a condição da razão e do ceticismo. No primeiro caso, o
ensino coincide com a tematização do mundo, com a origem do
fenômeno a partir da relação inter-humana (linguagem), na qual o outro,
separado do eu, lhe fala e, assim fazendo, fornece a origem sem a qual
os fenômenos não poderiam ser recolhidos ou interpretados (Levinas,
1974, pp. 64-65). É por isso que outrem, que não é de modo algum uma
realidade objetiva, é a origem de toda tematização e de toda objetivação.
No segundo caso, o interlocutor é o estrangeiro, aquele que abala o
estar-em-si-mesmo de um determinado eu (Levinas, 1974, p. 9). Na
situação de ensino produz-se, então, uma transcendência, uma
impossibilidade de que os interlocutores sejam elevados a um conceito
comum, anulando desta sorte a distância intransponível entre eles. A fala
docente é aquela que promove a paradoxal relação entre a positividade
da resposta e a negatividade da questão, entre a posse comum do
conceito e o retorno inesperado do ceticismo. A fala docente ou ensino é
a condição de possibilidade do ceticismo e, por conseqüência, é o
sentido de toda obra da razão. Mas, perguntamos, que entender por
razão?
108
Ensino e razão
Para responder a esta questão, é preciso mostrar em que mediada
a fala docente, enquanto condição de possibilidade da razão e do
ceticismo, torna possível realizar uma epoché fenomenológica das
discussões sobre o ensino de filosofia, em benefício da tarefa de
filosofar sobre o ensino. Refletir sobre a situação de ensino já não é uma
forma de reconhecer a necessidade e a possibilidade de se ensinar
filosofia? Neste caso, a filosofia não é somente uma disciplina que faria
parte de currículos escolares, pois a relação inter-humana, sem a qual
não haveria a construção de conhecimento e nem o retorno necessário do
ceticismo, é a vida filosófica que se ignora ou que ainda não despertou
de seu sono, numa palavra, é o filosofar como vida da linguagem e
surgimento do humano. Se é verdade que a competência e o saber de
cada profissional devem ser preservados e enriquecidos em toda prática
educativa, é verdade também que o filosofar surge ou emerge a partir do
encontro com a fala docente, estejamos ou não na condição de
professores.
Por conseguinte, a fala docente, passível de estar implícita em
qualquer relação inter-humana, e que pode inclusive ser descrita por um
olhar fenomenológico sensível, deve ser assumida pelo profissional do
ensino, e de modo especial pelas práticas dos profissionais envolvidos
com filosofia. Esses profissionais talvez sejam os primeiros a ter
responsabilidade pela articulação entre presentificação e abertura ao
futuro, entre sincronia e diacronia, entre razão e ceticismo, pois esta
tensão constitui, mesmo que seja de um modo inconsciente, a trama
mesma do ensinar e do aprender, que não é outra senão a trama do
próprio filosofar.
109
A fala docente, uma vez assumida, reúne competência profissional
e atitude ética, ela incorpora o sentido do filosofar às práticas concretas
da educação. Nenhum condicionamento de que somos vítima, nenhuma
idéia que defendemos e nenhuma política que manifestamos retiram de
nós a responsabilidade pela realização do ensino. Como explica Paulo
Freire: “esta é uma das significativas vantagens dos seres humanos – a
de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes”
(2000, p. 28). A pratica docente é, assim, uma espécie de condenação.
Responder pelo saber acumulado pela humanidade, defender nossos
próprios pontos de vista sobre este saber e por outras interpretações
deste mesmo saber e, ainda assim, ser capaz de dizer não a todo e
qualquer tipo de determinismo, tudo isso é sinônimo de uma prática
docente autêntica e responsável.
Como presença consciente no mundo não posso
escapar à responsabilidade ética no meu mover-me
no mundo. Se sou puro produto da determinação
genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável
pelo que faço no mover-me no mundo e se careço
de responsabilidade não posso falar em ética. Isto
não significa negar os condicionamentos genéticos,
culturais, sociais a que estamos submetidos.
Significa
reconhecer
que
somos
seres
condicionados mas não determinados. Reconhecer
que a história é tempo de possibilidade e não de
determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar,
é problemático e não inexorável (Freire, 2000, p.
21. Grifos do autor).
O teor profético da fala de Paulo Freire chama a nossa atenção
para o sentido profético da linguagem humana como um todo e, por
conseqüência, de toda situação de ensino. O educador não determina
aquilo que ele mesmo torna possível durante um processo de
110
aprendizagem, assim como o educando não pode prever o rumo que sua
vida tomará, desde que a situação de ensino seja assumida por ele. Na
situação de ensino educador e educando são como que postos em
questão, a despeito de todo o controle que pretendem possuir. Mas
ambos descobrem, também, a dimensão do possível e do futuro, isto é, a
temporalidade como saída de si ou inquietude. A assimetria da relação
não traz de volta somente o espectro do ceticismo, mas também e,
fundamentalmente, a esperança de que o humano seja o sentido da
razão, e não o contrário.
O ensino, que sempre é a ocasião de respostas ou geração de
conhecimentos, é por outro lado a situação humana em que os
interlocutores chegam juntos a um questionamento que os desafia talvez
para sempre, pois a assimetria de sua relação vai além da sincronia e da
resposta que puderam de algum modo realizar. Daí a pergunta: O poder
de um educador como Sócrates era tão inabalável assim? Ora, todo
aquele que duvida sempre possui um saber, uma carta escondida em sua
manga. Mas até que ponto vai este poder?
Como preservar a diferença que choca o discurso coerente, como
pensá-la a partir da própria distância que ela abre em relação à ordem do
saber, ordem esta que sempre deve ser refeita? Aqui tem início uma
fenomenologia do ensino. Esta descreve o lapso de tempo que não pode
ser recuperado pelo discurso, pondo a descoberto minha exposição ao
interlocutor, para além de toda afirmação que pretenda ser a última
palavra. Na situação de ensino, quero convencer, orientar, dizer a minha
palavra, demonstrar o que eu já sei, mas é o interlocutor que no fundo é
a referência primordial de todo este desejo. É para ele que se dirige
aquilo que desejo significar. Eis porque, para Levinas, não há totalização
possível, não há dizer definitivo.
111
O retorno permanente do ceticismo não significa
tanto a explosão possível das estruturas, mas o fato
de que elas não podem ser a ossatura última do
sentido, e de que talvez seja necessária a repressão
para promover o acordo entre elas. Tal retorno nos
lembra o caráter político – num sentido muito amplo
– de todo racionalismo lógico, a aliança da lógica
com a política (Levinas, 1990, p. 265).
De nossa parte, afirmamos e enfatizamos que o ensino, pensado a
partir desta fenomenologia, é sinônimo de uma razão pré-original
(Levinas, 1990, p. 259), isto é, de uma razão que manifesta o humano
em sua resistência a tudo o que possa violentar a relação assimétrica
entre os interlocutores. Talvez seja isto que Paulo Freire chame presença
consciente no mundo. Talvez seja este o sentido da ética em Levinas.
Ser humano é descobrir-se responsável pelo outro, independentemente
de toda escolha que fazemos, para além de todo presente e de toda
deliberação. Com isso, a fala docente se vê mais uma vez às voltas com
o paradoxo. Ensinar é ter-de-responder em um duplo sentido: respondese tornando o mundo presente na tematização e na objetivação, mas
responde-se igualmente quando o tematizado é posto em questão. O
ensino é, assim, a situação humana em que razão e ceticismo se
encontram e se refutam interminavelmente, não por um mero capricho
ou fatalidade, mas porque o ensino, tanto quanto o humano, é o sentido
mesmo do racional. Eis porque, antes de se pensar sobre a possibilidade
e os modos de se ensinar filosofia, seria preciso descobrir o sentido e o
valor do próprio ensino.
112
Bibliografia
FÉRON, E.- De l’idée de transcendance à la question du langage. L’
itinéraire philosophiique de Levinas. Grenoble: Jérôme Millon, 1992.
FREIRE, Paulo - Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à
Prática Educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
LEVINAS, E.- Totalité et Infini. La Haye: Martinus Nijhoff, 1974.
LEVINAS, E. Autrement qu’ être ou au-delà de l’ essence. Paris:
Kluwer Academic, 1990.
LEVINAS, E.- De Deus que vem à Idéia. Trad. Pergentino S. Pivatto
(coord.), Petrópolis: Vozes, 2002.
PLATÃO. Diálogos. vol. V. Trad. Carlos Alberto Nunes, Universidade
Federal do Pará, 1975.
113
ENSINO DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS NO BRASIL
114
SOBRE O ESPAÇO DA FILOSOFIA NO CURRÍCULO
ESCOLAR∗
Ronai Pires da Rocha∗
Introdução
Os debates sobre ensino de filosofia no nível médio, nos
últimos anos, permitem identificar algumas características do mesmo.
Apontarei algumas delas, sem pretender ser exaustivo:
a) não existem programas oficiais definidos por Secretarias
Estaduais de Ensino ou Coordenadorias de Educação Regionais ou
Municipais;
b) quanto à escolha dos programas de ensino, predominam as
decisões tomadas pela escola e, em última instância, pelo professor.
Com isso, a unidade existente entre as aulas de filosofia das diversas
escolas de uma mesma região, quando existe, está baseada na adoção
dos mesmos livros didáticos;
Texto publicado em CANDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei (orgs). Filosofia e
Ensino: um diálogo transdisciplinar. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004, p. 17-37.
∗
Professor do Curso de Filosofia da UFSM. Endereço eletrônico: [email protected]
115
c) a inexistência de diretrizes e programas básicos de ensino
permite que o professor de filosofia tenha, na maior parte dos casos,
ampla liberdade de escolha de conteúdos, formas de abordagem,
atividades didáticas, bibliografia, etc;
d) constata-se, em algumas regiões mais do que outras, que as
direções de escolas por vezes aceitam entregar as aulas de filosofia para
professores não titulados na área. Esta tendência aumenta na medida em
que cresce a demanda por programas de filosofia com crianças, que tem
acolhido profissionais da área de Pedagogia;
e) verifica-se, em muitas escolas, o fato que a aula de filosofia é
vista pelos professores das demais disciplinas como um tempo que pode
ser tomado emprestado no horário escolar; assim, não é raro que o
professor de filosofia ceda seu espaço para o colega que está com falta
de carga horária para os conteúdos de sua disciplina. A filosofia é vista
por esses professores como uma disciplina pouco comprometida com
conteúdos obrigatórios e por isso tem o seu tempo curricular predado
pelos colegas. A filosofia, para esses professores, é vista como um
espaço de debates sobre coisas como “sexo, drogas & videoteipes”.
Diante desse quadro, pode-se dizer que não é muito fácil
compreender em que consiste uma aula de filosofia. Talvez isso seja
assim porque existem muitos tipos de aulas de filosofia, em uma mesma
sala e classe, e isso nem sempre é reconhecido. Estou convencido que,
se queremos ter uma visão mais realista sobre o ensino dessa disciplina,
precisamos reconhecer – e isto quer dizer acolher - algumas
ambigüidades da aula de filosofia. Ao escrever isso, estou pensado no
chamado “ensino de filosofia realmente existente”, e não em alguma
proposta ideal, baseada no último grito da moda filosófica européia.
116
A lista de características apontadas acima poderia ser ampliada.
Em especial, teríamos que lembrar o grande vazio de propostas didáticas
e de bibliografias, o deserto de discussões sobre didática de filosofia.
Nesse trabalho, quero apresentar argumentos sobre a natureza da
filosofia que poderiam ajudar na compreensão dessas características –
em especial a ambigüidade da aula de filosofia. Não poderei tratar, por
uma questão de espaço, da aula de filosofia enquanto uma questão da
didática. Por outro lado, creio que uma didática da filosofia deve
começar por um debate sobre esses fatos que todos nós conhecemos
bem.
Abordarei alguns aspectos da questão da aula de filosofia no
nível médio, em especial a necessidade de uma melhor caracterização
dos objetivos de nossa disciplina no contexto do currículo escolar.
Procurarei também ligar a discussão sobre a natureza da filosofia e de
seu ensino com o fato de que muitas vezes aceita-se uma fraca
profissionalização para seu ensino. Meu objetivo não é engrossar o coro
dos que falam mal da predação da aula de filosofia. Não quero rir dessas
coisas, tampouco chorar; gostaria apenas de compreendê-las melhor,
pois facilmente incorremos em algum tipo de moralismo pedagógico, se
a nossa compreensão desses fenômenos – em especial, das
ambigüidades da aula de filosofia - se reduz a uma queixa sobre as
incompreensões de que somos vítimas.
117
Esquema de uma discussão sobre programas de filosofia para o
nível médio
A discussão sobre programas de ensino tem ocorrido dentro de
certos esquemas de argumentação. De modo geral, a situação poderia ser
resumida como segue. Há, de um lado, um pequeno partido daqueles
que acreditam que a filosofia tem conteúdos. Os conteudistas (vamos
chamá-los assim) pensam que a filosofia, ao longo de sua história,
acumulou uma razoável riqueza discursiva, na forma de argumentos e
discussões sobre alguns problemas fundamentais que afligem o ser
humano. Diante disso, os conteudistas entendem que é adequado que
essa herança seja colocada ao alcance das novas gerações. Os
conteudistas pensam que a filosofia, em um sentido parecido com a
matemática ou a física, tem algo para ensinar; os filósofos, ao longo da
história, quebraram suas cabeças junto à problemas que, muitos deles,
continuam a afligir as gerações, e estas só tem a ganhar convivendo com
esse tesouro conceitual. Um conteudista não é um professor de história
da filosofia, no entanto. Ele entende que todo tipo de conteúdo filosófico
pode ser abordado a partir de problemas fundamentais, sem que
necessariamente a história da filosofia tenha que ser contada ou
resumida. Assim, um conteudista defende a existência de programas de
filosofia que indicam tópicos bem definidos, que, em última instância,
podem ser cobrados dos estudantes da mesma forma que os conteúdos,
digamos, da geografia ou de português.
O outro partido é mais loquaz. Contra os conteúdos, eles
gostam de enfatizar os processos. O processista – a palavra não existe e
é horrível – entende que essa crença em conteúdos congela a vida do
conceito filosófico, imobiliza a natureza conversacional da disciplina.
118
Ele diria, talvez, que a fixação de conteúdos contém em germe a rigidez
das fórmulas que esvaziam a riqueza dos conceitos. Ele diria que a
definição de conteúdos de filosofia vai fazer com que ela seja vítima da
mesma estratégia que é usada em outras disciplinas escolares: a
memorização vazia, a decoreba, e isso seria a morte em vida da filosofia.
Assim, um processista defende a aula de filosofia como um espaço mais
fluido, não travado por problemas e argumentos a serem examinados
escrupulosamente.
Os
processistas
são
muito
sedutores.
Tradicionalmente, tem levado a melhor nas discussões: experimente
apresentar a sua lista de conteúdos: não apenas mil outros poderão ser
facilmente contrapostos, como surgirá a objeção: a filosofia não é uma
matéria de conteúdos, como as outras... ela ensina a pensar, a ser crítico,
etc.
Essa descrição é, por certo, apenas esquemática, e não faz
justiça à riqueza da realidade; mas creio que ela apresenta alguns traços
relevantes da polêmica sobre o ensino de filosofia. Como poderia ser
decidida essa polêmica entre o partido do conteúdo e o partido do
processo? Talvez devêssemos nos perguntar se algum desses partidos
pode ser vencedor nesse tipo de disputa. Para que isso acontecesse, a
disputa deveria ter termos claros, decidíveis. Talvez isso não ocorra.
Talvez os dois partidos detenham, cada um, parte da verdade, e nossa
melhor atitude seja, nesse caso, examinar e tentar combinar os aspectos
positivos de cada posição. Mas não apenas isso. O debate sobre o ensino
de filosofia, enquanto é compreendido como uma oposição entre
partidos assemelhados a esses, está condenado à esterilidade. Esse
debate pouco avança – ao contrário, se esvazia - entre outras razões,
porque lhe falta um cenário real. Esse cenário somente pode ser
119
proporcionado pela consideração da escola como um todo. A visão de
planejamento curricular subjacente às nossas discussões sobre ensino de
filosofia costuma ser aquela dos reis que homenageiam o recém-nascido:
um currículo escolar pode ser obtido pela junção dos presentes bemintencionados que cada rei traz para o presépio.
Precisamos ser capazes de justificar e explicar a presença de
nossa disciplina, na escola, não para nós mesmos, mas para nossos
colegas de currículo. E o núcleo duro da resposta que temos que dar é o
seguinte: como o nosso trabalho se articula com os demais? Ou somos
reis magos, os filantropos do conceito?
O lugar da filosofia no contexto das disciplinas escolares
Meu ponto de partida é uma pergunta sobre a nossa
compreensão do lugar da disciplina Filosofia no contexto das demais
disciplinas escolares. É evidente que isso implica em refletir sobre a
natureza da filosofia, e, nesse sentido, alguém poderia objetar que se
trata da mesma e interminável discussão: o que é a filosofia, afinal? De
certa forma, esta objeção procede. Mas eu gostaria de propor uma
abordagem mais contida, que procura tomar em conta a existência
curricular da disciplina nas escolas. Isso obriga o professor de filosofia a
participar de reuniões com os professores das demais disciplinas sobre o
planejamento de ensino; nessas ocasiões, ele precisa, ao ter que dar
conta do lugar didático de sua disciplina, oferecer algo mais do que os
conhecidos lugares-comuns: a formação de consciência crítica, por
exemplo. Não é recomendável chamar para si o monopólio de tal
formação, diante do trabalho do colega de história, geografia, literatura,
120
e todas e cada uma das demais disciplinas, que, cada uma a seu jeito, são
peças fundamentais na formação crítica de cada um de nós. Se
quisermos entender o papel de cada disciplina nesse processo, isso nos
obriga a procurar algum esclarecimento sobre a natureza de cada uma
delas. É nesse sentido que procuro por uma compreensão mais contida
do lugar pedagógico da filosofia. Para tanto, vou sugerir um esquema
que está baseado na idéia de que as disciplinas escolares, em última
instância, representam os esforços humanos para dar conta das nossas
curiosidades mais legítimas, de nossos mais legítimos anseios de
compreensão. Nesse sentido, as disciplinas da área de Ciências Naturais
– Física, Química, por exemplo – visam dar conta de como o mundo é,
de como o mundo funciona, por assim dizer, sem as gentes. As
disciplinas escolares como as Sociais e Humanas – Sociologia, História,
Geografia – operam em uma outra esfera de nossa curiosidade. Elas
visam dar conta de como o mundo é, com as gentes e com a gente. Os
estudos de Psicologia, nesse sentido, ocupam uma espécie de espaço
intermediário entre esses dois grupos, na medida em que oferece ao
jovem uma discussão sobre como as gentes funcionam. Podemos dizer,
nesse sentido, que as ciências naturais e humanas pertencem a uma e
mesma área geral, a um mesmo interesse básico, que é o da
compreensão do mundo, em sentido amplo: mundo natural, mundo
social-histórico. A diferença importante, em todo o caso, é que no caso
da compreensão do mundo social-histórico estamos pessoalmente
implicados. Na aula de Educação Física, o aluno pode explorar sua
corporeidade; nas disciplinas de Artes, o estudante explora suas
capacidades expressivas. Mas a curiosidade humana segue. A vida
cotidiana - e também as disciplinas escolares - coloca para a criança uma
série de perguntas que as disciplinas até aqui mencionadas não tem o
121
compromisso de enfrentar; um professor de Matemática não tem o
compromisso de acolher uma conversa que surge entre os alunos sobre a
infinitude dos números naturais e o que se pode fazer com esse
intrigante conceito de “infinito”; o professor de ciências não precisa dar
conta dos limites de aplicação do conceito de causalidade, que é
indispensável em suas aulas, e que os alunos aplicam em áreas e objetos
nem sempre adequados. Assim, surge a pergunta sobre se o espaço de
formação escolar tem o compromisso de acolhimento de certas
curiosidades – um certo gênero de curiosidade - que não são
contempladas por nenhuma das disciplinas particulares.
Eu ofereci poucos exemplos, no parágrafo acima, mas creio que
falam por si mesmos. Não se trata apenas de que os alunos podem ter
curiosidades sobre o funcionamento e a condições de aplicação do
conceito de “infinito”, mas, prosaicamente, podem se perguntar, afinal
de contas, o que é “número”? A ausência de resposta para essas
curiosidades, por parte do professor de matemática não prejudica o
aprendizado na disciplina. Ninguém melhora sua performance nas
operações de matemática pelo fato de passar por uma boa discussão
sobre o conceito de número; são campos diferentes de operações e de
conceitos. Em um caso, precisamos dominar símbolos e regras
operacionais; em outro, trata-se de uma discussão conceitual, de segunda
ordem. Se o aluno se pergunta – e ele se pergunta, sim, apenas que de
maneiras enviesadas, que nem sempre reconhecemos e acolhemos como o conceito de “infinito” funciona fora da matemática, e sob quais
aspectos qualquer comparação entre os usos desse conceito é possível,
novamente o professor de matemática não se sentirá contratualmente
comprometido em responder.
122
O mesmo raciocínio vale para o complicado conceito de
“causalidade”, um dos mais intrigantes de nosso aparato de pensamento.
Em que regiões da realidade este conceito pode ser validamente
aplicado? Nas aulas de Ciências, o aluno aprende e passa a dominar – de
forma implícita, por certo! - um padrão de perguntas causais: a saber, ele
aprende que as perguntas causais estão baseadas em duas condições que
as tornam possíveis: em primeiro lugar, podemos supor a existência de
alguma outra coisa (processo, evento, etc) diferente daquilo que está em
questão; essa segunda coisa será causalmente relacionada à primeira; e,
em segundo lugar, podemos supor que a coisa em questão poderia não
ter existido; assim, isso vale para a pergunta sobre o surgimento dos
bebês, tanto no sentido de saber como eles vão parar lá no ventre da
mãe, como no sentido de que ela deveria (ou não) ter tomado tais e tais
providências, para provocar ou não esse fato! As perguntas causais são
intra-mundanas, no sentido em que elas visam dar conta das
contingências do mundo. O que acontece quando tentamos aplicar esse
conceito para o comportamento humano? O que acontece quando
aplicamos esse conceito para o “mundo como um todo” (argumento
cosmológico)?13 Bem, novamente, o professor de Ciências não tem
nenhum compromisso profissional de dar conta dessas curiosidades.
Aqui certamente surge a objeção que diz que até hoje não
dispomos de respostas simples e unívocas para esse tipo de pergunta que
desemboca em conceitos como infinito, número, causa, efeito, motivo,
razão, e toda a interminável lista de conceitos fundamentais que
igualmente brota de outras disciplinas da escola: corpo e alma, seja em
13
Sobre esse tópico, ver, por exemplo, o livro de Stephen Mulhall, Faith and Reason,
Duckworth, 1994.
123
Psicologia ou Educação Física, poder, política, ética, dominação, justiça,
legalidade, nas Ciências Sociais, e assim por diante.
A pergunta que uma criança faz na aula de ciências pode, com
habilidade, ser perfeitamente respondida, no sentido em que sua
curiosidade é temporariamente satisfeita, tamponada. Com o passar do
tempo e dos estudos, aumenta o tamanho e a qualidade do tampão. Isso
acontece na pergunta sobre se a cobra verde que há no jardim é
venenosa. (A criança, um dia, poderá vir a ser uma bióloga, especialista
em serpentes, por exemplo.) A resposta para esse tipo de pergunta (tratase de uma pergunta causal, circunscrita a um âmbito bem definido da
realidade) é ou sim ou não.14
Quanto às perguntas à que venho me referindo, poderíamos
dizer que, em certo sentido, elas sobram das outras disciplinas; elas
podem se originar nas atividades de cada uma das demais disciplinas
escolares, e nelas não encontram respostas; elas podem ir se
acumulando, sobrantes, na prateleira das curiosidades colecionadas pelo
aluno, que ficam sem respostas satisfatórias. O fato delas se originarem
nas disciplinas particulares e não terem sido respondidas nesse âmbito,
não prejudica o aprendizado dessas disciplinas. Como já disse, o jovem
não se sai melhor nos cálculos por ter esta ou aquela concepção da
natureza dos números.
14
A criança, ao aprender, simultaneamente, a sua língua natural, o esquema conceitual
subjacente a ela e o mundo em que vive, aprendeu – sem que nenhuma disciplina em
particular tenha lhe ensinado isso - que não pode dizer, sem provocar espanto: “Esta é uma
cobra verde, as cobras verdes não tem veneno, mas talvez esta cobra verde tenha.” A
filosofia é uma disciplina especial, na medida em que se ocupa com a investigação da
forma, dos limites, das condições de nosso aparato cognitivo e de ação. Essa dimensão da
filosofia não a esgota, como procurarei mostrar a seguir. O que quero destacar aqui é a
imensa massa de formação e informação que aprendemos ao aprender a língua natural;
esse aprendizado não se confunde com as formações e informações proporcionadas pelas
disciplinas particulares, e nenhuma delas tem como objetivo examiná-lo. Isso é tarefa para
a filosofia.
124
No campo do ensino-aprendizagem de cada uma das disciplinas
particulares, há muitos tipos de respostas insatisfatórias. Não é razoável
tentar elaborar uma lista dos tipos de respostas insatisfatórias que
oferecemos. Nossa resposta pode ser insatisfatória por não trazer os
dados adequados para a compreensão, por subestimar ou superestimar a
capacidade de entendimento de quem pergunta, por uma escuta
desatenta, por ser equivocada, por mudar de assunto; podemos apenas
não ter a resposta, seja porque não conhecemos bem o tópico ou porque
o tópico não comporta, ainda, uma resposta clara (Há vida em Marte?
Por quanto tempo durarão nossas reservas de água?) Esta lista não tem
fim. Nos resta perceber que, em um sentido muito abrangente, podemos
colocar, em um grupo, aquelas perguntas que podem, em tese, ser
respondidas, se tivermos o tempo, o cuidado, e a informação adequada.
Para elas pode haver o que chamei de respostas tamponadoras. Quanto
às respostas da filosofia para aqueles temas que listei acima – poder,
justiça, política, corpo, alma, causalidade, infinito, etc – como devemos
julgar sua satisfatoriedade? Esse tipo de pergunta – “até onde posso ir
com o conceito de causalidade?” “Porque comemos esses animais tão
bonitos?” “Porque uns tem tão pouco e outros tem tanto?” “Porque uns
podem mandar nos outros?” raramente depende de novos dados
empíricos. Fazer essas perguntas é trazer nosso mundo, como um todo, à
avaliação. A satisfatoriedade dessa tarefa é, com sorte, sempre precária.
As respostas da filosofia comportam sempre uma abertura, pois dizem
respeito à como lidamos com nossas mais profundas convenções. Essas
respostas, em nenhum sentido razoável, são subjetivas. Na verdade, eu
quero evitar aqui falar em respostas empíricas ou objetivas, por causa da
inevitável e extraviadora busca de antônimos para essas expressões:
empírico por contraposição ao quê? Objetivo por contraste com
125
subjetivo? A vantagem de se abandonar esse tipo de vocabulário – ou,
ao menos, de tentar enriquecê-lo –reside nos ganhos que podemos ter
quando enfrentamos a tarefa de caracterizar a natureza da filosofia. Na
maior parte das vezes estamos presos a um esquema conceitual
constrangedor, pois, com alguma naturalidade, convivemos com a idéia
que a filosofia não é uma disciplina empírica; mas ela não é uma
disciplina formal, ao molde da lógica; por outro lado, não podemos dizer
que ela é uma disciplina subjetiva, pois isso seria condená-la ao achismo
da terra de ninguém. De que se trata, afinal? À qual dimensão da
realidade humana a filosofia corresponde?
Uma visão deflacionária da “consciência crítica”
Como vamos caracterizar a natureza das perguntas filosóficas?
Eu disse que a filosofia não pode, sem grande polêmica, ser vista como
uma disciplina empírica. Por mais que possa haver simpatia para com os
programas de naturalização ou de redução da filosofia, creio que
devemos admitir que esses programas são pouco mais do que boas
provocações ao debate, já que, de uma ou de outra forma, ainda
trabalhamos sob o manto de Atenas: quer a filosofia seja vista como
uma “investigação racional mediante conceitos” (Kant, Lógica), quer
como uma atividade socrática de questionamento das nossas convenções
e imaturidades, ela ocupa um espaço de investigação que não se
confunde com nenhuma área de saber positivo sobre as diversas e
particulares dimensões da realidade. Apesar desse tipo de consenso, a
caracterização em detalhes do espaço peculiar da filosofia – e da aula de
filosofia para jovens - é uma discussão que parece ser interminável.
126
A resposta mais popular entre nós é a da caracterização da
filosofia como pensamento “crítico”. Essa expressão, com o passar do
tempo, guarda apenas um empobrecido valor de jargão. É apenas e
evidentemente ridículo que um professor de filosofia não pode, diante
dos demais colegas de escola, sustentar que a sua disciplina é a guardiã
preferencial da consciência crítica dos estudantes; se eu fosse um
professor de História ou Artes ou Educação Física ou Física ou Química
ou Geografia ou Português ou Biologia ou outro, eu poderia considerar
isso uma arrogância. Ou melhor, eu pediria para que o professor
traduzisse em trocados e miúdos o que é que ele entende por essa
“consciência crítica”, da qual se considera o suposto formador
privilegiado? Eu gostaria de saber como ele vê o trabalho dos cientistas,
físicos, químicos, biólogos, os historiadores, os sociólogos, os
geógrafos, os artistas? Essa turma toda nada tem a ver com a formação
da consciência crítica? São apenas atores coadjuvantes? Por acaso, saber
mais e melhor sobre a “realidade empírica” nada tem a ver com a
calibragem de nossos juízos valorativos? As relações entre crenças
fatuais e juízos morais são bem mais complexas do que sonham certas
filosofias.
Insistamos na questão: como entender essa “criticidade”? A
resposta na ponta língua é essa: trata-se de uma habilidade, de uma
capacidade, de um exercício de distanciamento, de suspensão de juízo,
de mensuração de conseqüências, de melhor exame; como que nos
retiramos, por algum tempo, do comércio da vida comum, para submetêla a um escrutínio circunstanciado. A descrição deve soar familiar. Mas
se olhamos para essa mesma descrição com algum distanciamento,
veremos que ela se aplica, sem nenhum retoque, ao trabalho dos
127
cientistas, físicos, químicos, biólogos, historiadores, sociólogos,
geógrafos, artistas, escritores. Até aqui, a tal criticidade é apenas uma
característica interna intrínseca de nosso aparato cognitivo, que pode ou
não ser acionada, em graus e proporções diferenciadas.
Eu chamo isso de uma visão deflacionista da “consciência
crítica”. A “criticidade” é uma característica – uma habilidade a ser
praticada - disponível e comum aos seres humanos, que se mostra no
fato que o ser humano precisa – é essencialmente dependente de - de
informação cada vez mais numerosa para regular sua vida. O nosso
processo de administração de informações exige a presença de uma
espécie de mecanismo ou filtro, que usamos para controlar o processo de
creditação das informações. Duas tentações são mortais: não podemos
acreditar em tudo, não podemos duvidar de tudo. A racionalidade, como
diria Aristóteles, é uma virtude, é uma habilidade que conquistamos às
duras penas, e não uma entidade pronta.15
O que defendo aqui é a posição - de resto trivial, visto que se
trata apenas de uma caracterização de uma das conseqüências da
diferença entre a operação de compreensão e a operação de
15
Não posso desenvolver aqui mais esse tema. Em especial, deveria tratar do caso das
sociedades tradicionais, que parecem criar mecanismos que dificultam o distanciamento e
a discussão daquelas afirmações que dizem respeito à sua identidade de base, regras e
normas sociais fundamentais. Nelas, as normas sociais são justificadas de forma vertical
ou autoritária. Mesmo as justificações autoritárias, na medida em que devem justificar as
condutas moralmente boas, parecem ter uma porta aberta para a dúvida e para a crítica,
pois pode-se perguntar se as normas são boas porque Deus as promulgou ou se Deus as
promulgou porque são boas. Trata-se do problema do Eutífron, como bem lembra Ernst
Tugendhat, no livro Não Somos de Arame Rígido (Ulbra, 2002). Para uma fundamentação
do que chamo de concepção deflacionista da criticidade, recomendaria o derradeiro livro
de Bernard Williams, Truth and Truthfulness, Princepton University Press, 2002, em
especial o capítulo 2, e ainda Peter Geach, Faith and Reason, Columbia University Press,
1983, capítulos 1 e 2. Não menos relevante para meu argumento é o trabalho de Arthur
Danto, Mysticism and Morality. Columbia University Press, NY, 1988, em especial o
capítulo 1.
128
conhecimento - que há uma relação interna entre conhecimento e
criticidade. A estrutura noética do ser humano é tal que dependemos da
posse de conhecimentos (crenças acompanhadas por justificações
adequada), e não apenas de crenças; e isso supõe o funcionamento de
capacidades e mecanismos cognitivos que colocamos em operação para
ocorrer o movimento entre a crença e o conhecimento. A “criticidade”
(entendida,
como
sugeri
acima,
como
uma
capacidade
de
distanciamento, de suspensão de juízo) é um dos componentes da nossa
estrutura noética. Nesse sentido, o fato de alguém se declarar “crítico”,
tem uma relação externa e acidental com a adesão a um conjunto
determinado de visões de mundo ou pontos de vista ou conhecimentos
determinados. A Tabela Periódica pode ser uma fonte de liberdade.16
Uma vez apresentada, de forma muito resumida, essa visão
deflacionista da criticidade, podemos voltar à discussão sobre
semelhanças e diferenças da filosofia com as demais disciplinas
escolares. Não sendo a filosofia uma disciplina empírica, como a Física
e a Geografia, nem uma disciplina formal, como a Matemática, nem
apenas uma troca de opiniões pessoais, subjetivas, de que se trata,
afinal? Eu disse que podíamos ter como ponto de inspiração ao menos
duas tradições. De um lado, aquela fixada pelo eixo Aristóteles-Kant,
segundo o qual se pode entender uma das dimensões da filosofia como
sendo o de uma “investigação racional mediante conceitos” (Kant,
Lógica). A outra tradição, socrático-platônica, que não conflita com a
primeira, é aquela que entende que essa atividade de investigação que se
ocupa com nossos conceitos fundamentais implica um exame, um
questionamento de nosso conhecimento e de nossas ações, de nossas
16
Penso aqui no capítulo “Ferro”, do livro de Primo Levi, A Tabela Periódica. Tradução
de Luiz Sérgio Henriques, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2001.
129
imaturidades (crítica da cultura, se você quiser). Esse tipo de saber –
essa atividade - não se confunde, obviamente, com nenhuma área do
saber positivo sobre as diversas e particulares dimensões da realidade.
As perguntas da filosofia são aquelas que constroem o cenário no qual
nossa vida – nossos pensamentos e ações - são, como diria Cavell,
submetidos à nossa imaginação: o que eu exijo é
um exame dos critérios de minha cultura, de forma a
poder confrontá-los com minhas palavras e minha
vida, da forma como a levo e da forma como posso
imaginá-la; e ao mesmo tempo confrontar minhas
palavras e vida, na forma como as levo, com a vida
que as palavras de minha cultura podem imaginar
para mim: confrontar a cultura consigo mesma, ao
longo das linhas nas quais ela se encontra em mim
(1979, p. 125).
Eu disse atrás que penso que temos entre nós um consenso
mínimo sobre essa identidade da filosofia, mas, mesmo assim, a
caracterização do espaço peculiar da filosofia e da aula de filosofia para
jovens, - é uma discussão polêmica, em aberto. Os temas apresentados
pelos professores, no ensino de filosofia realmente existente, compõem
um grande leque de assuntos e atividades – desde o eixo sexo, drogas &
videoteipe, até a crítica política do cotidiano, passando, por certo, por
tudo o que está incluído nas dezenas de manuais disponíveis. Essa
amplitude de temas e abordagens é, freqüentemente, uma fonte de
enfraquecimento da posição da disciplina na Escola. A aula de Filosofia
costuma ser alvo da tentativa de predação do colega, digamos, da
Química, que, com certo ar de superioridade, pede para si esse horário,
dizendo que sua carga horária está pequena para dar conta dos
130
“conteúdos”. A Filosofia, pensa o professor de Química, não tem
conteúdos assim tão definidos, não?
Ainda o espaço curricular da Filosofia
Voltamos, assim, à pergunta pela natureza da filosofia. Lembre
que a discussão sobre esse tema está sendo feita dentro de um cenário
particular, a sala de reuniões da escola. O professor de Filosofia está
sentado ao lado do professor de Química, e deve explicar sua disciplina
de uma forma que seus colegas entendam em que sentido ela se integra –
ou como ela convive – com as demais. O aluno, diz o colega, é um só, e
a filosofia deve dizer a que vem, deve explicitar qual o espaço
conceitual que vai ocupar na formação do estudante. O colega da
química não se deixa iludir pela conversa de consciência crítica (lembrese que se trata de um leitor de Primo Levi). Há outro componente
importante nesse cenário aterrisado. A discussão sobre ensino de
filosofia, a bem da verdade, pertence ao maltratado campo de estudos da
Didática. Assim, trata-se de uma investigação na qual se faz necessária a
contribuição das disciplinas empíricas que dizem respeito à mesma:
psicologia, sociologia, antropologia, lingüística, etc. Aqui, o professor
de filosofia deve mostrar que entende um pouco da empiria, sob pena de
ser visto como o filantropo do conceito.
O professor deve explicitar também sua concepção sobre a
filosofia, pois não pode haver avanço nas discussões sobre a didática de
um campo que não conseguimos caracterizar a contento. Assim, ele
131
deve apresentar armas. Se o gume do “pensamento crítico” está cego, é
preciso tentar de novo.17
Eu disse que o ensino de filosofia nos remete para uma
discussão empírica, no campo da didática. Sendo assim, parece
incontornável que o interessado no assunto se pergunte sobre quais são
os instrumentos teóricos que dispõe para tratar o tema. O que é que
sabemos sobre desenvolvimento humano, de crianças, adolescentes e
sobre adultos, o que sabemos de teorias de aprendizagem para cada um
desses grupos, o que sabemos, enfim, de conteúdos de psicologia,
antropologia, sociologia, lingüística, que são relevantes para a situação
de ensino-aprendizagem? Cada um que pretende discutir o ensino de
filosofia deve ajustar suas contas com esses saberes, pois são eles que,
explícitos ou não, determinam nossas atitudes e posições nessa área.
Não é preciso dizer que aquilo que sabemos de filosofia não é menos
relevante.
Com o entendimento que uma dimensão importante da filosofia
é o de ser uma investigação sobre temas e conceitos fundamentais
(criteriais), é possível dizer que as crianças começar a estar às voltas
com filosofia desde o momento em que elas se transformam em
pequenos adultos lingüísticos, coisa que ocorre por volta de 5 a 6 anos.
As histórias que elas contam e as perguntas que elas dirigem aos adultos,
muitas vezes abordam esses temas e conceitos fundamentais: vida,
17
Como já dei a entender, estou assumindo um ponto de vista sobre a natureza da filosofia
cujo ponto de partida é, por exemplo o escrito de Ernst Tugendhat, “O que é filosofia”. Eu
digo “por exemplo” porque considero essa caracterização ampla demais para que seja
considerada como típica desse ou daquele filósofo. Tugendhat ali define a filosofia como
uma investigação sobre conceitos fundamentais, tendo uma dupla dimensão: sistemática (a
dimensão “escolástica) e dialética (a dimensão “cosmopolita”). Isso nos remete para a
distinção apresentada por Kant na Lógica e ao escrito de Tugendhat. Minha outra
referência são os escritos de Stanley Cavell, em especial The Claim of Reason.
132
morte, Deus, origens, etc. Essas perguntas são bons indicadores que elas
estão explorando o modo de funcionamento desses conceitos
fundamentais, dos quais o mais notório é o funcionamento do conceito
de causalidade. Creio que podemos dizer que a criança está, em um
sentido relevante, examinando o modo de funcionamento do aparato
(rede, esquema, campo) conceitual de que ela está se apropriando nessa
fase da vida, e que é, em certos sentidos, indissociável da linguagem e
do mundo.18
Nesse sentido, o professor de filosofia, nas atividades com
crianças, não tem, propriamente, conteúdos para ensinar, como se fosse
uma aula de ciências, de história ou língua portuguesa. Se fosse
inevitável fazer uma comparação, as atividades na aula de artes, na
medida em que desafiam o aluno a explorar suas habilidades nesse
campo, seriam as atividades mais próximas da aula de filosofia. O
professor de filosofia “com crianças” cuida desse espaço de diálogos
especiais no qual as crianças por vezes se metem naturalmente. Trata-se
de filosofia com crianças; isso quer dizer que não se trata de ensinar
filosofia para crianças.19 O mesmo não ocorre com os jovens, que, entre
seus
direitos
formacionais,
podem
incluir
o
debater,
com
sistematicidade, problemas clássicos da filosofia, conhecer e interpretar
textos clássicos, etc. Mas, no caso da aula de filosofia com jovens,
fixam-se algumas convicções sobre a natureza da filosofia, enquanto um
espaço didático, que precisam ser melhor reconhecidas. Mencionarei
18
Não há sentido na idéia de que um ser humano possa apropriar-se de sua língua natural
em completa desconexão com a realidade; tampouco há sentido na idéia que um ser
humano possa apropriar-se de sua língua natural sem o domínio implícito de conceitos
formais: objeto, causa, etc.
19
Eu disse “diálogos especiais”, porque aquilo que a criança pode estar precisando é de
um espaço de escuta para hipóteses, dúvidas, e questionamentos sobre uma área da
experiência humana que não é coberta pelas demais disciplinas escolares, como já vimos.
133
aqui apenas a idéia que a filosofia (no seu conceito no mundo) tem o seu
campo de questionamentos balizado pelas perguntas fundamentais sobre
o que podemos saber, o que devemos fazer, o que nos é permitido
esperar, e, afinal, o que somos? Uma forma de se elaborar as
conseqüências didáticas dessas questões é dizer-se que, como
professores de filosofia, não podemos dogmatizar sobre essas questões,
isto é, propor respostas determinadas, particulares. Essa atitude revela
uma leitura e um entendimento parcial de Kant. Há direções de respostas
em Kant para essas perguntas, que não se confundem com as soluções
oferecidas por esta ou aquela visão de mundo, por essa ou aquela
religião ou escola política. As respostas de Kant indicam o que se pode
dizer, sobre essas questões, de um ponto de vista exclusivamente
racional. Mas mesmo que assim entendamos as coisas, persistirá a
afirmação que a filosofia tem uma dimensão idiossincrática, uma
dimensão de criação pessoalíssima, de invenção originária, que precisa
ser reconhecida e admitida: os jovens, afinal, elaboram formas de situarse e compreender a realidade e a si mesmos, criam seus pequenos
sistemas, defendem com paixão suas convicções e valores; diante disso,
a aula de filosofia não pode ser o ensino de conteúdos, pois isso deixaria
sem espaço essa dimensão de compreensão da filosofia, que, em última
instância, teria a ver com o sentido da filosofia no mundo, no esquema
de Kant. Se você conceder um “apenas” no meio da última afirmação,
podemos ir em frente: a aula de filosofia não pode ser apenas o ensino
de conteúdos. Ela precisa reconhecer e acolher essa dimensão de criação
pessoal. Mas é muito difícil caracterizar em que consiste essa dimensão.
Ela tem sido confundida com o “subjetivo”, com literatura, e tem sido
invocada pelos “processistas” para atacar os “conteudistas”.
134
Subjetivo, objetivo, “isso não pode ser tudo”
Para encerrar, volto ao tema da natureza da filosofia e do
espaço que ela ocupa no currículo escolar, mas também na vida cultural.
Vou indicar, muito resumidamente, algumas idéias de David Winnicott
que podem ajudar em nossa compreensão desse tópico. Creio que esse
argumento de Winnicott contribui com a linha de argumentação que
estou tentando desenvolver aqui. Em alguns artigos – por exemplo, em
“Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais”20, Winnicot
apresenta a hipótese que todo ser humano defronta-se com o que ele
chama de “área intermediária de experimentação”, entre a realidade
externa e interna. Para o funcionamento dessa área intermediária, são
necessárias as contribuições das outras duas. Ligada a essa área estão os
chamados fenômenos transicionais: a bola de lã, a fraldinha, o paninho,
o cobertor, mas também palavras, maneirismos, tiques (1975, p. 17). Os
objetos transicionais seguem um padrão, e podem surgir dos quatro e
seis aos oito e doze meses de idade. Essa área da experiência humana
inicia “todos os seres humanos com o que sempre será importante para
eles, isto é, uma área neutra de experiência que não será contestada” (Id.
ibid., p. 28). Essa área é considerada fundamental para todos os seres
humanos porque nunca terminamos a tarefa de aceitar a realidade: O
trecho relevante para o que estou querendo examinar aqui surge na
seguinte passagem:
20
Publicado no volume Winnicott, D. W. O Brincar & a Realidade. Rio de Janeiro, Imago
Editora, 1975.
135
Presume-se aqui que a tarefa de aceitação da
realidade nunca é completada, que nenhum ser
humano está livre da tensão de relacionar a
realidade interna e externa, e que o alívio dessa
tensão é proporcionado por uma área intermediária
de experiência (cf. Riviere, 1936) que não é
contestada (artes, religião, etc). Essa área
intermediária está em continuidade direta com a
área do brincar da criança pequena que se “perde”
no brincar.” (...) Se um adulto nos reivindicar a
aceitação da objetividade de seus fenômenos
subjetivos, discerniremos ou diagnosticaremos nele
loucura. Se, contudo, o adulto consegue extrair
prazer da área pessoal intermediária sem fazer
reinvindicações, podemos então reconhecer nossas
próprias e correspondentes áreas intermediárias,
sendo que nos apraz descobrir certo grau de
sobreposição, isto é, de experiência comum entre
membros de um grupo na arte, na religião, ou na
filosofia (Id. ibid., p. 29).
Não posso explorar aqui as conseqüências dessas idéias no
âmbito de uma didática da filosofia. Destaco apenas que elas me
parecem apontar para uma das dimensões da filosofia enquanto um
espaço de exploração de nossos esquemas conceituais, que inclui, mais
adiante, a reflexão sobre o “sentido da vida” e temas afins.21
Por outro lado, essa abordagem de Winnicott pode ajudar a
compreender melhor um certo tipo de afirmação usual, para a qual nem
sempre temos uma boa elucidação. Eu me refiro aos lugares-comuns que
dizem que “religião não se discute”, “arte é uma questão de gosto”, e
“filosofia cada um tem a sua”. Minha sugestão é que esses ditados
populares dizem respeito a uma dimensão muito especial da experiência
humana, examinada por Winnicot. Em escritos como “A localização da
21
Tratei de alguns aspectos desse tema no artigo “Crianças não cuidam de si”.
136
experiência cultural” e “O lugar em que vivemos” (Winnicott, 1983) ele
lembra o quanto fazemos uso de uma distinção de dois tipos de
experiências humanas básicas: as de um mundo interior, subjetivo, e as
do mundo exterior, objetivo. Em acréscimo a esses conceitos de
experiências interiores (o subjetivo, o “dentro”, o interno) e experiências
com a realidade exterior (o fora de nós, a realidade externa), Winnicott
aponta uma terceira área, pois, segundo ele, “isso não pode ser tudo”. É
preciso notar uma zona intermediária, na qual estamos (o artigo se
chama “O lugar onde vivemos”) em muitas das coisas que fazemos. Ele
pergunta:
O que estamos fazendo quando ouvimos uma
sinfonia de Beethoven, ao visitar uma galeria de
pintura, lendo Troilo e Cressida na cama, ou
jogando tênis? Que está fazendo uma criança,
quando fica sentada no chão e brinca sob a guarda
de sua mãe? Que está fazendo um grupo de
adolescentes, quando participa de uma reunião de
música popular? Não é apenas: o que estamos
fazendo? É necessário também formular a pergunta:
onde estamos (se é que estamos em algum lugar)? Já
utilizamos os conceitos de interno e externo e
desejamos um terceiro conceito. Onde estamos,
quando fazemos o que, na verdade, fazemos grande
parte de nosso tempo, a saber, divertindo-nos? O
conceito de sublimação abrange realmente todo o
padrão? Podemos auferir algum proveito do exame
desse tempo que se refere à possível existência de
um lugar para viver, e que não pode ser
apropriadamente descrito quer pelo termo ‘interno’
quer pelo termo ‘externo’? (...) Observe-se que
estou examinando a fruição altamente apurada do
viver, da beleza, ou da capacidade inventiva abstrata
humana, quando me refiro ao indivíduo adulto, e, ao
mesmo tempo, o gesto criador do bebê que estende
137
a mão para a boca da mãe, tateia-lhe os dentes e,
simultaneamente, fita-lhe os olhos, vendo-a
criativamente. Para mim, o brincar conduz
naturalmente à experiência cultural e, na verdade,
constitui seu fundamento. Se meus argumentos
possuem força convincente, temos três, ao invés de
dois estados humanos, para serem comparados
mutuamente. Quando examinamos esses três
conjuntos do estado humano, podemos perceber a
existência de uma característica especial a distinguir
aquilo que chamo de experiência cultural (ou
brincar) dos outros dois estados (Id. ibid., p. 1478).22
Essa área, que ele chama, alternativamente, de “área disponível
de manobra”, “zona intermediária”, “espaço potencial”, “terceira área”,
é a área da cultura enquanto uma tradição herdada, na qual discutimos
sobre o que, afinal, versa a vida enquanto algo que é digno de ser vivido.
Ali se inserem, como ele nos dizia na passagem que citei no início, a
experiência comum “na arte, na religião, ou na filosofia”.
De que modo essas idéias de Winnicott podem ser estimulantes
para uma discussão sobre o ensino de filosofia? Creio que essa
abordagem nos permite reconhecer e acolher algumas ambigüidades da
filosofia; pode nos permitir lidar melhor – isto é, sem rir e com menos
preconceitos - com as pessoas que procuram o professor de filosofia
com seus pequenos sistemas especulativos.
22
No livro Natureza Humana (Rio de Janeiro: Imago, 2000, p. 134), Winnicott escreve:
“Os filósofos sempre se preocuparam com o significado da palavra ‘real’, e houve diversas
escolas de pensamento fundadas sobre a crença de que ‘pedra, árvore, ou o que quer que
mais seja, só terão existência se houver quem as veja...’, com a alternativa ‘a pedra, a
árvore seja lá o que for, estarão bem aí mesmo sem espectador...’ Nem todos os filósofos
percebem que este problema, que aflige todo ser humano, constitui uma descrição do
relacionamento inicial com a realidade externa no momento da primeira mamada teórica;
ou, melhor ainda, no momento de qualquer primeiro contato teórico”.
138
Eu disse que podemos adotar a definição de filosofia que Kant
nos oferece, por exemplo, na Lógica e na CRP: trata-se de uma
investigação racional mediante conceitos, de um esclarecimento de
nossos conceitos. Kant nos lembra, porém, que este é o conceito de
filosofia na escola (Schulbegriff). Mas, segundo seu conceito no mundo
(Weltbegriffe), ela é a ciência dos fins últimos da razão humana. A
primeira dimensão da filosofia nos aponta para o domínio de um
conjunto de habilidades especulativas; à segunda dimensão, que Kant
chama de “doutrina da sabedoria”, corresponde ao campo de discussões
sobre o sentido da vida: nossos fins supremos. Creio que essa dimensão
da filosofia tem uma de suas raízes nessa terceira área à que se refere
Winnicot.
Para encerrar, gostaria de dizer que meu esforço em comprimir
o que gostaria de dizer sobre esses temas acabou prejudicando a clareza
daquilo que originalmente pensei em ter como tese central: o
reconhecimento da ambigüidade das aulas de filosofia: há algo, na
natureza de nossa disciplina, que deve ser melhor caracterizado. O
reconhecimento desse aspecto, no entanto, não prejudica nosso
compromisso em oferecer, para as novas gerações, um conjunto de
atividades e conteúdos genuinamente filosóficos, no duplo sentido em
que esses conteúdos não são tratados por nenhuma outra disciplina
escolar, e, de outro lado, pertencem à mais legítima tradição dos estudos
de filosofia.
Bibliografia
KANT, Immanuel. Manual dos Cursos de Lógica Geral. Tradução de
Fausto Castilho. Ed. Unicamp/Edufu, São Paulo/Uberlândia, 2003.
139
WINNICOTT, D. W. O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago
Editora, 1975.
_____. Natureza Humana. Rio de Janeiro, Imago Editora, 2000.
CAVELL, Stanley. The Claim of Reason. Wittgenstein, Skepticism,
Morality and Tragedy. Harvard University Press, 1979.
MULHALL, Stephen. Faith and Reason, Duckworth, 1994.
TUGENDHAT, Ernst. Não Somos de Arame Rígido. Canoas, Ed.
Ulbra, 2002.
WILLIAMS, Bernard. Truth and Truthfulness. Princepton University
Press, 2002
GEACH, Peter. Faith and Reason. Columbia University Press, 1983
ARTHUR Danto. Mysticism and Morality. Columbia University Press,
NY, 1988, em especial o capítulo 1.
LEVI, Primo. A Tabela Periódica. Tradução de Luiz Sérgio Henriques,
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2001.
140
ULA – UM DIÁLOGO FILOSÓFICO ENTRE ADULTOS E
CRIANÇAS∗
Sérgio Augusto Sardi ∗
“O meu olhar é nítido como um girassol,
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo...”
(Fernando Pessoa, 1997)
Introdução
O artigo pretende fazer uma apresentação das histórias para
filosofar com crianças de minha autoria, nas quais Ula é a personagem
central, estabelecendo relações entre as mesmas e a concepção
Texto publicado em CANDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei (orgs). Filosofia e
Ensino: um diálogo transdisciplinar. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004, p. 63-88.
∗
Professor de Filosofia na PUCRS e doutorando em Filosofia pela Unicamp/SP. Endereço
eletrônico: [email protected]
141
metodológica a que estão associadas. As histórias buscam suscitar a
compreensão de base do sentido de um problema filosófico, sua atitude
originante, na medida em que a leitura possa estimular as crianças (e
também os professores) a buscarem as suas próprias vivências e
questões filosóficas. É nesse sentido que, nesse trabalho, o conceito de
vivência (erlebnis) e a admiração (thaumátzein) platônico-aristotélica
são expressos relativamente à determinação da atitude originante do
filosofar. No mesmo contexto, desenvolvem-se algumas sugestões de
atividades e de procedimentos dialógicos, bem como considerações
acerca da relações entre Filosofia e linguagem no âmbito do filosofar
com crianças.
As histórias de Ula23 são narrativas das suas vivências, dos
momentos que marcaram a construção de seu modo de ver o mundo, os
outros e a si mesma. E assim como Ula busca, através de suas perguntas,
construir para si mesma o sentido de sua vida, cada um é convidado
também a filosofar com ela. Isso ocorre na medida em que a leitura
possa fazer surgir, de nossa própria experiência e de nossas próprias
vivências, motivos para pensar sobre como nós mesmos pensamos e
inventamos a nossa maneira de ser. São histórias produzidas ao longo
dos anos de convivência com elas, e remontam à minha própria infância.
Pretendem estimular uma reflexão que não se limita ao momento da
leitura, mas percorre o cotidiano, de modo a ultrapassar o próprio texto,
que é pretexto para pensar.
Julgo ser necessário vivenciar o sentido destas questões com o
prazer de quem brinca e aprende, desse modo, a pensar. Pois filosofar
23
Ula é o nome da personagem central das histórias para filosofar com crianças de minha
autoria. Há uma edição da WSeditor, lançada em 2000, praticamente esgotada, e uma nova
edição, a ser lançada este ano, pela Editora Vozes, intitulada Ula - Brincando de pensar.
142
surge assim: como um modo de brincar com as idéias e com o próprio
pensamento.
O Filosofar de Ula
Quando se ouve falar em Filosofia, o que geralmente nos vem à
mente é que iremos encontrar, sob esse rótulo, um universo de idéias
complexas que dificilmente compreenderemos. Isso até pode ser verdade
quando nos deparamos com a leitura de livros como Crítica da Razão
Pura, de E. Kant, filósofo que viveu no século XVIII, ou a Ciência da
Lógica, de Hegel, no século seguinte. A História da Filosofia está
repleta de exemplos de idéias que, para serem expressas por seus
autores, termos como “ontologia”, “epistemologia” e “fenomenologia”
tiveram que criados e recriados. Se não bastasse, cada autor-filósofo
conferiu a esses termos um significado distinto, só compreensível,
muitas vezes, a partir da leitura da totalidade de suas obras.
Mas poderíamos nos perguntar: não haveria, por detrás de
tantas e tão variadas idéias, algo que tivesse levado estes filósofos a
escreverem? Qual a sua motivação básica? A resposta mais aceita para
essa questão é a de que certas questões como “Qual o sentido da vida?
Por que tudo existe e, não antes, nada? De onde e como tudo surgiu? O
que é a liberdade? E o que é o ser humano?”, dentre tantas outras, os
levaram a pensar. E também nos levam a pensar, pois têm a ver com
aquilo que há de mais fundamental em nossa condição humana. Mas
isso nos conduz a buscar algo ainda anterior: O que está por trás do
surgimento destas questões? Como elas se tornam significativas para
nós? E qual a sua importância?
143
Aristóteles e Platão, filósofos que viveram nos séculos IV e V
a.C., sustentaram que haveria uma atitude originária da postura
filosófica: a admiração. Poderíamos também chamar de estranhamento
esta atitude de quem vivencia o próprio não-saber e se depara com algo
como se fosse a primeira vez; de quem modifica o modo de ver o mundo
e começa a buscar o sentido subjacente das coisas. Henri Bergson,
filósofo francês do século passado, sustentou, por outro lado, que a
intuição (e, mais precisamente, em seus termos, a intuição da duração)
seria a base da reflexão filosófica, o que a distinguiria da ciência.
No entanto, como a Filosofia não cessa de interrogar e inventar
a si mesma, essas caracterizações da postura originante do filosofar
constituem em uma possibilidade de interpretação, dentre outras. Mas
vamos parar por aqui, pois o nosso propósito é o de registrar que, por
detrás de toda a complexidade do pensamento filosófico, há algo que
participa de nossa condição humana e que nos cumpre ainda
compreender melhor, e que é acessível a todos, adultos, jovens e
crianças. Pois somos, antes, “humanos”, e partilhamos juntos o mistério
de nossas existências, o enigma da realidade.
O que as histórias de Ula buscam provocar é exatamente esta
compreensão de base do sentido de um problema filosófico, sua atitude
originante, a correlação entre a vida e a vivência24, ou a admiração,
como diria Platão. Podemos dizer, então, que Ula expressa, na narrativa
do seu cotidiano, uma postura na qual as questões filosóficas se tornam
24
Para uma compreensão do conceito de vivência na História da Filosofia, vide Gadamer:
“a reflexão autobiográfica, ou biográfica, em que se determina seu conteúdo significante,
fica fundida no todo do movimento da vida e continua acompanhando-a ininterruptamente
[...] o que denominamos enfaticamente de vivência significa, pois, algo inesquecível e
insubstituível, que é basicamente inesgotável para uma determinação compreensível de seu
significado” (1999, p. 127).
144
significativas. A leitura do livro possibilita, portanto, uma leitura de
nossas próprias vidas.
Mas por que filosofar? Ora, desde que sejamos humanos, é
possível que, algum dia, mais cedo ou mais tarde, alguma destas
questões se torne decisiva quanto aos rumos de nossas vidas. Se
pensamos no sentido de nossas ações, no que é ou não é justo fazer em
determinada situação, se perguntamos pela nossa liberdade e seu
sentido, por exemplo, é porque necessitamos nos situar frente à nossa
própria existência. A Filosofia e o filosofar participam, mesmo sem
sabermos, do nosso cotidiano, e estão presentes no processo da
construção do sentido de nossas vidas e em nossas atitudes, desde o
enfrentamento que torna possível a superação de nossas crises, a
demarcação dos nossos objetivos e a reinvenção do nosso ser.
Pensar Sobre o Pensar
Devo dizer para aquela pessoa o que estou pensando? Qual o
meu projeto de vida? Em certas circunstâncias, devo tentar fazer algo
diferente, mesmo correndo o risco de errar? É justo que eu faça tudo o
que desejo fazer? Quais serão as conseqüências de minhas ações? Devo
ser amigo desta ou daquela pessoa? Mas o que é ser amigo? É realmente
necessário me importar com o que os outros vão dizer? E devo sempre
guardar um segredo de alguém que confiou contá-lo a mim?
Todos nós, adultos ou crianças, nos deparamos com questões
semelhantes a essas. Em nossas vidas devemos fazer escolhas e tomar
decisões. Mesmo que ninguém mais saiba disso, a decisão nunca é
neutra, pois poderá ter uma maior ou menor repercussão no rumo de
145
nossas vidas, ou no modo como iremos vivê-la. Talvez, por isso,
chamemos essas situações de decisivas.
É preciso escolher e decidir. A vida nos exige isso, e nós
mesmos requeremos da vida esse gesto que tão bem caracteriza a nossa
liberdade. E, para escolher e decidir, é preciso avaliar a situação,
ponderar as conseqüências, observar e julgar os nossos próprios gestos...
Mais ainda, é preciso saber o que desejamos para nós mesmos e para os
outros, é preciso saber quais são os valores, as idéias que nos orientam,
é preciso ouvir e aprender com os nossos próprios erros, é preciso
aprender a aprender e a criar... para escolher e decidir, para construir
para nós mesmos o sentido daquilo que chamamos viver, é preciso
pensar.
Talvez devêssemos, então, refletir sobre como vemos o mundo,
e também sobre como pensamos... já que é o nosso próprio viver que
está aqui envolvido. Porém não pensamos às vezes de modo confuso e
repetitivo? Sabemos inventar o nosso próprio pensar?
Retornemos, pois, ao princípio, para percebermos quando e
como se torna significativo para cada um de nós, adultos e crianças,
pensar em nossas próprias vidas, e pensar sobre o nosso pensar.
Vivenciar as Questões
Quem nunca parou para pensar em função das perguntas que
um dia alguma criança lhe fez? E até que ponto nós mesmos, quando
crianças, não paramos para observar o céu, o mar, um pequeno inseto?
Quantas vezes nos admiramos com um fenômeno qualquer, achando-o
estranho, chegando ao ponto de formularmos teorias a respeito, por mais
146
disparatadas que pudessem ser, a partir das perguntas que pudemos
fazer na ocasião?
Questionar é criar condições de avançar. Para fazer uma
pergunta, precisamos pensar que há algo no qual ainda não pensamos,
precisamos saber que não sabemos algo. E isso nos põe em condições de
aprender. Para fazer uma pergunta filosófica, precisamos nos deixar
mover por aquilo que há de mais profundo em nosso viver, para o qual
sempre precisamos ter alguma posição em função das escolhas que
fazemos, mesmo que essa posição possa e deva ser ultrapassada por
nossa própria reflexão futura. Faz perguntas quem questiona a pretensa
obviedade das coisas. Pois o “óbvio” é só aquilo em que paramos de
pensar, ou repetimos sem pensar. Descobrimos assim a novidade em
nosso próprio ser.
Mas, para que se possa pensar com o prazer de quem realmente
deseja saber, é preciso que essas questões nos toquem profundamente. A
significação e a importância que damos a uma questão filosófica não se
resume naquilo que é dito: elas devem ser vivenciadas.
A Pergunta de Ula
Consideremos uma questão: “Quem sou eu?” Será essa uma
genuína questão filosófica? Em caso afirmativo, o que a faz ser
filosófica? Será a mera formulação da pergunta?
Ora, uma tal questão pode estar requerendo uma resposta do
tipo: sou José, ou Sharon. E, mesmo que a intenção da pergunta fosse
mais ampla, ela poderia ser assim compreendida. Aqui, a resposta
147
encerra a questão, elimina-a, enquanto questão, e não necessitamos
pensar além daquilo que já sabemos ou da informação que receberemos.
Poderíamos, no entanto, estar formulando a mesma pergunta –
Quem sou eu? – e requerermos uma resposta mais ampla, assim como:
sou professor de..., nasci em..., ou outra semelhante. Essa resposta,
embora mais abrangente que a anterior, permanece, ainda, fechada.
No entanto pudemos observar, nesse breve percurso, como a
mesma questão – Quem sou eu? – adquiriu significações distintas. Seria
um interessante caminho a trilhar, até mesmo para podermos observar,
ao fim, que a mesma pergunta pode nos conduzir a algo mais...
Consideremos, assim, a atitude de quem se olha em um
espelho, de quem contempla e reflete o fundo de seu próprio olhar;
consideremos o gesto que o faz reconhecer (e desconhecer!), com uma
certa inquietude, a sua própria face. É possível que esse gesto, pela força
de o envolver em uma relação profunda consigo mesmo, possa suscitar,
provocar a questão acima prefigurada, ou outra semelhante.
Nesse caso, embora pudéssemos formular a mesma questão,
não será outra a sua significação? Mas o que a faz ser outra? O sentido
da questão repercute, agora, na interioridade, e contém um certo silêncio
de fundo e uma amplitude muito maior.
Não me refiro a que olhar no espelho seja o único ponto de
partida para o estabelecimento de uma dimensão filosófica à questão que
nos serviu de exemplo; mas que esse gesto indica uma atitude, desde a
qual se abrem múltiplos caminhos.
E já que uma vivência ocorre na interioridade de cada um, não
é possível “aplicá-la”, mas apenas sugeri-la. E não há como fazer isso se
148
você também não estiver buscando as suas próprias vivências.
Entretanto, muitas vezes são as crianças, e não nós, professores, que
sugerimos as vivências. Por isso mesmo, trata-se de filosofar com elas, e
não de ensinar História da Filosofia para elas, embora o exercício do
filosofar potencialize as condições de acesso à mesma. Vamos
descobrindo o filosofar conforme exercitamos essa atitude, e isso se
torna ainda mais dinâmico se, nesse gesto, descobrimos e inventamos o
prazer de pensar. Filosofar é algo como brincar por dentro, com as
próprias idéias. E brincar é realmente algo muito “sério”, as crianças
bem o sabem, e também poderemos aprender isso com elas.
Mas não basta vivenciar, é preciso expressar a vivência, pois é
através da linguagem que conferimos sentido ao viver. E se a pergunta é
uma forma primordial de expressão, e abre um caminho para pensar, por
que não pensarmos juntos sobre as nossas perguntas fundamentais? Das
perguntas passaremos, então, às idéias que nos movem. E, se são
perguntas
fundamentais,
poderemos
construir
idéias
também
fundamentais. A partir disso, talvez se compreenda por que Ula faz
tantas perguntas. Quem pergunta descobre algo em que ainda não
pensou, e deseja saber. E o filósofo é aquele que é amigo do saber, que
aspira a ele, embora nunca o tenha completamente, pois é humano, e
nesse gesto se reconhece em sua própria humanidade.
Observe como as múltiplas perguntas de Ula e de seus amigos
partem e conduzem a vivências, e convidam a pensar, a se admirar e
desconstruir o “óbvio” em nosso olhar. É preciso, portanto, ler as
entrelinhas do texto e das imagens, onde Ula apresenta um caminho em
que muitas leituras são possíveis. Você poderá partilhar desse caminho
para descobrir o seu, assim como cada criança.
149
Brincando de Pensar
Utilizar Ula em sala de aula, ou mesmo em sua própria casa,
pode ser muito prazeroso se você permitir que as crianças possam
também lhe ensinar, e se você puder ler as histórias interagindo com
experiências que possam despertar, nas crianças, assim como em você
mesmo, a admiração frente aos acontecimentos do cotidiano, admiração
que faz da experiência do pensar o sempre possível encontro com o
inusitado, com a novidade do próprio pensar.
Por isso, “brincar de pensar” é algo que tem a ver com o prazer,
com a curiosidade, com a invenção, com a infância das crianças e com a
infância que guardamos em nós mesmos, com o nascimento sempre
renovado do nosso próprio pensar.
As vivências e as perguntas de Ula pretendem estimular as
crianças a elaborarem as suas próprias questões. Pois não se trata aqui
de perguntar apenas por perguntar, mas sim de fazer com que cada um
possa sentir, intimamente, a profundidade e a permanente novidade dos
problemas que sempre provocaram os seres humanos a pensar e a dar
uma direção às suas próprias vidas.
E, se podemos ler o texto com as crianças, criando e recriando
situações concretas em que as vivências possam se produzir como, por
exemplo, olhando no fundo dos olhos dos colegas, ou observando a
natureza, então já temos um ótimo ponto de partida, pois as vivências
geram questionamentos significativos.
Claro que algumas experiências poderão ser significativas para
algumas crianças ou adultos, e para outros não. É preciso então
150
multiplicar caminhos, inventar alternativas, pôr-se a si mesmo em
busca e em pesquisa de situações que possam provocar o pensamento a
ir além de si mesmo, fazendo-se, então, novas questões, ou dando um
sentido mais abrangente a questões que já havíamos antes formulado.
Mas também o nosso dia-a-dia, assim como o das crianças, sobre o qual
podemos saber em suas narrativas, são repletos de situações para pensar.
Ouvindo as crianças, poderemos saber de vivências que ocorreram
espontaneamente, e partir delas. No entanto é importante que os outros
também possam partilhar destas vivências, cada um ao seu modo, e isso
pode requerer uma atividade específica. A memória de nossas infâncias,
assim como uma postura assumida frente ao viver, poderá nos auxiliar
nisso. Depende apenas da disposição do nosso olhar, isto é, da
sensibilidade de nossa escuta, de todo o nosso ser, para que possamos
captar aquilo que, mesmo em sua simplicidade, dá a pensar.
Aquilo em que geralmente não prestamos atenção, uma
pequena planta que cresce em meio às pedras, a chuva que chega de
repente, o céu azulado ou nebuloso, nosso corpo, nossas mãos, pedras de
formatos e cores variadas, formigas que traçam um caminho, o mar que
se perde no horizonte, aquilo que julgamos ser simples e corriqueiro,
pode nos conduzir a possibilidades não imaginadas. É preciso ser
“curioso” junto com as crianças para encontrar o silêncio das coisas. E o
silêncio começa quando, por fim, rompemos a repetição mecânica e
sondamos os limites do nosso conhecer e do nosso dizer. As
possibilidades são infinitas, e são tão diversas e inusitadas quanto as
próprias pessoas, cada uma única e insubstituível.
Mas, se nos dispomos a aprender o prazer de pensar por
podermos nos admirar com nossas próprias existências, se nos dispomos
151
a criar situações vivenciais para nós mesmos para que possamos propôlas aos outros, então já assumimos, de algum modo, ou melhor, do nosso
próprio modo, uma postura filosófica frente ao nosso viver. E é essa
postura que nos cumpre assumir. E o que somos, o que fazemos, o como
pensamos e agimos é sempre o princípio do “deixar o outro aprender”.
Pois, mais que ensinar, trata-se sempre de convidar o outro a
aprender, e a aprender a aprender, do seu próprio modo, na sua
diferença, fazendo o papel daquele que estimula e requer do outro que
ele possa ultrapassar a si mesmo. Talvez possamos compreender, neste
gesto, que novas relações entre nós, professores, e as crianças, e entre
elas, deverão surgir, desde que elas possam se sentir livres para pensar.
E deveremos então aprender a lidar com o fato de que nos
surpreenderemos com as crianças. Isso poderá exigir que ultrapassemos
a nós mesmos, pois nesse movimento é bem provável que venhamos a
nos surpreender com nossos próprios pensamentos.
Dessa forma, poderemos dialogar com elas e, para tanto,
precisamos aprender a escutar, pois são as questões das crianças (assim
como as nossas, mas as delas preferencialmente) o ponto de partida de
uma relação na qual importa estimular o gesto de pensar sobre o próprio
pensar, e de construir assim a diferença e a criatividade do pensar.
Das Histórias à Vida
Em geral, as próprias histórias sugerem atividades a serem
realizadas, como é o caso, por exemplo, do teatro de sombras, em A
caverna, ou do relato daquilo que se acha “estranho” no mundo, em
Estranho e curioso, ou do olhar no fundo dos próprios olhos, em A
152
pergunta de Ula. Algumas vezes as atividades são sugeridas no próprio
texto. No entanto os professores têm criado diversas alternativas nas
escolas. Por exemplo, relativamente à primeira história, foi utilizada a
técnica da “caixa de sapato” – que consiste em colocar um espelho no
fundo de uma caixa de sapatos para, então, anunciar que ali há algo
muito importante –, dentre muitas outras, como desenhar-se na frente de
um espelho. Outra proposta foi a brincadeira das crianças se verem nas
pupilas dos olhos do colega até que pudessem, inclusive por indicação
do professor, perceber que eram vistos pelo outro e que pudessem
contemplar profundamente o olhar (e não apenas os olhos) do outro.
Também foi proposto brincar na frente de um espelho grande,
perguntando o que a criança estaria vendo e onde é que ela estaria: “É
você quem vê o espelho ou é o espelho que vê você? Qual é você, o que
está na frente ou o que está ‘dentro’ do espelho?” Múltiplas
possibilidades de atividades foram e podem ser criadas, e isso
considerando apenas a primeira história, a qual nos serviu de exemplo.
Reproduzir teatralmente as histórias, ou alguma delas, é sempre uma
outra opção interessante. Nesses casos, é fundamental dar o tempo
suficiente para que um olhar mais profundo possa se produzir, visto que
a vivência é um evento interior que demanda um envolvimento e uma
mudança de olhar sobre a situação apresentada. Por isso, a própria
atividade, a técnica utilizada não é a vivência, mas a propõe.
De uma única história, poderão se produzir atividades distintas,
com relação a diferentes passagens, seja com relação ao texto ou à
imagem, ou entre ambos, o que poderá dar lugar a diversos debates. Isso
poderá depender das diferentes leituras que as crianças, ou nós mesmos,
pudermos realizar. Recordo do relato de uma professora a qual disse
153
que, a partir da leitura da história A pergunta de Ula as crianças se
interessaram em saber o que é o “silêncio” (pois Ula estava em silêncio
ao retornar para casa, e não sabia como dizer o que pensava). Após uma
breve atividade, que consistia em todos ficarem em silêncio para
poderem, então, pensar sobre o silêncio, uma criança disse: “não dá pra
ficar em silêncio porque os nossos pensamentos ainda estão “falando”.
Questionadas sobre se era possível silenciar o pensamento, as crianças,
então, após tentarem realizar este gesto (sendo também estimuladas para
tanto), resolveram que não. Nesse momento, uma criança estabeleceu
uma nova idéia: “o silêncio era como uma folha de árvore parada, caída
no chão”. E a metáfora indicava que o silêncio poderia existir apenas
fora de nós mesmos. Havia aqui algo muito profundo e intrigante para
pensar. Mas a experiência foi significativa para pensar não só em algo
que ainda não havia sido pensado, mas também por exercitar um modo
de pensar que ainda não havia sido experimentado. Se, frente ao
problema de saber o que é o “silêncio” ninguém soube dar uma resposta
conclusiva, pôde-se avançar na compreensão do próprio problema
enquanto problema filosófico. Mas ao se darem conta do que não sabiam
e não podiam dizer, quem sabe não estaria aí mesma criada a situação
em que as crianças poderiam encontrar o silêncio? A essa conclusão
talvez pudessem chegar mais tarde, após retomarem o tema em outro
contexto, ou ainda criar novas alternativas. Os problemas e as idéias
filosóficas exigem um processo e um tempo de maturação.
Mais que técnicas, é preciso compreender o caminho que
estamos trilhando, pois, assim como na vida, educar é um gesto que
requer uma permanente invenção. Em cada criança, a cada dia, em nós
154
mesmos, em tudo o que nos cerca, em nosso viver, há sempre novidade.
E é a novidade que nos dá motivos para prosseguir.
Provocar o Pensamento
Quanto a uma modalidade de atividade relacionada aos
sentidos, ofereço aqui algumas sugestões:
1) Quanto à audição: ouvir música de diferentes épocas e
estilos: popular, instrumental, etc., e relacioná-las entre si,
assim como com o tempo e contexto em que foram criadas,
dentre outras possibilidades; distinguir notas, timbres e
efeitos musicais dentro de uma composição (o que pode
derivar para diversos caminhos como, por exemplo, pensar
sobre a função de cada parte em um conjunto, ou sobre o
conceito de harmonia, ou complexidade, dentre outros);
ouvir sons da natureza, distinguir sons em um ambiente,
escutar músicas e relacionar estes sons entre si; inventar
músicas que falem de algum acontecimento sobre o qual se
deseje refletir; criar instrumentos musicais testando
diversas possibilidades acústicas; falar sobre as músicas e
sons que se gosta ou não de ouvir; exercitar a memória
auditiva brincando de identificar as vozes dos amigos, com
os olhos fechados, ou dirigindo a atenção à “voz” do seu
pensamento, ou recordando músicas e sons com o
pensamento, para pensar sobre o que se ouve, ou sobre o
como se ouve, ou o que é ouvir, etc.
155
2) Quanto ao tato: brincar de identificar de quem são um
determinado rosto ou mãos, de olhos fechados, ou brincar
de identificar, apenas com as mãos, objetos escondidos em
uma sacola pensando, por exemplo, em como podemos nos
enganar ou o que fazemos para acertar. Ou, ainda, sobre o
que podemos saber pelo tato e o que podemos saber de
outros modos, e até mesmo se temos sentidos para
podermos sentir tudo o que existe, dentre tantas outras
possibilidades; identificar texturas, relacionando-as com
características dos objetos; dar as mãos, sentindo-as intensa
e carinhosamente; abraçar o colega e derivar, talvez, para a
problematização da amizade, ou ainda outra, como a de
pensar sobre se podemos saber o que o outro sentiu;
massagear os ombros do colega e perguntar o que ele
sentiu, se gostou ou não, dentre outras possibilidades;
tocar, com carinho, nas plantas e nos animais; brincar com
argila, criando e recriando formas; pisar na grama, na terra,
na areia, com os pés no chão, e sentir o próprio corpo ao
sentir o que se toca; falar sobre o que gosta e o que não
gosta de tocar, etc.
3) Quanto ao paladar: diferenciar nuanças de sabores, degustar
novos sabores e comer lentamente, buscando pensar na
relação entre o que somos e o que comemos, ou entre saúde
e alimentação, etc.; relacionar odores e sabores, conversar
sobre o que se gosta e o que não se gosta de comer e
procurar saber se alguém aprendeu a gostar de algo que não
gostava antes, ou por que alguns gostam de certos
alimentos e outros não, dentre outras alternativas; contar
156
histórias sobre algum dia em que comeu algo diferente, e
buscar saber de alimentos diferentes de outros povos e do
que outras pessoas gostam de comer, procurando pensar,
por exemplo, nas diferenças entre as pessoas; recordar um
determinado sabor, buscando saber, talvez, o que pode e o
que não pode o nosso pensamento, etc.
4) Quanto ao olfato: diferenciar perfumes, sentir o cheiro da
terra após a chuva, ou o cheiro do mato, ou mesmo odores
desagradáveis, e descrever o que se sente com isso, ou
pensar nas relações entre o que se sente cheirando e o que
se vê, ou se toca, etc.; sentir novos odores e buscar saber,
por exemplo, se há alguns que nunca poderemos saber, ou
por que temos preferências distintas, etc.; recordar cheiros
e relacioná-los com acontecimentos: “O que esse cheiro faz
lembrar?”; relacioná-los com o meio ambiente, etc.
5) Quanto à visão: observar e descrever detalhes em objetos,
cenas ou situações; criar jogos de observação; contar
histórias que estimulem a visualização mental de cenas,
objetos ou situações; narrar acontecimentos diversos que
tenham sido significativos; imaginar acontecimentos e
narrá-los; chamar a atenção para coisas pequenas; despertar
a atenção para a complexidade de coisas aparentemente
simples; observar a unidade de coisas aparentemente
complexas; observar e descrever paisagens, objetos,
plantas,
animais,
relações,
acontecimentos,
pessoas,
lugares, obras de arte, estimulando a percepção estética,
etc.; contemplar as flores, as sementes, os frutos, as
plantas, os animais, etc., e estabelecer relações; observar os
157
animais e seu comportamento e relacioná-los, por exemplo,
com o comportamento dos seres humanos, ou, por outro
caminho, buscar saber como eles vivem e se relacionam em
um ecossistema, etc.; contemplar, pintar e desenhar
paisagens; observar a natureza; observar e descrever
objetos complexos; desenhar o próprio rosto em um
espelho, ou o rosto de um colega; observar e registrar as
diferenças
entre
as
pessoas,
bem
como
as
suas
semelhanças; observar as expressões faciais de adultos e de
crianças e relacioná-las a emoções e pensamentos, por
exemplo; observar formas e padrões, buscando criar outros,
diversos; exercitar a “visão do pensamento” e desenhar,
pintar, modelar ou esculpir o que se vê com o pensamento,
etc.
Relacionadas ao exercício da criatividade e da concentração,
na medida em que possibilitam ampliar a potência do pensar, eis as
sugestões: estimular a atenção em processos com certa duração no
tempo; proporcionar estímulos sucessivos, a partir de um ato de atenção,
possibilitando estabelecer relações entre eventos que se sucedem; unir
observação e descrição; estimular a utilização de brinquedos e a
realização de brincadeiras que ofereçam desafios e que exercitem a
imaginação criativa (o brincar conjuga a concentração e a imaginação,
uma atividade pré-simbólica e um envolvimento determinado com a
temporalidade); inventar símbolos; estimular a atividade artística; propor
brincadeiras que envolvam uma certa seqüência de eventos: teatro,
jogos, qualquer brincadeira que envolva uma história; inventar histórias
e propor que inventem histórias (seja por escrito, seja oralmente – o que
158
pode ser feito, por exemplo, pedindo que fiquem de olhos fechados e
contem o que está acontecendo em seus pensamentos, ou narrando uma
história real, ou modificando uma já contada, ou criando-as a partir de
um tema determinado, etc.); exercitar o relaxamento do corpo, buscando
conhecer outros movimentos de seu corpo; exercitar a postura corporal;
oportunizar conversas, mais ou menos longas, sobre um mesmo assunto,
ou sobre assuntos que vão se sucedendo em uma ordem criada no
próprio diálogo, fazendo e pedindo referências a temas que já foram
abordados; solicitar a síntese ou resumo de uma história, acontecimento
ou diálogo; solicitar ajuda em tarefas que envolvam um certo cuidado ou
uma seqüência ordenada de ações; participar, juntos, professores e
crianças, de brincadeiras, de desenhos, de jogos, de ações que envolvam
delicadeza, observação, sutileza; propor jogos (ou problemas) que
contenham desafios lógicos; demonstrar uma atitude, um exemplo de
atenção e concentração, em contextos propícios, etc. Ao desenvolver
estas atividades podem surgir, no entanto, questões de outra ordem, as
quais podem também ser trabalhadas.
Ao brincarmos juntos com a criança, podemos pedir e propor
situações novas, alternativas para a própria brincadeira, ou, então, a
invenção de novas formas de brincar, inclusive com um brinquedo (ou
jogo) no qual já venha prescrito como brincar. Durante a brincadeira,
poderemos criar situações que façam pensar, que oportunizem ver algo
de um novo ponto de vista, ou propor desafios e a busca de soluções
criativas. Podemos diversificar as formas de brincar e as próprias
brincadeiras; diversificar os ambientes em que o brincar ocorre, etc. O
envolvimento do adulto com o brincar da criança (por isso, brincar junto
com ela) é condição para que uma relação de proximidade empática se
produza para, a partir disso, transitar das proposições que fazemos de
159
novas brincadeira e novos modos de brincar a pedi-las à criança, sempre
no momento e do modo oportuno. Este momento é aquele em que não se
interrompe um prazer, mas se propõe um outro no final de um período
de brincadeira.
Acima foram apresentadas algumas sugestões, que podem ou
não ser aplicadas. Nesses casos, a atividade é um ponto de partida, e é
preciso que seja desenvolvida com a intenção de provocar o
pensamento. Mas, como cada grupo é diferente e cada contexto exige
novas soluções, poderemos, então, passar a criar as nossas próprias
atividades. Deveremos ouvir e selecionar, junto com as crianças, as
perguntas geradas para pensar com elas. Também poderemos, nós
mesmos, ter algumas boas perguntas previamente preparadas para
contribuir com o grupo, mas sempre dando prioridade às perguntas das
crianças. Seus interesses poderão nos indicar um caminho, um programa
de investigação. Ouvindo as crianças, cada um poderá criar o seu
próprio estilo, o seu próprio modo de trabalhar em seu cotidiano e de
dialogar com elas.
Seja qual for a atividade proposta, deverão ser preparadas as
condições para a criação de um clima propício à reflexão. O importante
é que as atividades busquem dar a pensar, no sentido em que devam
suscitar a possibilidade de um olhar de estranhamento ou admiração,
isto é, o perceber que há algo mais que não se sabia, e que há algo em
que ainda não pensamos, ou que podia ser pensado de modo diferente.
Este ponto de partida é importante não só por estabelecer um significado
ao problema em questão, (significado interiormente vivenciado e, deste
modo, ligado às suas próprias vidas, motivando o interesse) gerando,
desse modo, envolvimento com o mesmo, mas também por possibilitar a
geração de perguntas reflexivas, criativas e abrangentes.
160
Para Filosofar Com Crianças
Uma condição preliminar ao diálogo, conforme foi expresso
acima, consiste na possibilidade de nós, professores, exercitarmos a
nossa própria vivência com relação ao tema proposto. Poderemos, desta
forma, propor novas situações para pensar. A partir disso, a elaboração
escrita, o desenho, a leitura de textos relacionados ao tema (incluindo
histórias, filmes, peças teatrais, músicas e outras possibilidades) poderão
potencializar as condições de realização de uma investigação que se
proponha a respeitar pontos de vista divergentes enquanto, ao mesmo
tempo, busca alguns pontos de concordância a partir de onde todos
possam prosseguir, mesmo que venham a reconsiderar estas idéias mais
tarde. É, ainda, sempre interessante sugerirmos às crianças que
dialoguem com outros adultos ou outras crianças fora do grupo em que
atuam.
A elaboração individual e a elaboração coletiva devem ser
estabelecidas em momentos próprios, até mesmo porque, a partir da
possibilidade de elaborarmos individualmente uma idéia poderemos
contribuir mais efetivamente no trabalho de grupo (o trabalho em
duplas, o que pode ser feito com crianças maiores, é também muito
importante, pois há, nesse caso, a possibilidade de uma maior interação)
e, por sua vez, a partir do momento em que o grupo problematize as
idéias de cada um, todos terão idéias novas para refletir, possibilitando
uma maior complexificação e coerência do próprio pensamento.
Tendo a vivência como princípio, isso não significa que ela
sirva apenas de um acessório para estimular a reflexão que se seguirá.
Do mesmo modo, a atividade que pretende provocar a vivência não é
161
simplesmente um momento lúdico de preparação psicológica e não se
limita, por outro lado, à estimulação exclusivamente lógico-racional. A
atividade não se confunde com a própria vivência, mas pretenderá
suscitá-la. Considera-se, com isso, o aprendizado a partir da
integralidade de cada um e de suas diferenças.
A vivência requer sensibilidade. E ela sustenta todo o processo
na medida em que possibilita a internalização do problema em sua
dimensão filosófica, preparando as condições de sua significação, dando
motivos para pensar que remontam às nossas próprias vidas, à nossa
existência concreta. E é sobre o nosso viver que cumpre sempre de novo
pensar. Por isso, poderemos, em determinado momento da elaboração
individual, ou do diálogo em grupo, retomar este movimento, propondo
novas vivências, ou estando atentos ao que as crianças poderão sugerir, a
partir de seus relatos e intervenções, como situações potencialmente
vivenciais. O retorno aos motivos expressos na vivência inicial poderá,
também, ser importante para que se possa manter uma unidade, no
debate, através da referência a este ponto comum.
Nesse processo podemos sempre intervir com questões,
observações, comentários que levem as crianças a estabelecer novas
relações, esclarecer aquilo que estão dizendo (ao esclarecer para os
outros estarão esclarecendo para si mesmas), buscar novos pontos de
vista, escutar e interpretar as falas uns dos outros, tirar conseqüências do
que é dito, reconstruir e organizar idéias, exercitar a criatividade e a
capacidade de argumentação lógica, utilizar o bom senso e chegar a
algumas conclusões, mesmo que provisórias.
O “objetivo” a atingir está além do “conteúdo” tratado, e é o
próprio ato de pensar sobre o pensar, e de pensar o novo, que deve ser
considerado. Por outro lado, qualquer conteúdo só será “aprendido” se
162
for significativo. Sendo assim, podemos ter, no nosso programa de
trabalho, ou currículo, uma abertura que poderá e deverá se somar às
nossas intenções prévias. Os resultados a serem atingidos não estão
nunca no papel ou no diário de classe, mas nas próprias crianças e em
nós mesmos.
Um tema ou problema que foi debatido pode se esgotar
momentaneamente, e poderá dar lugar a um novo debate de idéias. Mas
ele sempre poderá ser retomado em outro momento, após o
enriquecimento ocorrido com o debate de outros temas, nos quais
relações poderão ser estabelecidas. Assim, vai se formando uma rede,
nas quais as idéias vão se tornando mais complexas, inclusive no modo
como se ligam entre si; mais criativas, pois uma idéia vai exigindo uma
nova idéia até surgir uma idéia diferente ainda não pensada; e mais
coerentes.
Obviamente, neste caso, as perguntas das crianças devem ser
registradas. E as suas perguntas, como foi dito anteriormente, são o
ponto de partida: ou para uma primeira expressão do vivenciado, o que
pode ser feito por meio de imagens (desenhos, colagens, etc.), ou para
um diálogo que deverá buscar, pela problematização, uma visão mais
cuidadosa e crítica do problema considerado. Nesse caso, não se trata de
problematizar apenas por problematizar, mas para que novas relações
possam ser estabelecidas, para que se verifique os pressupostos das
falas, para que a própria formulação das perguntas se tornem mais
claras e para que se busque uma maior coerência entre as diversas falas
que se vão produzindo. Uma técnica interessante, neste último caso, é o
de pôr as crianças em relação umas com as outras, a fim de que troquem
idéias, ficando o professor atento para intervir quando julgar que possa
contribuir para uma maior consistência da argumentação, ou para
163
apresentar outros aspectos da questão que até então não haviam sido
considerados. Pedir exemplos e exemplos contrários, que possam tornar
o tema mais complexo e abrangente, também pode ser produtivo. A
disposição em círculo pode facilitar o diálogo. Gravar as falas das
crianças poderá tanto ser útil para podermos retomar com elas a
discussão quanto para registro pessoal. Registrar os encontros após a sua
ocorrência também poderá nos ajudar a pensar sobre como prosseguir,
ou nos fazer observar acontecimentos nos quais não havíamos prestado
atenção e que podem ser significativos. Quando um assunto não é
concluído em uma aula, retomaremos o mesmo, para que não se perca,
no primeiro encontro que ocorrer, quando poderemos destacar, então, os
pontos principais que ficaram para o debate.
Uma técnica que pode ser útil ao lidarmos com tantas idéias
que vão surgindo é a de construirmos uma “rede de idéias”, seja no
quadro-negro, seja em papel pardo ou em outro lugar, mas de modo a
ficar bem visível a todos. Podemos registrar ao centro a idéia que é o
nosso ponto de partida para irmos traçando ligações entre esta idéia e
outras que vão surgindo (podem ser palavras, frases, expressões ou até
mesmo desenhos), e destas novas idéias com outras ainda, e assim
sucessivamente. É importante, no entanto, nesse caso em que o professor
registra as idéias na “rede”, que o debate não seja interrompido para que
ela seja construída. Também podemos ir elaborando a rede em nosso
caderno de apontamentos para, mais tarde, ou no encontro seguinte,
apresentá-lo à turma. A vantagem de construir a “rede” enquanto o
diálogo está ocorrendo é que todos poderão perceber a evolução do
pensamento e como as idéias de uns vão se relacionando com as idéias
dos outros. Podemos também pedir que as próprias crianças construam a
“rede” em pequenos grupos, ou mesmo no grande grupo quando o
164
número de crianças presentes assim o permitir. Procede-se do mesmo
modo: partindo de uma idéia, vão se estabelecendo relações com outras,
surgindo novas relações, e assim por diante. A “rede” é, por si só, uma
espécie de texto. Com crianças menores, ou mesmo com as maiores,
poderemos construir a “rede” utilizando imagens, e elas poderão ou
recortar e colar figuras, ou desenhar, estabelecendo as conexões que vão
tornando mais abrangente e complexa a idéia inicial, fazendo surgir
ainda novas idéias para o debate.
O desenvolvimento de habilidades lógico-cognitivas, mesmo
não consistindo em um objetivo exclusivo, é fundamental e está
associado ao processo. E, embora lógica e sensibilidade estejam sempre
interligados, pois podemos ir de um a outro momento conforme o
desenvolvimento dos trabalhos, momentos específicos podem e devem
dar conta também deste aspecto. Nesse sentido, a seleção de jogos e de
brincadeiras é muito importante, sendo que cada jogo ou brincadeira
selecionados deverão estar relacionados ao desenvolvimento de
habilidades cognitivas específicas como comparar, classificar, resumir,
construir seqüências lógicas, verificar a aplicação de regras a situações
específicas, criar analogias (transpor relações complexas ou abstratas
para relações mais simples ou concretas), formular hipóteses, observar
pressupostos, dar as razões e/ou estabelecer as conseqüências de uma
idéia, chegar a conclusões a respeito de um tema, construir idéias gerais
a partir de exemplos particulares, dentre outros.
Por outro lado, é sempre muito importante que se busque uma
maior precisão, uma maior clareza naquilo que se está dizendo (sendo
que, desse modo, se passará também a exigir dos outros a mesma
precisão e clareza). O professor poderá sempre intervir nesse sentido.
Nesse caso, é muito importante partir da própria fala da criança, e não
165
exigir clareza total (até porque, no limite, isso não é possível), mas
observar um processo gradativo no qual a relação de cada um com a
linguagem vai se desenvolvendo. Pensar, falar e escrever estão
diretamente relacionados, e a linguagem não é apenas um instrumento,
mas a própria condição de nosso pensar.
No limite, talvez possamos criar palavras (metáforas,
metonímias, neologismos, etc.) e expressões para podermos dizer aquilo
que
nenhuma
outra
palavra
ou
expressão
pôde
dar
conta
suficientemente. Nesse caso, trata-se de as criarmos para podermos dizer
algo realmente importante para nós mesmos. Mas, então, é preciso que
argumentemos em torno do que criamos para que os outros também nos
possam compreender. Acabamos assim esclarecendo a nós mesmos.
Nesse movimento, pode ser que, por aprendermos a escutar
profundamente o outro, desde o silêncio de sua vivência refletida em
nossa própria vivência, possamos nos surpreender com as suas e com as
nossas próprias idéias.
A construção do sentido de nossas próprias vidas exige um
esforço. E é sempre no enfrentamento e na superação dos nossos limites
que reconhecemos a nossa própria potência de ser. Aumentar nossas
potências para conquistar a alegria e o sentido do viver requer que nos
habilitemos a tanto. E o prazer de inventar e reinventar o nosso próprio
prazer, o trabalho interior continuado que nos diz, a cada dia, que há um
sentido a ser produzido por nós mesmos, a escuta profunda do outro, a
invenção de nossas próprias diferenças e o retorno sempre renovado ao
silêncio de nosso viver são objetivos que alcançamos gradativamente a
partir da leitura reflexiva do mundo e de nossas próprias existências.
E se os encontros se tornam, assim, oficinas de criação de
idéias, e se as idéias que surgem coletivamente podem contribuir para
166
que cada um possa construir as suas, logo, não se trata de construir um
caminho para que, ao final, prevaleça a posição do professor. Trata-se de
estimular que cada um possa criar as suas idéias e exigir de si mesmo a
coerência das suas próprias concepções, que saiba dar as razões das
mesmas e aprenda a reconstrui-las quando julgar necessário, e, além
disso, que saiba também buscar novos pontos de vista e novas questões
que o façam avançar.
Em Ula, e a partir de Ula, é a leitura de nossas próprias vidas
que se põe em questão, é a possibilidade de repensarmos as nossas
próprias existências assumindo a possibilidade de continuamente
reinventarmos o nosso próprio prazer.
A Prática do Diálogo Filosófico Com Crianças
Talvez, então, nos perguntemos se há alguma “técnica” para
que possamos realizar um diálogo filosófico. Ora, não podemos
uniformizar procedimentos, pois há um modo específico como cada um
de nós aprende a se situar em um diálogo.
Em termos gerais, um diálogo se processa pela interação entre
perguntas e respostas, visando ainda comunicar pontos de vista distintos.
Mas há muitos modos de perguntar e de responder. Assim sendo, como
responder, perguntar ou expressar um ponto de vista de modo a
alimentar a discussão? Como responder de modo a suscitar uma postura
reflexiva e criativa?
1) Quando respondemos com afirmações, devemos deixar
claro de que se trata de nosso ponto de vista parcial,
167
observando novas questões que se colocam a partir desse
posicionamento.
Podemos,
também,
apresentar
conjuntamente pontos de vista distintos dos nossos,
possibilitando uma comparação de idéias;
2) Quando respondemos com informações, podemos lançar
também questionamentos sobre pontos ainda não pensados;
ou ainda mostrar como se chegou àquela idéia, e que há
ainda mais para saber;
3) Quando respondemos com novas perguntas, poderemos
alargar o horizonte do problema;
4) Quando respondemos de modo a fazermos com que aquele
que pergunta compreenda melhor o sentido da sua própria
pergunta, propondo que lhe dê outra formulação ou
comente a respeito da sua compreensão dos termos
envolvidos, então, estaremos propondo que organize a sua
própria fala ou que volte a pensar na e a partir da própria
vivência na qual se funda a questão;
5) Quando respondemos com um exemplo, ou analogia,
propomos a retomada do próprio problema ao buscar tornálo mais compreensível;
6) Quando respondemos observando que há um subproblema
a ser considerado, abrimos a possibilidade de uma
digressão, caso em que é preciso ter cuidado para que se
possa retornar ao tema anterior da discussão. Nesse caso, é
interessante retornar, passo a passo, ao ponto de partida da
própria digressão para que se oberve não só os motivos que
168
conduziram à mesma, mas também a ordem na qual as
idéias foram desenvolvidas;
7) Quando respondemos com um exemplo contrário, então
propiciamos que o problema possa (talvez) ser considerado
sobre um novo ponto de vista;
8) Quando respondemos estabelecendo novas relações,
possibilitamos ampliar e complexificar o problema;
9) Quando respondemos dizendo que também não sabemos e
que podemos investigar juntos, então, deixamos algo para
pensar;
10) Quando criamos o nosso próprio modo de responder,
aprendemos a pensar.
E quando perguntamos? O importante é que a pergunta ajude a
pensar. Devemos, pois, formular a questão a partir da compreensão do
outro, do seu vocabulário, das suas experiências, do seu modo de falar
se possível. Para tanto, podemos previamente sondar a sua compreensão
do problema. Mas, ao fazer isso, acabamos por aprender, porque, ao
elaborarmos a pergunta buscando o ponto de vista do outro, pode ser
que deixemos mais claro para nós mesmos o problema. Assim, quando
fazemos uma pergunta, exercitamos a nossa própria reflexão. Podemos,
então, perguntar:
1) Propondo novos aspectos do problema;
2) Observando
dificuldades
ou
insuficiências
na
argumentação, os limites e as contradições internas de
certas idéias, ou a incompatibilidade entre idéias distintas;
169
3) Pedindo esclarecimento das idéias;
4) Solicitando a justificação de determinadas afirmações;
5) Requerendo a observação das conseqüências de certas
idéias;
6) Considerando a relação do problema tratado com outros
problemas;
7) Pedindo exemplos e exemplos contrários;
8) Requerendo que uma criança interprete a fala de uma outra
quando isso se fizer necessário;
9) Solicitando novas perguntas sobre aspectos ainda não
considerados do problema, o que pode ser feito a partir de
uma das falas das crianças;
10) Criando novas funções às perguntas que fazemos.
Nesse processo, a ampliação do vocabulário, dos recursos de
expressão e a criação linguística são importantes ao próprio exercício da
reflexão filosófica. O ponto de partida para isso é sempre o universo já
conhecido, o vocabulário em uso, e a forma de falar corrente. Aquele
que aprende a língua com a qual se expressa deve sentir necessidade
disso para melhor poder expressar o seu pensamento ao ser convidado,
no diálogo, a fazê-lo, ou por uma motivação interior. Propiciamos uma
motivação interna ao aprendizado da língua ao estimular na criança a
vontade de expressar as suas próprias idéias. Assim, o fato de “aprender
uma língua” deve ser acompanhado da possibilidade de utilizá-la de
modo criativo. Nesse sentido, a auto-estima, refletida na valorização dos
próprios pensamentos, é fundamental. Talvez devêssemos nós, adultos,
refletir sobre como e o quanto valorizamos as idéias e questões das
170
crianças, bem como sobre o quanto isso as afeta no modo como elas
percebem a si mesmas.
Na criação linguística, não aprendemos apenas a lidar com a
própria língua, mas a modificá-la e a ampliá-la. Isso poderá ser
estimulado por meio da poesia, ou da arte em geral, ou pelo retorno
reflexivo à vivência, dentre outras possibilidades. Uma criação
lingüística pode tanto ser a invenção de um termo ou de uma metáfora,
como, ainda, a “ressignificação” de um termo ou expressão já em voga.
Um exemplo disso pode ser dado se nos dispusermos a dar o nome ao
sentimento que temos quando não sabemos como dizer o que pensamos
(podemos nos “aproximar” deste sentimento com muitas expressões
correntes, e, quem sabe, nenhuma delas diga adequadamente o que
sentimos em sua especificidade), ou ainda o nome para aquele olhar no
fundo dos olhos de outrem, sabendo-se visto por ele. Observe-se, ainda,
como no campo do conhecimento científico sempre surge a necessidade
de criação de novos termos e expressões que objetivam dar conta de
novos conhecimentos e da formulação de novas teorias. No limite, a
criação lingüística ocorre quando tentamos dizer algo novo de um novo
modo e quando criamos o nosso próprio estilo de expressão.
Gostaria de citar mais um exemplo para poder elucidar a
questão aqui tratada: a partir de atividades que objetivavam suscitar uma
reflexão sobre o ato de pensar, Rúbia (9 anos) elaborou a metáfora
“pensamento intocável”. Quando solicitada para que tornasse mais claro
seu pensamento, ela se referiu ao significado do mesmo a partir do
seguinte problema: “se penso em uma palavra como, por exemplo,
Guaíba (o nome de uma cidade do RS), penso em ‘doce’; se penso em
outra como, por exemplo, Sapucaia (outra cidade), penso em ‘salgado’.
Mas, por que eu ligo estas palavras entre si? Eu as ligo em meu
171
pensamento, mas não sei o porquê... chamo, então, de ‘pensamento
intocável’ este meu modo de pensar que eu mesma não sei”. Muitos
outros exemplos poderiam ser dados, mas penso que o exemplo mais
importante será aquele que cada professor puder observar, em seu
cotidiano, junto às crianças. Observemos, portanto, a importância e a
complexidade do gesto, pois a construção de conceitos conjuga a
vivência, a metáfora, a imagem, a ação, a emoção, o diálogo e a
argumentação, dentre outros processos cognitivos.
Criar linguagem e criar pensamento é também criar ação.
Somos o que fazemos e o que pensamos. Desse modo, ética, política e
educação estão sempre associadas.
Pensando Com Ula
O livro Ula – Brincando de pensar principia pelo
autoconhecimento e percorre muitos outros temas, como a liberdade, o
tempo, a linguagem, a amizade, e tantos outros. A cada leitura pode ser
que novos motivos possam ser de novo descobertos, sejam eles relativos
ao texto ou às imagens, pois em cada história há sempre múltiplas
sugestões, explícitas e implícitas, para pensar. O prazer de ler as
histórias está também na observação destes motivos, e não pode ser
substituído por nenhum comentário que possa ser feito sobre cada
história.
Convido-lhe, assim, a brincar de pensar junto com as crianças.
Talvez, no exercício do filosofar com elas, possamos exercitar nosso
olhar de admiração frente à realidade. Pois filosofar é um modo de viver
e de considerar, em nossos pensamentos e ações, o sentido do humano
172
que há em cada um e em todos nós. Filosofar é construir, desconstruir e
reconstruir sentidos. E como brincar de pensar sem que nos deixemos
envolver com o desafio de, a cada dia, conquistar de novo o sentido de
nossas vidas?
Bibliografia
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Volume I. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1999.
PESSOA, Fernando. Guardador de Rebanhos. In: Poemas Escolhidos.
SP: Klick, 1997.
173
PROLEGÔMENOS AO TEMA ENSINO DE FILOSOFIA NA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO BRASIL
Leoni Maria Padilha Henning∗
Introdução
Como contribuição ao desenvolvimento deste tema enfrentado
aqui pelos demais colegas, gostaria de apresentar o que chamei de
“prolegômenos” ao tema em discussão, uma vez que passo a discutir
idéias introdutórias ao “ensino de filosofia na educação fundamental no
Brasil”, as quais poderão resultar numa abordagem complementar mas,
penso, necessária à compreensão do que tem sido falado a respeito de
“filosofia para crianças” em nosso país. Iniciarei a exposição deste tema
anunciando um dos recursos que a filosofia oferece como contribuição à
educação - dentre as suas demais tarefas analíticas, compreensivas e
explicativas da realidade, quais sejam, aquelas relativas à análise,
interpretação, à reflexão e à crítica - que é, no caso específico, o seu
trabalho de análise da linguagem educacional.
Assim, com respeito ao tema em discussão, percebemos que se
trata de “ensino de”. E como tal, verificamos a importância que a
Professora da Universidade Estadual de Londrina. Endereço eletrônico: [email protected]
174
partícula “de” ocupa, nos esclarecendo que o ensino aqui, se configura
como uma atividade específica de algo e realizada por um agente. Nesse
caso, se trata então de ações de alguém que intenciona ensinar
“filosofia”. Vemos pois, que se trata de uma atividade intencional de
ensinar “algo” a alguém. Trata-se ainda, de uma ação transitiva cujo
remetente de uma mensagem específica aponta para um destinatário sem
o qual a interlocução não se sustenta e a atividade como tal pode deixar
de existir.
Não há, pois, ensino, se não há aquele que se coloca como
“receptor” dos enunciados enviados por um agente que enuncia algo,
havendo, no entanto, bem e mal sucedidas investidas ao se ensinar este
algo a alguém. Vimos já que no caso em discussão, trata-se de
enunciados filosóficos. Ou, de maneira mais progressiva, poderemos
questionar o uso corrente que se faz da palavra “ensinar” podendo então,
se tratar de um diálogo filosófico entre duas pessoas, minimamente.
Mesmo assim, quando falamos de ensino, parece-nos que se fortalece,
no caso, a intencionalidade daquele que toma a iniciativa de encetar
quer seja o diálogo, quer seja o exercício estimulador do desejo ou do
interesse de aprender em alguém. E nesse caso, de um lado encontramos
um agente que se decide por professar temas ou assuntos que versam
sobre filosofia ou, simplesmente, desencadear uma ambientação de
conversação dialogal ou de investigação, possibilitando as condições
necessárias a um tipo de trabalho intelectual cujas especificidades
correspondem ao que se chama de filosofia. Trata-se, pois, do professor
de filosofia. Do outro lado, há a(s) outra(s) pessoa(s) que se envolve(m)
num processo de aprendizagem, o(s) aluno(s). Este elemento da relação,
por se sentir atraído pela perspectiva filosófica, acorda quanto à sua
175
participação e quanto ao desenvolvimento das atividades que estarão em
curso no trabalho da disciplina.
Até aqui percebemos que, “ensino de filosofia” refere-se a uma
atividade intencional de um professor que pretende atingir o seu
interlocutor possibilitando-lhe a aprendizagem sobre assuntos que
versam sobre a disciplina de filosofia. Ao nos referirmos ainda, à
“educação fundamental no Brasil”, verificamos que se trata de uma
atividade formal de ensino que, sendo intencional, estaria circunscrita às
atividades de formação humana numa sociedade que se utiliza de todo
um arsenal educativo nas instalações de suas instituições – formais de
ensino, como também aquelas de caráter informal e não formal –
planejando, mais especificamente nas do primeiro caso, as atividades e
elaborando as condições para o seu funcionamento e concretização de
seus objetivos, na tentativa de preservar as suas realizações e projetar-se
na trilha da continuidade de suas experiências.
Ao nos referirmos ao “ensino de filosofia na educação
fundamental no Brasil”, estamos nos reportando ao ensino de uma
disciplina intencionalmente determinada a garantir alguns ensinamentos
específicos a alguém cujas ações seriam encetadas por um profissional
minimamente habilitado ao exercício de sua profissão de professor de
filosofia.
Mas, até aqui temos o agente da ação de ensinar – o professor -;
o conteúdo de ensino – filosofia; e o lado visado pela ação intencional
comunicativa do professor – o aluno, o ouvinte, ou o co-participante ou
estudante interessado em filosofia. De modo que, sempre se ensina algo
a alguém, cuja relação triádica deve garantir aos fatores constituintes, os
quais nem sempre estão claramente explicitados, uma igual participação,
importância e respeito, resguardadas as suas especificidades. De
176
qualquer maneira, os três elementos devem estar presentes com seus
papéis e propósitos determinados a fim de que não acabemos por
misturar papéis de modo a confundirmos responsabilidades, e por não
atribuirmos a designação de filosofia à atividades descomprometidas
com as reais características e funções que esta disciplina vem assumindo
para si.
O
ensino,
presente
nas
instituições
educativas
que
intencionalmente se põem a ensinar algo na busca da realização de um
fim, deve ser entendido como uma atividade que requer um grau de
profissionalismo inquestionável. O professor, nesse sentido, seria o
agente responsável instaurador do processo educativo, apresentando-se
comprometido inteiramente com tais intenções, objetivos e finalidades,
justamente por ter sido preparado para o exercício desta profissão. Aqui
já constatamos algumas dificuldades: O professor tem sempre
consciência dessas intencionalidades que em princípio seriam guiadas
pelas suas crenças e convicções, pelos objetivos traçados pela
instituição da qual faz parte e que por sua vez, se alimenta da
cosmovisão da sociedade no seu conjunto? Quais os controles que o
professor teria sobre tudo isso? Qual a sua compreensão acerca de seu
papel educativo?
Vemos então que a educação formalizada, sendo uma prática
social, intencionalmente organiza respostas ao contexto onde se insere,
formula ações, dita regras propondo um rol de atividades e
conhecimentos para tornar viável a solução dos problemas encontrados,
a superação do que é misterioso e incompreensível e a progressão de
iniciativas em prol do funcionamento vital da cultura e da sociedade.
Enquanto não-intencional a educação apresenta-se a nível da pragmática
humana mas enquanto intencional, ela precisa de uma pedagogia. São as
177
diretrizes pedagógicas emanadas do conjunto das mais diversas ciências
– humanas, biológicas e sociais – e da filosofia, como também das artes,
que indicarão ao profissional da educação o quê fazer, o como fazer,
para onde seguir.
É evidente que as áreas de conhecimentos que possibilitam à
pedagogia a elaboração da síntese sobre a educação ou a teoria
educacional, saem deste arcabouço teórico pedagógico para se nutrir dos
conhecimentos necessários em sua fonte original científica, filosófica ou
artística para voltar à pedagogia, trazendo as suas contribuições e
insights a respeito dos fenômenos educacionais, num diálogo perene. É
nesse arcabouço teórico que encontramos a presença da filosofia da
educação, junto com suas demais parceiras como a psicologia da
educação, a sociologia da educação, a biologia educacional, etc. Sem
tais áreas acreditamos não ser possível uma pedagogia como também
não seria possível uma efetiva ação educativa e intencional sem a
mesma. Por outro lado, a independência das áreas, as quais permitem a
síntese pedagógica, só deve existir segundo a exigência do compromisso
constante e processual do entrar-sair no campo educacional como
condição necessária para poder arrolar-se na esfera da educação com
presteza e rigor.
Desse modo, sabemos que ensinar, em si mesmo, não se
constitui no todo da educação pois, educação implica também aprender,
investigar, fazer, solucionar, criar e tantas outras possibilidades humanas
muitas das quais nem sempre exigem as iniciativas de ensino de um
professor como condição necessária e indispensável. Além disso,
sabemos também, que há muitas ações que podem confundir-se com o
“ensinar” como por exemplo, o domesticar, o dominar, o bestializar, o
infantilizar, as quais poderiam ter,
em tese, um mesmo ponto em
178
comum, a saber, a intencionalidade daquele que pratica tais ações
destinando-as a alguém. Do mesmo modo, a “educação” pode nem
sempre libertar ou formar consciência com autonomia de pensamento,
mas paulatinamente pode implicar na instauração de erros e confusões
nas mentes, fato já apontado por vários filósofos a exemplo de Bacon
(1561-1626), Descartes (1596-1649) ou Hume (1711-1776).
Ensinar, portanto, redunda tão somente numa intencionalidade
de realização de propósitos que embora sejam planejados em vista de
um fim, dependem em certa medida da contrapartida do outro elemento
que ocupa uma posição altamente decisiva no sucesso ou não daquele
que tenta ensinar-lhe algo. Este conteúdo e o modo de tratá-lo também,
implicará na qualidade da experiência educativa. No caso do tema
proposto, trata-se do “conteúdo filosófico” ensinado à “crianças e
adolescentes” por um professor habilitado a exercer tais atividades.
Desse modo, em se tratando de “ensino de filosofia” já
entendemos que o êxito da empresa educativa nem sempre ocorre, pois
há os que não aprendem ou não se interessam devido os mais variados
motivos. A realização da efetiva aprendizagem é um importante fator
denotativo, mesmo que não seja o único, sobre os traços característicos
do contexto em discussão e a qualidade do ensino ministrado. Mas o quê
o professor ensina sob o pretexto de estar ensinando um conteúdo
específico, no caso um conteúdo de filosofia às crianças e adolescentes?
Não seria este um outro aspecto a ser considerado para que se possa
aferir se o ensino foi ou não foi de qualidade desejável e, portanto, bem
sucedido? Quais os fins da ação de ensinar conteúdos específicos que
ao comporem um conjunto de saberes direcionam para a realização de
um fim último? Tal questão envolve também, a valoração e os valores
em sua relação com a educação, a compreensão, os sentidos e as
179
significações das experiências cuja atenção por parte da filosofia resulta
em extraordinária contribuição à pedagogia.
Na proposição apresentada no presente trabalho, “ensino de
filosofia”, somos levados a entender que se trata de uma disciplina que,
pelos seus traços distintivos enquanto tais, tenha sido também elencada a
configurar o currículo formador da criança, do adolescente, do jovem ou
do adulto. Ela goza de alguma distinção diante das outras disciplinas por
se tratar de uma área de conhecimento que difere das outras disciplinas,
possuindo igualmente os seus princípios lógicos, a sua estrutura
epistemológica e a suas idiossincrasias que conferem às explicações ou
às suas teorias uma validade indiscutível e as razões satisfatórias para
referendarem o seu alcance formador com respeito àqueles a que se
dirige.
Surge então, outras dificuldade com os seus desdobramentos: O
que estaríamos entendendo por filosofia ao ensiná-la? De que ela
trata? Quais as suas reais contribuições como disciplina educativa?
Como e em que ela poderá ajudar na educação das pessoas? Além
disso, e de uma forma mais evidente, podemos perguntar: De que
filosofia estamos falando?
Vimos pela breve discussão que a relação possível e
historicamente estreita entre filosofia e educação nos desafia para a
busca de argumentos e clareza no que diz respeito ao compromisso
humano e social que os saberes resultantes de ambas as atividades nos
infligem.
Nem a filosofia se dá no vazio ou resulta de uma vertigem
metodológica cujos postulados ao se chocarem indecisos ou irresolutos
despencam-se no precipício da insolubilidade! Nem a educação se faz
num que-fazer rotineiro, sem o domínio da sua destinação, cujos
instantes educativos, de fato e surpreendentemente, se revelam
180
impregnados de possibilidades e de fertilidade! Talvez uma das saídas
para tais impasses seria aproximá-las novamente, como nos velhos
tempos.
A filosofia no Brasil
À parte aos complicadores teóricos decorrentes desses
questionamentos, temos que considerar o contexto a que nos referimos
ao tratar da filosofia, quer se dê nos países de Primeiro Mundo e dentre
eles, quais seriam as diferentes tradições e origens do seu pensamento;
quer se dê em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Pois a
filosofia, embora considerada um saber universalista por excelência,
produz o seu conteúdo em grande parte, como resultado do trabalho
reflexivo realizado em estreita relação com as questões e problemas que
emergem do contexto onde se encontra, se envolvendo em grande
medida, nas características das ações e pensamentos realizados pelos
atores sociais que fazem e refazem a sua trajetória de humanos,
problematizando a sua existência na tentativa de tomada de consciência
acerca de si mesmos e do mundo onde vivem.
Na tentativa de deslindar acerca da
filosofia brasileira,
Antonio Joaquim Severino (1999) levanta um provável culpado sobre a
frágil autonomia do pensar no Brasil – quadro esse, em favorável
mudança nas últimas décadas. Tal suspeita é elaborada pelo autor, após
elencar e analisar algumas questões altamente importantes para o
entendimento da reflexão filosófica entre nós, como por exemplo, a
nossa insistente opção em seguirmos um modelo filosófico já
constituído, quase sempre estrangeiro, não o tomando posteriormente
como ferramenta para se pensar o novo, o nosso, o contextualizado, o
181
fecundo e imediato. E diz: “Sem dúvida, isto tem a ver com a própria
tradição
acadêmico-pedagógica
de
aprendizagem
da
filosofia,
atravessada que sempre foi historicamente pelos complicadores oriundos
de nossa situação de dependência cultural, muito acentuada nesse plano
da filosofia” (Severino, 1999, p. 24).
Esta passagem nos sugere um questionamento acerca do
“ensino de filosofia” que tem acontecido no Brasil e que tem sido
caracterizado por Severino como uma escolastização do pensar, o que é
apontado por outros autores, como a marca do academicismo, do ensino
livresco, por vezes do europeísmo e da erudição formalizante entre nós.
A fidedignidade quanto à repetição desses modelos e a retomada dos
critérios dos mesmos como padrão a ser seguido pelo pensamento em
construção, é que tem se tornado o trabalho filosófico das academias no
Brasil. Uma das conseqüências desse fato é que o filosofar neste país
tem sido uma atividade realizada segundo um modelo que se traduz na
obediência à sua temática, à sua teoria do filosofar e à metodologia do
filosofar que este mesmo modelo adota. Desse modo, o autor brasileiro
não tem buscado qualquer originalidade ou autenticidade em sua
proposição sobre o que é o seu entendimento sobre a tarefa do seu
próprio filosofar.
Paralelamente ao academicismo brasileiro podemos transitar
com certa facilidade às questões do elitismo que marca a nossa
sociedade, com especial atenção no período compreendido da Colônia à
República, em que a obtenção de graus de estudo se aproximava à idéia
de títulos honoríficos, privilégios de classe e status social.
Houaiss e Amaral (1995) ao elaborarem sua análise a partir de
dados coletados sobre as características da sociedade brasileira no
processo de sua formação, nos fornecem alguns indicadores sobre o que
182
Severino, quem sabe, concordaria com respeito à nossa “dependência
cultural”: “Civilização cartorária desde as origens lusitanas, apegada ao
papel e ao documento escrito... E crescemos como país de bacharéis sem
nenhuma aptidão para as coisas da terra, entre as quais se incluiria o
trabalho. Herdamos uma história feita por poucos letrados em uma
humanidade de analfabetos ... população alienada da riqueza e dos bens
da cultura, em sociedade que só reconhecia o branco, o branco europeu e
proprietário (Houaiss e Amaral, 1995, p. 16).
A partir destas declarações torna-se fácil relacionarmos estas
idéias com o luxo de alguns ricos e ilustrados que se constituía a
atividade filosófica no Brasil colonial. Pois além do prestígio de classe
dominante e de pertencimento à aristocracia explicitavam os seus
poderes
com os hábitos da metrópole e com a detenção dos bens
culturais importados da Europa. Como nos lembra Cartolano: “Essa
educação humanística era, juntamente com a posse de terra e de
escravos, um sinal de classe” (1985, p. 20), diga-se de passagem, uma
educação imbuída dos princípios da escolástica, do ensino à luz do
tomismo-aristotélico sob a insígnia da doutrina católica, com claros
objetivos de formar a elite intelectual com uma rigidez de pensamento e
de interpretação do mundo já delineada nos seus direcionamentos e
orientações.
É, pois, no contexto da Ratio Studiorum (1599) que vemos
nascer o ensino de filosofia no Brasil destinado aos interessados no
ensino secundário, a saber, os filhos dos colonos brancos e os futuros
sacerdotes. Uma viagem à Europa completava estes estudos, em
especial, propiciava o contato do jovem com o centro cultural da época,
a Universidade de Coimbra. Com a derrocada dos jesuítas no século
XVIII e as iniciativas do Marquês de Pombal, os contatos com a Europa
183
possibilitaram a entrada mormente da influência francesa em nossa
cultura, como o iluminismo e o enciclopedismo, e também, as idéias
empiristas e deístas inglesas vistas, por vezes, aos olhares assustadores
da tradição pelos seus traços subversivos. Com isso, atenuaram-se as
marcas do escolasticismo inicial, mas, na verdade isso não significou
uma completa desintegração da tradição humanística, livresca e
academicista, uma vez que os professores que adotaram o novo sistema
pombalino haviam sido educados e formados pelos jesuítas. Com os
franciscanos no Rio, em 1776, ainda encontramos o ensino de filosofia
conservando a sua posição anterior estando entre a Retórica, o Grego, a
Teologia Dogmática dentre outras disciplinas.
No século XVIII assistimos a um significativo impulso no
Brasil com a vinda da família real para cá, possibilitando maiores
alternativas de enriquecimento cultural à já não tão jovem sociedade,
não notadamente à população em geral, uma vez que ainda carecíamos
de bens culturais necessários a um real desenvolvimento da nação como
um todo, a saber,
uma escola pública real que atendesse as
reivindicações das classes populares, universidade, imprensa e
bibliotecas dentre as enormes alternativas já possíveis àquela época.
Porém, fazendo parte do panorama geral, podemos compreender que as
progressivas reivindicações por escolarização por parte da população,
tornaram-se uma realidade no Brasil oitocentista, já que educação
significa cada vez mais um instrumento poderoso resultando em
destaque social. O dualismo entre o trabalho intelectual e prático ainda
persiste, sendo este marcado pelas atividades realizadas pelos índios, os
descendentes dos escravos, os mais humildes, e aquele efetivado por
elaboração teórica daquelas pessoas ilustres e poderosas.
184
Mas, aos poucos vai ocorrendo um desligamento progressivo
da cultura e mentalidade colonial e um enfraquecimento da hegemonia
filosófica portuguesa. Porém, em termos de ensino de filosofia, no
século XVIII ainda persiste o espírito humanístico e universalista da
disciplina, agora ensinada com grande importância aos futuros
“bacharéis” das faculdades de Direito, desde 1827, em São Paulo e no
Recife. Enquanto no currículo do ensino secundário oitocentista – liceus
e ginásios das províncias - , com especial destaque ao Colégio D Pedro
II porque o único mantido pelo governo central, dentre as disciplinas
obrigatórias encontramos a filosofia que é ensinada aos futuros
candidatos aos cursos superiores, principalmente os de Direito,
Medicina ou Engenharia. Trata-se, portanto, de um ensino propedêutico
em que a filosofia é professada através dos compêndios clássicos
aristotélico-tomista, ainda nossa forte tradição de pensamento.
Na segunda metade do século XIX,
vemos assistir uma
melhoria nas condições sócio-econômicas com o desenvolvimento da
cultura cafeeira e da derrocada da agricultura tradicional, o que provoca
maior qualidade de vida aos brasileiros e a abertura às idéias que vêm da
Europa e dos Estados Unidos. Os ideais da Revolução Francesa e das
idéias de liberdade defendidas por Rousseau (1712-1778) continuam a
causar impacto nas discussões sobre as reformas no ensino. A
obrigatoriedade do ensino religioso começa a ser questionada, mas, a
filosofia tende a permanecer soberana no currículo das escolas
secundárias, tornando-se inclusa também nas escolas normais25.
No bojo das novas idéias instaura-se efervescente discussão
sobre, por exemplo, o princípio de liberdade de ensino, de estudo e de
25
Reforma liberal de Carlos Leôncio de Carvalho (Ministro de Educação de 1878-1879)
de 1879.
185
freqüência, dentre outras questões alarmantes de conteúdo filosóficoeducacional. A idéia de progresso característica deste “novo tempo” em constante mudança - cuja dinamicidade é cada vez mais acentuada, é
projetada num programa cultural amplo que pretende superar os estágios
religiosos ou fantasiosos e aqueles racionais ou metafísicos, segundo a
égide da doutrina positivista. A filosofia passa então a ser questionada.
A obrigatoriedade da disciplina motiva debates cada vez mais
inflamados dado o universo de idéias que se ampliam numa sociedade
que se industrializa e muda o perfil de sua organização política,
econômica, social e por que não dizer, educacional26. Começamos a
assistir um progressivo interesse pelo ensino primário, aliás, muito
defendido pelos positivistas muitos dos quais entendem ser a Academia
um lugar de embrutecimento do espírito e corrupção dos costumes 27.
Mas, entra em cena temáticas inusitadas na tradição brasileira: críticas
acirradas à aristocracia e aos privilégios, à exploração humana, à
ingerência da Igreja nas questões públicas, e em contrapartida, propostas
de moralização da sociedade, defesa da mulher e assim por diante.
Se, com efeito, tentarmos elaborar uma revisão da filosofia no
Brasil verificamos que foi a partir do Século XVIII/XIX que
observamos um impulso intelectual entre os nossos pensadores, cujas
marcas e esforços esbarram em alguma originalidade e crescente
incorporação de um pensamento efetivamente mais reflexivo que se
mostra na releitura dos autores, na adaptação das idéias que entram no
26
Na reforma educacional de Benjamin Constant (1836-1891/Ministro da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos de 1890-1891) de 1889, a Filosofia não aparece jamais
como disciplina curricular em nenhum dos graus de ensino, sendo a proposta embasada
nas idéias positivistas em que cada nível de ensino tem caráter formador e não
propedêutico. Apesar disso, ainda persiste na proposta de Constant um espírito
enciclopédico embora marcadamente científico.
27
Como por exemplo, Luiz Pereira Barreto (1840-1923) em sua obra As três filosofias” de
1874.
186
ideário brasileiro como o ecletismo francês, nas reações teóricas que
realizam, diante da investida positivista e cientificista, na reorganização
das idéias como é o caso do neo-tomismo e na proposta progressiva de
aplicação teórica aos fatos inusitados característicos de nossa cultura e
de nossa sociedade.
Mas mesmo assim, os pensadores brasileiros que começam a se
projetar como tal, não conseguem dispensar as críticas dos seus
comentadores, como o exemplo a seguir: “Embora reconhecido pelo
espírito inquieto, Tobias Barreto [1839-1889] parece não ter se
diferenciado dos seus antecessores no tocante ao seu registro e
comentário das escolas e correntes estrangeiras” (Cartolano, 1985, p.
37).
Passamos a encontrar assim, a indicação de uma preocupação
com a originalidade e com a autenticidade do pensamento desenvolvido
em terras brasileiras. Desse modo, Farias Brito (1862-1917) em sua obra
Finalidade do Mundo, queixa-se de o Brasil não ter ainda produzido um
filósofo!
Fazendo parte do espírito de renovação característico das
décadas de 20/30 no Brasil, vamos encontrar nos mais variados âmbitos
da cultura, esforços conjuntos de reconstrução da sociedade e de
modernização, num clima de eufórico nacionalismo e de esperanças das
possibilidades e realizações do Pós-Guerra. Na educação, não é
diferente. E programas para uma educação nova de longo alcance são
propostos como uma saída aos problemas nacionais e como um grande
investimento que muito valerá a pena. O problema maior na educação
brasileira indicado pelos Pioneiros no Manifesto de 32 era aquele que
aponta à uma importante falha presente nos diversos planos (de
reformas), a saber, a carência de “uma filosofia da educação e, mais,
187
uma visão científica dos problemas educacionais” (Ghiraldelli, 2003, p.
33). Propósitos estes que os Pioneiros procuram realizar, sendo
indubitável no caso da “filosofia da educação”, o significativo trabalho e
a contribuição expressiva de Anísio Teixeira (1900-1971).
Percebemos assim que, com a República, surge um processo de
oscilação entre o humanismo clássico e as tendências cientificistas na
educação, ora tornando a disciplina de filosofia como parte essencial do
currículo do ensino secundário, ora retirando-a do currículo por se
mostrar desnecessária à compreensão da realidade e dos fatos, cabendo
este papel somente às ciências. A filosofia também aparece ora, em
propostas de ensino secundário propedêutico ora, como componente de
um currículo formador do nosso jovem. Esta indecisão quanto a função
da filosofia na educação, diga-se de passagem, parece persistir ainda
como um importante tema de debate da atualidade, uma vez que em
algumas situações, tem sido os exames vestibulares o simples motivo do
entusiasmo pelo seu ensino e aprendizagem, não se concebendo, com
clareza, o seu específico papel formador e as suas peculiaridades como
disciplina. Além disso, até o presente momento em que se analisa o
ensino de filosofia no Brasil, percebe-se à sua destinação à escolaridade
média ou colegial, não se constituindo em ensino para crianças ou com
crianças propriamente dito. Do mesmo modo, não tem sido um ensino
que até o momento , segundo o exposto, tenha exigido uma reflexão
mais intensa sobre os seus propósitos educativos, já que se mostra
destituído de franca articulação formativa do jovem, servindo em muitas
situações, tão-somente como propedêutico aos ensinamentos posteriores
ou à sua ilustração. Segundo esta segunda possibilidade, vale lembrar,
que o atual movimento para o retorno da disciplina de filosofia tem
merecido críticas por se fazer um campo de conhecimento ilustrativo e
188
enciclopédico à formação do nosso jovem, sendo quando muito,
importante, porém desnecessário, e no mínimo, inútil!
Uma observação geral de todo este processo nos indica que, a
grosso modo, a filosofia vai sendo encurralada por iniciativas que a
espremem nas barreiras dos interesses e dos eventos das mais variadas
ordens. Constatamos que, à medida que a validade da disciplina de
filosofia vai sendo questionada por setores da sociedade e da educação,
ao retornar ao currículo por iniciativas posteriores, quase sempre vem
traduzida pela Lógica entendida como disciplina fundamental no
contexto de valorização das ciências. Desse modo, passa-se a solicitar da
filosofia através da Lógica, uma relevante contribuição, especialmente,
quanto ao uso da razão. Pois, esta disciplina pode oferecer as condições
necessárias à garantia da coerência do pensamento consigo mesmo e
com os objetos a ser conhecidos pelas diversas ciências; determina as
regras e os métodos de pensamento; auxilia no entendimento das leis
presentes nas relações de investigação e de conhecimento. Assim, na
reforma de Francisco Campos (1891-1968), em 1932, a Lógica passa a
ser uma importante disciplina preparatória aos cursos de Medicina,
Odontologia, Farmácia, Engenharia, Arquitetura, Direito, Cursos
Jurídicos ao qual também se exige os conhecimentos de História da
Filosofia.
As subseqüentes reformas do ensino, embora enfatizando o
caráter enciclopédico e a cultura geral, tenderam a ir, aos poucos,
excluindo a filosofia como disciplina formadora da nossa juventude. O
caráter humanístico da educação a partir do final da última metade do
século XX, dizia mais respeito à consciência patriótica e a inculcação de
uma concepção de mundo, para quais objetivos muito bem servia a
disciplina de Educação Moral e Cívica e as suas congêneres, tendo como
189
pressuposto em relação à Lógica o entendimento de que se constituía
numa disciplina de inegável contribuição à formação intelectual e
científica do adolescente.
O processo de retirada da filosofia como uma disciplina
obrigatória do ensino secundário iniciado de fato, com a diminuição
gradativa da sua carga horária, nas décadas de 40/50, e efetivada na Lei
4024/61 pelo Conselho Federal de Educação em que ela poderia
aparecer num dos pares possíveis entre as disciplinas complementares
ditadas pelos Conselhos Estaduais de Educação para o Clássico e o
Científico, ou como disciplina optativa. Mas o processo em evolução vai
afastando a filosofia do seu lócus formativo da nossa juventude e de seu
trabalho de ensejar o novo, a curiosidade intelectual e a criação humana.
Com a Resolução N o 36 de 1968, a filosofia torna-se definitivamente
uma disciplina optativa para ser posteriormente, em 1971, com a Lei
5.692, suprimida de vez do currículo das escolas de ensino médio, onde
sempre realizou de alguma forma, as suas atividades de caráter
educativo. A filosofia pois, ao não se configurar como uma disciplina
profissionalizante e com conteúdos práticos, torna-se dispensável e
substituível por outra mais consentânea com o novo humanismo que é
voltado à tecnologia e à ideologia empresarial e produtiva.
Não vejo a partir daqui, qualquer necessidade de prosseguirmos
com nossa análise, uma vez que poucos avanços foram efetivados para a
reversão deste quadro. Talvez seria emblemático o desabafo que
Cartolano (1985) exprime na seguinte frase: “Este é o ensino de filosofia
que em geral tivemos no transcorrer de toda nossa história da educação:
um ensino centrado em conteúdos acadêmicos e enciclopédicos que
primavam por cindir a teoria da prática social” (Cartolano, p. 74).
Mais tarde, a mesma autora, queixando-se ainda da falta que
190
temos de uma sólida tradição filosófica que possa garantir o sucesso na
defesa da filosofia, justifica todo o imbróglio que percebemos em torno
desta disciplina: ”Enquanto serviu à transmissão de valores aceitos por
uma elite clerical e pelos católicos no poder, teve livre acesso aos
horários escolares. À medida que passou a refutar as idéias desse
‘humanismo’ conservador e a elaborar uma teoria crítica a partir dessa
realidade concreta, foi relegada a segundo plano e impedida de continuar
o seu empreendimento” (Cartolano, p. 80).
Com esta breve exposição podemos caracterizar exatamente o
contexto educacional brasileiro em cuja época surgia nos Estados
Unidos da América (fins da década de 60) um personagem que vai aos
poucos se projetando internacionalmente e, conseqüentemente com isso,
vai penetrando nas discussões filosófico-educacionais de nosso país, a
partir dos anos 80, defendendo a disciplina de filosofia nas escolas de
ensino fundamental o que vai se constituir, de fato, no estarrecedor
programa de ensino de “filosofia para crianças” - desde a pré-escola até
os jovens do ensino médio. Trata-se do filósofo norte-americano
Matthew Lipman que com os seus 80 anos e com uma saúde fragilizada,
continua ativamente dedicando-se ao seu trabalho de estudioso e
propagador de idéias em defesa dos ensinamentos filosóficos na escola.
O ensino de filosofia e a proposta de uma educação filosófica às
crianças
O tema “ensino de filosofia” nos diferentes níveis de
escolaridade não se constituiu, em si mesmo, a grosso modo, um
problema educacional de atenção especial ao longo dos tempos, com
191
exceção, como vimos brevemente, aos interesses políticos, ideológicos
ou religiosos em que as propostas filosóficas de ensino poderiam estar
envolvidas. Uma abordagem sistemática sobre o ensino de filosofia e as
questões decorrentes desta discussão relativas à adequação às idades
dos educandos, à pertinência dos conteúdos filosóficos aos interesses
dos alunos, ou ainda, à defesa da importância da filosofia para a
formação da criança desde o início de sua vida escolar, nos parece um
problema recente.
Desde o final da década de sessenta e início da seguinte, o
ensino de filosofia para crianças ainda em escolaridade fundamental,
passou a chamar a atenção, principalmente, dos filósofos, educadores,
psicólogos e pais interessados com a formação equilibrada e saudável
da criança diante dos rumores e turbilhão dos movimentos políticos e
sociais que agitavam o mundo da época. Para muitos deles, ensinar
filosofia desde a educação infantil, poderia se constituir numa saída
eficaz.
E, sem exageros, podemos adiantar que a concretização desta
alternativa esbarra em questões de caráter político-ideológicos e
filosófico-pedagógicos, uma vez que tal discussão força os limites em
que a educação tem sido adstrita segundo os cânones conceituais
estabelecidos e consolidados no contexto científico e curricular da
escolaridade formal. Daí poder resultar uma expansão das relações da
sala de aula com a instituição como um todo, e desta com a sociedade,
através da fomentação da criticidade, do espírito lógico e analítico que
se pretende semear no caráter infantil. Busca-se um incentivo a um
estilo mais ativo de pensamento possibilitando a integração da criança
com uma sociedade possivelmente mais democrática. Além disso,
192
pretende-se
recuperar a curiosidade e a imaginação banida pela
imposição de uma educação marcadamente domesticadora e autoritária,
quando menos, descompromissada com a excelência de sua tarefa.
Especula-se, portanto, a respeito do aperfeiçoamento da
democracia onde todos possam ser igualmente preparados à luz da
investigação não somente científica, mas filosófica, ampliando o
espectro de ação criativa, crítica e razoável a todos, incluindo a criança.
Esta, não mais deixada à espera de uma idade ideal para poder então,
aprender filosofia, ou à mercê de mecanismos cautelosos
pela
preparação a um futuro distante. Contrariamente, evoca-se o espírito
infantil na vivência mesma de suas próprias experiências e capacidades.
Surge a partir daí a necessidade da problematização e compreensão da
infância diferentemente de outrora, e, em conseqüência disso, amplia-se
o entendimento do próprio homem, de suas representações e relações
com a sociedade em seu conjunto.
Nota-se assim, que tal perspectiva abala os conceitos acerca da
educação filosófica e suas relações com as demais áreas que se dedicam
à formação humana, os quais participam, sem maiores dificuldades, de
um paradigma pedagógico que vem acomodando as mais diversas
inovações teóricas nesses últimos anos. O racionalismo, constituído
como uma linha mestra do pensamento ocidental desde os gregos, não
eximiu a pedagogia do poder dos seus tentáculos envolventes que têm
aquietado os ânimos imperscrutáveis da alma humana, somente
revelados na sensibilidade emocional e nas paixões as quais, por vezes,
têm sido apontadas como reveladoras dos delírios e fantasias humanas.
Com respeito a isto, Demo (2000) adverte: “Aparece aí algo que o
racionalismo detesta: perder o controle da razão” (p. 33). Com tais
preocupações, Lipman (1994) chama a atenção para os excessos de uma
193
educação expressamente racionalista e científica que, segundo a visão
do autor, poderá insensibilizar o homem e estagnar a sua mente numa
inapetência pelo novo e pelo inusitado. E, então, assinala que, “... aos
poucos uma crosta ou armadura vai se formando sobre suas mentes e
elas começam a aceitar essas coisas como fatos, até que deixam de se
maravilhar com tudo e passam a não se maravilhar com mais nada”
(Lipman, p. 56).
Com tudo isso, resta-nos resgatar as nossas reflexões iniciais,
chamando a atenção para a necessidade de aprofundamento das questões
que emergem da locução ensino de filosofia - na educação fundamental
ou, se quisermos, ensino de filosofia para crianças. De que ensino
estamos falando? Qual filosofia seria esta? Quem seria o professor e
como seria formado? Quais as representações que temos sobre a
infância? Enfim, quais seriam as nossas concepções sobre as quais se
sustenta tal ensino de filosofia.
Bibliografia
ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento.
Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CARTOLANO, Maria Teresa Penteado. Filosofia no Ensino de 2o
Grau. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1985.
DEMO, Pedro. Educação e Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes,
2000.
GHIRALDELI Jr, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira.
Barueri, SP: Manole, 2003.
HENNING, Leoni M. P. A Pedagogia do Pensar: trabalhando a narrativa
mítica na sala de aula. Fragmentos de Cultura, vl. 1, n. 1, 1991,
Goiânia.
194
_____. Lipman Filósofo. 2003. p. 190. Tese (Doutorado em Educação).
Universidade Estadual Paulista, Marília, SP.
HOUAISS, Antonio e AMARAL, Roberto. Modernidade no Brasil.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
LIPMAN, Matthew et al. A Filosofia na Sala de Aula. São Paulo: Nova
Alexandria, 1994.
SEVERINO, Antonio Joaquim. A Filosofia Contemporânea no Brasil.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
VYGOSTSKY, Lev. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins
Fontes, 1991.
195
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE
FILOSOFIA
196
FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE FILOSOFIA:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Elisete M. Tomazetti∗
Introduzindo a problemática
Ao procurar compreender a formação inicial do professor de
Filosofia situo a temática da formação de professores em geral no
âmbito das instituições de ensino superior e das políticas públicas de
educação. Além disso, indago acerca do desprestígio para com o
pedagógico em favor da formação para a pesquisa, como se pesquisa e
ensino fossem inconciliáveis. Ao contrário, argumento em favor da idéia
de que o ensinar a filosofar não exclui a própria Filosofia em sua
tradição legitimada ao longo da civilização ocidental. O professor de
Filosofia deve receber uma formação de alto nível no aspecto da história
da Filosofia e de suas temáticas e do aprender a filosofar, assim como
Professora e Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação do
CE/UFSM. Endereço eletrônico: [email protected]
197
uma formação própria para constituir-se como professor do ensino
médio, na Escola Básica brasileira. Estamos ainda construindo reflexão
e pesquisa na área do ensino de Filosofia e da formação do professor de
Filosofia, há muito a se fazer.
O título deste seminário, Filosofia e Educação: Confluências,
sugere a idéia de dois campos de conhecimento que podem encontrar-se,
como dois rios podem desembocar na mesma foz, ou seja produzir uma
reflexão significativa para ambas as áreas.
Muitos pensadores, filósofos, ao longo da tradição filosófica
ocidental tomaram a educação como objeto de suas reflexões. Neste
caso, a educação era sempre compreendida em seu aspecto geral e
raramente em seu aspecto mais específico, enquanto ensino. A filosofia,
então, apresentou-se como um discurso generalista sobre a educação, um
saber fundamental na constituição dos estudos pedagógicos. Havia, de
certa forma, uma indissociação entre Filosofia e Pedagogia. Ao final do
século XIX a Pedagogia foi sendo proposta como um conhecimento de
ordem científica, pelos aportes da Psicologia e da Sociologia. A
constituição de um campo pedagógico, mesmo que sem a efetividade de
um estatuto científico conduziu à separação da Pedagogia da Filosofia.
Com isso, passaríamos a compreendê-las como dois campos de
conhecimento que raramente se encontram, exceto pelo esforço de
sustentação produzido no espaço da Filosofia da Educação. Mais ainda,
o campo pedagógico passaria gradativamente a ser considerado de
relativa relevância para os estudos em Filosofia. Por isso, a imagem
propiciada pela expressão confluência anuncia que, em algum momento,
há ou poderá haver o encontro, o diálogo, a interação.
198
Ao se transferirem as preocupações também para o campo do
ensino e, desta forma, para a escola tal confluência parece ser ainda um
espaço a ser construído. Quem sabe pudéssemos falar não apenas da
Filosofia que propõe uma reflexão sobre a educação, mas também sobre
o ensino, uma Filosofia do ensino?
O tema da formação do professor de Filosofia é relativamente
ausente nos seminários e congressos sobre Ensino de Filosofia, bem
como dos artigos e livros publicados na área. As questões do que ensinar
e do como ensinar em uma aula de Filosofia no Ensino Médio, são um
pouco mais presentes. Sobre a Formação do Professor de Filosofia, seja
ela inicial ou continuada, eu constato pouca discussão e produção. Isso
poderia ser explicado pelo fato de que as produções e reflexões nascidas
no contexto da área Formação de Professores, mesmo tendo se tornado
forte no Brasil a partir da segunda metade dos anos 90 do século XX,
ainda não encontrou maior receptividade por parte daqueles envolvidos
com a formação do professor de Filosofia.
Colocar a questão da formação do professor de Filosofia no grande
debate travado pela área de pesquisa denominada de Formação de
Professores significa produzir conhecimento acerca de:
-
Como foi e como está sendo realizada a formação inicial do
professor de Filosofia?
-
Como os formadores de professores nas universidades
concebem a formação do futuro professor de Filosofia do
Ensino Médio?
-
Como e quem faz formação continuada do professor de
Filosofia?
199
-
Que conhecimentos temos produzido sobre a escola e o aluno
de Ensino Médio, para que o futuro professor de Filosofia
possa se preparar para sua prática profissional ?
-
Como formar um “bom professor” de Filosofia? O que se
entende por um “bom professor” nos dias atuais, sustentados na
literatura disponível?
É exatamente sobre estas questões que ainda há pouca pesquisa e
debate. Arrisco-me a afirmar que isso se deve ao fato de que o dualismo
e, portanto, a não confluência, entre o Filosófico e o Pedagógico
permanece vivo no campo acadêmico.
Pensando o curso de licenciatura em Filosofia no Brasil
No Brasil os professores de filosofia são formados em cursos de
licenciatura plena, o que implica um perfil próprio para a atuação na
docência em escolas de nível médio. No entanto, a forma de organização
de tais cursos variou ao longo do século XX. Primeiramente tínhamos o
modelo intitulado 3+1, que se apresentava pelo dualismo entre
conhecimentos conceituais (específicos) em três anos e conhecimentos
pedagógicos ministrados em um ano, no denominado Curso de Didática.
A partir da Reforma Universitária e da criação da Faculdade de
Educação, em 1970, a formação pedagógica misturava-se aos
conhecimentos conceituais ao longo dos quatro anos de curso. Tais
conhecimentos pedagógicos estruturavam-se nos Currículos Mínimos,
que fixaram as disciplinas de Psicologia da Educação, Estrutura e
Funcionamento da Escola, Didática Geral, Didática Especial e Prática de
Ensino.
200
A título de exemplo lembro o caso da Argentina, citado por
Guillermo Obiols (2002, p.52-53) que tem organização semelhante ao
Brasil. O mesmo curso forma os licenciados e os professores de
Filosofia. Há um tronco comum, que posteriormente divide-se e o futuro
professor “terá um ciclo de formação pedagógica que incluirá, segundo
as diferentes universidades, entre duas e cinco disciplinas, enquanto que
o licenciado aprofundará seus estudos em seminários de pesquisa
filosófica e deverá realizar uma tese”
O modelo europeu exige primeiramente um curso de graduação em
Filosofia para que posteriormente o bacharel que desejar tornar-se um
professor tenha acesso a uma formação pedagógico-filosófica para o
exercício da prática docente.
Com algumas exceções, os cursos de Filosofia e demais
licenciaturas estruturaram-se assim até a promulgação da LDB 9394/96.
Como decorrência da referida lei, as políticas públicas de educação
começaram a acionar mudanças nos cursos para extinção do referido
modelo. Ao mesmo tempo em que o MEC solicitava o estabelecimento
de novas Diretrizes Curriculares para os cursos, era constituído um
grupo tarefa para a elaboração de Diretrizes Curriculares para os cursos
de formação de professores. O primeiro documento produzido por este
grupo se tornou público em maio de 2000 e foi denominado “Proposta
de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação
Básica, em Curso de Nível Superior”.
Com as Resoluções CNE/CP 01 e 02/2002 os cursos de licenciatura
foram impelidos a fazer uma reflexão sobre sua tarefa de formar
professores e começar a alinhavar algumas mudanças. As Diretrizes
curriculares da formação de professores e as respectivas Resoluções
tornaram inevitável um re-direcionamento dos cursos de licenciatura, o
201
qual deverá pautar-se numa concepção que vincule ensino e pesquisa e,
ao mesmo tempo, dê um novo sentido às questões relativas à relação
teoria e prática, à prática de ensino e ao estágio supervisionado.
É importante destacar que todo o movimento para o
estabelecimento de um perfil claro dos cursos de licenciaturas implica o
exercício de rompimento com concepções e práticas que se fizeram
tradição ao longo do tempo. Portanto, as mudanças não ocorrem da noite
para o dia e, além disso, implicam política institucional clara acerca dos
cursos de licenciatura. As disputas no campo acadêmico implicam poder
e prestígio e neste ponto a área da educação, da pedagogia,
historicamente tem sido relegada a um apêndice, a um “mal necessário”
diante de uma formação voltada para o profissional bacharel e
pesquisador. A já célebre relação conflituosa entre Filosofia e ensino nas
obras de grandes pensadores estende-se ainda hoje nos discursos e nas
práticas daqueles envolvidos com cursos de Filosofia. Estranha ironia!
Muitas vezes aqueles que manifestam tal posição são, eles mesmos,
professores, ensinantes de Filosofia no terceiro grau, na universidade. O
ofício de professor universitário nem sempre foi aceito e reconhecido
pelos próprios filósofos que o tomavam como um ofício indigno
Ensinar Filosofia ou Ser Filósofo?
Abelardo, no século XII em sua História de minhas desventuras,
conforme Obiols (2002, p. 89) afirma: “a intolerável pobreza foi o que
nesta ocasião me levou ao regime escolar. Arar a terra não podia e
mendigar me envergonhava. Assim que, incapaz de trabalhar com as
202
mãos, me senti levado a me servir de minha língua, voltando ao ofício
que conhecia”.
Da mesma forma, no século XIX, Schopenhauer escrevia:
Desde sempre, muito poucos têm sido os filósofos
que foram também professores de filosofia e,
proporcionalmente, todavia menos os professores de
filosofia que foram filósofos. Poderíamos dizer, em
conseqüência, que, assim como os corpos
idioelétricos não são condutores de eletricidade, os
filósofos não são professores de filosofia. Em
verdade, para aquele que pensa por si mesmo esta
tarefa o estorva mais que qualquer outra. Pois a
cátedra de filosofia é de certo modo um
confessionário público, onde alguém faz sua
profissão de fé coram populo .... (Obiols, 2002, p.
80-90).
Se o desprestígio com o ensino de Filosofia na universidade já se
colocava presente nas obras de alguns filósofos, eleva-se ainda mais
quando o lugar de ensinar é a escola básica, ou mais especificamente o
Ensino Médio, porque a ele somam-se a desvalorização da profissão de
professor da escola básica, as condições de trabalho, o salário e a
carreira. Os cursos de licenciatura, no interior das universidades sempre
foram considerados cursos de “segunda categoria”. Para fugir a este
estigma tais cursos encontram na formação do futuro pesquisador, aluno
de curso de mestrado a sua marca. Os argumentos para justificar tal
opção dizem respeito à idéia de que aquele aluno que dominar de forma
competente a tradição filosófica será um bom professor, independente
da formação pedagógica que tiver, pois esta é concebida apenas como
um ornamento, um apêndice. Formar um professor de Filosofia seria o
mesmo que formar um pesquisador em Filosofia? Formar um professor
203
de Química seria o mesmo que formar um pesquisador em Química, por
exemplo? Ser licenciado em, receber licença para a docência tem qual
sentido?
Ser pesquisador em Filosofia, no meu entendimento tem significado
o acesso à tradição filosófica e suas grandes temáticas, procurando
destacar conflitos entre os pensadores, esclarecimento de seus conceitos,
enfim, o envolvimento com esta tradição de forma rigorosa e metódica.
Ser professor de Filosofia, para mim tem o sentido de tomar esta mesma
tradição com suas grandes temáticas e apresenta-las aos alunos de forma
significativa, fazendo com que eles mesmos assumam-se como
potencialmente capazes de fazer tais perguntas, de problematizar os
conceitos e de perceber que as questões já suscitadas pelos filósofos
podem vir a tornarem-se as suas questões. Ou seja, transformar o saber
disciplinar da Filosofia em um saber escolar, que adentra as questões, o
tempo e a vida dos alunos, jovens/adolescentes alunos do Ensino Médio.
Este me parece ser o grande desafio daqueles que se lançam na profissão
de professor.
Por outro lado, cabe a seguinte pergunta: Por que não construímos
uma tradição acerca do ensino de Filosofia no Brasil, como, por
exemplo, se produziu na área do ensino de ciências? Porque, como diz
Edson Antonio da Silva (2001, p.10) “em se tratando da comunidade
filosófica
brasileira
esse
medo
(da
interação
com
o
educacional/pedagógico) assume em alguns momentos o significado
emblemático de uma fobia”. É considerado filósofo profissional “isto é,
filósofo propriamente dito, quem cuida de filosofia, e isto de um ponto
de vista lógico, lógico-transcendental. (...)”. Tratar do ensino da
Filosofia, da formação do professor de filosofia “não garante o
privilégio de integrar a categoria dos ‘filósofos profissionais’“. Da
204
mesma forma, aquele aluno do curso de Filosofia que se decide pela
profissão de professor e conseqüentemente pelos estudos e pesquisas na
área do ensino e da educação é, muitas vezes, considerado como menos
competente para os estudos filosóficos, menos competente para integrarse ao grupo dos filósofos profissionais.
Será que a Filosofia basta-se a si mesma, recusando qualquer
interface com o campo pedagógico? A concepção de formação
pedagógica dos formadores de professores dos cursos de licenciatura em
filosofia não será a de apenas uma técnica, um instrumental para ensinar
conteúdos e provocar a aprendizagem nos alunos? Um conjunto de
regras a serem conhecidas e aplicadas no contexto da aula de filosofia?
Se assim for, constitui-se uma concepção estreita de professor, ou seja,
de um técnico, de um aplicador de teoria na prática. Se é esta a
concepção que vigora, certamente a formação pedagógica faz-se
desnecessária.
O livro didático tem servido como o suporte do professor, pois ele
traz pronto aquilo que o professor teria muita dificuldade para fazer, em
condições de trabalho que, muitas vezes, nas escolas são impeditivas. O
livro didático tem sido considerado, então, a salvação do professor.
Entretanto, o professor de Filosofia não é apenas professor em sua sala
de aula, ele é membro de uma comunidade escolar, com suas
características, com suas regras, seus projetos, seus dilemas. Enfim, ele
trabalha em uma escola em contato com outros professores e, portanto,
faz muito mais que entrar em uma sala de aula para transmitir
conhecimentos, o saber filosófico, aos seus alunos. E, no caso da
disciplina Filosofia, ao apresentar o saber filosófico, o professor exercita
simultaneamente o filosofar, ele ensina a filosofar. Penso que ensinar
205
Filosofia e ensinar a filosofar não podem estar separados, sob pena de
reduzirmos a Filosofia a apenas mais um saber a preencher o currículo
escolar.
Profissão Professor de Filosofia
A profissão, o “ofício” de professor é muitas vezes considerado
como não tendo necessidade de saberes próprios, pois são comuns os
clichês de que para ensinar bastaria conhecer o conteúdo, ter talento, ter
bom senso, seguir a intuição, ter experiência ou ter cultura, como propõe
Gauthier (1998). No entanto, a ação docente, a prática do ensinar é
considerada como um ofício feito de saberes, os quais devem ser
desenvolvidos em parte na formação inicial do professor. Tais saberes
são os seguintes:
-
Saber disciplinar, produzido pelos pesquisadores e cientistas
nas diversas disciplinas científicas. No caso da Filosofia seria a
própria tradição filosófica.
-
Saber curricular, que é o resultado da seleção produzida pela
escola e transformado em currículo.
-
Saber das ciências da educação; da História da Educação, da
Sociologia da Educação, da Psicologia da Educação, por
exemplo.
-
Saber da tradição pedagógica, manifestado nas representações
de docência, de escola, de sala de aula.
-
Saber experiencial, acumulado ao longo da carreira e que
muitas vezes não é explicitado pelo professor, porque se tornou
uma rotina.
206
-
Saber da ação pedagógica, é o saber experiencial enquanto
analisado
e
problematizado
pelos
pesquisadores
e
posteriormente tornado público.
Entendo como necessário que o aluno de um curso de licenciatura
em Filosofia se perceba como futuro professor, a partir do conhecimento
da escola básica, com seus desafios, seus problemas e perspectivas que
lhe são próprias. O que importa é tornar-se sabedor dos saberes
pedagógicos, das políticas educacionais, das práticas escolares, enfim,
daquilo que compõe o campo educacional. Estes conhecimentos não
apenas são de responsabilidade dos professores vinculados aos
departamentos didáticos dos centros ou faculdades de educação, mas
também dos professores responsáveis pelo saber disciplinar, a Filosofia.
Por isso a insistência na definição da identidade do curso como curso de
licenciatura, curso de formação de professores.
Outra questão que se coloca diz respeito à compreensão que se
consolida sobre os saberes educacionais/pedagógicos como um saber
menor, como já afirmei anteriormente, um apêndice, um mal necessário.
Ora, como afirma Azanha (1995, p. 51),
as disciplinas pedagógicas são vistas comumente
sob um prisma eminentemente didático, isto é,
tecnológico. Tudo se passa como se a formação do
professor devesse instrumentá-lo com métodos e
técnicas, quando talvez fosse muito mais
interessante preparar o professor a partir da
discussão de questões substantivas de educação nos
seus aspectos filosóficos, históricos, sociais e
políticos.
207
Ensinar é uma das atividades para as quais não é possível
estabelecer regras garantidoras do êxito, isto é, regras tais que, quando
exaustivamente aplicadas assegurem a aprendizagem. Eis uma tarefa nos
cursos de formação do professor de Filosofia, possibilitar a compreensão
por parte do aluno de que a sala de aula é um espaço complexo, no qual
o professor deve deliberar sobre sua ação e exercer sua capacidade
reflexiva.
Por que e quando alguém decide que será professor? E professor de
Filosofia? Tenho feito esta pergunta a mim mesma. E tomando também
a resposta de muitos colegas, penso que dificilmente alguém decide
prestar vestibular para Filosofia porque quer ser professor de Filosofia,
mas porque primeiramente quer tentar entender e elucidar suas questões
existenciais, metafísicas e culturais, enfim. Então, chega-se a um curso
de licenciatura em Filosofia e a questão do ser professor fica, não raras
vezes, completamente esquecida até o momento em que aparecem as
chamadas “disciplinas pedagógicas”, que passam então, a introduzir um
novo vocabulário, como escola, aula, professor, didática, metodologia,
currículo, avaliação, dizendo de outra forma, um outro mundo para o
aluno.
Na verdade, não deveria ser um outro mundo, mas o mundo de
quem quer adquirir uma licença e uma formação para ser professor.
Neste contexto, alguns alunos reagem e decidem que jamais entrarão em
uma escola e encaminham-se para estudos e pesquisas que os
conduzirão ao pós-graduação, que os devolvem mais tarde à docência no
ensino superior para continuar a forma os professores para a escola
básica. Outros, na dúvida entre o que efetivamente desejam e de como
poderão sobreviver assumem o ser professor, mas sem muita convicção
208
– fazer o que? Enquanto não se tem nada melhor, ser professor é o
possível – a isso denominamos em linguagem popular – Bico - . Outros,
talvez muito poucos, tomam a docência como sua profissão e a ela se
dedicam e acabam adentrando o campo educacional de forma
responsável e crítica.
Para Finalizar
Penso que os cursos de licenciatura em Filosofia poderiam ajudar
em muito a todos estes alunos, porque ao definirem-se como formadores
de professores desencorajariam desde o início do curso aqueles que
decidiram que a docência no Ensino Médio não é seu objetivo. Ajudaria
a encaminhar aqueles que se definiram pela profissão de professor,
porque durante quatro anos as questões de ensino, de sala de aula e de
escola estariam presentes, constituindo-os como professores de Filosofia
aptos a enfrentar os desafios impostos pela profissão. E quando falo
“presentes” refere-se as questões aparecerem no conjunto das disciplinas
na formação inicial, tanto quanto a presença do aluno durante o curso de
forma mais enfática na escola.
Se no Brasil, ser professor da escola básica fosse considerada uma
profissão importante a ponto de ser tão ou mais remunerada que a de
professor do ensino superior teríamos jovens entendendo que trabalhar
na escola básica não lhes tira a possibilidade de fazer um curso de
mestrado e doutorado, mas ao contrário, pode tornar-se seu desafio e seu
incentivo. É preciso re-afirmar que ser professor de Filosofia e ser
filósofo não se excluem, embora muitos assim o tenham entendido.
Estas são as inversões que precisamos desconstruir com políticas e ações
209
sérias, que extrapolam nosso âmbito de ação, mas que nos dizem
respeito e pelas quais também nos sentimos responsáveis.
Penso que o atual momento de mudanças pelo qual passam muitos
cursos de licenciatura no Brasil, em especial os cursos de Filosofia, é um
momento precioso para que se produza uma reflexão sobre o que se
espera do professor de Filosofia no Ensino Médio nas atuais condições
da escola básica brasileira. Para além de produzirmos uma reflexão
importante a partir da Filosofia sobre a educação, penso que temos que
assumir mais enfaticamente o ensino, a formação do professor para
ensinar Filosofia. – quem sabe uma Filosofia do Ensino.
Bibliografia
AZANHA, José Mário Pires. Educação: temas polêmicos. São Paulo,
Marins Fontes, 1995.
OBIOLS, Guillermo. Uma introdução ao ensino da Filosofia. Ijuí,
UNIJUÍ, 2002.
GAUTHIER, Clermonth. et. al. Por uma teoria da Pedagogia:
pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí, UNIJUÍ, 1998.
SILVA, Edson Antonio da. A formação da disciplina Filosofia no
Ensino Médio brasileiro (1980-2000): uma contribuição à história das
disciplinas escolares. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, 2001.
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP 1/2002.
Disponível na internet: http:/www.mec.gov.br
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO. A duração e a carga horária dos cursos
de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
210
Educação Básica em nível superior. Resolução CNE/CP 2/2002.
Disponível na internet: http:/www.mec.gov.br
211
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FILOSOFIA E “AS TRÊS
METAMORFOSES” DE NIETZSCHE∗
Sílvio Gallo∗
O texto dedica-se a pensar a formação do professor nos cursos
de Licenciatura em Filosofia. Discute-se aqui a figura do professor como
“transmissor de um saber” e, nesse aspecto, como reprodutor de
conteúdos e não um criador; em outras palavras, o professor de filosofia
como alguém distinto do filósofo. Nessa imagem, um professor que
sempre retorna ao mesmo, como um vetor de transmissão de saberes
filosóficos, mas não como um vetor de produção de atividade filosófica.
Através da noção de filosofia como “atividade de criação de conceitos”,
discute-se uma outra imagem do professor de filosofia: aquela na qual
ele próprio é filósofo (isto é, criador de conceitos) e faz da aula de
filosofia uma atividade criativa. O professor de filosofia como aquele
que produz as condições para que ele seja desnecessário; para um
cenário no qual os estudantes, na relação com os filósofos, criem seus
próprios conceitos.
Uma versão mais extensa deste texto foi submetida para apresentação no XII Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino, com o título Professor de filosofia: do eterno
retorno ao mesmo e do desembaraço da superação.
∗
Professor da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade Metodista de
Piracicaba e Universidade do Sagrado Coração. Endereço eletrônico: [email protected]
212
A problemática do ensino da filosofia na educação básica tem
sido debatida no Brasil como nunca o foi outrora. A meu ver, os avanços
são bastante significativos. Entretanto, ainda nos debruçamos muito
pouco sobre a questão da formação do professor de filosofia. Como
nossos cursos de licenciatura estão procedendo? Como as atividades de
“Prática de Ensino em Filosofia” estão sendo desenvolvidas? Como tem
sido pensado e praticado o “Estágio Supervisionado em Filosofia”?
Como as disciplinas de “Didática Específica em Filosofia” têm colocado
a questão do ensino e o papel do professor de filosofia nessa atividade?
Quando da definição das Diretrizes Curriculares para Cursos de
Graduação, a comissão do Ministério da Educação responsável por
definir os parâmetros da formação do profissional da filosofia fez
poucas alterações em relação ao que já estava posto como referência
para a área. Mas houve um certo avanço, na medida em que, se
debruçando sobre as áreas essenciais para a formação do bacharel, a
comissão indicou que, no caso dos cursos que oferecessem também a
licenciatura, essa formação deveria ser complementada com os
conteúdos necessários à formação do professor de filosofia. Porém, a
comissão de especialistas não se ocupou de definir que conteúdos seriam
estes, deixando a questão em aberto. 28
Sabemos todos que na definição desses mecanismos de política
educacional, o Ministério, através do Conselho Nacional de Educação,
acabou definindo Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura
que, por sua vez, optaram por colocar parâmetros gerais para todas as
28
As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Filosofia foram aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação e publicadas oficialmente em 2002. Conferir: CNE.
Resolução CNE/CES 12/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção
1, p. 33. O texto completo está disponível no sítio do MEC na Internet (www.mec.gov.br).
213
áreas, determinando as quatrocentas horas de Práticas Pedagógicas e as
quatrocentas horas de Estágio Supervisionado. Tal empreendimento, se
tem o caráter positivo de preocupar-se com uma formação sólida do
futuro professor, buscando articular, ao longo de todo o curso de
graduação, teoria e prática, por outro lado tem o caráter negativo de
considerar que os professores são formados mais ou menos da mesma
maneira, independente da área de saber em que atuarão. É uma posição
que me parece complicada, por definir que há uma especificidade no
“ser professor” que independe da área de atuação quando, ao contrário,
penso que cada área tem suas especificidades, que implicam num “ser
professor” diferenciado.
Coerente com o movimento que temos feito de pensar o ensino
da filosofia com as ferramentas da própria filosofia, este texto pretende
explorar filosoficamente a figura do professor de filosofia. Que
personagem será este? Sabemos que, mitologicamente, a figura de
Sócrates é evocada como a figura paradigmática do professor (em
qualquer área do saber e, em especial em filosofia). Seremos nós,
professores de filosofia, os Sócrates de nossos tempos? Ou estaremos
mais próximos dos sofistas, tão criticados pelo mesmo Sócrates? Como
a formação da licenciatura nos prepara para uma ou outra coisa, ou
mesmo para ambas ou para nenhuma?
Professor de Filosofia: Reprodutor do Mesmo
O modelo de formação do professor de filosofia que temos
implantado tem levado, em larga medida, a que ele seja um “reprodutor
do mesmo”. Com isso quero dizer que a tendência do professor de
filosofia recém-formado, ao ver-se numa sala de aula frente a um grupo
214
de estudantes, sozinho consigo mesmo na tarefa de agir como professor
e não apenas como aluno, é reproduzir as experiências que ele mesmo,
na condição de estudante, vivenciou em sala de aula.
Em geral, o professor de filosofia busca modelos para balizar
sua ação. Modelos positivos, que ele tende a imitar, dos bons
professores que teve e que lhe proporcionaram um aprendizado
significativo. Mas também modelos negativos, que ele tende a não
imitar, de professores que ele não julgou bons, cuja experiência não
contribuiu significativamente com o aprendizado. E nesse movimento de
rechaço do ruim e imitação do bom, o professor de filosofia constrói sua
prática, sua própria imagem de professor de filosofia, seu próprio
personagem.
De certa forma, portanto, tendemos a retornar ao mesmo: às
mesmas práticas que julgamos condizentes com um bom ensino da
filosofia, na mesma medida em que recusamos as práticas que julgamos
ruins.
Não é de se desprezar o impacto negativo da situação já
colocada de dicotomia entre a formação do bacharel e do professor.
Conhecemos quais são as práticas dominantes no ensino da filosofia em
nossos cursos de graduação: a análise e o comentário de textos, sem
maior empenho na filosofia como atividade criativa, por exemplo, como
produção conceitual. Não cabe ao estudante de graduação criar seus
conceitos mas, quando muito, ter contato com os conceitos produzidos
pelos filósofos e materializados em seus textos. Uma atividade
meramente reprodutora, portanto. E, claro, a tendência desse estudante
futuramente, quando professor, será a de reproduzir essa prática
215
reprodutora no ensino da filosofia na educação básica. Reprodução da
reprodução; aonde isso pode nos levar?
Um agravante: se há argumentos a sustentar a prática da leitura
e comentário de textos filosóficos como fundamentais na formação do
estudioso da filosofia, isso pode ser desastroso, quando reproduzido na
educação básica, quando não se trata de formar estudiosos profissionais
de filosofia mas, quando muito, pessoas que possam ter na filosofia mais
um instrumento da produção/gestão de suas vidas.
O retorno ao mesmo que percebemos nas práticas docentes em
filosofia desdobra-se também na questão dos conteúdos disciplinares.
Quais os conteúdos de filosofia a serem trabalhados num currículo de
ensino médio? A única diretriz legal que temos, o inciso III do parágrafo
1º do Artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
determina que os conteúdos de filosofia a serem trabalhados no ensino
médio são aqueles necessários ao exercício da cidadania. Mas que
conteúdos são estes? E poderíamos ainda emendar: o que é mesmo
cidadania?
Os conteúdos de filosofia (que não são poucos, se levarmos em
conta os dois milênios e meio de produção, e, sobretudo, porque os
saberes filosóficos não eliminam os anteriores, mas dobram-se e
desdobram-se sobre eles) a serem trabalhados no ensino médio,
portanto, poderiam ser, virtualmente, quaisquer.
Na medida em que não temos um currículo definido para o
ensino da filosofia, seria de se esperar, pois, que os conteúdos
trabalhados fossem os mais diversos possíveis; porém, nas mais distintas
pesquisas, realizadas nos diferentes estados, o que vemos é uma curiosa
repetição. Os temas, assuntos, problemas, filósofos trabalhados nas aulas
do ensino médio são espantosamente parecidos.
216
E isso tende a agravar-se. Já temos experiências de algumas
importantes universidades que implantaram provas de filosofia em seus
exames vestibulares; várias outras já anunciaram para os próximos anos
a inclusão de provas de filosofia em seus concursos de ingresso de
estudantes. Nos casos já em execução, o que temos assistido? Uma
inversão tão curiosa quanto – ao meu ver – desastrosa: como não há um
“currículo oficial” de filosofia no qual as universidades possam basear
suas provas, é a universidade que define um programa para a prova que,
em curto espaço de tempo, acaba se constituindo como o “currículo
oficial” de filosofia, ao menos na região de abrangência daquela
instituição.
A tendência, portanto, é que aos poucos se vá cristalizando um
“currículo” de filosofia para o ensino médio, na medida em que as
universidades vão incluindo provas de filosofia em seus concursos
vestibulares e na medida em que o programa destas provas vão sendo
assimilados pelas escolas como aquilo que deve ser ensinado em
filosofia. E o que temos visto é que as universidades, ao definirem os
programas de filosofia para suas provas nos vestibulares, tendem a
apresentar um panorama geral da história da filosofia, privilegiando
temas voltados para a filosofia política e a ética (num louvável esforço
para definir aqueles “conteúdos necessários ao exercício da cidadania”),
adotando alguns autores referenciais que, em geral, são os clássicos
antigos e modernos e, dentre os contemporâneos, aqueles filósofos que
são objeto de estudo dos professores daquela instituição. Podemos dizer,
pois, que estes conteúdos acabam se constituindo como que num
“compêndio de história da filosofia”.
Impossível não nos lembrarmos, aqui, da crítica que Nietzsche
empreendeu ao ensino da filosofia na Alemanha de seu tempo, tanto na
217
educação média quanto nas universidades: na medida em que o Estado
já não necessitava da filosofia para legitimar-se, tratava-se, a seu ver, de
manter as disciplinas filosóficas negligentemente, apenas como
aparência, sem maior compromisso. E mais: essa negligência em relação
ao ensino da filosofia não significaria, segundo o filósofo alemão, mais
do que uma forma velada, mas efetiva, de promover o desprezo pela
filosofia. E como isso se dava? Pela reprodução! Segundo Nietzsche, um
ensino de filosofia que não tratava da vida, mas de um pensamento
deslocado da vida; um ensino de filosofia voltado a fazer com que os
alunos decorassem sistemas de filosofia para responder a uma prova
(qualquer semelhança como nossos vestibulares pode não ser mera
coincidência!), esquecendo-se de tudo em seguida... Destaco apenas um
pequeno trecho de uma interessante passagem de Schopenhauer
Educador:
“/.../ Devem eles [nossos jovens] por ventura
aprender a odiar e desprezar a filosofia? E se ficaria
quase tentado a pensar nessa alternativa, quando se
sabe como, por ocasião de seus exames de filosofia,
os estudantes têm de se martirizar, para imprimir
nos seus pobres cérebros as idéias mais loucas e
mais impertinentes do espírito humano junto com as
mais grandiosas e as mais difíceis de captar /.../ E
agora, que se imagine uma mente juvenil, sem muita
experiência de vida, em que são encerrados
confusamente cinqüenta sistemas reduzidos a
fórmulas e cinqüenta críticas destes sistemas – que
desordem, que barbárie, que escárnio quando se
trata da educação para a filosofia!” (Nietzsche,
2003, p. 212-213).
Penso que as críticas de Nietzsche ao seu tempo falam por si só.
A nós, cabe-nos pensar nosso próprio tempo e, quem sabe, encontrar
218
hoje e aqui os ecos da crítica nietzschiana. A meu ver, penso que ela nos
diga algo, que ela nos alerta para uma armadilha que, talvez, estejamos
prestes a cair. Afirmar certo ensino de filosofia pode ser o manto com o
qual se recobre um verdadeiro desprezo pela filosofia.
Assim, em nosso caso, mesmo uma profícua abertura para a
diversidade, possibilitada pela ausência de um “currículo oficial” para a
filosofia no ensino médio, e por uma definição excessivamente geral da
LDBEN, que acabou não se manifestando, tende a reduzir-se cada vez
mais, em torno de uma repetição de assuntos e de autores. Precisamente
aquilo que venho denominando, aqui, de um retorno ao mesmo, que
facilita e promove a repetição, tirando a potencialidade criativa da
filosofia e de seu ensino.
Professor de Filosofia: um mestre ignorante?
Em que pese a imagem do professor de filosofia como
reprodutor, como promotor de um eterno retorno ao mesmo, que repete e
se repete, levando-nos a um contexto social de desprezo pela filosofia,
teríamos possibilidades de quebrar esse ciclo de repetição?
Stéphane Douaillier fez, numa conferência proferida em
novembro de 2000, como abertura a um congresso de professores de
filosofia, um interessante exercício de pensar o processo filosófico – e
também seu ensino –como sendo sempre um começo. Nessa perspectiva,
quebra-se o eterno retorno ao mesmo, na medida em que a atividade
filosófica constitui-se, sempre e necessariamente, num começar, num
recomeçar. Não importa se revisitamos um filósofo, essa visita é mais
um começo, na medida em que é nossa visita, na medida em que seu
pensamento se renova como nosso pensamento.
219
Vejamos como Douaillier coloca a questão:
“1. O ensino da filosofia, mais que um
prolongamento sapiencial específico, é um poder de
começo. É o que se pode, entre outras coisas,
decifrar do prólogo do Fédon: diante da questão de
um continuar depois de Sócrates, a reafirmação,
para efetuar a continuação, de um começo de Platão.
A descontinuidade física da filosofia (mortes de
homens, perdas de manuscritos, destruição de
escolas, esquecimento dos contextos etc.) não se
supera somente pela renovação das disciplinas, o
arquivamento dos escritos, a defesa das instituições,
o aperfeiçoamento dos paradigmas explicativos,
mas ainda por uma série descontínua de recomeços
que o ato de ensinar produz em particular no dia-adia” (Douaillier, 2003, p. 28).
Para que tal começo seja possível, o professor de filosofia não
pode ser o “sabe-tudo”, o comentador de sistemas, o preservador de
conceitos. Ao contrário, deve ser, ele próprio, um “mestre ignorante”.
Continua o autor já citado:
“7. O mestre de filosofia deve ser duplamente
ignorante. Deve, em primeiro lugar, ignorar como a
esfera privada, na qual sua ação faz irrupção e
efração, pode se desdobrar e tornar-se diferente de si
mesma, isto é, começar por sua própria conta a
operação de um segundo nascimento.
“8. O mestre de filosofia, para efetuar essa
operação, deve, por isso, ignorar, ele mesmo,
algumas coisas, isto é, dar o exemplo – o seu e o de
todos os filósofos que estiveram às voltas com uma
grande ignorância – de uma ausência de saber que
possui a força de pôr fora do mundo no qual se está
220
para se pôr a começar alguma coisa.” (Douaillier,
2003, p. 29-30).
Assim, no reino da sabedoria, ficamos condenados a reproduzir,
a repetir os conceitos já pensados, como “papagaios de pirata”, sem
conseguirmos fazer o movimento da criação, o movimento do
pensamento. E se não fazemos o movimento do pensamento, tampouco
fazemos o movimento do ensino. Quando muito, expomos sistemas que,
como afirmou Nietzsche, serão a duras penas decorados pelos estudantes
para serem esquecidos em seguida, logo após o exame. É preciso que
descubramos em nós mesmos a ignorância, pois ela é a condição desse
começo para nós – na condição de professores de filosofia – e, em
conseqüência, é também a condição de que possa haver um começo para
os estudantes.
Apenas na ignorância, mergulhando nela para poder superá-la,
temos condições de romper com o círculo vicioso do eterno retorno ao
mesmo, no ensino de filosofia.
A noção de “mestre ignorante” Douaillier buscou num belo
livro de Jacques Rancière, que tem esse mesmo título: O Mestre
Ignorante – cinco lições sobre a emancipação intelectual, no qual
apresenta a tese de que a emancipação daquele que aprende só é possível
a partir da ignorância daquele que ensina.
Filósofo da política e esteta, Rancière está preocupado com
uma “pedagogização da sociedade”, com um modelo de educação
baseado na explicação, no qual aquele que ensina explica algo que sabe,
domina, para alguém que não sabe, mas virá a saber. É justamente aí que
reside o problema: o modelo explicativo gera a dependência absoluta do
estudante em relação ao professor, do discípulo em relação ao mestre, na
medida em que é necessário que sempre haja alguém que explique para
221
que um outro aprenda. O mestre é visto como um mediador necessário,
sem o qual o estudante jamais aprenderá. E Rancière evidencia os
efeitos sociais de um tal modelo:
“Com efeito, sabemos que a explicação não é
apenas o instrumento embrutecedor dos pedagogos,
mas o próprio laço da ordem social. Quem diz
ordem, diz hierarquização. A hierarquização supõe
explicação, ficção distributiva, justificadora, de uma
desigualdade que não tem outra explicação, senão
sua própria existência. O quotidiano do trabalho
explicador não é mais do que a menor expressão de
uma explicação dominante, que caracteriza uma
sociedade. Modificando a forma e os limites dos
impérios, guerras e revoluções mudam a natureza
das explicações dominantes” (Rancière, 2002, p.
162-163).
E, mais adiante, continua:
“Somente o acaso é forte o suficiente para derrubar
a crença instituída, encarnada, na desigualdade /.../
A tarefa à qual as capacidades e os corações
republicanos se consagram é construir uma
sociedade igual com homens desiguais, reduzir
indefinidamente a desigualdade. Porém, quem
tomou esse partido só tem um meio de levá-lo a
termo: a pedagogização integral da sociedade, isto é,
a infantilização generalizada dos indivíduos que a
compõem. Mais tarde, chamar-se-á a isso formação
contínua – co-extensividade entre a instituição
explicadora e a sociedade. A sociedade dos
inferiores superiores será igual, ela reduzirá suas
desigualdades, quando se houver transformado
inteiramente em uma sociedade de explicadores
explicados” (Rancière, 2002, p. 182-183).
222
A alternativa a tal pedagogização que, queiramos ou não,
assistimos de forma cada vez mais intensa, só pode ser a da
emancipação. E a emancipação ocorre quando o estudante consegue,
dominando suas próprias ferramentas, aprender para além do mestre,
apesar do mestre.
Nos termos que temos usado neste artigo, o modelo da
explicação corresponde ao retorno ao mesmo: a repetição ad infinitum
das mesmas formas, dos mesmos conceitos, que são explicados,
aprendidos, sem que nada de novo se produza, sem que, de fato, mestre
e aluno possam tornar-se iguais, pois um permanecerá sendo o que
explica e outro o que assimila a explicação. Quando o estudante de
filosofia torna-se professor de filosofia, o que ele faz é mudar de lugar:
passa para o lado dos explicadores, para continuar a saga de explicar,
repetir, explicar, repetir...
Mas se o professor de filosofia entra na pele no “mestre
ignorante”, como sugeriu Douaillier, então já não se trata de explicar,
repetir. Trata-se de fazer o movimento, de promover um novo começo,
de instaurar a filosofia como processo, como construção. Nesse
contexto, o professor de filosofia é um emancipador, alguém que, como
Prometeu, leva o fogo aos homens tornando-os criativos, em lugar de
mantê-los refém dos deuses. Mas, para isso, é preciso que o professor de
filosofia possa fazer o exercício do “esquecimento de si mesmo”.
O professor de filosofia, então, é aquele que faz a mediação de
uma primeira relação com a filosofia, que instaura um novo começo,
para então sair de cena e deixar que o(s) aluno(s) siga(m) suas próprias
trilhas. Sem Sócrates, Platão não teria se iniciado em filosofia; mas sem
o desaparecimento (a morte) de Sócrates, Platão não teria feito o
movimento de um novo começo, produzindo, ele mesmo, filosofia. O
223
professor de filosofia é aquele personagem que, a um só tempo, sabe e
ignora; com isso, não explica, mas media a relação dos alunos com os
conceitos, saindo de cena em seguida para que a relação com os
conceitos seja feita por cada um e por todos.
Professor de Filosofia: As Metamorfoses de Nietzsche
A pergunta que permanece, pois, é: como fazer esse movimento
de um (re)começo? Como formar o futuro professor de filosofia, senão
pela explicação? E, nesse caso, como lhe possibilitar as armas para
libertar-se do jugo/jogo da explicação/repetição? Em outras palavras,
como fazer-nos a nós, professores de filosofia, mestres ignorantes? E
como fazer dos futuros professores de filosofia também mestres
ignorantes, dispostos a promover novos começos?
Uma vez mais recorro a Nietzsche. É bastante conhecida a
parábola das três metamorfoses do espírito, que ele apresenta logo no
início de Assim Falava Zaratustra: o espírito transforma-se em camelo,
aquele disposto a carregar todo o peso do dever; mas o camelo
transforma-se em leão, que tem a coragem de dizer não ao dever e
instaurar sua própria liberdade; por fim, o leão precisa transformar-se
em criança, o único ser que, do interior de sua inocência e esquecimento
(poderíamos dizer ignorância?) é capaz de dizer sim.
Precisamos, assim, investir no devir-criança do professor de
filosofia. Em seu processo de formação, em princípio o professor de
filosofia é visto como o camelo: aquele capaz de tudo carregar, de
aceitar o peso do dever, de aceitar o “peso da sabedoria”. O professorcamelo é aquele que tudo sabe, que tudo explica, que a ninguém
emancipa, nem a si mesmo. Mas ele pode ir para o deserto, enfrentar seu
224
próprio deserto, e fazer-se leão. O professor-leão é aquele que tem a
coragem para dizer não, para negar o instituído e as instituições, para
afirmar sua própria liberdade. Mas aonde isso leva? A potência do leão
só faz sentido se a negação levá-lo ao devir-criança. O professor-criança
é o mestre ignorante, aquele que pode instaurar um sempre novo
começo, fazendo da filosofia uma experiência viva, criativa.
Escreveu Nietzsche:
“A criança é inocência e esquecimento, um começar
de novo, um jogo, uma roda que gira por si própria,
um primeiro movimento, um sagrado dizer que sim.
“Sim, meus irmãos, para o jogo da criação é preciso
um sagrado dizer que sim; agora o espírito quer o
seu próprio querer, aquele que se perdera para o
mundo conquista o seu próprio mundo” (1998, p.
30).
Penso ser esse um dos principais desafios que se colocam hoje
para as atividades de Prática de Ensino de Filosofia, para a produção em
torno de didáticas da filosofia. Precisamos escapar das malhas do
método da explicação, que nos leva a sermos reprodutores, na mesma
medida em que nos leva a formar professores de filosofia também
reprodutores do mesmo,
mantendo esse círculo vicioso que nada
transforma, que apenas ensina, quem sabe, aquilo que o mesmo
Nietzsche chamou de “desprezo pela filosofia”.
De camelos que somos, de explicadores que somos, precisamos
da coragem do leão para negar isso tudo, para dizer: Não! Basta! Chega
de explicação! Mas, mais ainda do que isso, precisamos na inocência e
do esquecimento da criança. Precisamos tornarmo-nos crianças, se
queremos ser vetores de um novo começo.
225
Mestres ignorantes, a nos emanciparmos e emancipando nossos
alunos, estaremos formando novos mestres ignorantes, que por sua vez
sejam também vetores de novos começos. Mestres ignorantes,
precisamos ter a coragem de abrir-nos à superação e ao esquecimento,
para além de todo e qualquer jogo narcísico. Só a esse preço podemos
jogar o jogo da emancipação, o único jogo que torna a filosofia possível.
O único jogo que pode, de novo, fazer a filosofia possível entre nós.
Bibliografia
CERLETTI, Alejandro; KOHAN, Walter. A Filosofia no Ensino
Médio. Brasília: Ed. UnB, 1999.
DOUAILLIER, Stéphane. A Filosofia que começa: desafios para o
ensino da filosofia no próximo milênio, em GALLO, Sílvio;
CORNELLI, Gabriele; DANELON, Márcio (orgs.). Filosofia do
Ensino de Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 17-30.
GALLO, Sílvio; CORNELLI, Gabriele; DANELON, Márcio (orgs.).
Filosofia do Ensino de Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2003.
MEC-CNE. Parecer CNE/CES 492/2001- Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço
Social,
Comunicação
Social,
Ciências
Sociais,
Letras,
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia (disponível em
www.mec.gov.br).
NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falava Zaratustra. Lisboa: Ed.
Relógio D’Água, 1998.
_____ . Escritos sobre Educação. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. PUCRio/Ed. Loyola, 2003.
RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante. Belo Horizonte: Ed.
Autêntica, 2002.
226
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE
FILOSOFIA
José Pedro Boufleuer∗
O tema proposto para esta mesa redonda remete a quatro
questões para as quais certamente não temos respostas simples, muito
menos consensuais: — O que podemos entender por filosofia ou pelo
exercício de filosofar? — Como visualizamos o campo da ação
pedagógica em que o ensino da filosofia se inseriria? — Como é
possível cumprir objetivos educacionais ensinando filosofia? — Como
podemos formar os professores a quem atribuímos a tarefa de ensinar
filosofia? De minha parte me proponho a ensaiar respostas a estas
questões a partir do que a experiência pessoal e a auto-reflexão me
fizeram compreender acerca do ensinar e do aprender filosofia,
inspirado, evidentemente, em referenciais e autores com os quais tenho
trabalhado ao longo de minha trajetória acadêmica.
Professor do Departamento de Pedagogia da UNIJUÍ – Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço eletrônico:
[email protected]
227
O exercício do filosofar: uma possível percepção
Uma das primeiras lições de filosofia que tive, senão a
primeira, foi aquela em que o professor explicou que o exercício do
filosofar teria iniciado exatamente no momento em que o homem
começou a se questionar sobre si, sobre sua origem e sobre o seu
destino. Em se perguntando “quem sou eu?”, “de onde vim?”, “para
onde vou?”, o homem teria se revelado um ser em busca do saber, na
verdade, um “amigo do saber”, que, por sua vez, corresponderia ao
sentido etimológico da palavra “filosofia” (filos = amigo + sofia =
saber).
Penso que esse não foi um mau começo. Parto, inclusive, dessa
noção inicial para encetar a reflexão que aqui pretendo fazer acerca do
exercício do filosofar. Assim, me parece razoável afirmar que o ato de
filosofar nasce de um impulso que leva o ser humano a buscar um saber
mais profundo. E isso nos lembra Platão, que afirmava que a origem do
filosofar está no espanto, na capacidade de admirar-se. Mas que
experiência seria esta? Na interpretação de Manuel Garcia Morente isso
significa “colocar-se ante o universo e o próprio ser humano com um
sentimento de estupefação, de admiração, de curiosidade insaciável,
como uma criança que não entende nada e para quem tudo é problema”
(1976, p. 36). Encontrar problemas e mistérios em todas as coisas e, com
isso, encher-se de perguntas pode, portanto, ser percebido como uma
disposição filosófica ou como o início do próprio filosofar.
Certamente a vida humana apresenta motivos em suficiência
para nos espantarmos e nos intrigarmos. A título de ilustração, podemos
dizer que no mundo em que vivemos estamos como que jogados entre
dois infinitos: por um lado temos a incomensurabilidade do espaço
228
sideral com seus astros; e, por outro, o universo incontável de moléculas
e átomos que compõem o menor dos objetos que está à nossa mão. Se
considerarmos o tempo da existência do cosmos, veremos a
insignificância da duração de uma vida humana. Pensando bem, estamos
como que perdidos no espaço e no tempo. Somos nada diante do infinito
e do eterno. Tudo isso nos convida para uma profunda reflexão.
Embora desconhecendo nosso princípio e nosso fim, temos a
capacidade de pensarmos sobre nós mesmos e sobre o momento da
nossa existência. Refletir sobre a vida, sobre o mundo e sobre o sentido
da história que vamos fazendo na companhia de outros homens é fazer
jus a uma natureza humana que permite a autoconsciência. Filosofar
então, podemos dizer, é não abrir mão desse exercício refletivo. Apesar
dos limites da apreensão da consciência humana, sempre é possível nos
situarmos diante da experiência do passado, historicamente conhecido, e
na perspectiva de um futuro para o qual nos encaminhamos. Em assim o
fazendo, estamos em pleno exercício do filosofar. E por mais óbvio que
seja, sempre é bom lembrar que a tarefa de filosofar não pode ser vista
como reservada a grandes sábios e pensadores. Ela compete a toda
pessoa que queira fazer jus à sua capacidade de refletir acerca da
existência, acerca do que faz e para quê faz.
Sabe-se que os gregos passaram para a história como
“inventores” da filosofia. Isso ocorreu porque eles se deixaram desafiar
por perguntas para as quais não dispunham de respostas à mão. O
esforço em compreender os princípios dirigentes da ordem universal
significava, na verdade, a busca de um melhor situar-se e aperceber-se
no mundo. O avanço para explicações racionais em detrimento das
explicações míticas iria contribuir para uma visão menos atemorizante e
mais responsável do homem em relação a seu entorno. A pressuposição
229
já não mais de uma ordem imperscrutável no que se refere ao
dinamismo da sociedade, e sim de uma ordem historicamente construída
e racionalmente compreensível, permitiram a criação da democracia
helênica enquanto forma co-responsável de organização e de condução
dos destinos da vida coletiva. Assim, a busca do conhecimento, mesmo
que sempre limitado e passível de redefinições e ajustes, passa a
significar algo próprio do filosofar.
Aquele a quem tudo parece tranqüilo, sem mistérios e sem
perguntas, não se apresentam razões para buscar o conhecimento, ou um
maior conhecimento. Já aquele que se deixa levar pelo impulso do
filosofar, este nunca encontrará um ponto final nas suas buscas. Diante
de respostas obtidas, muitas outras perguntas vão aparecendo e exigindo
novas respostas. Podemos entender a atitude filosófica, portanto, como a
disposição de sempre estar aberto ao novo, de nunca se acomodar, de
nunca se satisfazer plenamente com uma resposta dada. Trata-se de uma
atitude que percebe a realidade em sua complexidade, como impossível
de ser explicitada de forma cabal por esta ou aquela teoria, por este ou
aquele ponto de vista. Aliás, entender que “cada ponto de vista não
passa da vista de um ponto...” parece ser uma máxima que caracteriza o
filósofo.
Diferentemente do que à primeira vista possa parecer, a
filosofia não trata de questões distantes, alheias à nossa vida. Ao
contrário, ela tematiza o que de mais próximo tem a nós: a vida, as
relações com os outros e com a realidade, os pressupostos do pensar e
do agir, enfim, o que nos constitui como seres humanos. Por isso ela é
entendida fundamentalmente como um exercício de reflexão. Mas mais
do que de um “voltar-se sobre si mesmo”, de um reflexionar-se
solitariamente, é um refletir-se em algo, ao modo de um “ver-se no
230
espelho”. Figurativamente aqui tomado, o espelho representa a
perspectiva dos outros, consubstanciada nos elementos da tradição social
e cultural. Por isso o “espelhar-se”, enquanto exercício reflexivo, não
pode ser entendido como algo que o sujeito pudesse realizar
autonomamente, já que se trata de uma percepção necessariamente
mediada por uma vasta teia de interações simbólicas.
O campo das ações pedagógicas: um esforço de configuração
O ensino da filosofia certamente deve ser entendido como uma
possível ação educativa realizada com o recurso do filosofar. Isso faz
com que ele deva ser visto no bojo das muitas ou desejadas ações
pedagógicas que a sociedade humana implementa junto às novas
gerações. E antes de pensar nas potencialidades desse recurso
pedagógico que seria o filosofar, façamos algumas considerações acerca
do próprio educar, de suas possíveis finalidades e condições de
realização.
A educação, poderíamos começar dizendo, constitui uma
prática social que pode ser diferenciada de outras tantas práticas
existentes. Identificar essa prática social e aperceber-se das atribuições
que a ela são conferidas no âmbito da sociedade humana certamente nos
dará elementos para a visualização do sentido pedagógico do próprio
filosofar.
Para esse exercício de identificação do “campo da educação”
sempre temos considerado sugestivo o conceito filosófico-antropológico
da “pedagógica” de Enrique Dussel. Para esse autor latino-americano há
três níveis de proximidade entre os homens e que têm sua origem na
estrutura básica da família: a relação entre um homem (varão) e uma
231
mulher, que constitui a relação erótica; a relação entre pai e filho e, por
extensão, a de mestre-discípulo, que configura a pedagógica; e, por
último, a relação irmão-irmão, a partir da qual se constitui a relação que
chamamos de política. Dussel se vale desses níveis de proximidade
humana para caracterizar os processos de alienação e de libertação
latino-americana (Dussel, 1977). Já para os objetivos deste debate
interessa a possibilidade de visualizar a partir desse esboço teórico o
caráter específico da educação enquanto dimensão fundamental da vida
humana em sociedade.
Para Dussel a pedagógica é, essencialmente, toda bipolaridade
em que há anterioridade de um dos pólos sobre o outro, e onde há legado
tradicional ou cultural a ser transmitido. Ela compreende o conjunto das
interações sociais e culturais que permitem a continuidade histórica de
uma geração para a outra. Trata-se, portanto, de um campo de atuação
que transcende o espaço de atuação profissional da escola e da sala de
aula para abarcar também as muitas outras instituições e espaços de
atuação em que se realizam atividades educativas ou que demandam um
sentido pedagógico em seu fazer (Boufleuer, 1991, p.77).
A pedagogia adquire, nesta perspectiva teórico-conceitual, uma
identidade similar ao campo de estudos da política. Mas enquanto a
pedagogia se coloca sob a dimensão bipolar da anterioridadeposterioridade, do mestre e do discípulo, a política se coloca na
dimensão da relação de igualdade, dos irmãos, dos colegas, dos
cidadãos. Sob o ponto de vista da ética, a pedagogia cumpre a sua tarefa
quando, na responsabilidade para com as novas gerações, mostra o
caminho já percorrido pelas gerações adultas, para que possa servir de
referência a quem tem tudo por andar. Em transmitindo o legado
232
histórico e cultural às novas gerações, a pedagogia prepara para a
política, para a inserção no debate acerca dos destinos da sociedade.
As ações educativas que são desenvolvidas pela sociedade
objetivam, portanto, a inserção dos sujeitos, especialmente os das novas
gerações, no mundo cultural vigente. Este mundo é sempre a expressão
do estágio de desenvolvimento das ciências, das formas de organização
e de convivência social e dos modos de conduta e expressão individual.
Em outros termos, a educação sempre busca ser a expressão do estágio
de desenvolvimento da razão do homem no que concerne às relações
que ele estabelece com a natureza, com os outros e consigo mesmo.
Assim, pode-se dizer, que a educação é sempre a expressão (racional) do
entendimento que determinada sociedade tem em relação ao que
constitui propriamente o “humano”.
Assim considerada, a pedagogia passa a ser percebida como
uma dimensão fundamental da vida. Inclusive nossa condição de
“humanos” devemos à pedagógica relação que estabelecemos com a
geração mais velha e com nossos coetâneos. Desde a mais tenra idade,
outras pessoas, nossos pais e educadores, irmãos e companheiros, vêm
interagindo conosco com vistas ao estabelecimento de entendimentos
sobre aspectos do mundo. É esse o processo de educação e de
socialização que propriamente nos constitui. (Boufleuer, 1997, p. 21).
A pedagogia se realiza no âmbito da educação das novas
gerações, seja na família, seja na escola, seja nos espaços sociais
ampliados, incluindo aí instituições diversas e, particularmente, os meios
de comunicação. Nesse sentido, todos nós somos frutos de ações
pedagógicas, de ações de pedagogos e pedagogas. Mas também, de uma
forma ou de outra, atuamos pedagogicamente junto a outros, os nossos
233
filhos, os nossos alunos, os nossos irmãos mais novos e, inclusive, junto
àqueles com quem interagimos no exercício de nossas profissões.
A pedagogia constitui, portanto, essa atividade interativa
mediante a qual “homens produzem outros homens em homens”, para
nos valermos da linguagem do filósofo Kant. E a questão crucial da
pedagogia é que para essa “produção de homens” não existe uma
orientação previamente definida, um modelo a ser seguido. Cada
geração educa a subseqüente a partir do seu entendimento do “humano”.
É essa a situação dialética fundamental que constitui a pedagogia. É essa
também a sua condicionalidade histórica, já que a cada época e, num
certo sentido, a cada geração se implementa uma pedagogia com base no
que em seu contexto se elabora como ideal de formação humana.
A pedagogia, à luz desse entendimento, tem como sua tarefa
precípua a tematização do sentido do humano, reconstruído em cada
contexto histórico, e das condições que permitem a sua produção através
de processos educativos intencionalmente estabelecidos. Enfim,
podemos entender por pedagogia o campo de estudos que se ocupa dos
fundamentos e das condições de possibilidade do encontro de
educadores e educandos, em dialético confronto de anterioridade e
posterioridade pedagógica. Encontro esse que ocorre em função de um
saber a ser comunicado, de uma percepção de mundo a ser transmitida e
que, de uma forma ou de outra, se refere ao estabelecido nos âmbitos da
cultura científica, dos regramentos da vida social e das condições de
produção das personalidades.
234
A possível contribuição da filosofia para a educação
Após a caracterização dessa prática social que chamamos de
educação, configurada na dimensão pedagógica da vida humana,
voltemos novamente à questão do ensino da filosofia. De imediato, e por
óbvio, se coloca a expectativa de que a filosofia ou o exercício do
filosofar possa oferecer uma contribuição ao processo de humanização
dos educandos. Mas em que termos essa contribuição poderia ser vista a
ponto de justificar a sua inserção no currículo de formação escolar?
Como poderíamos visualizar a possibilidade de “educar filosofando” a
partir do que acima identificamos como o modus operandi da filosofia?
Gostaríamos de ensaiar uma resposta a essa questão não a partir
de considerações acerca da validade intrínseca dos conteúdos ou
reflexões que poderiam ser propostos para o ensino da filosofia, mas a
partir do que poderíamos sinalizar como efeito desejável a ser produzido
junto aos educandos. Recordemos, para isso, o que foi dito acima acerca
do filosofar: a busca de um saber em maior profundidade acerca do que
há de mais próximo a nós, isto é, a vida, as relações com os outros e com
a realidade, os pressupostos do pensar e agir, enfim, um esforço de
aperceber-se mediante a explicitação e compreensão de elementos que
compõem o nosso mundo simbolicamente constituído. O efeito de uma
tematização do mundo vivido assim conduzida só pode ser um: o
espanto, a admiração. Na verdade, espera-se do filosofar um efeito de
percepção da realidade capaz de levar à exclamação: — Ah, então é
isso! Como nunca havia pensado nisso antes!
Pela tematização e explicitação do mundo vivido a filosofia se
orienta para a identificação daquilo que nos governa de modo
inconsciente, num sentido que poderíamos chamar de “desalienação”.
235
Trata-se, na verdade, de um exercício que parte do pressuposto de que a
vida, os pensamentos, as convicções, as atitudes, os valores, enfim, o
que consideramos ser o real e o seu significado é resultante de uma
história que se condensa no tempo atual. Para esse exercício, que
chamamos de hermenêutica, o presente é o ponto de partida para uma
determinada tematização. O filosofar, nessa perspectiva, consiste no
esforço em trazer elementos da cultura, como conceitos, interpretações,
referências etc., que possam contribuir para o “dar-se conta” do que é a
nossa vida e o seu entorno. Assim, a obtenção de um efeito de
admiração ou de estupefação é o que confirma a pertinência existencial
do exercício reflexivo realizado, ou seja, o sucesso do filosofar.
A filosofia enquanto exercício hermenêutico busca desvendar a
historicidade da vida humana, esforçando-se em compreender os saberes
e as práticas existentes a partir das intencionalidades que os produziram.
Em outros termos, trata-se do esforço em compreender como os modos
de pensar, de ser e de agir se sedimentaram ao longo dos tempos,
percebendo como os sentidos se colocam, se mantêm ou se modificam.
Nesse
sentido
a
hermenêutica
se
coloca
na
perspectiva
da
concriatividade histórica, em que o passado e o presente se encontram
em constante mediação. Por isso as respostas dadas em outros contextos
históricos precisam ser reavaliadas a partir das circunstâncias do
presente. Assim sendo, a hermenêutica constitui, por um lado, um
trabalho permanente de re-interpretação do passado à luz do presente e,
de outro, uma contínua re-interpretação do presente à luz do legado do
passado.
A hermenêutica, enquanto modo do exercício da filosofia no
âmbito da educação, deve oportunizar a leitura do mundo da sala de
aula, a fim de que sejam desvelados os muitos sentidos que aí se fazem
236
presentes e interagem. Requer-se, para essa leitura, um ambiente de
liberdade em que professores e alunos se relacionam e se
intercomunicam, tomando como ponto de partida a experiência que cada
um tem com a realidade.
Ensinar filosofia, ou educar mediante o exercício do filosofar, é
oportunizar aos educandos uma melhor percepção de si pela tematização
e explicitação de componentes da tradição filosófica, via de regra
teórico-conceituais, que de modo decisivo contribuem na articulação da
teia de interações simbólicas em que se funda a vida humana em
sociedade.
Como formar o professor de filosofia?
Para responder a essa questão é preciso começar a pensar sobre
as competências que se esperam de um professor de filosofia. Na sua
condição de anterioridade pedagógica ele necessita ter um preparo que o
habilite a tematizar o sentido do humano historicamente produzido,
especialmente sob o ponto de vista das elaborações mais diretamente
vinculadas ao campo de estudos da filosofia. Isso exigirá, por óbvio,
uma boa inserção na história do pensamento humano e um conseqüente
domínio dos conceitos fundamentais que a atravessam.
A possibilidade de assumir o ensino de filosofia como um
exercício hermenêutico requer uma capacidade de identificação em meio
aos sentidos postos no âmbito de uma sala de aula, por exemplo, as
concepções que os atravessam. Concepções estas que se articulam, via
de regra, a conceitos e referenciais implicitamente assumidos e que, por
isso, necessitam de tematização. Oferecer elementos que ajudem na
explicitação de conceitos e propor reflexões a partir do significado das
237
palavras que utilizamos certamente é um bom começo para o exercício
do filosofar. Se assumirmos e pressuposto de que a realidade é
simbolicamente construída, o esforço assim orientado contribuirá, sem
dúvida, para uma melhor apreensão do mundo e da vida. Isto porque,
afinal, conceitos são palavras que utilizamos para designar coisas, fatos,
situações, percepções.
O diálogo hermenêutico, aqui proposto como uma espécie de
método pedagógico para o exercício do filosofar, pressupõe uma
intencional orientação para o que acima chamamos de espanto, isto é,
uma orientação no sentido da explicitação dos pressupostos do pensar e
do agir. Não se trata, portanto, de uma simples troca de opiniões, nem de
uma conversa que se coloca em sentido simétrico entre educador e
educando. Há aqui uma anterioridade pedagógica a ser observada e que
necessita estar devidamente qualificada. O professor deve estar
habilitado para trazer, de modo pertinente, os elementos da tradição
filosófica capazes de contribuir na compreensão das temáticas propostas
ou dos problemas suscitados.29
Dadas essas exigências, poder-se-ia dizer que o professor de
filosofia deve se habilitar mediante um bom curso de filosofia em que
ele tenha se ocupado com temas de grande abrangência, como o da
racionalidade, das possibilidades do conhecimento, das condições da
crítica, e que, pelo menos em sentido amplo, tenha apreendido o
“espírito” das épocas que marcaram o pensamento filosófico ao longo
dos tempos, consubstanciado nos grandes paradigmas de racionalidade e
de conhecimento.
29
Desidério Murcho, em artigo acerca da natureza da filosofia e o seu ensino, alerta para
as duas formas de acabar com a filosofia, ou seja, transformando-a “numa espécie de
conversa de café, vaga e sem qualquer contato com a tradição filosófica”, ou, então, numa
história dos grandes problemas filosóficos, contada sem qualquer envolvimento nessa
discussão. (Murcho, 2002, p. 15).
238
Mas para além do domínio dos conteúdos das disciplinas que
compõem o currículo desse curso é necessário que o candidato a
professor de filosofia tenha aprendido a filosofar, no sentido de ter
percebido a pertinência dos conhecimentos filosóficos para a
compreensão da vida humana, especialmente sob o ponto de vista de sua
histórica constituição. Em outros termos, é necessário que o candidato a
professor de filosofia tenha também se constituído em filósofo e que,
como tal, seja capaz de perceber a dimensão filosófica implicada na
educação. Além disso, como educador filósofo, deve esforçar-se em
tornar reflexiva e coerente a sua prática, auxiliando-se, para isso, com o
que a filosofia tem dito sobre temas que, de alguma forma, tocam à
educação.
Bibliografia
BOUFLEUER, José Pedro. Pedagogia latino-americana: Freire e
Dussel. Ijuí: UNIJUÍ, 1991.
___. Pedagogia da ação comunicativa: uma leitura de Habermas. Ijuí:
UNIJUÍ, 1997.
DUSSEL, Enrique D. Para uma ética da libertação latino-americana
III: erótica e pedagógica. São Paulo: Loyola, 1977.
MORENTE, M. G. Fundamentos de filosofia. São Paulo: Mestre Jou,
1976.
MURCHO, Desidério. A natureza da filosofia e o ensino. Educação.
Santa Maria (RS), UFSM, Vol. 27, nº 2, 2002, p. 13-17.
239
CURRÍCULOS E FILOSOFIA
240
ALGUMAS QUESTÕES SOBRE CURRÍCULO E FILOSOFIA
Henrique Garcia Sobreira∗
Introdução
Embora pareça cabotino, foi impossível redigir essa tentativa de
contribuição sem recordar aquele jovem estudante de química que há
vinte anos atrás, usando meu nome, percorreu pela primeira vez os
desconhecidos corredores da Faculdade de Educação da UFRJ
procurando pela sala onde receberia as aulas de Filosofia da Educação,
Sociologia da Educação. Aquele outro Henrique, já professor de química
no segundo grau privado, acreditava que ali poderia encontrar respostas
para os dramas que encontrava
em suas salas de aula. Bom, a
licenciatura foi pouco, muito pouco para resolver aquela ansiedade.
Entrei no Mestrado em Educação para ver se melhorava como professor.
O resultado foi que em pouco menos de quatro anos impôs-se a idéia
(que hoje considero discutível) que os problemas da aula de química não
seriam resolvidos sem que antes outros problemas mais gerais da
educação fossem ao menos debatidos com mais radicalidade.
Aos poucos, esse sedutor debate educacional, que nos exige um
pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de sociologia, um
pouco de psicologia, um pouco de antropologia etc., passou a ocupar o
centro de minhas atenções. Alguns podem criticar os pedagogos
apontando essa característica como insuficiência. Outros podem sofrer
Doutor em Educação (UFRJ/FACED), Professor-Adjunto (UERJ/FEBF). Endereço
eletrônico: [email protected]
241
por tentarem atender, desde cedo e com competência, as demandas que
cada uma dessas áreas exige. Eu prefiro os pacientes, os que percebem
que a educação, talvez, seja a mais humana das ciências humanas.
Aqueles que entendem que esse início de carreira do professor é confuso
porque a própria educação também o é e aí, aguardam que cada um de
nós vá mergulhando nesses autores sempre novos e fantásticos até que,
um dia, resolva voltar à superfície para pagar os débitos intelectuais
adquiridos nesse período de deslumbramento.
É exatamente quando nos acreditamos estar nessa fase que os
colegas em início de carreira começam achar que nós estamos
complicando muito ao utilizar Deleuse e Guatari para tentar explicar
porque as criança têm dificuldade com a conta de “vai um”. O problema
é que tanto eles como nós estamos certos: os dois franceses podem
ajudar nessa questão e buscar o seu auxílio pode ser um exagero.
Encontros como esse aqui de Santa Maria são um momento privilegiado
em que essas questões podem ser postas em aberto e essa polaridade
assumir o seu aspecto mais produtivo. Em especial quando nos
deparamos com o necessário reconhecimento de que, ao contrário do
que acreditávamos, ainda estamos no início de nossas carreiras.
Isto posto, devo adiantar que não me considero nem filósofo,
nem professor de filosofia. Mais adiante vou socializar com vocês minha
atual tentativa de pagar minhas dívidas com Hegel. Por outro lado,
embora essa área tenha sido importante na minha carreira, não sou
especialista em currículos. Mas também me atreverei a apresentar
minhas idéias sobre campo a partir dos autores que me são mais
familiares: Adorno e Horkheimer.
Antes de alinhavar algumas questões que tenho estudado e das
242
quais espero que surjam perguntas que me façam aprender mais, gostaria
de socializar a metáfora pela qual hoje eu entendo tanto a educação
como a filosofia e o currículo: o navegante Colombo. Ele sabia onde
queria chegar (às Índias); possuía seu guia (a estrela Polar), mas veio dar
nas Américas. Considero essa aparente contradição com o “navegar é
preciso” a melhor forma de encararmos os problemas que encontramos
na educação, formal ou não.
Escola e Indústria Cultural no Brasil
Há uma prática publicitária cada vez mais utilizada: oferta de
“bens culturais-científicos”, como brinde, que incorporariam valor tanto
ao produto quanto ao consumidor. O fundamento/resultado dessa
estratégia é uma sofisticada transformação dos mais variados produtos
do intelecto e da prática humano-social em mercadorias, as quais todos,
de uma forma mais rápida ou mais lenta, mais completa ou mais
fragmentada, à vista ou a prazo, estariam em condições de adquirir e
usufruir. Os frankfurteanos Adorno & Horkheimer talvez não se
espantassem com esses fatos, afinal de contas consideravam que: Ao
longo dos séculos, a sociedade se preparou para Victor Mature e Mickey
Rooney (1994, p. 146).
Isso exige reflexões sobre os motivos pelos quais tanto os
publicitários se autorizam a apostar despudoradamente no sucesso
dessas campanhas como os colecionadores de selos30 possuem uma
crença irrestrita no benefício que recebem. Estão em tela: a organização
racional da sociedade; a sociedade do conhecimento e do aprendizado; a
30
Deve ser lembrado que os selos cumprem uma importante função disfarçando a
presença da moeda sonante no processo de troca.
243
organização
propedêutico-conteudista
do
aparato
educativo
e,
principalmente, a onipresença da forma-mercadoria como essência das
relações humanas em geral e, a despeito da redundância, da educação
escolar.
Essa situação é fruto de três séculos de investimento na idéia de
que há uma Razão positiva, mobilizadora da emancipação dos homens.
Desta, por reprodução assexuada, vieram à luz tanto a ciência
(onipotente e onipresente) como o conhecimento (entendido como
inevitável progresso). Em outras palavras, é o resultado imanente dos
modos pelos quais essa se instalou como categoria organizadora do
progresso da modernidade iluminista, libertando a humanidade das
explicações míticas.
O esclarecimento, porém, reconheceu as antigas potências no
legado platônico e aristotélico da metafísica e instaurou um processo
contra a pretensão de verdade dos universais, acusando-a de superstição.
(...) Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a
forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas. (...)
(...) A sociedade burguesa está dominada pelo
equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável,
reduzindo-o a grandezas abstratas. Para o
esclarecimento, aquilo que não se reduz a números
e, por fim ao uno, passa a ser ilusão (...) Mas os
mitos que caem vítimas do esclarecimento já eram o
produto do próprio esclarecimento. No cálculo
científico dos acontecimentos anula-se a conta que
outrora o pensamento dera, nos mitos, dos
acontecimentos. O mito queria relatar, denominar,
dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar.
(...) Do mesmo modo que os mitos já levam a cabo
o esclarecimento, assim também o esclarecimento
fica cada vez mais enredado, a cada passo que dá na
mitologia. Todo conteúdo, ele o recebe dos mitos,
244
para destruí-los, e ao julgá-los, ele cai na órbita do
mito. (Adorno & Horkheimer, 1994, p. 23-26).
O esclarecimento subestimou o papel dos mitos, da natureza
encantada, na auto-retirada do homem da barbárie (homo homini lupus).
Assim, vale recorrer a um resgate da Razão como alternativa à Barbárie
(e não aos mitos) submetida à exigência de ser negativa e, ao menos,
duplamente
crítica.
De
um
lado,
crítica
por
apresentar-se
metodologicamente como negação radical de qualquer perspectiva
gerenciadora do devir; de outro, por estar em permanente crise, não se
oferecendo como ancoradouro seguro nas tempestades sociais.
Ora, o que se espera da escola e dos professores é exatamente o
oposto. Todos os discursos sobre educação, presentes no atual espectro
ideológico da sociedade, por mais divergentes ou nuançados que sejam,
projetam na educação uma expectativa exagerada em relação à garantia
de um futuro para a sociedade e para os indivíduos (estes, por sua vez
permanecem em uma posição de menoridade ampliada perante o avanço
quantitativo do aparelho científico-tecnológico). Aqui vale lembrar a
conceituação de Adorno (1995) sobre ideologia: uma verdade posta a
serviço de uma mentira. Em outras palavras, possivelmente é verdadeiro
que a educação, a escola e o professor não são inutilidades nesta ou em
futuras formas de organização social. Mas a ênfase dada a essa verdade
cumpre função de velar a mentira sobre as promessas que, desde suas
primeiras formulações no campo das práticas sociais, se dispensa de
cumprir. Isso implicaria, talvez, que investir nos aspectos míticos da
escola e da educação seja mais importante para relocalizar a escola no
processo de desbarbarização do que organizá-la como meio eficaz de
introduzir seus destinatários na sociedade de mercado.
Exatamente por isso é que o conceito de indústria cultural pode
245
ter sua validade hermenêutica estendida para o sofisticado aparato
escolar/educativo
moderno.
Adorno
&
Horkheimer
(1994)
o
desenvolveram estudando o cinema, o rádio e o livros de bolso norteamericanos da década de 1940. Não conheceram a televisão31, muito
menos a informática/internet.
A questão que move o corpo de reflexões desses autores,
principalmente Adorno, é o imbricamento objetivo, disfarçado e cada
vez mais intenso entre progresso e barbárie. No caso da escola e de seus
currículos é sempre bom lembrar uma de suas lapidares frases: O mundo
inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural (Adorno &
Horkheimer, 1994, p. 118).
A indústria cultural oferece a fuga do quotidiano como forma
exclusiva de satisfação (A diversão favorece a resignação, que nela quer
se esquecer, Adorno & Horkheimer, 1994, p. 133), obscurecendo a
possibilidade de resistência individual. As lágrimas simpáticas
catalisadas pelo amor impossível da heroína operam no esquecimento do
conjunto de renúncias afetivas exigidas pelo quotidiano da sociedade de
mercado. Tanto o horror provocado pela pornográfica exibição de um
massacre como a hilaridade provocada pela sova do personagem da
comédia pastelão anestesiam a percepção da crueldade organizada para
que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios
recebem. Enganam-se os que entendem que os frankfurteanos se
referiam apenas aos produtos da Semicultura oferecidos às massas
exploradas:
31
Embora a tenham antecipado: Os próprios meios técnicos tendem a se uniformizar. A
televisão visa a síntese do rádio e do cinema, que é retardada enquanto os interessados não
se põem de acordo, mas cujas possibilidades ilimitadas prometem aumentar o
empobrecimento dos materiais estéticos a tal ponto que a identidade mal disfarçada dos
produtos da indústria cultural pode vir a triunfar já amanhã – numa realização escarninha
do sonho wagneriano da obra de arte total (Adorno & Horkheimer, 1994, p. 116).
246
A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em
formação da política. As distinções enfáticas que se fazem entre os
filmes das categorias A e B, ou entre histórias publicadas em revistas de
diferentes preços, tem menos a ver com o seu conteúdo do que sua
utilidade para a classificação, organização e computação estatística dos
consumidores. Para todos algo está previsto; para que ninguém escape,
as distinções são acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de
uma hierarquia de qualidades servem apenas para uma quantificação
ainda mais completa. Cada qual deve se comportar, como que
espontaneamente, em conformidade com seu level, previamente
caracterizado por certos sinais, escolher a categoria dos produtos de
massa fabricada para seu tipo. Reduzidos a simples material estatístico,
os consumidores são distribuídos nos mapas de pesquisa (em grupos de
rendimentos assinalados por zonas vermelhas, verdes e azuis. (...)
Em seu lazer, as pessoas devem se orientar por essa
unidade que caracteriza a produção (...) o
esquematismo é o primeiro serviço prestado ao
cliente. (...) Para o consumidor, não há mais nada a
classificar que não tenha sido antecipado no
esquematismo da produção (...) (Adorno &
Horkheimer, 1994, p. 116-18).
247
Assim, poder e conhecimento transformam-se em sinônimos e
substitui-se a satisfação embutida nas questões que dizem respeito ao
que se chama “verdade” pelas operações eficazes. Aquela, por também
colonizar o usufruto do tempo livre dos homens a partir da lógica da
acumulação privada, apresentando como novidade a confirmação do
desde sempre estabelecido: o esquematismo da produção otimizada. Na
maior parte das vezes, a demanda por currículos se instala como
elemento pacificador, almeja-se um esquema organizador que devolva a
paz às nossas salas de aula.
Qualquer uso dos conceitos que transcenda a
sumarização técnica e auxiliar dos dados factuais foi
eliminado como um último vestígio de superstição.
Os
conceitos
foram
“aerodinamizados”,
racionalizados, tornaram-se instrumentos da
economia de mão-de-obra. É como se o próprio
pensamento tivesse se reduzido ao nível do processo
Industrial (...) Quanto mais as idéias se tornam
automáticas, instrumentalizadas, menos alguém vê
nelas pensamentos com um significado próprio
(Horkheimer, s.d.: 29-30).
Voltando à educação e à escola, vale destacar que a relação das
duas com o Esclarecimento foi inaugurada pela assertiva kantiana de
que O homem somente pode vir a ser homem através da educação. Ele
não é outra coisa senão o produto de sua educação (Kant in Freitag, 1994,
p. 22). Por sua vez, como só o homem é educador do homem, Kant limitase a condenar aquelas pessoas sem disciplina e instrução (em outras
palavras, afastados da Razão) como maus educadores. O debate posterior
concentra-se nas formas e nos conteúdos de preparar esse bom educador,
pedra de toque para um novo homem e uma nova sociedade. É Marx
(1987), em sua Tese Terceira contra Feuerbach quem vai recolocar esse
248
problema em termos não-metafísicos, a mudança da educação e das
circunstâncias não deve esquecer o papel ativo do homem sobre as
circunstâncias e muito menos que o próprio educador deve ser educado.
Dessa forma, as idealizações da burguesia ascendente a respeito
da educação cederam, pouco a pouco, espaço para um conceito de escola
como item na agenda da luta operária contra a extração da mais-valia. A
quantidade de tempo que, inicialmente as crianças, mais tarde jovens e
adolescentes e, nos dias atuais até mesmo adultos dispensam à
permanência nos bancos escolares, decorre de uma variável redução do
tempo em que a força de trabalho permanece submetida à lógica da
espoliação capitalista.
Meu principal argumento a favor da aplicabilidade da categoria
indústria cultural na compreensão da escola moderna considera que tanto
os conteúdos culturais que foram deixados a seu cargo como a sua
organização interna passaram por esse filtro. Ainda mais levando-se em
conta que mesmo um ligeiro olhar sobre as práticas de escolarização
nesse “mundo globalizado” evidencia que o universalismo burguês,
presente no projeto kantiano, foi substituído pela oferta de educações A
e B (e, estendendo a metáfora cinematográfica, postulo a existência de
uma educação noir: aquela oferecida à noite nas redes pública e privada
que atendem aos excluídos dessas duas) que produzem com insuspeita
coerência tanto esbanjadores de semicultura como os operadores
acríticos do desenvolvimento científico. Em outras palavras, a escola
contemporânea se tornou um aparato da indústria cultural exatamente
por ser locus privilegiado da disseminação de semicultura.
Obviamente as conquistas operárias em relação à quantidade de
tempo em que estão obrigadas a vender sua força de trabalho não se
resumem ao tempo utilizado na escolarização. Muito menos deve ser
249
entendido que a escolarização dos filhos dos operários é um bem em si. A
imposição, nos últimos cento e cinqüenta anos, da educação para o trabalho
(ou seja, a incorporação de novas habilidades e códigos disciplinares a
serem postos a serviço da reprodução ampliada do capital) dispensa
maiores comentários. Apenas destaco um aspecto, dentre uma infinidade
de outros, de uma formação social plena de antagonismos.
A escola e sua história podem ser apreendidas como marcadas por
essa dualidade: espaço de investimento na produção do homem desejado
pelo esclarecimento (mito?) e lugar de utilização de parte do tempo livre
conquistado na luta de classes (outro mito?). A oferta de educação
universalizada a partir do reconhecimento dessa polaridade irreconciliável
não é um processo redutível com facilidade a uma operação eficaz, embora
grandes esforços sejam dirigidos para essa meta. Aponto aqui, três aspectos
que dificultam o sucesso da educação escolar como operação eficaz.
Primeiro, em sendo a escola uma demanda relacionada à Razão,
sua organização depende do seu afastamento das paixões. O resultado
dessa premissa exigiu sua operacionalização como uma sinopse de
faticidades. Para tal, o conhecimento humano que ela prometia transmitir
teve de ser adaptado à forma-mercadoria, quer dizer, apenas o que se
prestava a participar da troca de equivalentes tornou-se objeto da cultura
escolar. Esse processo foi radicalizado com a introdução da avaliação
racional de resultados dos processos de interação entre as gerações mais
jovens e as gerações mais velhas por meio de testes padronizados a partir
do final do século XIX. Isso obrigou os destinatários da escola a
comportarem-se
como
consumidores
compulsivos
dos
conteúdos
curriculares, também padronizáveis/padronizantes, caso estivessem de
acordo com a idéia de uma escola que funcionasse como socializadora das
experiências acumuladas histórica e socialmente.
250
Dessa forma, há uma tripla restrição das experiências
transmissíveis: na primeira, privilegiam-se aquelas imediatamente
vinculadas à produção de equivalentes (por exemplo: a matemática das
contas e das fórmulas, as regras gramaticais isoladas de textos com sentido,
a história dos heróis isolados e das datas comemorativas, a geografia dos
lugares e das coisas etc.); na segunda, adicionam-se ao currículo aquelas
que podem ser reduzidas à equivalentes (por exemplo: certos exercícios de
interpretação de texto, a filosofia a literatura e as artes como seqüências
lineares de pensadores, escritores e artistas etc., e tudo isso apresentado
como enriquecimento curricular) e na terceira, excluem-se todas
experiências intelectuais que têm como solução um novo problema e não
uma resposta unívoca (haja vista quase meio século de vicissitudes do
conceito freiriano de leitura do mundo e o constrangimento a que se vê
submetida boa parte dos docentes e dos discentes quando resolve
experimentar os desvios que o pensamento sugere em suas aulas).
No clima da semiformação, os conteúdos objetivos,
coisificados e com caráter de mercadoria da
formação cultural perduram à custa de seu conteúdo
de verdade e de suas relações vivas com o sujeito
vivo (...) (Adorno, 1996, p. 396).
Um segundo aspecto é que, fora da escola, o tempo livre
conquistado pela luta política da força de trabalho foi, progressivamente,
objeto da intervenção da Indústria cultural. Dessa forma, a disseminação
de produtos de uma falsa cultura, apresentada como de massas, plena de
encantamento mágico, opera de forma manipulatória, oferecendo
mercadorias culturais, objetos de identificação compulsiva. Esse processo
opera uma redução no que passa a ser considerado conhecimento humano.
Ao invés da fruição e ressignificação das conquistas do processo histórico
251
da autoprodução do homem estabelece-se a competição individual pela
acumulação quantitativa de conteúdos semiculturais. Assim, as reduções
descritas como características do primeiro aspecto são duplicadas em seus
efeitos.
Como terceiro aspecto, o conceito de qualidade de formação,
presente tanto no primitivo ideário burguês quanto no antigo desejo
operário, é substituído pelo de rendimento. Enfim, completa-se o processo
que permite a escola se organizar como operação eficaz. Nesse movimento,
obliterados os aspectos totalitários da Razão e da Indústria cultural, a
escola convive com uma Barbárie cada vez mais ampliada, na qual se
sente cada vez menos implicada e perante a qual se considera cada vez
mais impotente.
Os professores além de participarem como agentes e destinatários
desse conjunto de situações intraescolares também são sujeitos e objetos do
conjunto de conflitos mais amplos da forma atual de organização social.
Cada um ao seu modo solicita dos órgãos do sistema educacional e das
agências formadoras fundamentos racionais e científicos para que
confirmem ou corrijam suas práticas pedagógicas. De certo modo, nossos
estudos, pesquisas e aulas visam responder a essa demanda, tentando
oferecer-lhes instrumentos racionais (científicos) que dirijam suas práticas
pedagógicas quotidianas. Aparentemente o resultado objetivo dessas ações
tem servido pouco para produzir uma consciência social capaz de resistir
ao convite para esbanjar cultura (maravilha do mundo) sem esbanjar
dinheiro.
.
Mas, então, o que é a nossa educação? Aparentemente algo que
realizamos porque outros também a realizam. Isso não significa que ela
não exista ou não cumpra funções claramente determinadas e/ou
importantes. Mas que a ressignificação nacional de sua existência é mais
252
fonte de problemas do que virtudes, principalmente devido ao
atendimento à demanda por educação via duas ramificações principais,
as redes pública e privada. Vinculação administrativa que, por sua vez,
tem pouco poder explicativo, pois sob essas denominações reúne-se uma
multiplicidade de modelos, todos eles com tantas distinções internas,
que seria ocioso relacioná-las aqui. Entretanto, merece destaque, em
nível macro, a categoria especializada “escola particular” que atua como
poderoso fetiche em nossa sociedade, radicalizando ainda mais a
interpretação de nossa aparelhagem educacional como absolutamente
colonizada pela indústria cultural.
Frente à polaridade constitutiva da escola moderna, sua
viabilização exigiu sua conformação à Razão onipotente da troca de
equivalentes. Esse processo não se deu de forma homogênea, muito
menos sem oposição, tanto que ainda não se completou, embora seja
hegemônico. No caso brasileiro, a polarização entre universalismo
burguês e reivindicação operária não ocupou o centro do debate a
respeito da escolarização universal dos brasileiros. Aqui, esse campo de
contradições e lutas foi obscurecido pela total negligência dos
dominantes em relação à escolarização. O foco foi, e ainda hoje é, a luta
pela escola negada.
Dessa forma, a transformação reificada, sob o princípio da troca
de equivalentes, dos conteúdos culturais passíveis de estarem presentes
como objeto das práticas pedagógicas ocorreu sem qualquer oposição
significativa. Na maior parte dos estabelecimentos e níveis de ensino, a
sinopse de faticidades reina soberana; algo autoproclamado como
teorização crítica está reservado a nichos especiais, inclusive dentro de
uma mesma instituição. Além do mais, a existência de escola passou a
ser considerada um bem em si, o que deixa seus destinatários obrigados
253
à uma constante e eterna gratidão. Por outro lado, a organização
pedagógico-curricular a partir de uma lógica de mercado (oferta e
procura, acumulação e reprodução ampliada) contribuiu para o
desenvolvimento de uma complacência ilimitada com as evidências de
seu mau funcionamento. Busca-se obsessivamente a elevação do
rendimento sem qualquer reflexão a respeito dos objetos inseridos no
quotidiano da sala de aula.
A construção social e solidária da qualidade na assimilação e na
reprodução do processo histórico de autoprodução humana emerge aqui
e ali, sufocada pela pressão dirigida ao aceleramento da acumulação
individual da cada vez maior quantidade de elementos semiculturais
inseridos como requisitos mínimos de seleção. Nessa otimização do
processo de transmissão, a escola termina sendo um lugar em que a,
digamos assim, “produção de capacidades” depende mais da
possibilidade de resistência física e econômica do que do tão caro
conceito ideológico de “capacidades imanentes”. Um professor
brasileiro do século passado cunhou a expressão “educação bancária”32.
No entanto, o que deveria ser a categoria inaugural de um amplo projeto
de pesquisas e práticas pedagógicas, com honrosas exceções, foi
superado pela sua transformação em slogan e pela estrutura que a
introduziu no ciclo infindável de commodities pedagógicas nas práticas
de escolarização.
Felizmente a escola não ocupa, no interior da formação
econômico-social, o lugar e a importância que “ela” acredita representar.
Muito menos, a reunião de jovens (das mais variadas idades) que “ela”
promove não se encerra no enclausuramento da sala de aula. Mas se os
32
Evidentemente Paulo Freire não era obrigado a reconhecer os nexos de coerência entre
sua metáfora e as categorias indústria cultural e semicultura.
254
seus danos não são expressão completa do que potencialmente anuncia,
isso não significa que deva ser deixada de lado. Um caminho necessário
passa pela inversão do foco da luta política em relação à educação: sem
abandonar as, ainda necessárias, trincheiras educacionais antiestatais
deve-se investir na luta político-pedagógica interna contra a lógica de
mercado que regula a convivência escolar. Um obstáculo que se interpõe
é o fato de que nós, professores, somos um sujeito especial nesse
processo. Somos aqueles que ficamos nesse espaço social que para a
grande maioria é temporário: a escola. O senso comum admite que
professores são aqueles e aquelas que “gostam” da escola. Alguns de
nós exageram esse “gostar” a ponto de teorizá-lo como “vocação”.
Essa palavra/conceito, embora esteja fora de moda nos círculos
acadêmicos e sindicais (temos quase duas décadas em que esses dois
campos discursivos investem na “profissionalização do magistério”) me
parece cada vez mais assumir a forma daquilo que os antropólogos
chamam de “categoria nativa” nesse grupo/espaço cultural. De alguma
forma, parece que somos capturados, desde as mais antigas experiências
escolares para essa profissão.
O conceito de auto-reflexão foi desenvolvido a partir do debate
de Adorno (2000) a respeito dos tabus que envolvem a profissão de
ensinar. Esses tabus, no caso dos professores, podem ser “filtros”,
adquiridos ao longo das experiências escolares, que organizam o
aprendizado de teorias pedagógicas e terminam influenciando na opção
de estratégias adotadas em seu conturbado cotidiano de vida e trabalho.
A auto-reflexão consiste na elaboração dessas experiências primitivas e
é proposta como processo de esclarecimento interno dos possíveis
pontos de contato ontogenéticos (admitindo-se a utilização dessa
categoria ao indivíduo professor) com os filogenéticos (idem para a
255
profissão). Busco, por meio desse conceito, desenvolver novas formas e
conteúdos de um currículo alternativo para a formação do professor que
possa nos colocar em posição de autonomia em relação a esse passado.
O percurso da pesquisa que desenvolvo atualmente aponta como um
tabu adicional, no caso do professor brasileiro, a questão da morte. No
caso dos professores esse tabu é distinto se tratamos dos sujeitos ou das
instituições de formação. Se para os primeiros a categoria pode ser
abordada a partir da sua presença real, para as instituições há um aspecto
(semi) metafórico que carece de maiores estudos. Apresento, em
seguida, algumas questões que tento aprender a respeito desse ponto.
A morte: implicações no aprender e ensinar
A morte é uma das questões mais recalcada nas sociedades
contemporâneas cristãs ocidentais. No campo da educação ela surgiu em
minhas pesquisas de duas formas principais: no plano geral, a angústia
dos professores dos Cursos Normais Médios antes da homologação do
Parecer 01/2003 do CNE; no seu aspecto micro, nas fortes imagens dos
professores que duram, se perenizam para seus estudantes, pelos mais
variados motivos. Minha abordagem foi inspirada pelo interlúdio
filosófico de Marcuse (s.d.) em Eros e Civilização. A essa leitura
emancipatória de Hegel adicionamos a, também libertária, leitura de
Kojève (2002).
Entender o lugar da morte na filosofia de Hegel é entender
como o homem (modelo abstrato, conceitual) abandona, na relação de
discurso, o seu estado animal (ser-em-si), para atingir a consciência (serpara-si). A consciência supõe um desejo que exige uma ação para
satisfazê-lo (essa só se faz pela negação, destruição ou transformação do
objeto desejado). O desejo especificamente antropogênico é o de
reconhecimento, desejo que se dirige a um outro. Quando esse outro é
256
outro homem, se está diante de duas consciências que desejam se impor
uma a outra, uma luta de puro prestígio travada em vista do
reconhecimento.
Ora, essa luta exige consciência dos riscos que se corre.
Quando esses seres abstratos tentam mutuamente impor seus desejos, o
que pode acontecer, se ambos se arriscarem completamente, é a vitoria
de um aniquilando o outro, ou ambos perecem. Nos dois casos não há
mais agente do reconhecimento. É uma luta na qual a vitória é a derrota.
Para que a realidade humana possa constituir-se como realidade
reconhecida, é preciso que ambos adversários continuem vivos após a
luta. Ora, isso só é possível se eles se comportarem de modo diverso
durante a luta. Por atos de liberdade irredutíveis, até imprevisíveis ou
indeduzíveis, devem se constituir como desiguais nessa e após essa luta.
Um, sem ter sido a isso predestinado, deve ter medo do outro, deve
ceder, deve recusar-se a arriscar a vida em nome de seu desejo de
reconhecimento. Deve abandonar seu desejo e satisfazer o desejo do
outro: deve reconhecê-lo sem ser reconhecido por ele. Ora, reconhecê-lo
assim é reconhecê-lo como senhor e reconhecer-se (e fazer-se
reconhecer) como escravo do senhor (Kojève, 2002, p. 15).
Esse é o fundamento da dialética senhor-escravo de
Hegel, ato inaugural (abstrato, simbólico) da
história da humanidade. Um abandona a luta e se
constitui humano na condição de desigual. Por outro
lado, o senhor não suprime completamente o
escravo, não pode eliminá-lo, poupa a vida e a
consciência do outro mas destrói a sua autonomia.
Esse cadáver vivo, o escravo, é o adversário vencido
por não ter adotado o princípio do senhor, vencer ou
morrer, e aceitado a vida concedida.
257
Porém, o processo da história vai revelar a insuficiência e o
caráter trágico da situação de senhor. A relação desigual não é um
reconhecimento propriamente dito. Ao assumir o trabalho para satisfazer
o desejo do senhor, o escravo substitui a morte pela angústia da morte.
Na sujeição pelo trabalho está a fonte de progresso humano e a história
da humanidade é a história do escravo trabalhador, onde a angústia de
morte o impulsiona à liberdade.
O senhor, por não poder reconhecer o outro que o
reconhece, acha-se num impasse. O escravo, ao
contrário, reconhece desde o início o outro (o
senhor). Basta-lhe pois impor-se a ele, fazer-se
reconhecer por ele, para que estabeleça o
reconhecimento mútuo e recíproco, o único que
pode realizar e satisfazer plenamente o homem. É
certo que, para isso aconteça, o escravo deve
deixar de ser escravo: ele tem de transcender-se,
de suprimir-se como escravo (Kojève, 2002, p.
24).
O senhor, fixado na dominação, para ele supremo valor, não
pode superá-la. Está numa condição dada, fixa e imutável que não
esgota a existência humana. Ao escravo, não basta ter sentido medo ou
se sentir percebendo ter medo da morte. Vivendo em função desse
estado inicial de angústia, servindo alguém que se teme, exterioriza-se
(pelo trabalho formador), transforma o mundo objetivo real e pode
libertar-se do terror escravizante.
Para Kojève, Hegel compreendia o homem como indivíduo
livre e histórico apenas como mortal no sentido próprio e forte do termo.
... é ao aceitar voluntariamente o risco de morte
numa luta por puro prestígio que o homem aparece
pela primeira vez no mundo natural; é ao resignar-se
258
à morte, ao revelá-la pelo discurso, que o homem
chega finalmente ao Saber absoluto ou à sabedoria,
concluindo assim a história. Pois é partindo da idéia
da morte que Hegel elabora sua ciência (...) [capaz
de explicar existência] de um ser finito consciente
de sua finitude e dela dispondo a seu bel-prazer
(2002, p. 504).
É a morte que engendra o homem na natureza e o faz progredir.
Essa “morte antropogênica” só adquire sentido no contexto da ação
negadora. O ato de negar o real, e manter a negação sob a forma de obra
criada por essa negação ativa, é o conceito hegeliano de liberdade.
... se de um lado a liberdade é negatividade, e se de
outro lado a negatividade é nada e morte, não há
liberdade sem morte, e só o ser mortal pode ser
livre. É possível até dizer que a morte é a
manifestação última e autêntica da liberdade
(Kojève, 2002, p. 518).
A contribuição que essa abordagem oferece ao processo de
auto-reflexão diz respeito às relações professor-aluno. Nela pode haver
algo dessa luta em busca do reconhecimento. Estruturalmente o
professor já se encontra na posição de senhor e os estudantes na de
escravo. Há casos em que o professor excede na exigência de
reconhecimento. Assim, esse contato pode se transformar em uma luta
em busca do prestígio sem qualquer possibilidade do estudante lançar
mão da astúcia do escravo. O problema é que a criança pode perceber
que nós somos falsos senhores: aquele que é fisicamente mais forte e
castiga o mais fraco (Adorno, 2000, p. 105).
Nesse processo, a submissão do mais fraco para “continuar
vivo” na escola opera em sentido diverso da emancipação. A autoreflexão busca o entendimento de estruturas da profissão docente que
259
exigem cuidado e arrojo. Muito cuidado, pois a elaboração dessa farsa
exige muito arrojo em enfrentar a criança que fomos, naqueles dias em
que passamos por professores desse tipo. Sem auto-reflexão, podemos,
diante das crianças, exorbitar em relação ao recuo que lhes é natural e
não lhes permitir ocupar o lugar necessário para que se percebam na
tarefa de nos superar.
A vinculação antropogênica entre morte e liberdade poderia
reduzir nossa angústia. Afinal de contas, resolver a angústia da morte
por meio do seu recalque (negação) nem suprime a angústia, nem afasta
a
morte.
Elaborá-la
discursivamente,
suportá-la,
enfrentá-la
voluntariamente pode ser o caminho para legislações e educação em que
o devir incerto e incontrolável seja mais importante do que a
permanência conhecida e pacificadora.
É dessa forma que os estudos pioneiros de Ariès (2003) o
comportamento do homem, nas sociedades cristãs ocidentais, diante da
morte pode nos auxiliar. Não é fácil lidar com ela, por mais que
recalquemos sua presença, não a evitamos. Conquistas da medicina
(desde os exames de colesterol e o anti-tabagismo até os ressucitamentos
celebrizados pelo seriado televisivo Plantão Médico (ER), passando pela
vida por meio de aparelhos) podem até criar a ilusão de seu adiamento.
Nas conferências reunidas em sua obra (no original em 1975) o
historiador analisa o processo pelo qual a morte é inicialmente esperada
no leito pelo enfermo, depois transformada em cerimônia pública e
organizada tranqüilamente pelo próprio moribundo (moralmente
obrigado nem a blefar, muito menos se vangloriar) até se chegar à morte
domada, higienizada, em que as tradicionais separações rituais entre o
mundo dos vivos e o mundo dos mortos foi substituída por velórios
assépticos em cemitérios extra-urbanos.
260
Mas, se no fim do século XVII começa-se a
perceber sinais de intolerância, é preciso admitir que
durante mais de um milênio estava-se perfeitamente
acomodado a esta promiscuidade entre os vivos e os
mortos. O espetáculo dos mortos, cujos ossos
afloravam à superfície dos cemitérios, como o
crânio de Hamlet, não impressionava mais os vivos
que a idéia da própria morte. Estavam tão
familiarizados com os mortos quanto com sua
própria morte (Ariés, 2003, p. 45).
Ao analisar os túmulos Ariès conclui que, no espelho de sua
própria morte, cada homem redescobria o segredo de sua própria
individualidade (2003, p. 63). Esse reconhecer-se a si próprio em sua
morte sofre, a partir de meados do século XIX uma inversão: ela tornase um vergonhoso objeto de interdição, ao ponto de se estabelecer, como
prática social, ocultar do moribundo a gravidade do seu estado. Ela sai
de casa mas, morre-se no hospital porque os médicos não conseguiram
curar (2003, p. 85), passa a ser um fenômeno técnico decorrente da
interrupção dos cuidados, declarada por médicos com a precisão de
segundos, com o moribundo inconsciente.
A morte foi dividida, parcelada numa série de
pequenas etapas dentre as quais, definitivamente,
não se sabe qual foi a verdadeira morte, aquela em
que se perdeu a consciência ou aquela em que se
perdeu a respiração... Todas essas pequenas mortes
silenciosas substituíram e apagaram a grande ação
dramática da morte, e ninguém mais tem forças ou
paciência de esperar durante semanas um momento
que perdeu parte do seu sentido (2003, p. 86)
Kovács adverte que, frente a impossibilidade de matar a morte,
há grande espaço para que a ilusão da busca da vida eterna seja apenas o
261
ocultamento do desejo pela juventude eterna e que as defesas contra o
medo da morte assumam forma de restrições.
Há momentos em que o sujeito fica tão acuado que
parece não viver. E esse não-viver, pode ser
equivalente a morrer. Então surge uma situação
paradoxal, em que a pessoa “está” morta, mas
“esqueceu” de morrer; temos a chamada morte em
vida (2002, p. 3).
Inicialmente, protegemo-nos dela por meio da crença que só
ocorre com os outros. Na adolescência, momento de experimentar novos
prazeres e sentir o limite do possível, a morte é representada como
resultado de inabilidade (p. ex. overdose, excesso de velocidade etc.) e
que, o verdadeiro herói não vai morrer. Mais tarde, no pico da vida, nos
espreita como acidente ou busca. Mas quando se chega ao topo da
montanha e se admira a paisagem à volta, a descida parece obrigatória
(Kovács, 2002, p. 7) isso traz novos significados à vida. O tempo não
pode ser estancado e temos que decidir, sem chance de fuga, onde deve
ser colocada a ênfase que dirige nossas ações: na vida ou na morte.
A morte como limite nos ajuda a crescer, mas a
mote vivenciada como limite, também é dor, perda
de função, das carnes, do afeto. É também solidão,
tristeza, pobreza. Uma das imagens mais fortes da
morte é a da velhice, representada por uma velha
encarquilhada, magra, ossuda, sem dentes, feia e
fedida. É uma visão que nos causa repulsa e terror
(2002, p. 9).
Mesmo na situação atual em que se morre de uma morte
escondida, em que cabe ao médico estabelecer a morte total, após uma
sucessão de pequenas mortes clínicas, Kovács, antes de concluir que o
homem é responsável pela sua vida e pela sua morte, considera:
262
Na verdade, o ser humano possui dois grandes
medos: o medo da vida e o medo da morte. O medo
da vida se vincula ao medo da realização, da
individualização e, portanto, está propenso à
destruição (2002, p. 25).
Para Serres (2003) tornamo-nos homens porque aprendemos
que iríamos morrer (mesmo que jamais soubéssemos como; p. 10) e do
mesmo modo que os indivíduos, as civilizações também morrem de
maneira certa e imprevisível (p. 11). Duas formas de morte, portanto,
acompanham o estabelecimento de nossa civilização: a pessoal a
cultural. Mas, novas perspectivas sobre a morte estabelecem sua
presença: a global, seja pelo holocausto nuclear ou pela repetição de
cataclismos, recentemente descobertos, que já extinguiram a vida na
face da Terra por mais de uma vez e uma outra morte, a direta e local,
conhecida como apoptose, o sinal codificado que, a partir do DNA,
dispara o suicídio celular.
Serres tenta compreender como é que a partir das mudanças de
nosso corpo (que sugerem a exclusão da morte de nossos pensamentos,
costumes, condutas pessoais e ritos coletivos) às duas formas antigas de
imortalidade (vida e espírito) se agrega um novo tipo, o da duração por
meio do qual o novo (antes derivado das aleatórias mutação, adaptação e
seleção) emerge, primeiro e apenas, a partir dos Organismos
Fenotipicamente Modificados e, hoje também, pelos Organismos
Geneticamente Modificados.
Podemos assumir que os atuais conteúdos e estratégias de
ensino, bem como a organização da educação que lhes é necessária
chegou ao estágio atual por meio da mutação, adaptação e seleção que,
como nos processos biológicos, não seguiu um caminho natural. A
263
Educação Fenotipicamente Modificada desde as relações modelares
mestre-discípulo da tradição grega até os atuais exames vestibulares,
passando por Comênio, Rousseau, Paulo Freire e outros parece ter
esgotado seu potencial de desenvolvimento. Embora essa metáfora seja
arriscada, creio que devemos começar a pensar em uma Educação
Geneticamente Modificada.
Passando a palavra adiante
Recapitulando alguns pontos para a nossa discussão, comecei
tratando as relações entre currículo e filosofia apresentando como os
conceitos frankfurteanos de indústria cultural e semicultura podem ser
úteis na compreensão do processo pelo qual a educação, esperança
iluminista de emancipação, se instalou como conflituoso mecanismo de
alienação: a escola organizada como forma eficaz de transferir os
conhecimentos mais passíveis de assumir forma-mercadoria.
Apontei
que, na maior parte das vezes, a demanda por
currículo (tanto no seu aspecto de coisa em si, como nos mais extensos e
intensos debates sobre o que ele é ou deveria ser) é tradução da demanda
por uma tranqüilidade e uma certeza que são praticamente impossíveis
se o eixo da educação abandonar a perspectiva de garantir um devir. Isso
significa que precisamos desenvolver outras formas de viabilizar a
necessária submissão dos estudantes para que a escola resulte em
sujeitos emancipados.
A auto-reflexão foi proposta como uma possibilidade
alternativa de forma e de conteúdos da educação. No caso dos
professores que, em última instância, serão os encarregados ocupar a
linha de frente de novas formas de ensinar e aprender, sugeri que esse
264
processo carece da elaboração, pelos professores em formação e
exercício, das mais antigas experiências escolares desses sujeitos. Sem
elaborar a pré-história escolar daqueles que se dirigem a essa profissão,
corremos o risco do eterno atrelamento à modelos de aula e currículo
que não nos permitem a percepção dos motivos pelos quais eles
funcionam com alguns e fracassam com outros.
Para terminar, há a questão da elaboração do papel da morte em
seus aspectos reais e simbólicos nas nossas atividades. Ao longo da
história de nossa profissão, os professores, e mais tarde as professoras,
emergem como uma espécie de Eros desexualizado. Versões mais
antigas de insurgência contra essa determinação levam à condenação ao
suicídio de Sócrates e .à castração de Abelardo. As teorias da vocação,
aparentemente superadas mas com grande disseminação no chão-deescola possuem como fundamento o reinado dessa espécie de amor
desinteressado. Talvez uma educação emancipatória dependa da autoesclarecida regência de Tânatos. Quer dizer, um dia nossas aulas, nossos
cursos, nossas palestras, independente da nossa vontade de continuar,
precisam ser encerradas...
Bibliografia
ADORNO, T. W. Teoria da semicultura. Educação e Sociedade. XVII,
(56). Campinas: Papirus & CEDES, (388-411), 1996.
__________. Prismas. Crítica cultural e sociedade. Trad.: Augustin
Wernet & Jorge Matos Brito de Almeida. São Paulo: Ática, 1998.
__________. Educação e emancipação. Trad: Wolfgang
Leo Maar. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
ADORNO, T. W. & HORKEIMER, M. Dialética do Esclarecimento.
Trad: Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
265
ARIÉS, P. História da morte no ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro
Publicações S. A. 2002.
FREITAG, B. O Indivíduo em Formação. São Paulo: Cortez Editora,
1994.
HORKHEIMER, M. O Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, s.d.
KOJÈVE, A. Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Eduerj,
2002.
KOVÁCS, M. J. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa
do Psicólogo Livraria e Editora: 2002.
MARCUSE, H. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do
pensamento de Freud. São Paulo: Editora Guanabara, s.d. (8ª ed.)
OLIVEIRA, J. H. B. de. Viver a Morte: abordagem antropológica e
psicológica. Coimbra: Livraria Almeida, 1998.
SERRES, M. Hominescências. O começo de uma outra humanidade?
Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil Ltda., 2001.
266
CURRÍCULO: UMA QUESTÃO SOMENTE TÉCNICA?
Roberto Luiz Machado∗
Introdução
Antes de iniciar minhas reflexões sobre a questão curricular,
gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, minha postura de trabalho, na
qual venho acreditando cada vez mais, principalmente quando este
envolve a ação humana. O trabalho só tem sucesso quando elaborado a
partir de uma construção coletiva, respeitando as contradições, os
conflitos e a diversidade. Para que isso ocorra é necessário buscar a
mediação na solução de problemas e esta, por sua vez, deverá
ultrapassar o paradigma do ganhar-perder. O que estou explicitando é a
postura colaborativa que devemos ter no tratamento de toda e qualquer
questão que envolva mudança, buscando dessa forma, soluções
consensuais e a construção de “lugares” sociais legítimos para os
participantes (Schnitman, 1999, p. 18). Portanto, sendo o currículo uma
ação humana ele só pode ser efetivado a partir de uma construção
coletiva embasada por esse princípio.
Professor do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da
Universidade Federal de Santa Maria. Endereço eletrônico: [email protected]
267
Proponho, então, nesse texto, apontar algumas reflexões sobre
currículo, contemplando os seguintes itens: concepções de currículo, sua
história e alguns encaminhamentos para sua elaboração.
Mudando a concepção curricular
Quanto mais adentramos o século XXI, mais intensas se tornam
as discussões em torno da questão educacional. Tais discussões invadem
os diferentes setores de nossa sociedade que, direta ou indiretamente,
elegem o setor educacional como o responsável na adaptação da
sociedade às reformas econômicas, políticas, sociais e tecnológicas que
se efetivam.
Por esses motivos, assistimos ao longo desse tempo, sobretudo
a partir da década de 90, a inúmeros debates e produções acadêmicas
dirigindo à educação diferentes avaliações, ora defendendo-a, ora
acusando-a, principalmente, no que se refere ao modo como ela vem
efetivando suas práticas.
Minha preocupação localiza-se no fato de que é importante que
uma análise profunda se efetive no âmbito educacional, pois não
podemos deixar de perceber que a sociedade se encontra em plena
efetivação de um novo arranjo social. Estamos vivendo, segundo Silva
(1999, p. 7), no meio de uma época em que praticamente se torna
realidade a junção entre ser humano e máquina. Vivemos num mundo
social onde as identidades culturais e sociais emergem, se afirmam,
apagando fronteiras, transgredindo proibições e tabus identitários.
Entretanto, ainda vivemos num mundo em que a fome, a falta de
268
emprego, as diferenças sociais e culturais, os preconceitos, as exclusões
étnicas e sexuais ainda se fazem presentes.
É nesse paradoxo que, hoje, nos encontramos. E é nessa
perspectiva antagônica e contraditória que o setor educacional procura
estabelecer algumas direções em suas atividades. Todavia, tal procura se
estabelece ainda na semi-escuridão do porvir, pois não sabemos quase
nada do tão propalado século XXI. Nesse viés de discussão, Santos
(2000, p. 42) nos informa que há um desassossego no ar e que temos a
sensação de estarmos na orla do tempo, entre um presente quase a
terminar e um futuro que ainda não nasceu.
Quanto à questão curricular, esta pode ser pensada de diversas
maneiras: como plano de estudos, como um elenco de disciplinas, como
uma postura filosófica, como um guia de experiências de aprendizagens,
dentre tantas outras representações.
No entanto, meu entendimento sobre o currículo se efetiva na
sua interligação com a prática e, portanto sua reflexão está diretamente
ligada à práxis, sendo essa, numa concepção freireana, entendida como a
reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá -lo.
Essa postura se justifica pelo fato de perceber, nos dias atuais,
um movimento em busca de novas configurações curriculares no meio
educacional, visto que a estrutura que geralmente o embasa parece não
querer mais se adaptar às necessidades e aos problemas que enfrentamos
nos dias atuais. Pode-se afirmar, numa primeira análise, que o currículo
se assenta em duas grandes questões: Que tipo de homens e de mulheres
queremos? E que tipo de sociedade almejamos?
Desse modo é que compreendo a reflexão sobre o currículo
como um entendimento da práxis, pois para responder a essas questões,
é preciso uma reflexão profunda, cautelosa e, sobretudo, amparada por
269
outros campos do conhecimento, pois o currículo envolve conteúdo,
este, por sua vez, engloba conhecimentos e, portanto, valores, crenças,
hábitos, e, por causa disso, entrecruzado de poder e conflitos.
Por essa razão, a questão curricular é, hoje, tão discutida e tão
debatida. E qual seria a causa dessa centralidade? Através da história da
educação podemos pontuar as inúmeras vezes em que o sistema
educacional foi requisitado para a implantação de reformas políticas,
econômicas e sociais. A justificativa dessa recorrência é que,
inteligentemente, o pilar da regulação social descobriu, muito cedo, que
a instituição de ensino é o campo primeiro a estabelecer a direção, a
finalidade e a vontade da sociedade (Popkewitz, 1997, p. 21).
Portanto, debruçar-se sobre a questão curricular, a priori
significa, por um lado, tratar de intenções e práticas envolvendo
conhecimentos, mas por outro não podemos esquecer que sendo um
artefato histórico e social o currículo é responsável pela formação
profissional, mas acima de tudo pela construção de identidades e
subjetividades.
Nessa linha de pensamento, pode-se inferir que o tratamento da
questão curricular deve ultrapassar os limites de seus componentes
estruturais, os quais ainda acomodam-se em uma estrutura racionalizada,
fechada e disciplinar.
Nas reflexões anteriores, fica muito clara a articulação do
currículo com diversas outras questões. Dentre elas, as questões
epistemológicas, sociais e identitárias. Minha questão, nesse momento, é
a seguinte: e na prática, a questão curricular leva em conta essas
preocupações? Numa postura bastante pessimista, eu diria que não, e
acrescentaria que ainda levaremos muito tempo para chegar a esse
patamar de entendimento. Mas, por que? Poderiam me perguntar?
270
Respondo da seguinte maneira: temos, ainda, muito cristalizados, em
nós, a concepção técnica racional do que seja currículo. A história
curricular nos mostra, claramente, essa realidade.
Currículo: um pouco de história
Na era contemporânea de nossa história, podemos constatar que
inúmeras e diferentes reformas foram propostas para o setor
educacional, sempre no papel de torná-lo funcional para a sociedade,
comprovando, assim, sua centralidade tanto na implantação de reformas,
quanto na conservação de construtos sociais.
Essa centralidade nada mais é do que o sintoma de uma das
grandes características dessa época: o “mito da educação”. Nessa
mitificação, a educação era a substituta da política e, portanto, vista
como a única via possível de operar na construção do homem e da
mulher modernos e na realização de uma sociedade orgânica mediante a
livre colaboração de todos (Cambi, 1999, p. 390). Mesmo passando por
inúmeras reflexões contrárias a esse modo de perceber a Educação, esse
mito, ainda hoje, encontra-se muito cristalizado em nosso contexto.
Nesse sentido, as preocupações em encontrar uma nova
maneira de fazer educação centralizavam-se em grandes questões e
dilemas, tais como: formar o trabalhador especializado ou proporcionar
uma educação geral? O que deveria ser ensinado? Que habilidades
básicas deveriam ser desenvolvidas? Preparar para se ajustar à sociedade
ou transformá-la? Preparar para a economia ou para a democracia?
No que concerne às teorias curriculares, saliento duas fortes
perspectivas: a que centralizou seus estudos nos componentes
271
curriculares, sem a preocupação em relacioná-los com a estrutura mais
ampla da sociedade e a que priorizou, em suas análises, a estreita relação
entre currículo e sociedade.
No entanto, uma questão aflora nesse momento. Se as teorias
curriculares, até então realizadas, movimentavam-se dentro de uma
estrutura societal marcadamente moderna, ora compartilhando, ora
criticando, em que medida tais teorias, ou ainda, tais categorias de
análise podem explicar a complexidade e os dilemas no entendimento da
questão curricular quando, em nossos dias atuais, percebemos fortes
indícios de uma transição do paradigma social?
Estamos conscientes que um novo diálogo entre a questão
curricular e a estrutura mais ampla da sociedade atual deverá ser pautado
na complementaridade de duas posturas: a primeira, embasada pela
vontade de encontrar novos caminhos que possam embasar um currículo
mais adequado às mudanças vertiginosas pela qual passa a sociedade e,
a segunda, pelo embasamento dessa vontade numa postura de cautela,
pois segundo Santos (2000, p. 15), a morte de um paradigma traz dentro
de si o paradigma que lhe há de suceder, todavia, essa passagem da
morte para a vida não dispõe de pilares firmes para ser percorrida em
segurança, pois a transição paradigmática é semi-cega e semi invisível.
No final dos anos sessenta, década caracterizada por turbulentas
transformações, tanto no plano político quanto no social, vimos o
aparecimento de publicações que questionavam o enfoque tradicional de
educação, bem como o questionamento das teorias que fundamentavam
a questão curricular até então.
272
Nesse ínterim, surge, então, uma nova maneira de olhar a
questão curricular, colocando em xeque os arranjos educacionais
existentes, sobretudo, as formas dominantes do conhecimento, abalando,
dessa maneira, a teoria educacional tradicional.
A publicação de Michael Young (1971) “destacava o caráter
socialmente construído das formas de consciência e de conhecimento,
bem como suas estreitas relações com estruturas sociais, institucionais e
econômicas” (Silva, 1999, p. 66).
Foi nesse movimento que os estudos curriculares encontraram
uma oxigenação para suas análises, aproveitando os insights provindos
dos novos aportes da Teoria Crítica, propondo-se a desenvolver novos
estudos sobre a questão curricular, levando em conta os contextos mais
amplos.
A preocupação principal de tais estudos gravita, basicamente,
na tentativa de desvelar os interesses e os jogos de força implicados no
currículo através de seus tão “inocentes” elementos técnicos: os
objetivos, os conteúdos e a avaliação.
Nas décadas de 80 e 90, a postura crítica curricular recorre a
outras categorias de análise, trazendo à discussão curricular, as questões
do multiculturalismo, do gênero, da sexualidade e dos estudos culturais,
dentre outros.
O esforço impetrado pelos teóricos pertencentes a esse enfoque
vem sendo na tentativa de redimensionar cada vez mais as categorias de
análise da relação entre o currículo e sociedade.
Entendemos que quando a teoria crítica curricular recorre à
sociedade mais ampla para compor sua teorização sobre os efeitos dessa
273
na estrutura curricular, o processo que se instaura é o da interlocução.
Sendo assim, o que está em jogo neste processo é o diálogo,
compreendendo como tal, sua acepção mais simples que aponta para o
entendimento com vistas à solução de problemas comuns, ou seja, a
partir de uma comunicação chegar-se a um entendimento, mediando,
cuidadosamente, as perdas e os ganhos.
Dialogando com o novo arranjo social
Colocar-se em diálogo com a reconfiguração social, significa
adotar uma postura de abertura, no sentido de reconhecer no núcleo dos
problemas, fontes de novas possibilidades e perspectivas. Desse modo,
como ponto de partida, podemos refletir sobre quatro noções que se
apresentam conflitantes na relação currículo e sociedade, mesmo
levando em conta que o novo contexto social se apresenta ainda,
segundo Santos (2000, p. 39), como uma sociedade intervalar, conotada,
sobretudo pela insegurança de apontar novos direcionamentos em
relação às referidas noções.
1. Noção do saber
Na ânsia da ordem e do controle, a perspectiva social moderna
busca elaborar teorias e explicações que sejam as mais abrangentes
possíveis, que reúnam, num único sistema, a compreensão total da
estrutura e do funcionamento do universo e do mundo social. Essa noção
exemplifica as grandes narrativas. Já o novo arranjo social se coloca
numa posição de profunda desconfiança em relação às pretensões
totalizantes desse saber.
274
2. Noções de razão e de racionalidade
Para o paradigma moderno essas duas noções eram os alicerces
na
busca
da
emancipação,
e
implicava,
por
um
lado,
no
desencantamento, na crítica da religião, da tradição, dos valores
herdados, sedimentados pela história e por outro, acreditava na fé, na
razão (em sua capacidade de fundar uma ordem racional) e na ciência
(como instância competente a transgredir o jugo do obscurantismo no
sentido de transformar a natureza para satisfazer às necessidades
materiais do homem e da mulher.
Para o novo arranjo, essas noções, ao invés de levar ao
estabelecimento da sociedade perfeita, leva ao pesadelo de uma
sociedade totalitária e burocraticamente organizada.
3. Noção de progresso
A rejeição à noção de progresso presente no novo arranjo social
baseia-se, sobretudo, na sensação de insegurança que hoje vivemos e
pode ser explicada pela grande assimetria entre a capacidade de agir e a
capacidade de prever.
Essa assimetria se explica pela absorção do pilar da
emancipação pelo pilar da regulação, sobretudo no que se refere ao
mercado, neutralizando, dessa forma, a possibilidade de uma
transformação social. Paralelo a isso, no que diz respeito ao pilar da
emancipação o que assistimos foi sua ênfase na ciência e na técnica,
tornando-as hiper-cientificizadas.
275
4. Noção de sujeito
Outro ataque à sociedade moderna é a questão do sujeito que se
apresenta livre, autônomo, centrado e soberano; ele é guiado unicamente
por sua razão e por sua racionalidade. Sua existência coincide com seu
pensamento. Na crítica dessa centralidade e autonomia, o novo arranjo
social coloca em dúvida essa perspectiva, considerando que o sujeito é
fragmentado e dividido, pois ele não pensa e nem fala; ele é pensado,
falado e produzido.
5. Noção de objetividade
Outra noção contestada pelo novo arranjo é o objetivismo,
noção dominante da sociedade moderna. Para o novo arranjo, baseado
na incerteza e no repúdio às afirmações categóricas, ele acena
positivamente para o subjetivismo das interpretações parciais e
localizadas.
Tais reflexões, ainda que incipientes, já se mostram capazes de
apontar a existência de uma crise na questão curricular. Se anteriormente
tal crise se efetivou pelo esgotamento em suas análises através dos
componentes puramente técnicos, hoje a crise se caracteriza em outros
patamares de discussão, tais como: fragmentação e totalidade, dicotomia
entre teoria e prática, noções de espaço e de tempo, organização do
conhecimento
escolar,
conhecimento
científico
e
conhecimento
empírico, criatividade e intuição, propriedade disciplinar, arbitrariedade
em relação ao recorte do conhecimento, conhecimento universal e
contextual, as noções de harmonia e conflito, flexibilidade estrutural do
currículo, a não hegemonia do contexto formal de formação etc...
276
Para finalizar minhas reflexões sobre a questão curricular,
parece-me que tratar dessa questão significa, acima de tudo, refletir
sobre a práxis. Além disso, para entendê-la de forma mais abrangente,
ampliando sua noção racionalizada e tecnocrata e desenlaçá-la de
análises puramente teóricas, é preciso adotar uma postura “relacional”
em sua análise, que segundo Apple (1982, p. 21), significa ver a
atividade do currículo como uma atividade social, ou seja, constituída e
entrecruzada de inúmeros fatores condicionantes. Em outras palavras
significa analisar a questão curricular de uma forma menos imediata e
menos naturalizante, recorrendo a fatos menos visíveis para a
compreensão dos condicionamentos que o constituem, como por
exemplo: qual é a nossa concepção de currículo? Em que alicerces
sociais ele se estrutura? Se o currículo constrói identidades e
subjetividades, que tipo de ser humano, queremos ter nos próximos
anos? Ou, quem é o beneficiado do currículo que nos propomos
efetivar? E por fim, o que o currículo legitima e o que ele exclui?
Bibliografia
APPLE, Michael. Ideologia e Currículo. Trad. Carlos Eduardo F
Carvalho. São Paulo: Brasiliense, 1982.
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. São
Paulo: Uneso, 1999.
POPKEWITZ, Thomas S. Reforma Educacional: uma política
sociológica – poder e conhecimento em Educação. Trad. Beatriz
Affonso Neves. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o
desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000.
SILVA, Tomaz Tadeu. Identidade terminais. São Paulo: Vozes,1996.
277
___. Documentos de Identidade: uma introdução àsx teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
278
EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO
279
ENTRE EPISTEMOLOGIA E HERMENÊUTICA - A
QUESTÃO DA RACIONALIDADE E DA HISTORICIDADE DO
CONHECIMENTO E O DEBATE SOBRE A TESE DA
COMPLEMENTARIDADE
Luiz Carlos Bombassaro∗
Esse texto apresenta uma reconstrução das principais linhas do
recente debate filosófico sobre a relação entre epistemologia e
hermenêutica, enfocando especialmente a questão da racionalidade e da
historicidade do conhecimento e suas implicações para o pensamento
filosófico atual.
Professor de Filosofia da Educação no Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.
Endereço eletrônico: [email protected]
280
A racionalidade e a historicidade do conhecimento
Uma das tarefas básicas da filosofia atual consiste em perseguir
a meta de esclarecer as diferenças conceituais entre os pressupostos
universal e necessariamente válidos e os pressupostos históricos e
contingencialmente condicionados da reflexão e da crítica. De acordo
com essa perspectiva, busca-se neste texto apresentar um esboço do
modo como é possível tratar o conhecimento enquanto questão filosófica
que necessita considerar tanto aspectos universais, lógicos e
epistemológicos, quanto aspectos factuais e históricos. As reflexões
sobre o problema da validade universal e da facticidade do
conhecimento, especialmente daquele produzido no âmbito da atividade
científica, passam a constituir assim o objetivo primeiro desta análise,
que visa especialmente contribuir para o debate em torno da questão da
racionalidade e da historicidade do processo cognoscitivo e de suas
implicações filosóficas, inclusive no âmbito da filosofia da educação.
O debate filosófico atual sobre o problema do conhecimento
está
firmemente
alicerçado
nas
pressuposições
em
torno
da
racionalidade e da historicidade inerentes ao ato humano de conhecer.33
33
Neste contexto temos em mente as decisivas e influentes reflexões filosóficas realizadas
por autores diversos, tais como Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer
wissenschaftlichen Tatsache (1935), Karl R. Popper, Die Logik der Forschung (1935),
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode (1960), Jürgen Habermas, Erkenntnis und
Interesse (1968), Michel Foucault, L’Archéologie du Savoir (1969), Stephen Toulmin,
Human Understanding (1972), Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions
(1972), The essential Tension (1977), Paul K. Feyerabend, Against Method: Outline of an
Anarchistic Theory of Knowledge, (1975), Imre Lakatos, Philosophical papers (1978),
Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (1979), Hilary Putnam, Reason,
Truth and History (1981), Richard Bernstein, Beyond Objetivism and Relativism: Science,
Hermeneutics and Praxis (1983), Charles Taylor, Philosophical Arguments (1995), entre
muitos outros. Sobre o tema, remeto também aos meus livros As fronteiras da
epistemologia (Petrópolis: Vozes, 3. ed., 1997) e Ciência e mudança conceitual: notas
sobre epistemologia e história da ciência (Porto Alegre: Edipucrs, 1995).
281
Esse debate conecta-se diretamente pelo menos com duas
importantes tradições filosóficas, que podem a grosso modo ser
identificadas como a tradição analítica e a tradição histórica, numa
perspectiva que foi defendida também por G. H. von Wright
(1971).
Mesmo se a identificação dessas duas tradições não pode ser entendida
de modo rigoroso, foi seguindo os debates que se realizaram entre
ambas que a questão da racionalidade e da historicidade do
conhecimento chegou a conquistar uma importância sem precedentes na
epistemologia das últimas décadas do século XX.
Se assumimos a idéia de que uma das questões filosóficas mais
marcantes da história do pensamento a partir da Renascença é o
conhecimento, como muito bem mostrou Ernst Cassirer (1906),
devemos reconhecer que a concepção filosófica que teve maior êxito na
Modernidade e foi assumida tanto pela tradição analítica quanto pela
tradição histórica é aquela de uma filosofia epistemologicamente
centrada. Essa idéia foi apresentada e defendida de modo muito
convincente por Richard Rorty (1979). No entender de Rorty, a
epistemologia constitui o centro da filosofia moderna. Considerada uma
disciplina própria para o tratamento reflexivo das questões relativas ao
conhecimento, a epistemologia chegou mesmo a dominar o discurso
filosófico da modernidade. Desse modo, as tradições filosóficas que
mencionamos deveriam a nosso ver ser consideradas tão somente
tradições epistemológicas. E isto pelo simples fato de terem assumido o
papel de dizer o que é, como se produz, qual a possibilidade, qual a
validade e qual o limite para o conhecimento. Desde logo, a pergunta
pela racionalidade e pela historicidade do conhecimento parece,
portanto, ter se tornado um privilégio da epistemologia. Em seu amplo
282
conjunto de temas, após a Renascença, a filosofia foi sendo
paulatinamente transformada numa ‘ancilla epistemologiae’.
No entanto, se de um lado a filosofia epistemologicamente
centrada conseguiu, mesmo que parcialmente, dizer em que consiste a
racionalidade, por outro ela não teve o mesmo êxito ao tratar da questão
da historicidade do conhecimento. Talvez porque esta não tenha sido
uma questão corretamente formulada ou, quem sabe, ela nem tenha sido
tratada como uma autêntica questão filosófica para os epistemólogos.
Para esclarecer o que pretendemos neste texto, convém recordar o ponto
chave dos debates desenvolvidos pelos epistemólogos e filósofos da
ciência especialmente a partir da segunda metade do século passado.
Esse ponto consistia na distinção sugerida por Hans Reichenbach entre o
‘contexto de descoberta’ e o ‘contexto de validação’ (1938). Para esse
mesmo fim, também pode servir de exemplo a discussão sobre o critério
de demarcação entre ciência e não-ciência apresentado pelo positivismo
lógico e radicalmente transformado por Karl Popper (1935; 1963). Em
ambos os casos, as concepções de racionalidade e historicidade do
conhecimento se mantém como o pano de fundo, o bastidor de
legitimidade, sobre o qual de desenvolveram as reflexões em torno do
problema do conhecimento. Seguindo a idéia de Reichenbach, por
exemplo, a filosofia analítica da ciência levantava fortes suspeitas
quanto ao significado dos elementos do assim chamado ‘contexto de
descoberta’, chegando mesmo a considerá-los irrelevantes para as
discussões epistemológicas. O ‘contexto de descoberta’ compreenderia
especialmente os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos, que
em nosso entender constituem uma das condições de possibilidade do
conhecimento. Mas, para a tradição analítica da filosofia da ciência
283
somente o ‘contexto de validação’ deveria ser tema da epistemologia. O
‘contexto de descoberta’ não seria nada mais nada menos do que um
mundo enigmático, sobre o qual as nossas afirmações não estariam
garantidas.
Frente a essa situação, o que fazer? Aceitar a idéia de que o
tratamento filosófico do problema do conhecimento envolve somente a
questão de sua racionalidade, ficando assim de lado a questão da sua
historicidade? Ou aceitar a idéia de que a historicidade do conhecimento
também se constitui num problema filosófico ao qual deve ser dada a
devida importância e, como conseqüência, adotar também a idéia de que
a epistemologia é insuficiente para podermos tratar adequadamente da
questão? Mas, caso respondessemos positivamente a esta última
pergunta, qual seria a conseqüência para a filosofia? Não estaríamos
com isso colocando a filosofia mesma num beco sem saída, já que a
insuficiência da epistemologia acabaria por trazer consigo o próprio
questionamento do núcleo duro da filosofia epistemologicamente
centrada? Como podemos ver, o relativismo e o anarquismo
metodológicos seriam uma espécie de último recurso para quem
quisesse assumir o risco de estar em desacordo com a ortodoxia da
filosofia analítica (1975; 1983).
As investigações de Popper sobre a lógica da pesquisa
desenvolveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela orientação
de Reichenbach. Assim, de acordo com Popper, seria difícil buscar
critérios lógicos capazes de garantir a racionalidade dos enunciados do
conhecimento científico sem permanecer restritos ao ‘contexto de
validação’. Desse modo, ele encontrou fortes argumentos para reforçar a
tese de que somente o ‘contexto de validação’ deveria ser considerado
284
como relevante para a epistemologia. Mas, por outro lado, Popper
(1972) não menosprezou a importância dos elementos atinentes ao
‘contexto da descoberta’, que foram assumindo um papel cada vez mais
importante não somente na discussão interna realizada pela tradição
analítica, mas também serviram para balizar as discussões entre as
diferentes tradições epistemológicas. Com isso, a questão da
historicidade do conhecimento foi se tornando cada vez mais presente e
significativa nos debates filosóficos até passar a constituir o centro
mesmo das discussões, como o demonstram os estudos de Thomas
Kuhn, Imre Lakatos, Stephen Toulmin, entre outros.34
A descrição da mudança conceitual feita por Kuhn, a descrição
das relações entre a filosofia e a história da ciência feita por Lakatos e a
descrição do uso coletivo dos conceitos feitas por Toulmin, sem contar
os resultados das investigações ‘arqueológicas’ de Michel Foucault e a
imensa contribuição oferecida pelas investigações da epistemologia
genética de Jean Piaget, passaram a constituir o amplo espectro sobre o
qual foi sendo elaborada a mais rigorosa argumentação em torno da
questão da historicidade do conhecimento. Especialmente quando
consideramos o caso de Kuhn, podemos dizer que a questão da
historicidade pressupõe uma análise dos fatos históricos da ciência e
especialmente o modo de funcionamento das comunidades de
investigação. Mas isso, por sua vez, pode nos dar a impressão de
estarmos nos afastando cada vez mais dos propósitos da epistemologia e
nos aproximando de modo inquestionável da psicologia, da sociologia e
34
Thomas Kuhn, The essential Tension: Selected Studies in Scientific. Tradition and
Change, Chicago, 1970; Imre Lakatos e Alan Musgrave (eds.) Criticism and the Growth
of Knowledge, Cambridge, 1970; Stephen Toulmin, Human Understanding, Princeton,
1972, Richard Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and
Praxis, Oxford, 1983.
285
da história. Ou seja, a análise da questão da historicidade do
conhecimento parece nos levar cada vez mais longe dos ideais
filosóficos sonhados pela tradição analítica, do positivismo lógico, do
neopositivismo, e do criticismo popperiano para nos acercarmos sempre
mais das perspectivas culturalistas, estruturalistas e pós-estruturalistas,
que passaram a dar o tom da discussão intelectual das últimas décadas
também no tocante à questão do conhecimento.
Se deixamos de argumentar com a perspectiva filosófica das
diferentes tradições da epistemologia atual, poderemos encontrar na
hermenêutica uma outra fonte de indagações sobre a questão da
racionalidade e da historicidade do conhecimento (Palmer, 1969). O
aparecimento da obra Wahrheit und Methode, de Hans-Georg Gadamer,
e os frutíferos debates que se seguiram, vieram a contribuir de modo
significativo para a reformulação das concepções da racionalidade e da
historicidade do conhecimento e da ciência defendidas pela filosofia
epistemologicamente centrada.35 Com isso, a instauração da perspectiva
da hermenêutica filosófica gadameriana alterou completamente o
conceito de método, um dos pilares da filosofia moderna. Inspirado na
filosofia de Dilthey, Husserl e Heidegger, Gadamer mostrou como é
possível estender o horizonte histórico no qual se produz a própria
filosofia. O resultados desses debates levou a ampliação dos horizontes
do pensamento filosófico e estabeleceu novas relações entre as
disciplinas filosóficas, entre a epistemologia e a hermenêutica. 36 Nesse
35
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960. Sobre a questão da
influência da tradição humanista na educação, ver especialmente a análise hermenêutica
do conceito de Bildung (Formação), ver cap. 1, 2a.
36
Hans-Georg Gadamer, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt am Main,
1976; Hans-Georg Gadamer & Gottfried Boehme, Seminar: Die Hermeneutik und die
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 1978.
286
sentido, a hermenêutica filosófica de Gadamer não pode ser considerada
uma mera reflexão sobre os critérios metodológicos capazes de garantir
a validade do conhecimento. Noutras palavras: a proposta gadameriana
não pode ser confundida com uma metodologia científica. No tocante a
essa questão, Gadamer assim se expressou já no parágrafo de abertura
de seu livro:
So drängt das Problem der Hermeneutik schon von
seinem geschichtlichen Ursprung her über die
Grenze hinaus, die durch den Methodenbegriff der
modernen Wissenschaft gesetzt sind. Verstehen und
Auslegen von Texten ist nicht nur ein Anliegen der
Wissenschaft, sondern gehört offenbar zur
menschlichen Welterfahrung insgesamt. Das
hermeneutische
Phänomen
ist
ursprünglich
überhaupt kein Methodenproblem. Es geht in ihm
nicht um eine Methode des Verstehens, durch die
Texte einer wissenschaftlichen Erkenntnis so
unterworfen
werden,
wie
alle
sonstige
Erfahrungsgegenstände. Es geht in ihm überhaupt
nicht in erster Linie um den Aufbau einer
gesicherten Erkenntnis, die dem Methodenideal der
Wissenschaft genüngt – und doch geht es um
Erkenntnis und um Wahrheit auch hier. Im
Verstehen der Überlieferung werden nicht nur Texte
verstanden, sondern Einsichten erworben und
Wahrheiten erkannt (1960, p. XIII).
Levar a sério essas palavras de Gadamer é suficiente para que
não tenhamos ilusões de encontrar na hermenêutica uma nova
epistemologia, já que o que caracteriza a hermenêutica não é uma
questão metodológica. Mas isso também não significa que não existam
fortes ligações entre a posição gadameriana e as posições sustentadas
por
epistemólogos
contemporâneos
no
tocante
à
questão
da
287
racionalidade e da historicidade do conhecimento. Como se explica
isso? Quando tomamos a epistemologia num sentido amplo, isto é,
quando não a reduzimos ao tratamento tão somente do ‘contexto de
validação’ dos enunciados produzidos pela ciência, então podemos
facilmente identificar suas ligações com a hermenêutica, porque tanto
para a epistemologia quanto para a hermenêutica o conhecimento se
torna uma questão filosófica fundamental. Mas é preciso deixar claro
que Gadamer rechaça a idéia da pretensão de universalidade da
metodologia científica imposta à filosofia pela sobrevalorização da
ciência moderna. Para dizê-lo de outro modo, Gadamer não concorda
com o reducionismo cientificista produzido pelo pensamento filosófico
moderno devido ao assombroso êxito da ciência, reducionismo sobre o
qual a própria epistemologia encontrou a sua auto-justificação. Numa
breve avaliação sobre essa posição do autor de Wahrheit und Methode,
podemos afirmar que Gadamer pertence àquele grupo de filósofos, cuja
prática filosófica permanece consoante com a sua própria teoria do
filosofar, isto porque para ele a filosofia é uma espécie metateoria. É
claro que muitos dos temas por ele tratados são muito bem conhecidos
pela tradição filosófica, mas sua síntese e seu desdobramento em uma
hermenêutica filosófica representou uma conquista valiosa, que veio
enriquecer teórica e praticamente as mais variadas perspectivas de
diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, vale destacar uma
característica especial de suas reflexões, qual seja, a ênfase nos fatores
pré-compreensivos do conhecimento, que servem e comandam o
processo cognoscitivo. Através de seu concretismo epistemológico, a
reflexão da hermenêutica filosófica gadameriana deixou claro qual a
importância da consideração das condições fáticas para uma análise do
conhecimento e, ao mesmo tempo, com isso, mostrou a necessidade de
288
uma ampliação da problemática clássica da epistemologia.
Essa passagem apresenta indícios claros dos elementos que
vinculam a epistemologia à hermenêutica. Para mostrar a validade do
discurso filosófico, a posição de Gadamer funda-se na atitude reflexiva e
crítica, que dá por pressuposto o caráter pré-predicativo da
compreensão. Assim, e somente assim, o programa da hermenêutica
filosófica pode ir mais além da simples consideração dos dogmas do
empirismo presentes nas concepções cientificistas e possibilita a
inserção dos resultados das investigações realizadas no âmbito da
fenomenologia. Nesse sentido, a atitude crítica de Gadamer representa,
ao nosso ver, o ponto mais forte de rechaço da perspectiva filosófica
epistemologicamente centrada. Esse rechaço foi muito bem descrito pelo
estudioso da obra de Gadamer, quando afirma:
Também é evidente a ligação da hermenêutica
filosófica com o assim chamado movimento
fenomenológico, com seu anti-cientificismo, antinaturalismo e anti-positivismo. Uma marca do anticientificismo é a imputação à ciência e à técnica de
que elas teriam produzido a crise contemporânea da
cultura européia, por ter aceito a sugestão quanto à
sua capacidade de resolver, de modo monopolizante
e definitivo, todos os problemas da humanidade.
Um traço característico do anti-naturalismo é a
manutenção de um mundo da vida diferente e
autônomo em relação ao mundo científico, um
mundo da vida entendido de maneira antipsicológica como um a priori originário e universal
de todo o conhecimento, o fundamento da filosofia
e, por fim, o sentido da ação humana. As categorias
de historicidade e lingüísticidade acentuam a
estrutura formal e de conteúdo desse mundo vital.
Um sinal do anti-positivismo é o destaque das
289
funções práticas da hermenêutica filosófica. A
filosofia não é uma ciência teorética como as
ciências empíricas. Ela tem a tarefa de auxiliar o
homem a encontrar uma resposta à pergunta
fundamental sobre o sentido da vida (Bronk, 1988,
p. 403).
Se consideramos a pergunta pelo conhecimento como uma
questão filosoficamente significativa, então podemos dizer que depois
da contribuição de Gadamer a discussão sobre a racionalidade e a
historicidade deve trilhar outros caminhos. Quando aceitamos a
perspectiva gadameriana, estamos assumindo também as conseqüências
das reflexões da fenomenologia de Husserl e Heidegger sobre o
conhecimento e a ciência. Por isso, podemos dizer que, desde a
perspectiva instaurada pela hermenêutica gadameriana, estudar as
questões da racionalidade e da historicidade do conhecimento nos leva
para além das fronteiras da epistemologia.37
O debate sobre a tese da complementaridade
A partir da segunda metade do século XX, especialmente após
a publicação de Wahrheit und Methode, de Gadamer, a hermenêutica
passou a ocupar um lugar central no cenário das discussões filosóficas.
Além disso, as discussões mais recentes sobre a racionalidade e a
historicidade do conhecimento contam com o aporte não somente de
filósofos, mas também de cientistas das mais diversas áreas de
conhecimento, tais como a biologia, a psicologia, a etnologia, etc.
37
Para uma análise mais detalhada dessa questão, ver especialmente L. C. Bombassaro,
As fronteiras da epistemologia – Como se produz o conhecimento. Petrópolis: Vozes,
1992; Charles Taylor, Philosophical Arguments. Harvard University Press, Cambridge,
1995.
290
Nessas discussões, os filósofos vinculados à hermenêutica filosófica não
têm um lugar privilegiado, como era o caso dos epistemólogos na
filosofia moderna, mas eles também são convidados a participar de um
processo de conversação no qual se entrelaçam a ciência e a
hermenêutica.38 Além disso, ainda mais produtivos têm sido os debates
em torno da possibilidade de vinculação entre a hermenêutica e os
estudos da história da ciência. Nesse aspecto, as contribuições dadas por
diferentes pensadores mostram como é possível estudar, por exemplo, a
questão da mudança conceitual na história da ciência a partir da
perspectiva sugerida pela hermenêutica filosófica. Como veremos, esse
é sem dúvida um ponto essencial para compreender em que medida o
aporte reflexivo trazido pela hermenêutica faz avançar a compreensão
no tocante ao desenvolvimento do conhecimento.
As análises das contribuições teóricas e também metodológicas
que a hermenêutica proporciona ao tema em questão foram amplamente
analisadas por Karl-Otto Apel (1973) e Richard Rorty (1979), entre
outros. Apel em seu Transformation der Philosophie e Rorty em seu
amplamente difundido livro Philosophy and the Mirror of Nature
propuseram, cada um ao seu modo, o que nos últimos anos passou a se
chamar tese da complementaridade entre epistemologia e hermenêutica.
Apesar das diferenças a partir das quais cada um deles estrutura a sua
argumentação, diferenças que não cabe analisar aqui, tanto Apel quanto
Rorty estão plenamente de acordo com uma afirmação básica: a
epistemologia somente pode tratar dos elementos inerentes aos aspectos
38
Sobre as relações entre ciência e hermenêutica a bibliografia é vasta. Como referência
permitimo-nos citar Gadamer, Hans-Georg & Boehme, Gottfried (Orgs.), Seminar: Die
Hermeneutik und die Wissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978;
Bubner, Rüdiger, Cramer, Konrad & Wiehl, Rainer (Orgs.), Hermeneutik und Dialetik,
Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1970.
291
metodológicos e normativos do conhecimento, em especial do
conhecimento científico. Isto significa que, uma vez mais, o vínculo da
epistemologia com as questões da racionalidade permanece evidente.
Mas, o que fazer se os aspectos relativos à historicidade do
conhecimento não podem ser o tema da epistemologia? Tomar o
caminho da filosofia analítica da ciência seria uma das saídas possíveis.
No entanto, ainda que não os devêssemos descartar, os aspectos
relativos à historicidade não poderiam ser sobrepassados pela
consideração dos aspectos normativos e metodológicos. Por isso, uma
boa alternativa para tratar da questão da historicidade do conhecimento
consistiria em assumir a posição que aceita a tese da complementaridade
proposta por Apel e Rorty. Mas em que exatamente consiste a tese da
complementaridade? Não seria absurdo falar de complementaridade
entre duas áreas tão distintas, entre dois âmbitos tão diferentes da
atividade filosófica como a epistemologia e a hermenêutica?
Apel e Rorty não desconhecem o sentido profundo dessas
perguntas, pois quando falam da tese da complementaridade eles
reconhecem que
muito freqüentemente a epistemologia e a
hermenêutica têm sido efetivamente consideradas âmbitos filosóficos
distintos, às vezes até antagônicos, com seus problemas e métodos
específicos. Essa situação foi muito bem descrita por Rorty, quando em
seu livro afirma:
The usual way of treating the relation between
hermeneutics and epistemology is to suggest that
they should divide up culture them – with
epistemology taking care of the serious and
important ‘cognitive’ part (the part in wich we meet
our obligations to rationality) and hermeneutics
charged with everything else (Rorty, 1979, p. 319).
292
Em nosso entender, os restos da cultura não tratados pela
epistemologia se caracterizariam como os elementos constitutivos da
historocidade do conhecimento. Embora possa ser considerada um tanto
caricatural, a descrição das funções da epistemologia e da hermenêutica
que Rorty nos apresenta expõe de modo muito claro o problema que
enfocamos a partir da distinção entre racionalidade e historicidade.
Nesse sentido, o esforço teórico do autor de Philosophy and the Mirror
of Nature consiste em denunciar precisamente a atitude dualista que está
na base da filosofia do conhecimento e que separa a hermenêutica da
epistemologia.
Quando examina as contribuições de Wittgenstein, Heidegger e
Gadamer para a filosofia do século XX, também Apel concorda que a
epistemologia e a hermenêutica foram entendidas como dois modos
distintos de tratar as questões relativas ao conhecimento.39 Mas, no
entender de Apel, a raiz dessa dicotomia tem uma origem histórica bem
determinada, pois pode ser encontrada na tematização da diferença
metodológica entre as ciências da natureza (Naturwissenschaften) e as
ciências do espírito (Geisteswissenschaften) produzida pelas reflexões
realizadas no contexto da Escola Histórica alemã no final século XIX e
assumida, mesmo que parcialmente, pelo neopositivismo na primeira
metade do século XX. De acordo com a argumentação de Apel, na
perspectiva da Escola Histórica, foi Dilthey quem afirmou que deveria
existir uma diferença metodológica fundamental entre as ciências.
Enquanto a explicação causal constituiria o padrão metodológico das
39
Ver especialmente Karl-Otto Apel, ‘Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf
einer Wissenschaftslehre in erkenntnisanthropologischer Sicht’, in Transformation der
Philosophie, II, pp. 96-127.
293
ciências da natureza, a compreensão deveria caracterizar o método
próprio para a investigação para as ciências do espírito. A diferença
entre as ciências se resumiria, portanto, a uma diferença entre métodos,
que por sua vez, assumia como elemento fundante a distinção entre
explicar (erklären) e compreender (verstehen). Desse modo, a separação
entre
epistemologia
e
hermenêutica
acompanhava
a
diferença
metodológica entre a explicação das ciências empírico-formais e a
compreensão das ciências humanas. Apel, entretanto, afirma que essa
distinção metodológica entre a explicação causal e a compreensão não
pode ser mantida, uma vez que a compreensão, como bem mostrou
Gadamer, não pode ser reduzida a uma questão de
método. Por
conseguinte, seguindo o argumento de Apel, poderíamos afirmar que a
distinção entre as ciências naturais e as ciências humanas também estava
fundada em bases duvidosas. Na verdade, todo o problema residia no
fato de que Dilthey, no âmbito da Escola Histórica, associou a
hermenêutica com uma metodologia científica.
Diante disso, Apel procurou elaborar um novo projeto de
investigação filosófica no qual as questões da racionalidade e da
historicidade do conhecimento poderiam ser melhor tratadas. Segundo o
autor de Transformation der Philosophie, o tratamento adequado da
racionalidade e da historicidade somente seria possível
mediante o
assumir de uma perspectiva gnoseo-antropológica, a partir da qual se
poderia reunir a epistemologia, a hermenêutica e a crítica das ideologias
(Apel, 1979, p. 97). Além disso, Apel sugere que a complementaridade
entre as diferentes perspectivas filosóficas estaria garantida por uma
mediação dialética. Nesse sentido, ao se falar da conjunção entre
explicação e compreensão se estaria superando a separação entre as
294
ciências explicativas da natureza e as ciências compreensivas do
espírito. No projeto apeliano não se trata de afirmar a prioridade da
explicação frente à compreensão, como ocorrera em toda a história do
pensamento filosófico epistemologicamente centrado da modernidade.
Tampouco trata-se de considerar a compreensão prioritária frente à
explicação. Trata-se simplesmente de aceitar que entre explicar e
compreender existe uma relação de auto-constituição, como se ambas as
perspectivas fossem dois lados de uma mesma moeda, dois modos
cognoscitivos diferentes mas inseparáveis. Assim, mesmo quando Apel
enfatiza a manifestação da compreensão como uma condição de
possibilidade da explicação, não se deve esquecer de acrescentar que,
pelo menos quando se trata da análise da questão do conhecimento que
se manifesta em nossas proposições e nos enunciados científicos, a
compreensão somente se mostra quando a explicação se efetiva. Noutras
palavras, não somente a explicação pressupõe a compreensão, mas
também a compreensão não pode prescindir da explicação.
O problema da mediação entre explicar e compreender também
foi tratado intensivamente por Paul Ricoeur (1970). De acordo com o
hermeneuta francês, a superação do dualismo metodológico exposto
acima torna-se possível com a introdução do conceito de texto. Ao
responder à pergunta, o que é um texto?, Ricouer (1970, p. 181) afirma
que um texto nada mais é que o conjunto de todos os discursos escritos.
E quando perguntado sobre o que está escrito no texto, Ricouer dirá
somente que no texto estão inscritos todos os discursos. Para ele, é
somente quando somos confrontados com a leitura do texto que surgem
as diferentes atitudes metodológicas às quais havia se referido Dilthey.
Recordemos, nesse ponto, que também Dilthey teve em mente a idéia de
295
um mundo histórico como um texto a ser lido, decifrado e interpretado.
E mesmo que não possamos discordar das afirmações de Ricouer, uma
questão parece permanecer sem solução: será possível considerar a
natureza como um texto? No sentido em que Ricoeur entende o conceito
de texto, seguramente não é possível incluir a natureza e seus
fenômenos. É evidente que a primeira preocupação de Ricoeur não é a
estratégia metodológica que permite a investigação da natureza, mas
para nós a busca de um novo conceito de interpretação, em seu sentido
mais amplo, também deveria incluir o que especialmente no pensamento
filosófico da Renascença e na era moderna se tem chamado
‘interpretatio naturae’. Isso demandaria um exame não somente do uso
lingüístico dessa expressão no seu contexto histórico, mas também uma
análise do sentido que ela assumiria neste mesmo contexto, analisando
assim seus aspectos pragmáticos e semânticos. Nesse sentido, vale a
pena recordar, por exemplo, que a investigação da natureza foi
considerada uma leitura. O objetivo da investigação consistia em
interpretar o ‘livro da natureza’, um livro que no entender de Galileu
Galilei estava escrito em caracteres matemáticos e em figuras
geométricas.
Mediante
uma
perspectiva
de
complementaridade
metodológica, a expressão metafórica de Galileu talvez mostrasse mais
que um simples recurso estilístico e retórico.
Como podemos perceber, a pergunta sobre a possibilidade de
mediação entre explicar e compreender pode nos levar a reexaminar as
raízes do pensamento filosófico moderno. Nesse sentido, a discussão
sobre a tese da complementaridade metodológica reflete a produtividade
da reflexão filosófica levada a cabo no último século, chegando mesmo
a ultrapassar as fronteiras da filosofia. Se pensarmos somente no
296
desenvolvimento teórico da sociologia, devemos reconhecer com Max
Webber (1956) que o uso dos conceitos de explicação e compreensão
não podem ficar restritos à filosofia. Em seu esforço intelectual, Webber
apresentou a idéia de que seria possível uma mediação entre as duas
perspectivas metodológicas através da introdução da categoria
‘explicação compreensiva’, inaugurando assim toda uma tradição de
investigação, que viria a ser conhecida como ‘sociologia compreensiva’.
No entanto, a tentativa weberiana de estabelecer uma tal metodologia
parece carecer de uma validade mais ampla, uma vez que acaba por se
reduzir unicamente ao âmbito das ciências sociais. Assim, outra vez, a
pergunta pela possibilidade de uma interpretação hermenêutica das
ciências naturais torna-se ineficaz, mesmo se a distinção introduzida por
Dilthey permaneça reverberando nas mentes dos filósofos do século XX
ocupados com a questão do método.
Dentre
as
tentativas
de
estabelecer
uma
relação
de
complementaridade entre explicação e compreensão e, por conseguinte,
de estabelecer e esclarecer os vínculos entre hermenêutica e
epistemologia, cabe ressaltar ainda aquela realizada por Thomas
Haussmann (1991). Em seus estudos sobre os fundamentos das ciências
históricas, Haussmann faz um levantamento exaustivo e aprofundado da
história do uso dos conceitos explicar e compreender, discutindo as
contribuições, as implicações e as diferenças de concepção sustentadas
tanto pelos epistemólogos quanto pelos hermenêutas. De acordo com o
autor de Erklären und Verstehen, a possibilidade de mediação entre os
métodos da explicação causal e da compreensão somente pode ser
efetivada através da pragmática. Nesse aspecto, ele alinha-se à
argumentação também assumida por Apel e Rorty.
297
Nesse sentido, a defesa da tese da complementaridade entre
epistemologia e hermenêutica tem se mantido até hoje como uma
questão filosófica em aberto. Embora não se possa negar as diferentes
tentativas de sua efetivação no âmbito da prática da investigação, fato é
que os maiores avanços quanto ao entendimento da tese permanecem
restritos a um nível teorético. As contribuições de Apel, Rorty,
Haussmann e outros estiveram concentradas em formular e esclarecer os
pressupostos gerais da aplicação da complementaridade metodológica.
Por isso, a partir das reflexões sobre a tese da complementaridade, ainda
mais recentemente uma outra dupla de conceitos ganhou importância:
conversação
e
entendimento.
Para
Apel,
por
exemplo,
a
complementaridade metodológica deixa o âmbito da pura possibilidade
para se tornar efetiva quando se considera e se reconhece, como o fez
Thomas Kuhn, que toda ciência é produzida por uma comunidade de
investigação desde sempre ancorada na interpretação. No entender de
Apel, nessas comunidades de investigação tem lugar uma interação que
visa a um acordo intersubjetivo resultante de um processo de
conversação que se realiza entre os participantes do discurso.40
Por outro lado, também Rorty havia afirmado que a busca de
um acordo entre os participantes de um discurso é a pré-condição para a
realização da tese da complementaridade. Porém, no entender de Rorty,
o acordo pressupõe que a epistemologia seja superada pela
hermenêutica.41 Na verdade, Rorty distingue dois níveis de acordo. Num
40
Sobre o tema, além do já citado livro de Apel, tornou-se refrência a obra de Jürgen
Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
1981.
41
Cfe. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton
University Press, 1979. Mais recentemente, a mesma linha de argumentação foi levada
ainda mais adiante por Charles Taylor, ‘Overcoming Epistemology’ in Kenneth Baynes,
James Bohmann, and Thomas McCarthy, eds., After Philosphy, MIT Press., Cambridge,
298
primeiro nível, o acordo realiza-se dentro do âmbito de cada uma das
perspectivas metodológicas. Somente num segundo nível, o acordo pode
envolver participantes das diferentes perspectivas. No primeiro nível, os
investigadores encontram especificidades que não podem ignorar. Para o
autor de Philosophy and the Mirror of Nature, o acordo produzido no
âmbito da epistemologia, por exemplo, dá por pressuposto um terreno
comum a todos os participantes do processo de conversação, terreno
comum que está garantido mediante a comensuração dos pontos de
vista, da partilha das teorias. De modo inverso, na hermenêutica o
acordo é o resultado da conversação e da argumentação entre os
participantes do discurso, como se ela não pressupusesse um conjunto
de elementos comuns aos participantes do discurso. Nesse sentido, o
processo de constituição do acordo na epistemologia é diferente daquele
que se realiza na hermenêutica. Rorty chega mesmo a afirmar que na
epistemologia o acordo é sempre necessário, enquanto na hermenêutica,
mesmo que seja sempre desejado, nem sempre é alcançado. Na
epistemologia, importante é o resultado ao qual se chega depois da
comensuração dos pontos de vista; na hermenêutica o que importa não é
tanto o resultado, mas antes o próprio processo no qual se realiza a
conversação. Aqui a conversação é o que interessa, independentemente
do fato de ela levar ou não ao acordo. Como diz Rorty, na hermenêutica
trata-se muito mais de saber como se processa a conversação do que de
saber o que ela produz. Na epistemologia, onde o acordo deve ser a
conquista a qualquer preço, não está em primeiro lugar o modo como se
realiza a conversação, mas sim o resultado que se conseguiu com ela.
Assim, a polêmica diferença entre epistemologia e hermenêutica
1987. [Reimpresso em Richard Taylor, Philosophical Arguments, Harvard University
Press, Cambridge, 1995, pp. 1-19].
299
somente poderia ser superada num segundo nível, quando propriamente
se daria a interação entre comunidades de investigação que partilhassem
perspectivas metodológicas diferentes. Mas quando fala desse segundo
nível Rorty não traz nenhuma contribuição valiosa para provar a tese da
complementaridade, afirmando que a possibilidade da conversação e do
acordo entre hermeneutas e epistemólogos não passam de uma
esperança. Nesse sentido, Rorty não indica, como o faz Apel, uma via de
realização efetiva da complementaridade entre as duas perspectivas
metodológicas.
Desse modo, das reflexões de Apel e Rorty em torno da tese da
complementaridade, que aqui somente esboçamos, podemos concluir
que existem pelo menos duas possibilidades de entender a relação entre
epistemologia e hermenêutica. Na primeira, como argumentou Rorty, a
epistemologia deveria ser ultrapassada pela hermenêutica e a
complementaridade ganharia um sentido de superação. Em outras
palavras, a epistemologia seria incorporada pela hermenêutica. Na
segunda, seguindo a argumentação de Apel, a epistemologia e a
hermenêutica poderiam complementar-se através de um processo de
mediação realizado em base pragmática. Em nosso modo de ver, uma tal
mediação pode ser demonstrada quando se procede a uma investigação
da mudança conceitual que se realiza na história da ciência. Se
pensamos na história da ciência não somente como uma coleção de
informações sobre o fáctico, mas também como o lugar no qual se
realiza a interpretação, então nos parece muito plausível que as idéias da
conversação e do acordo possam ser melhor esclarecidas, porque
somente então poderíamos verificar como racionalidade e historicidade
operam conjuntamente. Nesse sentido, a investigação dos casos de
300
mudança conceitual constituem o campo no qual podemos mostrar o
ponto de intersecção entre epistemologia e hermenêutica. E este é, sem
dúvida, um ponto essencial, pois somente assim a tese da
complementaridade pode ser assumida como uma questão filosófica.
Bibliografia
APEL, Karl-Otto. Transformation der Philosophie, Frankfurt am
Main, Suhrkamp Verlag, 1973.
_____. Die Erklären-Verstehen-Kontroverse, Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 1979.
BRONK, Andrzej. Rozumienie, dzieje, jezyk: filozoficzna
hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin: Red. Wydawnictw KUL, 1988.
CASSIRER, Ernst. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und
Wissenschaft der Neueren Zeit. Berlin, 1906.
GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960.
HAUSSMANN, Thomas. Erklären und Verstehen: Zur Theorie und
Pragmatik der Geschichtswissenschaften. Frankfurt am Main, Suhrkamp
Verlag, 1991.
PALMER, Richard. Hemeneutics: Interpretation
Schleiermacher, Dilthey e Heidegger, Evanston, 1969.
Theory
in
POPPER, Karl R. Conjectures and Refutations: The Growth of
Scientific Knowledge, London, 1963.
_____. Die Logik der Forschung. Wien, 1935.
_____. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford,
1972.
REICHENBACH, Hans. Experience and Prediction. Chicago, 1938.
RICOEUR, Paul. Qu'est-ce qu'un texte? In: Hermeneutik und
Dialektik II, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1970.
RORTY, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton,
1979.
301
WEBBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr,
1956.
WRIGHT, Georg Henrik von. Explanation and Understanding. New
York, 1971.
302
A RELAÇÃO ENTRE EPISTEMOLOGIA À HERMENÊUTICA:
UMA ANÁLISE A PARTIR DA FILOSOFIA DE RICHARD
RORTY∗
Altair Alberto Fávero∗
Introdução
A epistemologia foi considerada, na filosofia moderna, uma
espécie de centro da própria filosofia: a epistemologia como a principal
contribuição da filosofia a uma cultura científica. Enquanto a ciência
teria por função obter conhecimento a partir da investigação e do
domínio da natureza, cabia a filosofia, enquanto epistemologia, validar
tais conhecimentos. Entretanto, esse papel central da epistemologia entre
em crise a partir de uma crítica endereçada a idéia de filosofia enquanto
fundamento de todo e qualquer conhecimento. Não são poucos os
Texto publicado em CANDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei (orgs). Filosofia e
Ensino: um diálogo transdisciplinar. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004, p. 245-256.
∗
Doutorando da UFRGS, professor e pesquisador do Curso de Filosofia da Universidade
de Passo Fundo e assessor do Núcleo de Educação para o Pensar (NUEP). Endereço
eletrônico: fá[email protected]
303
autores que passam a constituir suas críticas a idéia de uma filosofia
epistemologicamente centrada. É nesse cenário que se localiza a
discussão em torno da relação entre epistemologia e hermenêutica.
A relação entre Epistemologia e Hermenêutica situa-se no
contexto contemporâneo, na tentativa de estabelecer possíveis pontes
que
possam
superar
determinados
limites
encontrados
pela
epistemologia no século XX. Tais limites poderiam ser identificados no
contexto do pensamento atual naquilo que poderíamos chamar “crise da
modernidade”. Esta “crise” é em primeiro lugar uma crise de sentido e
conseqüentemente do valor de todas as coisas. É todo o sentido do
mundo do passado, sobretudo, de sua forma moderna que está sendo
posto em questão.
A crise cultural em que vivemos, é a crise contra a razão, contra
a ilustração, contra um modelo de racionalidade que se auto-frustrou na
tentativa de dizer o mundo. No dizer de Oliveira “a crítica da razão
instrumental desenvolvida pela modernidade desemboca numa crítica à
modernidade entanto tal, e, em última análise, numa crítica à própria
razão, que é vista como instrumento de repressão” (1995, p. 7). Sergio
Paulo Rouanet identifica esta crise a partir de três facetas que, segundo
ele, estão interligadas. Trata-se da crise da razão, da modernidade e da
ilustração. A crise da razão se manifesta a partir do irracionalismo que, a
partir de uma certa leitura de Foucault, Deleuze e Lyotard, e sob a
influência de um neonietzscheanismo que vê relações de poder em toda
parte, “considera a razão o principal agente da repressão, e não o órgão
da liberdade” (Rouanet, 1987, p.12).
Não são poucos os pensadores que poderiam ser indicados na
tentativa de diagnosticar a crise da modernidade. Nietzsche, Lukács,
304
Adorno, Horkheimer, Foucault, Marcuse, Derrida, Deleuze, Habermas
são apenas alguns autores que poderiam ser listados na longa nominata
que compõe os críticos da modernidade. Entretanto, com a finalidade de
delimitar nossa investigação tomaremos Richard Rorty como referencial
de análise para situar tal problemática.
Nos propomos, no presente texto, abordar a análise que Rorty
faz da filosofia contemporânea a partir da relação entre a epistemologia
e a hermenêutica. No primeiro tópico de nossa análise partimos da
concepção
de
filosofia
epistemologicamente
centrada
que
se
desenvolveu na modernidade a partir do cogito cartesiano e do
sensualismo de Locke e que encontrou em Kant a sua maturidade
enquanto disciplina fundamental. No segundo tópico, analisamos a
aproximação e distinção entre epistemologia e hermenêutica feita por
Rorty de maneira sistemática no VII capítulo do livro Filosofia e o
espelho da natureza42. No último tópico analisaremos a distinção feita
por Rorty entre filosofia sistemática e filosofia edificante e o papel da
filosofia e dos filósofos a partir dessa perspectiva.
A filosofia epistemologicamente centrada
Em seu livro Filosofia e o espelho da natureza, escrito em 1979
e considerado um clássico no pensamento contemporâneo, Rorty
introduz uma importante discussão filosófica em torno do conhecimento
que acabou repercutindo em diversas áreas do saber, além dos limites da
academia. Tal discussão resultou como conseqüência a indicação de
42
RORTY, Richard. Filosofia e o espelho da natureza. Trad. Antônio Trânsito. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 1994. A partir daqui utilizaremos a sigla FEN para abreviar a
referida obra.
305
caminhos que apontam para a superação de alguns dos impasses em que
o pensamento contemporâneo se encontra do ponto de vista
epistemológico e metodológico. A tese central de Rorty consiste em
mostrar como a filosofia moderna foi em grande parte dominada por
uma idéia básica: o pressuposto de que a mente se caracteriza por
espelhar a natureza, o que garantiria a possibilidade do conhecimento,
da representação correta da realidade. Sendo assim, a epistemologia é
adotada como área central da filosofia. a tarefa primordial da filosofia
consistiria, neste contexto, na fundamentação e na legitimação do
conhecimento e das teorias científicas. “Conhecer é representar
acuradamente o que está fora da mente; assim, compreender a
possibilidade e natureza do conhecimento é compreender o modo pelo
qual a mente é capaz de construir tais representações” (FEN, p.19).
O ponto central, desenvolvido por Rorty em Filosofia e o
espelho da natureza, é a desconstrução sistemática dos conceitos chaves
tanto dos filósofos modernos (ligados a idéia de filosofia da consciência)
quanto da filosofia analítica. Neste sentido Rorty não só critica os
filósofos da tradição racionalista continental, quanto, igualmente critica
os filósofos devedores da tradição inglesa. Segundo ele, ambas as
tradições centralizaram a idéia de filosofia na epistemologia, ou seja,
igualmente desenvolveram uma concepção filosófica centrada no
conhecimento como representação ou reprodução, no espelho mental, do
mundo exterior à mente. Para Rorty, o representacionismo é o núcleo
central no qual se desenvolveu a filosofia moderna.
Rorty quer superar as metáforas dominantes relativas à mente e
ao conhecimento por julgar estarem vinculadas a uma idéia equivocada
da filosofia, própria de toda a tradição moderna. O alvo de sua crítica
306
dirige-se à filosofia da representação, fundacionista ou essencialista, que
pensam o conhecimento como correspondência à realidade e restauram,
sucessivamente, ao longo dos séculos, a metafísica dos dualismos
(universalismo-relativismo;
objetivismo-subjetivismo;
racionalismo-
irracionalismo). Para ele, não existe um ponto de Arquimedes, superior e
exterior ao diálogo humano, a partir do qual poderíamos deduzir os
critérios indiscutíveis e finais de verdade, justiça e beleza. A verdade,
assim como os juízos éticos e estéticos, são produtos precários e
provisórios dos debates e embates densos, agonísticos e incessantes, de
atores históricos concretos, em contextos sociais determinados. É nesse
contexto que ele propõe um exercício filosófico que poderíamos intitular
“da epistemologia à hermenêutica”.
Rorty fundamenta sua tese a partir do paradigma da “virada
epistemológica” iniciada no século XVII e que tem em Kant seu
principal expoente. Tal “virada” representa “a demarcação da filosofia
em relação à ciência e foi tornada possível pela noção de que o cerne da
filosofia era a teoria do conhecimento, uma teoria distinta das ciências
porque era seu fundamento” (FEN, p.140). A metafísica teria sido
desbancada pela física se Kant não tivesse transformado-a em teoria do
conhecimento (uma disciplina fundamental). “A filosofia tornou-se
‘primária’ não mais no sentido de ‘mais elevada’, mas no sentido de
‘subjacente’” (FEN, p. 140). Na visão de Rorty, foi isso que salvou a
filosofia na era da Ciência, uma vez que ela deixa de ser a “rainha das
ciências” (antiga noção metafísica de filosofia) e passa a ser uma
disciplina “mais básica”, uma disciplina responsável pelos fundamentos,
uma disciplina “fundamental”. Nesta perspectiva kantiana, a filosofia
passa a trilhar um novo projeto: “Esse projeto de aprender mais sobre o
307
que podíamos conhecer, e como podíamos conhecê-lo melhor estudando
como nossa mente funciona, iria ao final ser batizado de epistemologia”
(FEN, p.145). Entretanto, segundo Rorty, a expressão teoria do
conhecimento (epistemologia) só se tornou corrente e ganhou
respeitabilidade depois que Hegel deixou de dominar o cenário
intelectual da Alemanha. Para o hegelianismo a relação da filosofia com
as outras disciplinas era de que a primeira, “de algum modo tanto
completava como engolia as outras disciplinas em vez de as basear”
(FEN, p.143).
Rorty (FEN, pp. 144-146) descreve o processo que possibilitou
a filosofia, enquanto epistemologia, atingir a autocerteza no período
moderno, dessa maneira: A invenção da mente feita por Descartes, deu
aos filósofos um novo terreno onde pisar, pois proporcionou um campo
de inquirição que parecia ‘prévio’ aos temas sobre os quais os filósofos
antigos haviam tido opiniões. Nesse campo interior a certeza, enquanto
oposta à mera opinião, era possível. Em Locke, a mente tornou-se
assunto-tema de uma ‘ciência do homem’, ou seja, a epistemologia
enquanto estudo de como nossa mente funciona. Com Locke ocorre a
criação de uma disciplina preocupada em descobrir a natureza, a origem
e os limites do conhecimento humano. Entretanto Locke comete uma
confusão entre explicação e justificação, uma confusão fundamental
entre os elementos do conhecimento e as condições do organismo
(fisiologia) para o conhecimento. O ‘sensualismo’ de Locke acabou não
sendo o candidato talhado para ocupar a vaga de “rainha das ciências”
da velha metafísica. Somente com Kant a filosofia é posta ‘na trilha
segura de uma ciência’ uma vez que este reconciliou a afirmação
cartesiana de que apenas podemos ter certeza sobre nossas idéias com o
308
fato de que tínhamos certeza (conhecimento a priori) sobre o que
parecia não serem idéias. É através da revolução copernicana feita com
Kant, ou seja, com a noção de que apenas podemos saber a priori sobre
objetos se os constituímos, que a ‘epistemologia’ como disciplina atinge
a maioridade. Com isso, a filosofia enquanto epistemologia, torna-se
autoconsciente e autoconfiante. A epistemologia torna-se assim uma
disciplina suporte capaz de descobrir características ‘formais’ de
qualquer área da vida humana e os professores de filosofia capacitados a
se verem presidindo um tribunal da razão pura, capaz de determinar se
outras disciplinas estavam se mantendo dentro dos limites legais
estabelecidos pela estrutura do espírito do conhecimento.
A distinção e aproximação entre epistemologia e hermenêutica
Rorty inicia o VII capítulo de A filosofia e o espelho da
natureza esclarecendo que sua intenção não é apresentar a hermenêutica
como substituta da epistemologia, mas sim demonstrar que a
hermenêutica poderá constituir-se numa expressão de esperança na
ampliação do horizonte no qual se concebe a produção e validação do
conhecimento. Nas palavras do próprio Rorty:
quero deixar claro desde o início que não estou
colocando a hermenêutica como um ‘objeto
sucessor’ da epistemologia, como uma atividade que
preenche a vaga cultural outrora preenchida pela
filosofia epistemologicamente centrada. Na
interpretação que estarei oferecendo, ‘hermenêutica’
não é o nome de uma disciplina, nem de um método
para alcançar o tipo de resultados que a
epistemologia não conseguiu alcançar, nem de um
309
programa de pesquisa. Pelo contrário, hermenêutica
é uma expressão de esperança em que o espaço
cultural deixado pela extinção da epistemologia não
seja preenchido – de que a nossa cultura se tornasse
tal que a exigência de restrição e confrontação não
mais seja sentida (FEN, p. 311-312).
Na seqüência da argumentação, Rorty vai apresentando as
distinções e possíveis aproximações entre epistemologia e hermenêutica.
A epistemologia parte do pressuposto de que “para sermos racionais,
para sermos plenamente humanos, para fazermos o que deveríamos,
precisamos ser capazes de encontrar a concordância com outros seres
humanos. Construir uma epistemologia é encontrar a quantidade
máxima de terreno comum com os outros” (FEN, p. 312). Nesse sentido,
a epistemologia deposita sua esperança na possibilidade de uma
racionalidade comum onde os participantes de um determinado discurso
são unidos por interesses mútuos para alcançar um fim comum. Em tal
concepção, ser racional “é encontrar um conjunto apropriado de termos
para os quais todas as contribuições deveriam ser traduzidas, se for
necessário que a concordância se torne possível” (FEN, p. 314).
A
hermenêutica,
diferentemente
da
epistemologia,
não
pressupõe um terreno comum entre interlocutores de uma conversação,
mas deposita sua esperança na concordância ou discordância
interessante e frutífera que poderá resultar de uma interlocução. Para a
hermenêutica, “ser racional é estar disposto antes a assimilar o jorgão do
interlocutor que traduzi-lo para o próprio” (FEN, p. 314). Sendo assim,
os interlocutores são unidos, não por uma meta comum, nem por
estabelecer um terreno comum, mas pela civilidade.
310
Epistemologia e hermenêutica têm sido tratadas de modo usual
como sendo duas maneiras de dividir a cultura: a epistemologia tomaria
conta da parte séria e cognitiva da cultura e a hermenêutica se
encarregaria do restante. Para Rorty, tal divisão parte do pressuposto que
o conhecimento, no sentido estrito, deve ter um logos e que este só pode
ser dado pela descoberta de um método de comensuração. Sendo assim,
tudo aquilo que pode ser comensurado requer “os cuidados da
epistemologia e, inversamente, o que a epistemologia não consegue
tornar comensurável é estigmatizado como meramente subjetivo” (FEN,
p. 316). Os conceitos de ciência normal e ciência revolucionária,
utilizados por Thomas Kuhn, em sua obra A estrutura das revoluções
científicas, são elucidativos para compreender a crítica que Rorty faz ao
modo usual de tratar a relação entre epistemologia e hermenêutica. O
discurso normal “é aquele que é conduzido dentro de um conjunto
combinado de convenções sobre o que conta como uma contribuição
relevante. (...) O discurso anormal é aquele que acontece quando se
ajunta ao discurso, alguém que seja ignorante a respeito dessas
convenções ou as coloque de lado” (FEN, p. 316). A epistemologia é o
produto do discurso normal sobre o qual se pode concordar que é
verdadeiro ou falso para todos os participantes considerados “racionais”.
A hermenêutica é o estudo de um discurso anormal desde o ponto de
vista de algum discurso normal. A partir dessa perspectiva, conclui
Rorty, “a linha entre os respectivos domínios da epistemologia e da
hermenêutica não é uma questão de diferença entre as “ciências da
natureza” e as “ciências do homem”, nem entre fato e valor, o teórico e
o prático, nem entre “conhecimento objetivo” e algo escorregadio e mais
dúbio. A diferença é puramente de familiaridade”(FEN, p. 317). Sendo
assim, seremos epistemológicos onde compreendemos perfeitamente
311
bem o que está acontecendo e hermenêuticos onde não compreendemos
o que está acontecendo. O entendimento se dá não porque tínhamos
descoberto algo sobre a natureza do conhecimento humano, mas por nos
“acostumarmos” a uma determinada prática que perdurou por um tempo
necessário para constituirmos determinadas convenções.
Um novo papel para a filosofia e para os filósofos
Compreender a relação entre epistemologia e hermenêutica tem
profundas implicações na tarefa de definir a identidade e o papel do
filósofo e da filosofia no mundo atual. Para Rorty as noções atuais do
que é ser filósofo e por conseqüência, seu papel e o papel da filosofia,
estão intimamente ligados à tentativa kantiana de tornar comensuráveis
todas as afirmações de conhecimento. Nessa tentativa, seria “difícil
imaginar o que seria a filosofia sem a epistemologia, ou seja, seria difícil
imaginar que qualquer atividade tivesse direito de levar o nome de
‘filosofia’ se nada tivesse a ver com conhecimento – se não fosse em
algum sentido uma teoria do conhecimento, ou um método de obter
conhecimento, ou ao menos uma pista sobre onde alguma espécie
supremamente importante de conhecimento poderia ser encontrada”
(FEN, p. 351). Tal concepção exige do ser humano a tarefa de espelhar
com precisão o universo que está ao nosso redor.
Para Rorty esse retrato clássico de ser humano precisa ser
colocado de lado “antes que a filosofia epistemologicamente centrada
possa ser colocada de lado” (FEN, p. 351). É nesse contexto que entra a
hermenêutica, como tentativa de deixar de lado esta concepção de
filosofia epistemologicamente centrada. Rorty busca em Verdade e
312
Método de Gadamer “a redescrição do homem que tenta colocar o
retrato clássico dentro de um maior e, assim, antes de distanciar a
problemática filosófica padrão do que oferecer um conjunto de soluções
às mesmas” (FEN, p. 352). Gadamer consegue separar a noção
romântica de homem como auto-criativo substituindo a noção de
conhecimento por autoformação (Bildung) onde “o modo como as coisas
são ditas é mais importante do que a posse de verdades” (FEN, p. 353).
Rorty utiliza o conceito de “edificação” para representar o
projeto de encontrar modos novos, melhores, mais interessantes, mais
fecundos de falar. “A tentativa de edificar (a nós mesmos e os outros)
pode consistir na atividade hermenêutica de estabelecer conexões entre a
nossa própria cultura e alguma cultura ou período histórico exóticos, ou
entre nossa própria disciplina e outra disciplina que pareça perseguir
alvos incomensuráveis num vocabulário incumensurável” (FEN, p. 354).
Trata-se, portanto, da tentativa de criar um discurso anormal que nos tire
para fora de nosso velhos eus pelo poder da estranheza, para ajudar-nos
a nos tornar novos seres. Nesse sentido, a busca da verdade ou do
conhecimento objetivo, é apenas um projeto humano entre muitos
outros.
Com a finalidade de expor com mais clareza a possível conexão
entre epistemologia e hermenêutica, quase no final de A filosofia e o
espelho da natureza, Rorty faz uma distinção detalhada entre filosofia
sistemática e filosofia edificante: a primeira encontra-se centrada na
epistemologia; a segunda abre amplos espaços para a hermenêutica; na
primeira o trabalho é essencilamente construtivo; na segunda o trabalho
é essencilamente reativo e só tem sentido em oposição à tradição. A
filosofia sistemática encontra-se na corrente principal da tradição
313
filosófica ocidental que Rorty denomina de paradigma do conhecer. A
filosofia edificante localiza-se na periferia da história da filosofia
moderna e tem como principal característica, a desconfiança da noção de
que a essência do homem é ser um conhecedor de essências. Os autores
que postulam tal filosofia “freqüentemente são acusados de relativismo
ou cinismo. Freqüentemente são dúbios em relação ao progresso, e
especialmente em relação à última afirmação de que tal-e-tal disciplina
finalmente tornou a natureza do conhecimento humano tão clara que a
razão irá agora alastrar-se através do resto da atividade humana” (FEN,
p. 361).
Assim
como
Rorty
caracteriza
distintamente
filosofia
sistemática e filosofia edificante, também faz uma distinção entre
filósofos sistemáticos e filósofos edificantes. Os grandes filósofos
sistemáticos são constitutivos e oferecem argumentos. Como os grandes
cientistas, constroem para a eternidade e desejam colocar seu tema na
trilha segura de uma ciência. De outro lado, os filósofos edificantes “são
reativos e oferecem sátiras, paródias, aforismas. Sabem que seu trabalho
perde o propósito quando o período contra o qual estão reagindo já
terminou. São intencionalmente periféricos e destroem em benefício de
sua própria geração. Desejam manter o espaço aberto para o sentido de
admiração que os poetas podem causar as vezes” (FEN, p. 363).
Os filósofos edificantes podem ser vistos como parceiros da
conversação em que a sabedoria é pensada não como argumentação,
mas como amor, e cuja realização não consiste em encontrar o
vocabulário correto para apresentar a essência, mas postular uma
sabedoria prática necessára para participar numa conversação. Trata-se
de ver a filosofia “como a tentativa de prevenir a conversação que
314
degenera em inquirição, em um programa de pesquisa” (FEN, p. 366). É
por isso que os filósofos edificantes nunca podem erigir a filosofia como
sistema, pois ela nunca termina e deve ser retida para que não alcance a
trilha segura da ciência. Nesse sentido, “a hermenêutica é sempre
parasítica em relação à possibilidade (e talvez em relação à efetividade)
da epistemologia (...). Insistir em ser hermenêuticos onde bastaria a
epistemologia (...) não é loucura, mas mostra uma carência de educação”
(FEN, p.359-360).
Nessa linha de argumentação, Rorty propõe uma Filosofia sem
espelhos onde o conhecer não deve ser buscado como tendo uma
essência a ser descrita por cientistas ou filósofos, mas antes um direito,
pelos padrões correntes, de acreditar na possibilidade da conversação
como contexto último dentro do qual deve ser compreendido. Uma vez
encetado esse processo, muda nosso foco de relação entre seres
humanos e os objetos de inquirição para a relação entre padrões
alternativos de justificação que compõe a história intelectual. A
hermenêutica, neste contexto, “não é outro modo de conhecer –
compreender enquanto oposto à explicação (preditiva). É vista melhor
como outra maneira de lidar” (FEN, p. 349).
No texto A filosofia e o Futuro43, Rorty compartilha com a
concepção de Dewey de que “teremos de dispensar todas as tentativas de
tornar a filosofia uma atividade tão autônoma quanto ela havia sido
antes dos filósofos começarem a levar o tempo a sério” (FF, p. 134). O
filósofo, diante desse novo papel da filosofia, tornar-se-ia então uma
43
RORTY, Richard. A filosofia e o futuro. IN Pragmatismo: A filosofia da criação e da
Mudança. (Organizadores) Cristina Magro e Antonio Marcos Pereira. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2000, pp.125-142. A partir daqui utilizaremos a sigla FF para abreviar o
referido texto.
315
espécie de trabalhador braçal e de profeta, ou seja, alguém capaz de
mesclar a tarefa de limpar “certos resíduos” do passado e anunciar
propostas futuras. Tal papel é semelhante o que foi descrito por Bacon e
Descartes, quando associavam o desejo de livrar-se de resíduos
aristotélicos e incorporavam visões utópicas do futuro. Para Rorty,
“parar de se preocupar com a autonomia da filosofia significa, entre
outras coisas, parar de querer estabelecer linhas muito claras para
distinguir questões filosóficas de questões políticas, religiosas, estéticas
ou econômicas” (FF, p.135). Com isso a preocupação não pode mais se
localizar na idéia de manter a filosofia num estado de pureza, ou de
trata-la como se fosse uma disciplina no topo da hierarquia das
disciplinas, mas o de construir pontes entre as nações e de tomar
iniciativas cosmopolitas. Para que isso ocorra, diz Rorty, os professores
de filosofia precisam encontrar uma maneira de evitar três grandes
tentações: “o anseio revolucionário de ver a filosofia como um agente de
mudança, ao invés de vê-la como um agente de reconciliação; o anseio
escolástico de confinar-se às fronteiras disciplinares; e o anseio
chauvenista44” (FF, p.138). Para Rorty, tais tentações serão evitadas se
adotarmos a concepção que Dewey tinha do papel e da função dos
filósofos, a saber “um trabalho de reconciliação do velho com o novo, e
de nossa função profissional como sendo a de servir de intermediários
honestos entre gerações, entre áreas de atividade cultural e entre
tradições” (FF, p.138). Trata-se de uma espécie de cosmopolitismo
multicultural e heterogêneo que não se corporifica em status de
corporações, ou de organismos internacionais como a ONU ou a
44
Por chauvenismo, entende Rorty, é o risco da filosofia restringir-se a particularidades ou
nacionalidades. Diz Rorty: “Ocasionalmente, vemos filósofos dizendo que o seu país, ou a
sua região, requer uma filosofia particular: que cada nação precisa de uma filosofia
própria, para expressar sua própria e única experiência, do mesmo modo que precisa de
uma bandeira e de um hino nacional”.
316
UNESCO. O cosmopolitismo pensado por Rorty se associa “a imagem
de uma democracia planetária, uma sociedade na qual a tortura ou o
fechamento de uma universidade ou um jornal nos causarão tanta revolta
se acontecerem do outro lado do mundo quanto se acontecerem em
nosso país” (FF, p.139). Os filósofos para Rorty não estarão na
vanguarda dessa utopia, mas ocuparão um papel periférico, menor,
porém útil na sua criação. Farão o papel de mediação entre a linguagem
igualitária e as linguagens explicitamente descriminatórias de muitas
tradições culturais diferentes. Trata-se, enfim, de uma função de
persuadir homens e mulheres para que se tornem livres. Sendo assim, a
grande função dos filósofos, segundo Rorty, é serem servos da
democracia.
Bibliografia
OLIVEIRA, Manfredo A. Filosofia na crise da modernidade. São
Paulo: Loyola, 1995.
RORTY, Richard. Filosofia e espelho da natureza. Trad. Antônio
Trânsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
_______. A filosofia e o futuro. IN: Pragmatismo: a filosofia da criação
e da mudança. (Organizadores) Cristina Magro e Antonio Marcos
Pereira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, pp.125-142.
ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.
317
EDUCAÇÃO SEM EPISTEMOLOGIA: A FILOSOFIA
EDIFICANTE DE RICHARD RORTY
Vitor Hugo Mendes∗
Este trabalho propõe-se a uma aproximação ao pensamento de
Richard Rorty, um dos mais eminentes representantes do neopragmatismo americano, considerando, particularmente, sua obra A
filosofia e o espelho da natureza e, colocando em destaque, as
proposições que se referem ao debate sobre a filosofia e a educação,
temas cuja importância, continuam a provocar interesse, tensões e
polêmicas.
Introdução
A conversação teórica contemporânea tem sido submetida à
difícil tarefa de tematizar o sentido plural de todas as coisas, fenômeno
que alcançou, ao longo do último século, do milênio passado, as mais
diversas instâncias do pensar e do agir humano.
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Doutorando
do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
Bolsista da CAPES. Instituição: UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque – SC.
Endereço eletrônico: [email protected]
318
Ao que parece, no bojo do movimento crítico que impugnou
uma idéia de razão monológica e solipsista, alicerçada sob a marca de
uma filosofia da consciência, na modernidade ocidental, emergiram
múltiplas racionalidades e, desde aí, uma variedade de novas abordagens
teóricas e metodológicas ensaiando interlocuções diferençadas com as
tensões e problemas do nosso tempo.
Essa flexibilização da razão e o abandono de convenções
epistemológicas e metafísicas de conceitos tais como conhecimento,
verdade, objetividade, etc., terminaram por fazer ruir a arquitetônica dos
fundamentos e princípios que davam sustentação e legitimidade aos
empreendimentos normativos e teleológicos da cultura ocidental.
No enfrentamento de questões antigas e novas, a pretensão de
verdade cedeu lugar a acordos compulsórios e consensos mitigados ad
hoc em um caleidoscópio social cujas possibilidades são de múltiplas
variáveis em uma aventura cheia de surpresas.
A busca por compreender este contexto de uma babel
polifônica e fragmentária, tem movimentado o mercado editorial e a
produção teórica de muitos autores/as. Se de um lado, inscrevem-se
nesta trajetória, entre outras, posições revisionistas, ao estilo de Jürgen
Habermas e sua teoria da ação comunicativa, que embora reconhecendo
os percalços e contradições da razão ocidental, compreende a
modernidade como um projeto inacabado e prosseguindo na tradição de
Kant, Hegel e Marx, não sem considerar as contribuições advindas da
filosofia da linguagem, tem buscado reconstruir uma racionalidade
possível em nossos dias como fundamento da sociedade; de outro,
proliferam posicionamentos que buscando romper com as tradições e o
corolário de suas conquistas, ao estilo de Richard Rorty, em tons
319
pragmáticos assumem o contextualismo e a redescrição na esperança de
um futuro melhor para a humanidade.
Querendo adentrar na complexidade destas muitas questões,
neste trabalho interessa-nos aprofundar o pensamento de Richard Rorty,
certamente o maior expoente do neo-pragmatismo americano. Autor de
vasta e fecunda produção teórica, muitos são as possibilidades de
inserir-se no contexto de sua obra. Neste sentido, buscando acompanhar
o desenvolvimento de seu pensamento em A filosofia e o espelho da
natureza, sob nossa atenção subscrevemos a filosofia e a educação,
questões de grande relevância na discussão do filósofo americano.
Ademais disso, filosofia e educação são temas de primeira
grandeza no debate atual, cuja freqüência, sob as mais diversas formas,
obrigatória em qualquer agenda ou fórum de discussão social, não
obstante os sismos porque tem passado, continuam a provocar interesse,
tensões e polêmicas. A posição de Rorty e os seus encaminhamentos não
se mostram menos controvertidos.
Filosofia Americana: do pragmatismo ao neo-pragmatismo
Por muitos anos, o movimento expansionista e colonialista do
velho mundo circunscreveu, modelou e administrou, de modo
planificado e hegemônico, o cenário econômico, político e cultural do
novo mundo.
Mesmo a partir das disputas e guerras que delinearam a
emancipação, a independência e a organização autônoma de antigas
colônias, a satelização destas, parecia uma condição prévia a ser
preservada e a dependência sócio-cultural uma hipoteca impagável.
320
Somente sob sôfregos esforços e outras tantas manobras, ao longo dos
últimos séculos, a América tem conseguido angariar algum saldo de
reconhecimento,
autonomia
e
expressar,
além
fronteiras,
suas
possibilidades.
Este panorama, mesmo sem individuar as descontinuidades e as
muitas faces de um problema, outrora, comum e compartilhado,
permite-nos, ao menos, chamar a atenção em entrever os seus diferentes
encaminhamentos no percurso da história, suas atuais configurações na
sociedade globalizada e os seus desdobramentos sob o registro de um
neo-colonialismo. Por sua vez, em se tratando de particularizar o
presente estudo, muito embora as peculiaridades do caso, esta breve
retrospectiva pode ajudar-nos a perceber o tipo de dificuldades e o
significado do florescimento da filosofia norte-americana, na segunda
metade do século XIX, de modo a compor, com particular solidez, um
corpus teórico para o pragmatismo e projetá-lo como corrente de
pensamento cuja tradição, embora recente, no contexto da história das
idéias, passou a freqüentar o âmbito da filosofia com a mesma
envergadura de ancestrais tendências européias.
Considerado a contribuição mais significativa dos Estados
Unidos à filosofia ocidental, o pragmatismo teve forte incidência nas
duas primeiras décadas do século XX. Entre os seus principais
expoentes
encontramos
Charles
Sanders
Peirce
(1839-1914),
considerado o fundador e Willian James (1842-1919), a quem se atribui
o exigente trabalho de sistematização. Em continuidade está John
Dewey (1859-1952), conhecido pensador, cuja a influência nas práticas
pedagógicas no final do século XIX, dado a sua militância e
321
engajamento político, não deixou de afetar a intelectuais e a opinião
pública.
Embora a sua pujança, neste período, nas décadas seguintes,
após a morte de Dewey, em um movimento que já se iniciara nos anos
30, com a chegada à América de muitos intelectuais europeus, fugitivos
da diáspora e perseguição nazista, o pragmatismo foi perdendo a sua
importância. Instaurava-se um positivismo lógico monopolizador e,
posteriormente, o desenvolvimento e o influxo sobressaliente da
filosofia
analítica,
nas
universidades
americanas,
relegou
definitivamente a nova tendência de pensamento a uma posição
periférica, senão obsoleta.
Não obstante o teor crítico das reações de Willard van Orman
Quine (1908), Wilfrid Selars (1912-1989) e Donald Davidson (1917) à
situação que se havia imposta, somente nos anos 70 o pragmatismo foi
reabilitado, em grande parte, mediante o empreendimento teórico de
Richard Rorty, considerado o mais eminente representante do neopragmatismo americano e um dos pensadores mais polêmicos do nosso
tempo.
Richard McKay Rorty, nasceu nos Estados Unidos, em 1931.
Filho único, sua família manteve proximidade com as idéias socialistas
trotskistas, mesmo tendo rompido os laços com o Partido Comunista
Americano, em 1932. Em sua formação acadêmica Rorty estudou
filosofia em Chicago e Yale tendo alcançado um particular domínio
teórico-metodológico seja das correntes filosóficas seja dos seus
vocabulários técnicos. Por sua vez, em sua trajetória profissional, o
filósofo americano tem mantido um diálogo muito estreito com a área
322
pedagógica e, em seus escritos, tem buscado tematizar a educação a
partir de sua filosofia “edificante”.
Perseguindo uma justificativa que pudesse dar unidade entre
realidade e justiça, Rorty fez-se, desde muito cedo, um leitor assíduo da
filosofia em moldes platônicos. Embora um certo desconforto porém,
inábil para estabelecer um contra-argumento àqueles fundamentos, por
um certo tempo foi impossível passar incólume a crença e a reverência.
Por sua vez, tendo avançado em seus estudos, a constância de
inquietações e incertezas quanto à filosofia que, sem encontrar
acomodação, tensionavam com as certezas e a eternidade das idéias,
foram sendo processadas em um afastamento teórico que, ancorados em
um amplo e erudito diálogo com diferentes concepções de pensamento,
permitiram a Rorty um salto qualitativo em suas investigações.
Segundo relata o próprio autor, em Trotsky e as orquídeas
selvagens,
Cerca de vinte anos depois de ter decidido que o desejo do
jovem Hegel, de parar de se esforçar pela eternidade e ser apenas um
filho do seu tempo, era a
resposta mais adequada para minhas
desilusões com Platão, eu me vi retornando a Dewey. Nessa época
Dewey me parecia ser um filósofo que havia aprendido tudo o que
Hegel tinha para ensinar sobre como evitar a certeza e a eternidade e
que, ao mesmo tempo, havia me imunizado contra o panteísmo ao levar
Darwin a sério. Essa redescoberta de Dewey coincidiu com meu
primeiro encontro com Derrida, que devo a Jonathan Arac, meu colega
de Princeton. Derrida me fez retomar Heidegger, e fiquei surpreso com
as semelhanças entre as críticas ao cartesianismo feitas por Dewey,
Heidegger e Wittegenstein. E, de repente, as coisas começaram a se
323
ajustar. Eu acreditava ter descoberto um modo de misturar uma crítica
ao cartesianismo com um tipo de historicismo quase-hegeliano de
Michel Foucault, Ian Hacking MacIntyre. Eu pensava que podia
combinar tudo isso numa narrativa-heideggeriana sobre as tensões
internas do platonismo (Rorty, 2000, p.160).
Este exercício de distanciamento-ruptura que caraterizou o
percurso acadêmico de Rorty, não apenas pavimentou o caminho na
direção de retorno ao pragmatismo deweyano, ponto de partida em sua
auto-recriação mas, sobretudo, demarcou e cunhou o esboço de sua
ousada e irreverente perspectiva teórica, trajetória sistematizada em A
filosofia e o espelho da natureza, obra publicada em 1979, e traduzida,
no Brasil, em 1994.
Os efeitos produzidos pela publicação de sua filosofia, nos final
dos anos 70, alcançou a Rorty o reconhecimento de sua performance
como intelectual e, na mesma medida, o protagonismo em desestabilizar
a monotonia no âmbito da reflexão norte americana, até então,
subjugada pelo predomínio e isolamento com que reinava a perspectiva
analítica, cuja pretensão de superioridade e ademais estreitamento de
visão, havia perdido o contato com as questões emergentes que
fecundavam o pensamento filosófico no continente europeu.
Neste contexto, cabe dizer, a obra de Rorty mostrou-se não
apenas a crítica de uma situação circunscrita, em seu país, tampouco,
podia significar a mera disputa por um espaço no grande debate em
nível intercontinental; mas, ao transgredir tais limites não sem
considerá-los, em termos propositivos e iconoclastas, antecipou-se em
apresentar suas proposições resolutivas para os impasses em questão.
Segundo parece, ao resgatar o pragmatismo, o filósofo americano, a seu
324
modo, redescreveu uma tradição a partir da qual pode passar em revista,
entre outros, não menos que a história do pensamento ocidental, que
devidamente sanitarizado, em toda a sua extensão, finalmente pode ser
oferecido com fins terapêuticos antiplatônicos e anti qualquer ortodoxia
cujo apelo representacional e fundacionista pudesse ser dirigido.
Não sem motivos Rorty, em sua posição intelectual, tem
procurado manter-se eqüidistante da esquerda e da direita, embora tenha
o merecimento de atrair contra si os desafetos destes e daqueles. Neste
embate, reconhece: “eu sou sempre citado por guerreiros da cultura
conservadora como um desses intelectuais relativistas, irracionalistas,
desconstrutores, escarnecedores e sarcásticos, cujos escritos estão
enfraquecendo a fibra moral da juventude” (Rorty, 2000, p. 145). Se a
hostilidade da esquerda advém de o neopragmatismo rortyano parecer
complacente com a convicção proselitista americana de que seus
horizontes democráticos são, indiscutivelmente, o melhor tipo de
sociedade já inventada; o revés da direita arma-se em atacá-lo pela sua
desconsideração de que a sociedade democrática está edificada sobre
princípios e fundamentos que encarnam a verdade e a razão.
Buscando contornar tais apologias que pouco diferenciam,
segundo Rorty, esquerda e direita, sua posição compartilha dos ideais
democráticos e da esperança de um futuro melhor para a humanidade.
Entretanto, o seu abandono de qualquer pretensão em ver o presente
como recurso heurístico que permita objetivação e prescrição de
verdades essenciais do passado, faz romper possíveis cristalizações e
tendências universalizantes.
325
A filosofia e o espelho da natureza
Como
já
indicamos,
o
longo
processo
de
pesquisa,
amadurecimento e publicação das teses defendidas por Rorty em A
filosofia e o espelho da natureza (1979), representou uma acurada
inserção no mundo da filosofia45. Nestas circunstâncias, o filósofo
americano, em sua obra, estabelece um diálogo com inúmeros autores,
distintos períodos históricos e outras tantas vertentes do pensamento
filosófico. Crítico e irreverente, sua ortodoxia, aqui entendida como
rigor metodológico, imprime-se unicamente em conduzir sua forma
redescritiva de uma filosofia que se pretende como terapêutica.
Tal como propõe o título do livro, sua intenção é confrontar a
filosofia e a concepção de espelho da natureza, metáfora que, segundo
Rorty, impregnou a história do pensamento ocidental, cadenciada que
foi, na configuração da modernidade, pelo compasso de uma
epistemologia centrada na noção de “mente”.
Os equívocos desta epopéia, temas recorrentes na tessitura
argumentativa de Rorty, se orientam em esclarecer as condições em que
se constituiu um tipo linear, progressivo e cumulativo no tratamento de
problemas filosóficos, cujo encaminhamento e resolução de suas
variantes, tornou-se a meta predominante até nossos dias.
Segundo Rorty,
45
Em busca de uma “filosofia sem espelhos”, aspecto de onde surge o caráter
“terapêutico” de sua proposta, o autor organiza sua obra, um complexo temático
organizado didaticamente em três grandes partes, – a saber, Nossa essência especular,
Espelhamento, Filosofia –, subdivididas em oito capítulos, perfazendo um total de 386
páginas.
326
A imagem que mantém cativa a filosofia
tradicional é a da mente como um grande espelho,
contendo variadas representações – algumas
exatas, outras não – e capaz de ser estudado por
meio de métodos puros, não empíricos. Sem a
noção de mente como espelho, a noção de
conhecimento como exatidão de representação
não teria sido sugerido. Sem esta última noção, a
estratégia comum a Descartes e Kant – obter
representações mais exatas ao inspecionar, reparar
e polir o espelho, por assim dizer – não teria feito
sentido. Sem essa estratégia em mente,
afirmações recentes de que a filosofia poderia
consistir em “análise conceitual”, ou “análise
fenomenológica”,
ou
“explicação
de
significados”, ou exame da “lógica de nossa
linguagem” ou da “estrutura da atividade
constitutiva da “consciência” não teriam feito
sentido (Rorty, 1994, p. 27).
A redescrição de Rorty não deixa de reconhecer a importância
das questões suscitadas pela filosofia em seus distintos contextos,
porém, querer estabelecer qualquer tipo de conexão necessária entre elas
é, para o autor, uma ambição desmedida e absurda, tal como aconteceu
com o nivelamento que vem de Platão a Kant, subssumidos pela
metáfora da visão, o “olho da mente”.
Segundo o filósofo, esta imagem, mais do que o argumento, a
fantasia mais do que as evidências, estão presentes nos deslocamentos
que possibilitaram a “invenção da mente”, por Descartes, e a noção de
“teoria do conhecimento”, prefaciada por Locke, magistralmente
realinhados no transcendental “tribunal da razão pura”, do qual Kant, no
século XVIII, tornou-se o grande artífice.
É no alcance destes feitos, minunciosamente garimpados entre
os seus muitos elementos, que a redescrição de Rorty converge, para o
327
que podemos chamar de um divisor de águas decisivo no âmbito da
filosofia. Segundo o autor,
na época de Kant, portanto, parecia como se
existissem dois fundamentos alternativos para o
conhecimento – era preciso escolher entre a versão
interiorizada das Formas, idéias claras e distintas
cartesianas, por um lado, e “impressões” humeanas
por outro. Em ambos os casos estava-se escolhendo
objetos pelos quais ser compelido. Kant, ao rejeitar
a ambos esses objetos putativos como
essencialmente incompletos e impotentes para
compelir, a não ser combinados entre si em
“síntese”, foi o primeiro a pensar sobre os
fundamentos do conhecimento mais como
proposições que como objetos. Antes de Kant, uma
inquirição sobre “a natureza e origem do
conhecimento” havia sido uma busca por
representações privilegiadas. Com Kant, tornou-se
uma busca pelas regras que a mente havia colocado
para si mesma [os “Princípios do Entendimento
Puro”] (Rorty, 1994, p. 166).
Tal procedimento, ao definir as condições e possibilidades da
razão, e assim, lançar as bases do conhecimento objetivo, permitiu a
Kant pôr “a filosofia ‘na trilha segura de uma ciência’ colocando o
espaço externo dentro do espaço interno (o espaço da atividade
constituinte do ego transcendental) e, então, afirmando a certeza
cartesiana sobre o interno para as leis do que previamente se pensava ser
o externo” (Rorty, 1994, p. 145). Constitui-se dessa maneira, a versão
“modelar” de uma teoria do conhecimento, posteriormente alinhavada
como uma epistemologia, cuja função principal tornar-se-ia, entre
outras, distinguir filosofia e ciência.
328
Neste particular, deve-se ter presente que embora filosofia e
ciência tenham conquistado uma efetiva independência da razão em
relação à religião, mediante a “virada transcendental” kantiana, a partir
desse momento, o progressivo avanço e autonomia da racionalidade
científica, sobretudo no século XIX, passou a representar uma ameaça
ao lugar ocupado pela filosofia como “rainha” das ciências, cada vez
mais, desafiada a uma constante reformulação de seus pressupostos, em
se tratando de precisar a objetividade epistemológica.
Neste percurso, segundo Rorty,
O modo de ter representações exatas é encontrar,
dentro do Espelho, uma classe privilegiada especial
de representações tão compulsivas que sua exatidão
não possa ser posta em dúvida. Esses fundamentos
privilegiados
serão
os
fundamentos
do
conhecimento e a disciplina que nos dirige para elas
– a teoria do conhecimento – será o fundamento da
cultura. A teoria do conhecimento será a busca por
aquilo que compele a mente a crer tão logo algo é
desvelado. Filosofia-enquanto-epistemologia será a
busca pelas estruturas imutáveis dentro das quais
conhecimento, vida e cultura devem ser contidos –
estruturas
colocadas
pelas
representações
privilegiadas que estuda (Rorty, 1994, p. 169).
Nestas condições, não obstante os percalços e a emergência de
protestos ocasionais, a filosofia seguiu o seu curso no século XX. Em
busca de tornar-se cada vez mais “científica” e “rigorosa”, a filosofia
sistemática, seguindo a tradição, cunhou para si um vocabulário de tal
forma hermético, permanente e “profissional” incorrendo em uma
inevitável perda de contato com o resto da cultura. Segundo Rorty, até
mesmo as tentativas revisionistas e críticas, tanto dos filósofos analíticos
329
como de fenomenólogos, terminaram por ser absorvidas pelo influxo
epistemológico de restaurar a “filosofia na posição que Kant desejava
que ocupasse – a de julgar outras áreas da cultura com base em seu
conhecimento especial dos ‘fundamentos’ dessas áreas” (Rorty, 1994, p.
23).
Essa noção de um terreno comum para a racionalidade fundado
na representação, e que tem sido responsável pela tentativa de encontrar,
na filosofia e também em disciplinas não-filosóficas, temas sucessores
para a epistemologia, segue entretendo-se, na visão de Rorty, em
encontrar o “infundado” de uma faculdade humana capaz de conhecer
“essências”, especificando dessa maneira, a própria “essência” do ser
humano.
Convencido da inexistência desta arena detentora da verdade
pelo acesso interno da mente, e portanto, a impossibilidade do registro
de uma natureza intrínseca de todas as coisas, Rorty procura
desenvolver, a seu favor, o que parece-lhe uma presença periférica na
filosofia moderna, um tipo de movimento, cuja perspectiva contrastante
em relação à corrente principal sistemática, sem conformar uma
“tradição”, propriamente dita, protagonizou a ruptura e o abandono da
concepção kantiana de uma teoria geral da representação.
Nesta perspectiva, referindo-se aos trabalhos de Ludwig
Wittegenstein (1889-1951), Martin Heidegger (1889-1976), John Dewey
(1859-1952), os três filósofos que considera os mais importantes do
século XX, não sem considerar-se devedor de Willard van Orman Quine
(1908), Wilfrid Sellars (1912-1989), o anti-representacionalismo de
Rorty orienta-se em configurar a sua “filosofia edificativa”, ou seja, a
proposta de uma “filosofia sem espelhos”.
330
Este
aspecto
propositivo,
é
interessante
observar
no
pensamento de Rorty, ainda que sempre presente em seu caráter
“terapêutico” e perpasse o todo da obra, só atinge a sua devida
importância e, em certo sentido, originalidade, na parte III de A filosofia
e o espelho da natureza, quando o autor põe-se a tematizar a Filosofia
como tal. Embora sendo esta a sua intenção principal, um longo
caminho foi preciso trilhar.
Adentrando no emaranhado temático de uma filosofia centrada
na epistemologia, com precisão cirúrgica e, demoradamente, Rorty
redescreveu o enredo de Nossa essência especular (Parte I) e a idéia de
Espelhamento (Parte II), tarefa que, por si só, já realça o seu trabalho
investigativo. Por sua vez, para além dessa compilação dos elementos
históricos e o resgate das críticas contra a “imagética especular
tradicional”, Rorty entrevia que, para levar a termo o seu intento de
“perfurar aquela crosta da convenção filosófica que em vão Dewey
esperou abalar” (Rorty, 1979, p. 28), outros elementos precisavam ser
esboçados.
Assim compreendendo estes encaminhamentos de Rorty, em a
Filosofia (parte III), embora seja o capítulo conclusivo da obra,
encontramos um exercício preliminar e indicativo do que poderia ser a
filosofia sem a epistemologia. Neste sentido, tendo como referência as
contribuições advindas da hermenêutica, quer nos parecer que a
desconstrução operada por Rorty, assume uma posição construtiva da
filosofia, agora em condições de ser compreendida como “conversação”
e “edificação”.
Este enfoque que emerge na passagem da epistemologia para a
hermenêutica, na redescrição de Rorty, parece corroborar o sentido mais
profundo de sua virada pragmática na filosofia. Diversamente da mão
331
única prescrita pela visão epistemológica, – enquanto representação
precisa capaz de assegurar uma prática legitimada a partir de um terreno
comum de concordância –, a hermenêutica, na interpretação de Rorty,
restringe-se em sugerir que ser racional é, antes de tudo, abster-se da
epistemologia.
Seguindo a elaboração de Hans-Georg Gadamer (1900-2002),
a hermenêutica para o filósofo americano, situa-se no contraponto da
problemática do conhecimento, e nesta posição, não se filia a um temasucessor da epistemologia, tão pouco, constitui uma disciplina, um
método, ou ainda, um programa de pesquisa. A hermenêutica, tal como
o holismo advogado por Rorty, é uma dessas formas de racionalidade
que coloca em questão a própria “racionalidade”, sem pretender
restringi-la a um discurso monológico. Dessa maneira, afirma o autor,
a hermenêutica encara as relações entre discursos
variados como as relações entre partes integrantes
de uma conversação possível, uma conversação que
não pressupõe nenhuma matriz disciplinar que una
os interlocutores, mas onde a esperança de
concordância nunca é perdida enquanto dure a
conversação. Essa esperança não é a esperança da
descoberta de terreno comum de concordância
anteriormente existente, mas simplesmente a
esperança de concordância, ou, ao menos,
discordância interessante e frutífera (Rorty, 1979, p.
314).
A hermenêutica, tal como é assumida na interpretação de Rorty,
como discurso sobre discursos (idem, 338), não apenas indica um
distanciamento da arbitrariedade presente na visão epistemologicamente
centrada mas, também expressa, o reconhecimento de uma pluralidade
332
discursiva como explicitação da inesgotabilidade de sentido da
contingência humana no mundo.
Neste enquadramento mais amplo e dinâmico, trazido pela
compreensão hermenêutica, a imagem de mundo estruturado, estável e
permanente, cede passagem e passa a condividir o lugar com outros
modos alternativos de descrição, isto é, no dizer de Rorty,
proclamar que não temos nenhuma essência, nos
permite ver as descrições de nós mesmos que
encontramos em uma das (ou na unidade das)
Naturwissenschaften como a par com as várias
descrições alternativas oferecidas pelos poetas,
romancistas, psicólogos de profundidade, escultores,
antropólogos e místicos. As primeiras não são
representações privilegiadas em virtude de que (no
momento) há mais consenso nas ciências do que nas
artes. Simplesmente fazem parte do repertório de
auto descrição à nossa disposição (Rorty, 1994, p.
356).
333
A partir desta perspectiva, emancipado de uma “essência” onde
se queria ancorar a “verdade”, o autor faz emergir a possibilidade de um
diálogo hermenêutico contextual, auto-implicativo e relacional. Neste
caso, a conversação assume toda a sua importância pois, é a conexão
convergente pela qual pode-se tecer e recriar a trama de crenças
descritas e redescritas, antes como um modo de provocar a solidariedade
que uma maneira de alcançar comensuração e objetividade. Nessa
maneira de lidar com o mundo, “a objetividade deveria ser vista como
conformidade às normas de justificação (para asserções e para ações)
que encontramos sobre nós (Rorty, 1994, p. 355), e não no plano
prescrito por uma teoria como ideal a ser atingido. Quer dizer, o sentido
pragmático da vida substitui a intenção prescritiva da teoria.
Nestas circunstâncias em que a justificação é um fenômeno
pragmático-social e não teórico-epistemológico, o “conhecimento”,
como objetivo do pensar, é sucedido pela noção de bildung (educação,
autoformação), tal como propôs Gadamer e, na versão de Rorty, fora
redescrita como “edificação”, isto é, a forma “para representar esse
projeto de encontrar modos novos, melhores, mais interessantes, mais
fecundos de falar” (cfr. Rorty, 1994, p. 353-354). A edificação é, neste
sentido, tudo o que possa resultar de uma conversação em tratando-se de
arrancar-nos de nós mesmos e, dessa maneira, inserir-nos em um
contexto mais amplo, diverso e produtivo.
334
Ocorre, no entanto, que este caráter reativo do projeto de
edificação, ao insistir em outros modos de falar, não pode desconsiderar
que um contexto determinado, embora cultural e não mais universal,
segue como sendo o ponto de partida para a redescrição auto-criativa. É
pois, diante desta situação, que Rorty assevera que “educação tem que
partir da aculturação” (idem, 359) como caminho de abertura,
intercâmbio fecundo e contínuo de contextos e culturas diferentes.
Diante deste panorama o papel da filosofia não será outro que
fazer parte da conversação, redescrever e edificar. É em relação a isso,
que a filosofia “edificante” de Rorty e outros filósofos periféricos,
contrasta com a filosofia “sistemática” da corrente principal. Enquanto
esta se mantém na “trilha segura” da ciência e busca circunscrever e
restringir os discursos, aquela põe sob suspeita este tipo de visão e visa
antes continuar a conversação e ampliar a redescrição discursiva. Para
Rorty, este poderia ser o palpite edificante: “do ponto de vista
educacional, enquanto oposto ao epistemológico ou tecnológico, o modo
como as coisas são ditas é mais importante do que a posse de verdades”
(Rorty, 1994, p. 353).
A título de palavras finais
Neste trabalho buscou-se acompanhar o pensamento de Richard
McKay Rorty a partir de sua obra A filosofia e o espelho da natureza
cujo alcance, por ocasião de sua publicação, nos final dos anos 70, deu a
conhecer um trabalho polêmico e controvertido. Não se trata de
concordar ou não com o autor. Passados mais de duas décadas e, neste já
avançado início de milênio, aquelas idéias continuam conduzindo
material inflamável e influenciando a conversação filosófico-social sem
perder o mérito de angariar, contra e a favor de si, muitos interlocutores.
335
O posicionamento do autor, no período subseqüente, foi sendo
aprimorado e ampliado em uma infinidade de outros trabalhos. Segundo
o filósofo, os desdobramentos de suas idéias podem ser compreendidos
no fato de que, embora o sucesso das proposições contidas em A
filosofia e o espelho da natureza, sua sistematização havia deixado por
resolver sua pretensão de uma “visão unificada” entre justiça e
realidade, algo que, já se passara trinta anos, havia buscado encontrar na
universidade. E prossegue Rorty,
Enquanto procurava entender o que tinha dado
errado [com A filosofia e o espelho da natureza],
aos poucos fui me dando conta de que a própria
idéia de reunir realidade e justiça em uma só visão
foi precisamente o que levou Platão a perder o
rumo. Mais especificamente, me dei conta de que
apenas a religião, apenas uma fé indiscutível num
pai substituto que, ao contrário de qualquer pai na
vida real, incorporava amor, poder e justiça em
iguais medidas, poderia fazer a mágica que Platão
pretendia fazer. Como não me conseguia imaginar
tornando-me um religioso – e, de fato, ao longo dos
anos eu havia me tornado ainda mais secularista –,
decidi que a esperança de alcançar essa visão única
através da filosofia havia sido uma tentativa autoenganadora de um ateísta de fugir da religião. Assim
decidi escrever um livro46 sobre como poderia ser a
vida intelectual se pudéssemos desistir da tentativa
46
Rorty refere-se ao livro Contingency,Irony and Solidarity (1989), tradução de Nuno
Fonseca (1992) para Editorial Presença, de Lisboa, impresso no ano de 1994 com o título
Contingência, Ironia e solidariedade. Na introdução deste trabalho, o filósofo americano
esclarece: “o presente livro tenta mostrar o aspecto que as coisas assumem se pusermos de
parte a procura de uma teoria que unifique o público e o privado e nos contentarmos com
tratar as exigências de autocriação e as de solidariedade humana como sendo igualmente
válidas, embora definitivamente incomensuráveis. O livro desenha uma figura a que
chamo a ‘ironista liberal’. /.../ Ironistas liberais são pessoas que incluem entre esses
desejos infundáveis a sua esperança de que o sofrimento venha a diminuir e de que a
humilhação causada a seres humanos por outros seres humanos possa terminar” (Rorty,
1994a:17).
336
platônica de reunir realidade e justiça em uma só
visão (Rorty, 2000, p. 161).
Levando a termo sua intenção, é no bojo desta guinada que a
configuração da teoria social do filósofo americano seguiu cotejando
muitos
temas
sociais,
políticos,
éticos,
culturais,
filosóficos,
educacionais, etc., sempre na perspectiva do neo-pragmatismo.
Em Os perigos da sobre-filosoficação, por exemplo, Rorty se
declara como “alguém que tem lá suas dúvidas a respeito da relevância
da filosofia para a educação”, assim como também, “da relevância da
filosofia para a política”, e acrescenta: “na medida em que a filosofia
tenha uma função social, ela me parece ser uma função terapêutica –
ajudar as pessoas a sair do domínio das idéias filosóficas antiquadas,
ajudando a quebrar a crosta de convenções. O principal instrumento para
quebrar a crosta de convenções, contudo, é a sugestão de alternativas
concretas” (Rorty, 1997, p. 60). De fato, não é difícil constatar que um
certo desencantamento com a “razão ilustrada”, tem sugerido uma
adesão irrestrita a um pragmatismo de resultados em detrimento de
fundamentos teóricos sofisticados e logicamente construídos. Tal
embate tem mobilizado particularmente a filosofia, mas em decorrência
de sua direta correlação, não tem deixado incólume a educação, visto
que ambas, a primeira implicando sobre a segunda, em grande parte, se
fizeram emoldurar por aquela visão clássica de ser humano e de mundo,
sujeito – objeto. A obra de Rorty se insere em meio a este debate e, a seu
modo, como vimos, procura redescrever o seu caminho, terapêutico para
a filosofia e alternativo para a educação.
Podemos dizer que a partir do estudo realizado, esboçamos
algumas condições para melhor compreender as proposições de Rorty e,
337
em certo sentido, alcançamos alguma habilidade para transitar entre as
investigações sobre o autor que, no campo da educação, tendem a
polarizar-se em caminhos contrários. Se de um lado há, os que
integralmente assumem a posição rortyana e, desde ai, buscam elucidar
uma filosofia da educação; de outro, a flexibilização teórica
representada pela elaboração de Rorty é vista com suspeição e crítica,
uma saída problemática para a filosofia e a educação.
Neste campo de tensões, partidário e divulgador da filosofia de
Rorty, Ghiraldelli Jr. a compreende, antes de tudo, como uma filosofia
da educação. Para o autor brasileiro, em oposição a um sujeito racional,
consciente e responsável, o neo-pragmatismo possibilita um sujeito
“sem essências”, plástico, “rede de crenças e desejos”. Sem invocar uma
explicação para si e para o mundo do qual faz parte, em lugar de uma
teoria, o que há para lidar com as mais diversas situações são estratégias
redescritivas. São elas que permitem ao sujeito uma autodescrição
criativa, incomensurável, provocadora de mudanças. Dessa maneira,
esclarece o autor:
este é o meio pelo qual o eu se constrói e se
reconstrói. O meio pelo qual o sujeito se altera
infinitamente. As estratégias redescritivas são
estratégias educacionais. Estratégias confiantes de si
mesmas, já que estão acopladas (mas não
fundamentadas na – e isso é importante para
entendermos Rorty), à idéia de que o ser humano é
infinitamente plástico (Ghiraldelli Jr., 1997, p. 30).
No contraponto desta visão, em declarada oposição à teoria
social de Rorty, em suas pesquisas Moraes confronta o que considera
uma espécie de “ceticismo radical” presente no pensamento do filósofo
338
americano. Utilizando-se do recurso da retórica, denuncia a autora, tal
ceticismo impugna qualquer possibilidade de conhecimento objetivo e
verdadeiro e, na mesma medida, elimina as ações que permitam intervir
e transformar a realidade.
Segundo Moraes, diferindo da “objetividade neopragmática
definida no consenso, /.../ a complexidade do ser social é inteligível; por
isso é efetividade social aberta ao conhecimento, à correta compreensão
e à intervenção” (Moraes, 2003, p. 194). Disso decorre o interesse da
educação como prática social, interação de sujeitos e articulação
reflexiva de um horizonte para o pensar e o agir humano, elementos que
a filosofia edificante de Rorty nivelou de forma rasteira. E pergunta
Moraes: “a que se propõe, então, a educação rortyana? A um curioso
idealismo, a aparentes boas intenções, mas, sobretudo, a uma forte
adequação à sua utopia liberal e à formação de suas ironistas” (idem,
193).
Como se pode notar, não há como simplesmente contornar as
questões trazidas pela teoria social de Richard Rorty. Por sua vez, tendoas em consideração, a estória por ele redescrita do pensamento
ocidental, da filosofia, da educação etc, exige do leitor perguntar, ao
menos, se esta é a melhor interpretação de que dispomos, o que nos leva,
irremediavelmente, a revisitar a história, os autores, outras perspectivas.
Quanto à proposta de uma educação “sem epistemologia”, ou seja, a
“edificação” proposta por Rorty, o desafio em nosso contexto atual é o
mesmo de sempre: promover solidariedade e igualdade em uma
sociedade de liberalismo e desigualdade. O tempo nos dirá quem tem
razão!
339
Bibliografia
GHIRALDELLI JR., P. Para ler Rorty e sua Filosofia da Educação.
In: Paulo Ghiraldelli Junior e Nadja Hermann Prestes (Editores). Revista
Filosofia, Sociedade e Educação [Ano I – Nº1 – p. 09 a 30]. Marília/SP:
UNESP, 1997.
MORAES, M.C.M. Ceticismo epistemológico, ironia complacente:
indagações acerca do neopragmatismo rotyano. In: Maria Célia
Marcondes de Moraes (Organizadora). Iluminismo às avessas. Rio de
Janeiro: DP&A, 2003.
RORTY, R. Os perigos da sobre-filosoficação. In: Paulo Ghiraldelli
Junior e Nadja Hermann Prestes (Editores). Revista Filosofia, Sociedade
e Educação. [Ano I – Nº1 – p. 59 a 67]. UNESP – Marília/SP, 1997.
_____. Contingência, Ironia e solidariedade. Lisboa: Editorial
Presença, 1994a.
_____. Pragmatismo – A filosofia da criação e da mudança. (Magro, C.
e Pereira, A. M. org.). Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000.
_____. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994.
340
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO BÁSICA
341
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO:
APRENDENDO UMA RAZÃO-EMOÇÃO CRÍTICOREFLEXIVA
Celso Ilgo Henz∗
A educação é fenômeno vital na trajetória de humanização da
espécie humana. Ela supõe e possibilita homens e mulheres em
contextos de práticas sociais. Ela é o próprio processo pelo qual os seres
humanos vão se constituindo a partir e através da interação com o meio
circunjacente e com os demais membros da sua coletividade. Nas
palavras de Kant, é nessa relação que “o homem somente se torna
homem pela educação. Ele nada é, senão aquilo que a educação dele
faz” (Kant, 1988, p. 699). A educação, pois, está assentada na vocação
ontológica dos humanos, que precisam aprender a ser humanos a partir
da realidade do mundo que experimentam, na qual e sobre a qual
homens e mulheres se constituem em reciprocidades reflexivas e
comunicativas.
Vivemos uma virada de século e de milênio, em cuja totalidade
uma das facetas nos revela que as relações humanas e as
Doutor em Educação,
[email protected]
professor
do
ADE/CE-UFSM.
Endereço
eletrônico:
342
responsabilidades sociais se multiplicam em ritmo acelerado, desafiando
a educação e a pedagogia a uma visão mais abrangente, fruto de
reflexões coletivas e dialógicas que, partindo da observação e admiração das pessoas e da realidade, da intuição e da problematização,
busque os melhores caminhos para contribuir com a humanização de
todos(as), sobretudo daqueles e daquelas cuja humanidade é impedida,
interrompida, diminuída ou roubada. Assim tornar-se-á possível avançar
para uma concepção pedagógica orientada por uma racionalidade onde
as dimensões cognitivo-instrumental, prática, ético-normativa e estéticosubjetiva se dialetizem, numa prática educativa em que homens e
mulheres possam ir se descobrindo na sua totalidade, e como partes de
uma totalidade ainda maior, “gostando de ser gente”, sabendo-se
condicionados(as) e inconclusos(as) e, por isso mesmo, capazes de “ser
mais” , com a ousadia de correr o risco da aventura histórica como
possibilidade de vislumbrar e construir horizontes mais esperançosos.
Entendemos que o objetivo da educação crítico-reflexiva está
na autonomia do(a) aluno(a) na sua capacidade de sentir/pensar/agir,
enquanto corpo consciente, enquanto ser que entrelaça emoção e razão
como racionalidade, num continuado esforço para ultrapassar a simples
repetição daquilo que outros(as) sentiram, experimentaram, fizeram,
pensaram e/ou disseram, desenvolvendo uma visão própria de si
mesmo(a) e do mundo. A primeira condição para tal é: acreditar nas
capacidades das crianças, criando as condições necessárias para que
todos possam “dizer a sua palavra”, a partir do seu mundo da vida, da
sua maneira de ser e viver como crianças e adolescentes, através das
suas fantasias, dúvidas, vontades e pensamentos, uma vez que "para
assumir responsavelmente sua missão de homem, há de aprender a dizer
a sua palavra, pois, com ela, constitui a si mesmo e a comunhão humana
343
em que se constitui; instaura o mundo em que se humaniza,
humanizando-o" (Fiori, In Freire, 1998, p. 13). Daí a importância de
irmos exercitando desde cedo o assumir-se, o posicionar-se, o defender
com argumentos bem fundamentados o nosso saber-fazer como homem,
como mulher, como educando ou educanda, como cidadão ou cidadã,
como educador ou educadora. Para tanto a possibilidade de perguntar,
criticar, refletir, criar, manifestar o sentimento, falar, escutar, espantarse, arriscar-se são momentos fundamentais nos processos de ensinar e
aprender, sempre num clima de muita amorosidade, afetividade e
diálogo.
Entretanto, uma pedagogia crítico-dialógica sempre parte da
realidade e dos conhecimentos que os(as) educandos(as) vivem e
trazem. Somente assim, os outros conhecimentos, quando confrontados
com aqueles trazidos pelos meninos e meninas que vêm para
aprenderem a ser mais, poderão ganhar relevância e significação para a
sua formação. Caso contrário não passarão de “cultura morta”, palavras
ocas e vazias, que retoricamente serão vomitados por professoras e
professores, sem um mínimo de articulação entre o saber popular e o
saber científico, sem nenhuma mediação e interlocução com as
experiências que homens e mulheres vivemos no mundo e na história.
Teoria e prática, então, não mais serão dicotômicas, mas uma ajudará a
pensar a outra, numa necessária, permanente e dialética relação
processual em que uma possibilita a outra a encontrar a sua razão de ser.
Assim todos(as) podem ir se capacitando para participarem
conscientemente do que existe, mas também para se empenharem
fortemente na busca e construção de alternativas que criem condições
favoráveis para que todos(as) possam assumir-se como sujeitosfazedores da sua história e do mundo no qual intersubjetivamente vão se
344
gentificando. Nesta perspectiva, o questionamento e a pergunta são mais
do que simples indagação; são manifestações dos corpos conscientes
que estão em busca da realização dos seus sonhos ou da resolução de
suas preocupações, condicionados pela cultura, história, posição de
classe, sentimentos, denúncias, esperanças, saberes do mundo da vida
em que historicamente vêm se constituindo como homens e mulheres.
Antônio Faundez, no livro “Pedagogia da Pergunta”, dialogado
com Paulo Freire, relata que ele e alguns de seus colegas intelectuais
chilenos não estudavam para apreender fórmulas, teorias e/ou sistemas,
numa separação entre as idéias, a vida do povo e a necessidade de
transformação da realidade do Chile:
eu diria que estudávamos filosofia para resolver
problemas e não para aprender sistemas. [...] Era
antes compreender como as idéias se concretizavam
na mente e na ação de um povo culturalmente
dependente, como é o povo chileno. [...] Uma
experiência da qual, se iniciada, não mais se pode
sair, porque se descobre o verdadeiro trabalho do
intelectual. O trabalho em que a teoria, a prática e
tudo o que se faz intelectualmente se faz com a
finalidade de compreender a realidade e, se possível,
transformá-la – esse é um trabalho que não se perde
num jogo de idéias (In Freire & Faundez, 1998, p.
15-18).
Esta nova perspectiva pedagógica, com rigorosidade e
sensibilidade, assenta-se numa “pedagogia radical da pergunta”. Tratase de aprender a perguntar, aprender quais perguntas são fundamentais
para sentir e apreender a realidade, e quais perguntas são fundamentais
na rigorosidade da busca da razão de ser do conhecimento, seja ele
popular ou científico. Somente quem se pergunta e permite que a
345
curiosidade dos(as) outros(as) o(a) provoque e desafie pode ir
apreendendo sempre, mesmo quando está ensinando. Mais que um
confronto, a pergunta coloca educandos(as) e educadores(as) lado a lado
para
juntos(as)
buscarem
novas
respostas,
exercitando
intersubjetivamente a curiosidade epistemológica e o engajamento
sócio-político. Exercitar o perguntar e o deixar-se ser perguntado faz
parte de práticas educativas que se pretendem dialógicas e democráticas,
re-inventando as relações de poder para colaborar com a construção de
uma sociedade também democrática. Não obstante, em nossas escolas
normalmente se desenvolve uma pedagogia das respostas, onde os(as)
educadores(as) já trazem as respostas prontas para quaisquer perguntas,
ou até mesmo para perguntas que ainda não existem. Por não aguçar a
curiosidade, por não ensinar a perguntar, castramos a curiosidade
dos(as) educandos(as) e, depois, criticamos o seu desinteresse em
aprender. O interesse foi anulado porque a curiosidade foi abafada por
práticas educativas autoritárias e conteudistas, com um movimento
linear em que respostas vão sendo discursadas para alunos(as) que,
quando muito, silenciosamente ousam perguntar a si mesmos(as) para
que serve aprender todo aquele entulho de teorias e conceitos.
Mas, “O que é perguntar?... O que significa mesmo
perguntar?”, pergunta curiosamente Paulo Freire. Ao que ele mesmo foi
tentando responder, muitas vezes com novas perguntas que fizessem a
resposta ser construída juntamente com seus interlocutores:
... o centro da questão não está em fazer com a
pergunta “o que é perguntar?” um jogo intelectual,
mas viver a pergunta, viver a indagação, viver a
curiosidade, testemunhá-la ao estudante. O
problema que, na verdade se coloca ao professor é o
346
de, na prática, ir criando com os alunos o hábito,
como virtude, de perguntar, de “espantar-se". [...]
Eu insistiria em que a origem do conhecimento está
na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de
perguntar; eu me atreveria a dizer que a primeira
linguagem foi uma pergunta, a primeira palavra foi
a um só tempo pergunta e resposta, num ato
simultâneo (In Freire & Faundez, 1998, p. 48).
Uma “pedagogia da pergunta” humaniza porque estimula a
capacidade de assombrar-se, de criar, de escutar e reconhecer o(a)
outro(a), de refletir criticamente, de tomar nas mãos a própria história,
gerando aprendizagem e (re)construção de conhecimento e da existência
humana, e não apenas o relato de conclusões a que chegaram outras
pessoas. Isto muito mais educativo do que sujeitar as crianças, os(as)
adolescentes e jovens a aprender e repetir o que os(as) seus(suas)
professores(as) apreenderam anteriormente, ou o que simplesmente
transferem dos livros didáticos para os cadernos dos(as) alunos(as).
Assim, aos poucos a sala de aula vai se transformando no
espaço-tempo em que o diálogo problematizador possibilita que as
diferentes vozes digam seus problemas, necessidades, experiências,
sonhos, esperanças, sentimentos e conhecimentos; escutando e
dialogando, professores(as) e alunos(as) problematizam as múltiplas
(por vezes contraditórias) maneiras de ver e pronunciar o mundo, seja a
partir do conhecimento da experiência-feito, seja a partir do
conhecimento acadêmico-científico. Os conhecimentos sistematizados
(ou científicos) não perdem sua validade, mas passam a ser relativizados
em função da humanização de crianças, de jovens e de adultos que
vivem – ou resistem com manhas de sobrevivência – dentro de situações
sociais, políticas, culturais e econômicas que os afetam diretamente.
347
Começa-se a descobrir que professores(as) e alunos(as) estamos na
escola para aprendermos sempre a ser mais humanos(as), e tudo o que
ali fazemos e aprendemos deve sempre estar em função de significados e
horizontes mais abertos: a escola existe para nos ajudar a aprender a ser
homens e mulheres, a “virar gente”.
Professores(as) e alunos(as) somos desafiados a ir nos
capacitando para assumirmos posições e opções diante da vida, da
cultura, da sociedade, da história. Para tanto, muito mais que uma
“pedagogia de respostas”, uma “pedagogia da pergunta” pode nos ajudar
na construção de critérios, valores, sentimentos e saberes críticos,
desenvolvendo em todos(as) a capacidade de assumir-se, com opções e
responsabilidades; as escolas, assim, vão se transformando em
“comunidades de aprendizagem”, onde professores(as) e alunos(as)
possamos ir aprendendo sempre a nos assumirmos como sujeitos de nós
mesmos(as) e do mundo em que estamos nos humanizando, “tomando
nas mãos”
- dialógica e criticamente – os conhecimentos, os
sentimentos, os valores, as técnicas, as habilidades e os sonhos,
coerentes com os projetos pessoais e político-sociais construídos e
aprendidos através de processos educacionais onde todos podemos
“dizer a nossa palavra” e “ser mais “. O conjunto de interações e
relações geradoras de significados muitas vezes levam a romper com o
preestabelecido, pois possibilitam "compreender os detalhes da vida
cotidiana e a gramática social do concreto mediante as totalidades mais
globais da história e do contexto social" (Giroux, in Freire e Macedo,
1990, p. 16), fazendo com que educandos(as) e educadores(as)
aprendam a ser os(as) autores(as) de seus próprios mundos e suas
próprias vidas.
348
A sala de aula como comunidade de investigação é possível
quando todos(as) se dispõem a uma linguagem de partilha, de escuta, de
problematização,
de
reflexão,
de
pensar
aprofundado
pelas
comparações, análises, julgamentos, argumentos e raciocínios bem
fundamentados e organizados; vai-se apreendendo a respeitar e
questionar o posicionamento dos(as) outros(as), ao mesmo tempo que
cada participante vai se encorajando a pronunciar seus pontos de vista e
exigir que os mesmos também sejam respeitados, embora sempre
passíveis de contestações, questionamentos e contra-argumentações,
pois "...os alunos dividem opiniões com respeito, desenvolvem questões
a partir das idéias dos outros, desafiam-se entre si para fornecer razões a
opiniões até então não apoiadas, auxiliarem uns aos outros ao fazer
inferências daquilo que foi afirmado e buscar identificar as suposições
de cada um" (Lipman, 1995, p. 31). Ao dizerem a sua palavra, os seres
humanos não manifestam apenas opiniões, idéias e/ou informações, mas
também expressam suas emoções e sentimentos, sua existenciação
humana.
Uma práxis educativa que se pretende crítico-reflexiva assentase nesta dialeticidade e radicalidade das correlações intergenéticas,
mesmo quando trabalha especificamente com os conteúdos conceituais
das diferentes disciplinas, pois “quanto mais nos aprofundamos em uma
disciplina, mais descobrimos como esta implica em esquemas
conceituais que são essencialmente relacionais, consistindo de relações
históricas, relações lingüísticas, causais, estilísticas, sociais, etc”
(Lipman, 1995, p. 96). A capacidade de refletir, discernir, analisar,
pensar por si mesmo(a), com autonomia e responsabilidade, somente é
possível se, a fortiori, assumirmos uma “pedagogia do diálogoproblematizador”, que tome como ponto de partida e de chegada a vida e
349
o mundo dos homens e das mulheres que dele participam. Se é
verdadeiro que para pensar criticamente é preciso primeiro saber pensar,
também é verdadeiro que para pensar é necessário pensar em algo; e este
algo não pode ser abstrato, mas sim algo que os(as) educandos(as)
experimentam no mundo da vida. Defendendo uma pedagogia da
pergunta como o meio de existenciação dos seres humanos, Freire
insiste na necessidade de estimulá-la nas relações pedagógicas, além de
ter o cuidado de não burocratizá-la:
a existência humana é, porque se fez perguntando, à
raiz da transformação do mundo. Há uma
radicalidade na existência, que é a radicalidade do
ato de perguntar. Exatamente, quando uma pessoa
perde a capacidade de assombrar-se, se burocratiza.
Me parece importante observar como há uma
relação indubitável entre assombro e pergunta, risco
e existência. Radicalmente, a existência humana
implica assombro, pergunta e risco. E, por tudo isso,
implica ação, transformação. A burocratização
implica a adaptação, portanto, com um mínimo de
risco, com nenhum assombro e sem perguntas.
Então a pedagogia da resposta é uma pedagogia da
adaptação e não da criatividade. Não estimula o
risco da invenção e da reinvenção. Para mim, negar
o risco é a melhor maneira que se tem de negar a
própria existência humana (In Freire & Faundez,
1998, p. 51).
Quando as pessoas falam, não apenas dizem coisas, mas
manifestam o que estão sentindo. As palavras têm um poder estruturante
e instituinte; de certa forma, somos o que dizemos, pois vamos criando,
assumindo e/ou recriando sentimentos, imagens, valores e idéias que nos
fazem ser e viver uma certa identidade. Juntos(as), dialogando
criticamente, analisando, decodificando, sentindo, refletindo e tentando
350
compreender com radicalidade o mundo que lhes é comum, homens e
mulheres buscamos desvendar a raison d'être das coisas, dos fatos, da
vida e dos próprios mitos de liberdade criados para manter um status
quo. Uma nova consciência começa a emergir do mundo vivido em que
homens e mulheres vão se constituindo intersubjetivamente enquanto
subjetividades criadoras; aos poucos vão desvendando a manipulação no
mundo em que vivem cotidianamente, descobrindo que, embora
construído por eles(as), este mundo nem sempre é verdadeiramente para
eles(as).
Não se trata de deixar de lado a aprendizagem da memória
coletiva e da herança cultural que a humanidade historicamente foi
construindo e acumulando, mas de não ficar apenas na mera repetição e
reprodução do sistematizado e enunciado, sem nada criar, nada
questionar, na mudar e/ou acrescentar. A aprendizagem dos conteúdos
conceituais
precisa
estar
mergulhada
no
conjunto
de
outras
aprendizagens fundamentais ao aprendizado humano: aprender a
aprender, aprender a sentir, aprender a admirar, aprender a escutar,
aprender a falar, aprender a questionar, aprender a raciocinar, aprender a
imaginar, aprender a agir, aprender a ser. E isto só se aprende trazendo
para dentro da sala de aula – como “conteúdo” de aprendizagem, admiração, análise e desafio – a vida de homens e mulheres enquanto
convívio social, relações sociais, trabalho, relações de produção,
relações com o meio ambiente, valores, ética, cultura, emoções,
identidades, linguagens, papéis sociais, preconceitos, condutas, caráter,
responsabilidade, direitos, nossa condição temporal e espacial e outras
dimensões da vida humana.
Numa comunidade de investigação as deliberações são
multifacetadas, pois cada questão sofre uma percepção diferente a partir
351
das pessoas diferentes, podendo resultar numa apreensão o mais ampla
possível, sob um maior número de pontos de observação. Decorre daí
que em vez de soluções únicas, podem surgir múltiplas soluções, cada
uma com seus custos e benefícios. É por isso que cabe ao(a) educador(a)
crítico-reflexivo uma atenção toda especial à decodificação da realidade
tomada como ponto de partida, onde tem a função de "não apenas ouvir
os indivíduos, mas desafiá-los cada vez mais, problematizando, de um
lado, a situação existencial codificada e, de outro, as próprias respostas
que vão dando aqueles no decorrer do diálogo" (Freire, 1998, p. 112113), possibilitando, assim, a superação de uma visão focalista dos
problemas, em prol da construção de uma visão na dimensão da
totalidade. A pessoa que participa de um grupo de investigação
dialógica, mesmo que tímida e com outras resistências, começa a dar-se
conta dos muitos lados existentes em uma mesma questão. Contrapõe os
diferentes enfoques, compara-os com os posicionamentos dos demais
membros da comunidade. De repente, inesperadamente, brota o seu
posicionamento, a sua palavra; ela é ouvida e sua idéia é debatida. Ao
voltar para casa, sozinha, continua dialogando consigo mesma sobre o
que disse, refletindo sobre como poderia ter argumentado melhor, ter
sido mais veemente, mais convincente... e novas idéias vão brotando, de
forma crítica e criativa. Será que isso não é muito mais instigante, alegre
e criativo do que a frieza e o calculismo da descrição e da aquisição de
conhecimentos "desconectados da vida"?
Aprendendo a falar umas com as outras, as pessoas aprendem
também a reconhecer e incorporar as diferentes visões de mundo
presentes nas palavras de cada participante. Quando dialogamos
habilmente, respeitosamente, dando razões e critérios, argumentando e
fazendo juízos que têm a ver com a nossa vida em todas as suas
352
dimensões, os nossos corpos conscientes saltam para o mundo e para
vida, envolvendo-nos, questionando-nos e provocando-nos emocional,
ética, política, moral, lógica, pedagógica, individual e socialmente. Tudo
isso sempre alicerçado em projetos de reflexão e de pesquisa que
conduzam
a
atitudes
cada
vez
mais
autônomas,
dialogantes,
investigativas, rigorosas, criativas e colaborativas, onde os saberes, os
conhecimentos, os valores, os sentimentos, as ações e a vida se
interliguem e dialetizem constantemente, para que as pessoas se
desenvolvam e se constituam em sujeitos com projetos de vida e de
sociedade, pelos quais lutem consciente e responsavelmente.
Todos(as)
vão
se
conhecendo,
se
descobrindo
na
intersubjetividade com os(as) outros(as) que também pensam, sentem,
agem, vivem. Começam a reaprender a ver o mundo e a si próprios(as).
Além de indagar sobre o "como é" e "por que é", buscam o "como
deveria ser" e o "como poderia ter sido", julgando as ações, as idéias e
os fatos, desvelando e construindo o seu significado, o sentido das
experiências, dos saberes e dos conhecimentos sistematizados; como
homens e mulheres concretos(as), vão refletindo criticamente sobre os
fundamentos desses conhecimentos e do sentir/pensar/agir das pessoas,
muitas vezes necessitando tomar distância dos mesmos para melhor admirá-los e compreendê-los.
Esta postura reflexiva fundamental pode ser situada no âmbito
da filosofia. Entretanto, enquanto processo de constituição de uma
razão-emoção crítico-reflexiva pela práxis educativa a partir da vida,
esta não deve ser uma tarefa restrita aos(às) filósofos(as) profissionais,
mas a todos(as) quantos(as) se sintam educadores e educadoras, para
que paulatinamente se transforme na maneira de olhar, sentir, analisar,
pensar, organizar e viver a vida de todos os seres humanos, assumindo-
353
se como homens e mulheres-sujeitos, na perspectiva das palavras de
Marilena Chauí sobre "o que é filosofia":
imaginemos, agora, alguém que tomasse uma
decisão muito estranha e começasse a fazer
perguntas inesperadas. Alguém que tomasse essa
decisão estaria tomando distância da vida cotidiana
e de si mesmo, teria passado a indagar o que são as
crenças e os sentimentos que alimentam,
silenciosamente, nossa existência. Ao tomar essa
distância, estaria interrogando a si mesmo,
desejando conhecer por que cremos no que cremos,
por que sentimos o que sentimos e o que são nossas
crenças e nossos sentimentos. Esse alguém estaria
começando a adotar o que chamamos de atitude
filosófica: a decisão de não aceitar como óbvias e
evidentes as coisas, as idéias, os fatos, as situações,
os valores, os comportamentos de nossa existência
cotidiana; jamais aceitá-las sem antes havê-las
investigado e compreendido (Chauí, 1995, p. 1112).
Assim, juntos poderão ir descobrindo que eles(as) também
podem dar novos rumos às suas trajetórias e aos caminhos a serem
percorridos daquele então para frente. Somente quem sente e analisa
criticamente as durezas e agruras da realidade é capaz de querer, pensar,
sonhar e projetar um futuro diferente, ter uma utopia pela qual se engaja
para participar da construção do inédito viável, lutando por melhores
condições de vida para todos(as). A reflexão sobre as diferentes práticas,
modos de ser, de viver, de relacionar-se, de agir e reagir em meio à
realidade sócio-histórico-cultural vai suscitando novas visões e novas
posturas, motivando uma reflexão e fundamentação teórica cada vez
maior, ao mesmo tempo que os novos enfoques e análises descortinam
novos horizontes e possibilidades.
354
Porque o futuro não é algo pré-dado ou a mera repetição
mecânica do presente e do passado, há lugar para a filosofia e a
educação, enquanto problematização, conscientização, reflexão, sonho,
utopia, esperança e práxis histórica em que homens e mulheres vamonos constituindo em homens e mulheres-sujeitos que, sabendo-nos
corpos conscientes inconclusos, vamos aprendendo a nos assumir como
capazes de interagir com o meio, dialogar, ter sensibilidades, refletir,
analisar, fazer opções, tomar decisões, sonhar, projetar e agir
coerentemente na história em que nos fazemos e refazemos
permanentemente, pela razão-emoção crítico-reflexiva construída
também através de processos educacionais emancipadores, libertadores,
(re)humanizadores.
Tudo isso poderá tornar nossas escolas muito mais humanas e
humanizadoras, fazendo com que educadores(as) e educandos(as) levem
para as suas vidas, além de alguns conhecimentos compreendidos, a
experiência de terem sido escutados(as), de terem podido pronunciar
suas idéias e debatê-las respeitosamente, de terem podido ser gente na
pluralidade das dimensões cognitivas, afetivas, éticas, políticas,
espirituais, etc; por terem sido tratados(as) com dignidade enquanto
crianças, adolescentes e/ou jovens, levarão para a vida uma outra lição:
respeitar e querer serem respeitados(as) como gente, em outros tempos e
espaços. Enfrentando as situações de uma forma dialogante e
contextualizada, observando cuidadosamente a realidade social em que
estão inseridos, vão vivenciando um clima onde todos(as) podem
exercitar a cidadania pela participação, co-construção, diálogo,
iniciativa, reflexão, análise, argumentação, experimentação, integrando
espaços de liberdade, respeito às diferenças, responsabilidade e
355
organização. Juntos(as) vão construindo uma visão partilhada do
caminho a ser seguido, refletindo sistemática e cooperativamente sobre
as implicações e conseqüências possíveis no processo que é assumido.
Desta forma, talvez, estaremos contribuindo para que a escola e a
sociedade ganhem novos contornos identitários, não previsíveis de todo;
mas todos(as), na escola e através de uma práxis que transcende os
limites dos conteúdos conceituais e do silêncio intra-muros, sentir-se-ão
sujeitos de uma nova história, de um novo tempo e de um novo jeito de
ser gente, numa escola e numa sociedade também em renovação,
reencontrando a sua vocação de partícipes da aventura histórica do
processo de construção do mundo e da humanização do ser humano.
Bibliografia
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 3ªed. SP: Ática, 1995.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à
prática educativa. 6ªed. RJ: Paz e Terra, 1997.
_____. Pedagogia do Oprimido. 25ªed. RJ: Paz e Terra, 1998.
FREIRE, Paulo & FAUNDEZ, Antonio. Por uma Pedagogia da
Pergunta. RJ: Paz e Terra, 1998.
FREIRE, Paulo & MACEDO, Donaldo. Alfabetização. Leitura do
mundo, leitura da palavra. 2ªed. RJ: Paz e Terra, 1994.
KANT,
Immanuel.
Schriften
zur
Anthropologie,
Geschichtsphilosophie, Politik un Pädagogik – 2. Frankfurt, 1988.
LIPMAN, Matthew. A Filosofia vai à Escola. 2ªed. Trad. Maria Elice
de Brzezinsk e Lucia Maria Silva Kremer. SP: Summus, 1990.
_____. O Pensar na Educação. Trad. de Ann Mary Fighiera Perpétuo.
Petrópolis/RJ: Vozes, 1995.
_____. Natasha. Diálogos Vygotskianos. Trad. Lólio Lourenço de
Oliveira. Porto Alegre/RS: Artes Médicas, 1997.
356
SILVEIRA, Renê José Trentin. A Filosofia vai à Escola? Contribuição
para a crítica do Programa de Filosofia para Crianças de Matthew
Lipman. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.
357
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO BÁSICA
Clovis R. J.Guterres∗
O primeiro impulso foi não aceitar o convite para esta mesa.
Pensei melhor e resolvi aceitar como forma de acabar esse “adiamento
de fala” uma vez que a espera do “momento ideal” pode não coincidir
com o “momento histórico”.
Embora tenha minha formação em filosofia (licenciado em
1972, mestre em 1977 e especialização em filosofia moderna em 1979)
tenho trabalhado mais na área da educação com filosofia, sociologia e
eventualmente história da educação. Esse desvio em relação ao ponto de
partida talvez seja o responsável pelo “adiamento de fala”, é como já
não mais me sentisse no direito de falar como profissional de filosofia
“pura” uma vez que passei a trabalhar com a filosofia “aplicada”. Pode
ser que, aparentemente, não se justifique esta distinção mas na prática
Doutor em Educação e Professor do FUE/CE/UFSM. Endereço eletrônico:
[email protected].
358
ela é inevitável. Em primeiro lugar o que move ou direciona um
profissional de filosofia pura é o domínio teórico de um autor ou de um
sistema enquanto que o profissional de filosofia aplicada é movido pela
exigência de fundamentar uma prática (ação) a partir de um autor ou
sistema. Portanto não se trata de um conhecimento gratuito, de conhecer
por conhecer mas de conhecer para fundamentar um fazer. Mas,
retornando ao “adiamento de fala”, a trajetória e o doutorado em
educação, me impõe a obrigação de fala uma vez que o tema proposto
abrange as duas áreas pelas quais venho transitando desde 1970.
Claro que esse “adiamento de fala” tem uma relação direta com
a filosofia que é reproduzida e produzida no meio acadêmico. Pode ser
uma visão distorcida, deformada pelo contexto, mas na época distinguia
uma filosofia acadêmica, propriamente dita, em que os temas, autores ou
sistemas eram tratados como em um laboratório cujos procedimentos
metodológicos evitavam qualquer tipo de contaminação o que dava,
naqueles tempos, uma conotação de neutralidade a filosofia pura. A
outra filosofia, não se restringia apenas a compreensão ou interpretação,
mas defendia a ação concreta e transformadora. Era, obviamente, uma
filosofia (social) que exigia envolvimento, engajamento e por isso
mesmo, era mais sedutora e parecia ser mais verdadeira. Nem por isso
ignorávamos os alertas contra tal opção. Procurávamos manter
um
estado de vigilância permanente para reduzir os riscos de um suicídio
filosófico via engajamento assim como atacávamos os riscos da
alienação via indiferença frente aos acontecimentos da época.
Quando ingressei no Curso de Filosofia em 1969 já escrevia
compulsivamente e participava de movimentos sociais, mas a ditadura
atingia o auge da repressão aos movimentos estudantis aos políticos e a
359
todos que a ela se opunham. Mas, uma filosofia de influência
aristotélico-tomista ministrada nas salas de aula nos fazia viver em dois
mundos distintos, o da universidade silenciada onde os conteúdos,
apesar de importantes, não eram relacionados com o que ocorria na
sociedade onde a perseguição e a repressão eram constantes. Durante
quatro anos passei entre a sala de aula e os diretórios acadêmicos na
universidade e nos movimentos sociais possíveis na sociedade, mesmo
assim, altamente vigiados pelos órgãos de repressão.
No Curso, apesar da tendência predominante, algumas
disciplinas mantinham um contato com o mundo exterior discutindo,
ainda que de forma acadêmica, o existencialismo, o marxismo e alguns
teóricos da Escola de Frankfurt, como Marcuse, o guru das rebeliões
estudantis do final da década de 60. Com esse contexto e minhas
inclinações mais políticas que metafísicas a opção filosófica não poderia
ser outra que não a que enfocasse a realidade concreta, os dramas sociais
e a ação necessária a sua transformação. Mesmo assim, procurava uma
alternativa mais apropriada a realidade brasileira. Minha tese de
mestrado representou essa tentativa de fusão entre a academia e a
sociedade, na medida que se propunha contribuir à libertação humana
através da análise dos pensamentos do filósofo francês Emmanuel
Mounier cuja filosofia, sem ignorar as bases cristãs, se aproximava do
marxismo e rejeitava as principais teses do capitalismo. Defendia a
construção de uma nova ordem social, mais justa, mais solidária e havia
exercido profunda influência na formação do pensamento de Paulo
Freire.
Atualmente, apesar da queda do Muro de Berlim, entre outras
coisas, continuo acreditando que a tarefa do filósofo e da filosofia não
pode se restringir a academia, mas deve também continuar investigando
360
a sociedade, não apenas para produzir novas concepções de liberdade,
de justiça ou paz mas para indagar, denunciar e exigir mudanças
necessárias a superação da miséria, da violência, da mortalidade infantil,
das epidemias devastadoras, do terror, das guerras e do profundo
sofrimento humano.
Minhas dúvidas, portanto, a respeito da implantação da
filosofia na educação básica, referem-se a situação da filosofia. Deposta
como rainha das ciências. Após quase mil anos de reinado, amarga um
exílio forçado para uma área cada vez mais restrita. Submetida a
teologia no mundo medieval e encarcerada nos mosteiros por quase onze
séculos, não resistiu as rupturas metodológicas (razão matemática) do
mundo moderno. A fragmentação e o avanço das Ciências por oposição
a metafísica e a geração de novas formas de compreensão e,
principalmente, de intervenção na realidade tornaram-na secundária.
Destronada pela física de Newton (1642-1727) no século XVIII e
enterrada, mesmo que simbolicamente, pela sociologia de Comte (17981857) no século XIX cuja apologia das Ciências aliada a Revolução
Industrial não deixava dúvidas sobre o crepúsculo da filosofia. Kant
(1724-1804), já reconhecera a impossibilidade da metafísica tradicional,
mas reservara à filosofia ainda o papel de crítica do conhecimento, em
outras palavras, cabia ainda a filosofia a tarefa de, a semelhança de um
tribunal da razão, indicar o lugar das ciências através de uma teoria do
conhecimento.
Uma reflexão interessante a esse respeito é feita por Gallefi
(1999) em um artigo que trata do papel da filosofia no ensino médio.
Para desenvolver sua argumentação o autor refere-se a uma conferência
de Habermas (1989) intitulada “A Filosofia como Guardador de Lugar e
como Intérprete” proferida em Stutgart, em junho de 1981.
361
Nela Habermas realiza uma síntese magistral de sua
posição filosófica, e fala de um lugar que se
apresenta como uma espécie de crítica quase
defintiva sobre as pretensões de uma filosofia ao
modo kantiano, ou hegeliano, ou mesmo
marxista....Na conferência mencionada ele apresenta
o papel “atual” da filosofia como “guardador de
lugar e como intérprete”. Esta sua posição ocupa o
lugar da crítica que não aceita a função da filosofia
como “indicador de lugar”, propalando uma função
mais modesta de “agir comunicativo” ... para
Habermas, diz Gallefi, a função da filosofia como
indicador de lugar e supremo tribunal da razão não
faz mais nenhum sentido.
Essa trajetória parece demonstrar um processo gradativo de
perda de poder, de redução de espaço e, em resumo, de decadência e
morte da filosofia. Como, então, defender a inclusão da filosofia na
educação básica? Corremos o risco de ensinar filosofia como se
ensinava o latim, como língua morta. Principalmente se nos limitarmos a
ensinar filosofia como antes, isto é, começando pela antigüidade. Mas,
ao mesmo tempo, me pergunto se existe esse propósito tão determinado
de incluir a filosofia na educação básica, certamente, os defensores
dessa causa devem ter as certezas que não tenho.
Nesse sentido, me reporto aqui àqueles que indiferentes ao
declarado fim da filosofia continuam a ressuscitá-la de diferentes formas
como filosofia para crianças, filosofia do cotidiano, filosofia clínica etc.
É preciso reconhecer que a filosofia sobrevive na academia,
mas certamente os filósofos das universidades sabem que transferir para
a educação básica o debate e os dramas da filosofia atual seria pouco
produtivo ou quiçá desastroso no sentido de discutir o caos para quem
está tentando compreender a ordem das coisas e da vida. Lembro aqui de
362
um texto do Renato Janine Ribeiro, da USP, que inicia dizendo que “a
filosofia é menos difícil do que se imagina” mas quase no final faz a
seguinte observação:
Não tenha medo do jargão filosófico. Toda
disciplina tem seu rigor próprio, e na filosofia ele é
decisivo. Mas penso que ela só adota jargão bem
técnico ao ser ministrada nas universidade - o que
acontece no fim da Idade Média, com a escolástica,
e, modernamente, desde Emmanuel Kant (17241804). Ela se torna mais difícil ao leigo, mas
retirando esses 500 anos mais técnicos, restam pelo
menos dois milênios de filosofia feita em larga
medida, para um público não-acadêmico (Folha
-sinapse n.14 -2003).
Seguindo essa linha de argumentação fica clara uma distinção
entre uma filosofia acessível ao público não-acadêmico e uma filosofia
complexa restrita à academia. O problema é que quando se pergunta aos
acadêmicos sobre a implantação da filosofia na educação básica, a
primeira coisa que vem a mente é, exatamente, a filosofia que está no
centro dos debates no meio universitário. E, muitas vezes, os temas
tratados são a negação daquilo que os não-acadêmicos entendem por
temas filosóficos. Assim, pode ocorrer que os temas que venham a ser
trabalhados na educação básica sejam aquilo que não é mais considerado
objeto da filosofia nos dias atuais. Ocorre-me aqui a referência de Rorty
ao livro “Investigações Filosóficas de Wittgenstein que “dissolveu a
maioria dos problemas filosóficos que fui educado a levar a sério”.
Por outro lado, esse processo de decadência histórica e
distanciamento do grande público possa ser interpretado de outra
maneira. Não será essa trajetória um retorno da filosofia as origens
menos pretensiosas quando os filósofos se declaravam amigos ou
363
amantes do saber e não seus proprietários? Acho que esse lugar modesto
é uma espécie de recuperação da atitude originária de se interrogar e de
se surpreender com o mundo e a vida. Talvez por esta razão a filosofia
não morra nunca porque ela, diferente das ciências, renasce em cada ser
humano e não a partir do conhecimento acumulado e sistematizado.
Talvez esta recuperação da humildade perdida facilite a
descoberta ou a construção de elos de ligação entre a filosofia complexa
produzida na academia e a filosofia comum que transita por fora dos
muros das universidades.
É oportuno lembrar aqui a obra de Stanley Cawell, professor de
filosofia de Harvard, reconhecido como um dos mais importantes
pensadores de nosso tempo que, ao contrário da rotina da academia toma
o cinema como objeto de reflexão filosófica como relata em recente
entrevista:
Passei a fazer filosofia a partir de um objeto que
ninguém considera como filosófico, lançando uma
questão que no entanto está no centro da filosofia
desde Platão: o que é a experiência humana? As
comédias são um exemplo disso: elas colocam a
idéia de que o conhecimento profundo de si é o
resultado dos roteiros, dos diálogos, da mise-enscène, do desempenho dos atores. A comédia mais
completa será aquela em que os personagens se
colocam mais intensamente as questões de quem
eles são, onde a experiência os leva, o que os faz
agir. Ora, essas são questões filosóficas por
excelência.
Sem ignorar as objeções
dos filósofos analíticos a
“experiência” não podemos deixar de saudar como encorajadoura esta
atitude de reencontrar a reflexão filosófica a partir do comum.
364
Outro autor, um pouco mais radical, Michel Onfray, pensador
marginal na cultura francesa, vendeu 100 mil exemplares de seu livro
intitulado “Antimanual de Filosofia”. Em recente entrevista, questionado
sobre a função do professor, respondeu o seguinte:
O professor é aquele que conduz, que aponta o
norte, o sul, e depois diz ao aluno: Vire-se você,
faça o seu próprio caminho”. Nietzsche dizia que
um bom mestre é aquele que ensina os alunos a se
desligarem dele. Então é preciso ensinar as pessoas
a se desligarem de seus mestres, a serem mestres de
si mesmas. É um estranho paradoxo, mas nós,
professores, somos feitos para não existir. O que
interessa é que as pessoas tenham uma relação
direta com a filosofia, na qual eu serei apenas um
mediador. Eu sou feito para desaparecer. (Folha Sinapse - 17/12/2002).
Onfray parte também do quotidiano, com questões chocantes,
as vezes brincalhonas, mas que vão envolvendo os alunos ao mesmo
tempo que vai abordando os temas clássicos da Filosofia como: a
natureza, a arte, a técnica, a liberdade, o direito, a história, a consciência,
a razão e a verdade.
Para concluir quero sintetizar minas preocupações sobre a
filosofia ser levada a educação básica:
1 - Uma filosofia articulada com a realidade social e
educacional do aluno que o habilite a compreender e mover-se no
contexto;
2 - Uma filosofia envolvente e envolvida, não uma filosofia
exilada ou encavernada;
3 - Uma filosofia acadêmica menos pretensiosa ou arrogante,
capaz de se fazer entender pelo leigos;
365
4 - Uma filosofia que parta do cotidiano, dos problemas
concretos vividos pelos alunos:
5 - Uma filosofia mais humilde ou até mesmo anarquista que
ensine mais a pensar do que a reverenciar.
Bibliografia
BAECQUE, Antoine. A Filosofia do Comum (Entrevista com Stanley
Cawel). Folha de São Paulo - Caderno Mais. São Paulo, 11 de janeiro de
2004.
GALLEFI, Dante Augusto. O Ser: sendo da Filosofia. Salvador:
EDUFBA, 2001.
_____. O Papel da filosofia no ensino médio: indicador, guardador ou
construtor / desconstrutor de lugares? In Agere; Rev. de Educação e
Cultura. Salvador v. 1 p. 1 - 208, 1999.
GUTERRES, Clovis Renan Jacques. A Libertação do Homem
Contemporâneo no Pensamento de Emmanuel Mounier. Tese de
Mestrado. UFSM, 1977.
MOUNIER, Emmanuel. O Personalismo. Lisboa: Moraes Editores,
1973.
NETO, Alcino Leite. Conhecimento Grátis para todos. (Entrevista
com Michael Onfray). Folha de São Paulo - Sinapse. São Paulo, 17 de
dezembro de 2002.
RIBEIRO, Renato Janine. Filosofia para todos os gostos. Folha de São
Paulo - Sinapse n. 14. São Paulo, 26 de agosto de 2003
RORTY, Richard. A Narrativa da Vida. Folha de São Paulo - Caderno
Mais. São Paulo, 8 de junho de 2003.
366
SOBRE O SIGNIFICADO E O PAPEL DA PEDAGOGIA
EM KANT∗
Cláudio Almir Dalbosco∗
Introdução
Um tratamento adequado da pedagogia kantiana não pode
prescindir do fato de que Kant não se ocupou sistematicamente com esse
tema como se ocupou, por exemplo, com o problema de oferecer uma
fundamentação transcendental para o conhecimento a priori de objetos,
investigando suas condições de possibilidade, ou com o problema da
fundamentação da ação moral, como ela é entendida na GMS47, enquanto
Versão portuguesa da conferência proferida no Philosophisches Forum do
Interdisziplinären Arbeitsgruppe für philosophische Grundlagenprobleme der
Wissenschaften und der gesellschaftlichen Práxis (IAG) da Universität Kassel (Alemanha)
em 15 de janeiro de 2004. A versão alemã se intitula: Zur Bedeutung und der Rolle der
Pädagogik bei Kant. O texto da conferência está vinculado a Linha de Pesquisa
Fundamentos da Educação do Mestrado em Educação e do Núcleo de Pesquisa em
Filosofia e Educação (Nupefe) da Universidade de Passo Fundo (UPF) e em conexao com
o trabalho de cooperacao entre as Universidades de Kassel e de Passo Fundo nas áreas de
filosofia e educacao. Agradeco tanto a Fapergs como ao DAAD por terem me
oportunizado uma estadia de pesquisa durantes os meses de janeiro a marco/2004 na
Alemanha.
∗
Doutor pela Universität Kassel (Alemanha) e professor do Curso de Filosofia e do
Mestrado em Educação da Universidade de Passo Fundo. Endereço eletrônico:
[email protected]
47
Utilizarei as siglas usuais para as seguintes obras: GMS: Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten (Fundamentação da Metafísica dos Costumes); KrV: Kritik de reinen Vernunft
(Crítica da Razão Pura); KpV: Kritik der praktischen Vernunft (Crítica da Razão
Prática); Päd: Über Pädagogik (Sobre Pedagogia); Prol: Prolegomena (Prolegomenos).
Estes escritos serão citados segundo a Akademie-Ausgabe (AA), indicando-se primeiro a
abreviatura da obra, seguida do número do volume em romano e da respectiva paginação
367
fundamentação da lei moral na forma de uma dedução do imperativo
categórico (Dalbosco, 2002, p. 253-301).
Por razões ministeriais (Weisskopf, 1970; Hufnagel, In: Kant,
1988, p. 43-56)48 Kant proferiu preleções sobre pedagogia na
Universidade de Königsberg, durante o semestre de inverno de 1776/77,
o semestre de verão de 1780, o semestre de inverno de 1783/84 e o
semestre de inverno de 1786/87. O material que dispomos destas
preleções foi organizado por seu aluno e depois colega Friedrich
Theodor Rink e publicado em 1803 com o título Immanuel Kant über
Pädagogik. O referido texto, que não fora submetido à apreciação do
próprio Kant, encerra uma profunda polêmica filológica no sentido de
saber o que teria sido realmente proferido por Kant em suas preleções e
o que teria sido acrescido pelo próprio punho de Rink. As dificuldades
filológicas, que não posso tratar aqui, se encontram, no entanto,
brilhantemente documentadas, primeiro, pelo extenso estudo já citado de
Weisskopf
49
e, depois, resumido por Peter Kauder e Wolfgang Fischer
em seu livro Immanuel Kant über Pädagogik, publicado em 1999.50
em arábico.
48
Weisskopf (1970, p. 89) informa ainda que além da preleção (Vorlesung), duas outras
formas de ensino acadêmico eram empregas na época de Kant, a disputação (Disputation)
e a declamação (Deklamation). No que diz respeito especificamente à preleção, ela era
proferida ou na forma de “conferência sistemática de uma ciência” ou na forma de
“esclarecimento de um livro texto”, sendo que uma combinação entre ambas era o mais
usual.
49
Este autor formula a hipótese geral de que o escrito “Immanuel Kant über Pädagogik” é
uma compilação de diferentes partes, que surgem em diferentes períodos e que são
desenvolvidas para atender diferentes finalidades (Weisskopf, 1970, p. 240). Neste
sentido, concentrando-se na pergunta pelo surgimento e pela construção do escrito, ele
caracteriza a edição de Rink como uma “técnica compilatória” (Ibidem, p. 176), o que
ajudaria a marcar a diferença fundamental entre a “Introdução” e o “Tratado” e, no interior
do “Tratado” mesmo, a diferença entre a “Educação física” e a “Educação moral” do
escrito.
50
Com base na interpretação de Weisskopf, Kauder chega a conclusão de que Rink
escreve o Prefácio de Über Pädagogik com a intenção clara de eliminar a cisão entre a
“Introdução” e o “Tratado”, procurando mostrar uma ligação entre ambas as partes e
deixando transparecer a imagem de um escrito harmônico e unitário. Baseando-se ainda na
368
Embora Kant não tenha tratado sistematicamente da pedagogia
em seus escritos e embora persistam dúvidas quanto à autenticidade de
parte de suas preleções “compiladas” por Rink, mesmo assim eu gostaria
de sustentar a hipótese de que Kant atribui papel fundamental à
educação e o faz não só por razões, digamos assim, de ordem históricopolíticas, no sentido de que a educação seria indispensável à
sociabilidade humana e à construção de um Estado mais justo, senão
também e, fundamentalmente, por razões de ordem sistemática,
conectadas com exigências internas de esclarecimento de sua própria
filosofia prática. Dito de forma direta, sustento a hipótese de que Kant
vê na educação uma das formas de realização de sua filosofia prática e
procuro demonstrar isso recorrendo, primeiro, ao conceito de disciplina
e, depois, à concepção de educação como idéia.
Para justificar esta hipótese, concentro-me em Über Pädagogik
para mostrar em que sentido a construção de uma ação pedagógica
disciplinada é condição da ação moral e, com isso, em que sentido a
educação torna-se, por meio da disciplina, uma forma de realização da
filosofia prática (I). Em seguida, analiso o conceito kantiano de
educacao enquanto idéia regulativa (II).
interpretação de Groothoff (1982) Kauder, por sua vez, formula a tese de que enquanto a
“Introdução” orienta-se por um conceito de “educação social” o “Tratado”, em sua última
parte, é conduzido pelo conceito de “educação moral”. Isso mostra então uma “mudança
de curso” no pensamento de Kant ocorrida entre os períodos de 1776 a 1791 que diz
respeito não só ao seu pensamento sobre a pedagogia, como se refere também a sua
filosofia prática, num sentido mais amplo, uma vez que é durante este período que Kant
escreve os trabalhos sistemáticos de sua filosofia moral. Deste modo, o “ser social” que se
tratava na “Introdução” do escrito é substituído pela exigência de um “ser moral” do
homem, a qual é desenvolvida na parte final do “Tratado”. Isso caracteriza então a
diferença de conteúdo que há entre as duas partes do escrito (Kauder, Fischer, 1999, p. 4950). O déficit na argumentação de Kauder reside, ao meu ver, no fato dele não esclarecer a
diferença entre o que denomina de “ser social” e “ser moral” e por não mostrar
convincentemente a precedência cronológica da “Introdução” em relação ao “Tratado”.
369
Da coação disciplinada para a obrigação moral
Para tratar de problemas de fundamentação da moralidade em
suas obras de filosofia prática, cujo exemplo paradigmático é a GMS III,
Kant parte de um conceito de ação humana que pressupõe um sujeito
agente constituído racionalmente de tal modo que possa decidir-se a agir
ou não de acordo com a lei moral e, por isso, ser responsabilizado pela
sua ação. Ou melhor, é tarefa dessa fundamentação mostrar que a ação
moral do sujeito é possível enquanto uma decisão livre e justificada
racionalmente51. No entanto, sua teoria educacional tem diante de si um
sujeito, no caso a criança, que age orientada predominantemente por
seus caprichos e suas inclinações e, nesta condição, deve ser educado
para que, progressivamente, possa agir racionalmente, isto é, possa
pensar por conta própria.
Trata-se de dois tipos de ação pertencentes a um e mesmo
sujeito compreendido a partir de duas fases distintas, enquanto
pertencente à infância, potencialmente apto a ser educado e à fase
adulta, na qual o sujeito deve ser capaz de decidir a agir ou não de
acordo com o princípio moral racionalmente justificado. O primeiro tipo
é a ação da criança que constrói suas relações com o mundo orientada
por uma vontade arbitrariamente livre e que encontra o motivo maior de
sua ação nos seus caprichos e nas suas inclinações. Trata-se da ação
própria ao “estado selvagem”, no qual predomina uma liberdade sem
regras. O segundo tipo é a ação racional-livre do jovem ou do adulto que
se encontra na situação de ter que tomar decisões e responder por seus
atos. A superação progressiva da distância que separa esses dois tipos de
51
Esta tarefa Kant assume de modo sistemático primeiro na GMS e depois na KpV. Para
uma análise deste problema ver a última parte de meu livro: DALBOSCO, 2002.
370
ação é, segundo Kant, um dos principais desafios de uma teoria
educacional,
caracterizando-se
com
isso,
simultaneamente,
a
contribuição da pedagogia no sentido de aproximar cada vez mais a ação
humana à moralização. Tal contribuição consiste, segundo ele, em
provocar no educando uma apropriação e um desenvolvimento
progressivos de sua racionalidade, pois que “o aprender a pensar por
conta própria” é condição de possibilidade da ação moral.
Neste contexto, a pedagogia não é compreendida por Kant
como um conhecimento científico que estivesse baseado numa
racionalidade de tipo metódico-experimental e nem como uma sabedoria
espontânea que pudesse ser levada adiante sem qualquer plano ou
orientação metódica. Ela é, antes de tudo, uma arte52, definida assim
numa passagem de Über Pädagogik, onde a educação possui a tarefa de
“desenvolver as disposições naturais53 do ser humano” (Päd, IX, 447).
Embora naturais, essas disposições não se desenvolvem de modo
espontâneo e naturalmente por si mesmas, precisando por isso de serem
provocadas pela ação de outros homens e a isso Kant denomina de arte
da educação. Porém, nem toda a arte da educação é pedagogia. A
denominada de arte mecânica, por exemplo, na qual “a educação não
52
Ao longo de Über Pädagogik são empregados vários conceitos, as vezes como
sinônimo e as vezes não, como por exemplo, os conceitos de educação (Erziehung),
pedagogia (Pädagogik), arte da educação (Erziehungskunst) e teoria da educação
(Erziehungslehre). Além disso, Kant emprega aí também o conceito de formação
(Bildung).
53
O conceito de “disposição natural” (“Naturanlage”), embora central tanto para a
antropologia como para a pedagogia de Kant, não deixa de reunir dificuldades. Tal
conceito não deve ser entendido, ao meu ver, simplesmente num sentido biológico ou
psicológico, como se fosse meramente um reflexo inconsciente do comportamento ou só
como uma necessidade social. Ao contrário disso, ele precisa ser conectado com a
capacidade racional e, mais especificamente, com o conceito de razão prática, uma vez que
para Kant a principal disposição humana é a racionalidade. Com o conceito de disposição,
segundo Hufnagel, Kant quer significar uma determinação de orientação ou um conjunto
dimensional de possibilidades, como as animalescas e as racional-humano-morais.
(Hufnagel, 1988., p. 47-48).
371
segue nenhum plano” (Päd, IX, 447), não é considerada como tal.
Somente a que consiste numa “arte da educação raciocinada” é que pode
assumir o status de pedagogia, pois essa arte “desenvolve a natureza
humana de tal modo que esta possa alcançar a sua determinação” (Päd,
IX, 447). Ao assumir este perfil, a pedagogia se transforma então num
estudo.
Kant é enfático ao exigir a presença de um plano no domínio
educacional e, ao proceder assim, ele está criticando a presença do
mecanicismo no âmbito da pedagogia. Por outro lado, ele também é
enfático, quando procura justificar a pedagogia como um estudo. Neste
sentido, sua justificativa ampara-se no princípio pedagógico de que “não
se devem educar as crianças segundo o presente estado do gênero
humano, mas segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é,
segundo a idéia de humanidade e da sua inteira determinação” (Päd, IX,
447). Disso resulta a idéia de que pedagogia como estudo significa a
justificação de uma ação pedagógica que deve estar voltada para a
construção da “idéia de humanidade”. Tal construção pode ser
esclarecida, por exemplo, no contexto da relação entre pais e filhos,
onde a educação não se resume somente em aprender o que os pais
ensinam. Pois, embora “uma geração eduque a outra”, a nova geração
tem sempre o dever de ser melhor do que a precedente e de ir além dela.
Assim se explica a presença do conceito de progresso no contexto
educacional kantiano, isto é, como idéia de que a natureza humana,
racionalmente bem formada, caminha, paulatinamente, para a “perfeição
da humanidade”, a qual exige, de imediato, a formação do caráter. Tal
formação é, como afirma Kant, de responsabilidade da cultura moral: “A
372
primeira tarefa da cultura moral é lançaras bases da formação do
caráter” (Päd, IX, 481).54
Uma educação moral tem a ver, portanto, com a formação do
caráter, o qual é definido, por exemplo, na KrV (B 567) como lei de uma
causalidade eficiente, “sem a qual de modo algum ela seria uma causa” e
na Über Pädagogik como uma ação segundo máximas (Päd, IX, 481).
De qualquer modo, a idéia de caráter significa uma firme determinação
da vontade de agir segundo máximas ou leis. Ora, aqui se compreende
porque a formação moral precisa ser precedida pela formação
disciplinar, uma vez que esta prepara o caráter infantil para sua futura
formação moral. Daí, por exemplo, a importância de se disciplinar a
criança nos horários para brincar, estudar, trabalhar55, passear, dormir,
etc. Kant concebe a escola como lugar por excelência onde se deve
desenvolver o trabalho da e com a criança e chega mesmo a falar, em
seus exemplos, do quanto é importante para o senso disciplinar da
criança, o simples fato dela ficar sentada em sala de aula, mesmo que
não aprendesse nada aí. No entanto, e isso precisa ser enfatizado
novamente, toda a formação disciplinar só adquire seu sentido, quando
esta a serviço da cultura moral, a qual, ela mesma, não deve mais
repousar sobre a disciplina, mas sim sobre as máximas (Päd, IX, 480).
Isso nos remete também para as passagens iniciais de Über
Pädagogik onde Kant abre as preleções com a afirmação de que o
54
Sobre isso ver: Cenci, 2003, p. 12-14. (Mimeo)
Em várias passagens das preleções Über Pädagogik Kant deixa claro a importância do
trabalho na formação da criança: “A criança deve brincar, ter suas horas de recreio, mas
deve também aprender a trabalhar. [...] Quanto mais ele [o homem] se abandona à
preguiça,mais dificilmente se decide a trabalhar” (Päd, IX, 470); “É de suma importância
que as crianças aprendam a trabalhar. O Homem é o único animal obrigado a trabalhar”
(Päd, IX, 471), e é na escola que a tendência ao trabalho pode ser mais bem cultivada: “A
escola é uma cultura obrigatória” (Päd, IX, 472); “O gosto pela facilidade é para o homem
o mais funesto dos males da vida. Por isso é muito importante que as crianças aprendam a
trabalhar desde cedo” (Päd, IX, 477).
55
373
“homem é a única criatura que precisa ser educada” (Päd, IX, 441).
Confrontando-o com a característica instintiva do animal, a qual é
determinada por uma razão estranha a ele e na qual o animal age com
base num comportamento codificado, o homem é concebido por Kant
como um ser que “tem necessidade de sua própria razão” (Päd, IX, 441).
Ora, pelo fato de não poder agir só instintivamente, o homem “precisa
formar por si mesmo o projeto de sua conduta” e, porque ele, ainda
enquanto criança, não pode formar sozinho este projeto, outros devem
ajuda-lo. “Formar por si mesmo o projeto de sua conduta” é um ideal
educacional que se movimenta nos horizontes iluministas de não mais
aceitar nada que venha de fora da própria razão e que lhe seja estranho.
Este ideal é a raiz do próprio conceito de autonomia, o qual, central para
a moralidade kantiana, significa a capacidade que uma vontade livre tem
de se dar racionalmente leis a si mesma. Ou seja, autonomia é, como a
Grundlegung nos ensina, a autolegislação (Selbstgesetzgebung) da
própria razão, derivando dela leis capazes de obrigar.56
Para o ponto que nos interessa agora é importante destacar que
no contexto de Über Pädagogik fazem parte também desses ideais, a
convicção de que se pode estabelecer uma linha divisória entre o estado
selvagem e o estado racional na natureza humana e conceber o processo
cultural-civilizatório experimentado pela espécie como herança de sua
conquista progressiva de racionalidade. Para o próprio Kant, coloca-se a
questão de que uma aproximação progressiva à idéia de moralização só
é possível mediante a superação do que há de selvagem no ser humano e
isto, visto do ponto de vista pedagógico, só pode ser conquistado
mediante o desenvolvimento da capacidade de pensar. Kant não contou,
56
Conforme Bittner, R. “Das Unternehmen einer Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten”, in: Höffe, G (Hrsg.). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: ein kooperativer
Kommentar (Fundamentação da Metafísica dos Costumes: um comentário coletivo), p. 28.
374
no entanto, - ou pelo menos isso não foi sua preocupação primeira - com
a possibilidade de que a selvageria brote, como irão nos ensinar, quase
dois séculos mais tarde, os autores da Dialektik der Aufklärung, do
interior do coração mesmo da cultura e que seja, portanto, algo inerente
à própria racionalidade, colocando-se sempre ao menos como sua
possibilidade.
Nas preleções os conceitos de disciplina e de educação como
idéia são duas indicações claras no sentido de mostrar como a pedagogia
é uma das formas de realização da filosofia prática. Os conceitos de
pressão (Zwang)57 e, associado a ele, de disciplina (Disziplin)
desempenham um papel central na teoria kantiana da educação. Na
passagem 452 das preleções Kant resume lapidarmente sua teoria. Aí o
processo educativo é concebido como constituído por duas etapas que,
embora distintas entre si, estão relacionadas uma com a outra por meio
do conceito de sujeição (Unterwerfung). Na primeira etapa, que é a da
sujeição passiva, deve ser oportunizado ao educando as condições para
que o mesmo desenvolva sentimentos de sujeição e obediência. Tais
57
F. C. Fontanella traduz Zwang por constrangimento. Outra possibilidade seria traduzi-lo
por coação. No entanto, considerando que as convicções pedagógicas de Kant se inserem
inteiramente nos ideais de formação de um sujeito autônomo, penso que a tradução mais
adequada para o termo Zwang é pressão, porque ele, além de não poder ser confundido
com um ato de inibição moral ou psicológica, o qual parece estar próxima ao conceito de
constrangimento, adequa-se melhor aos propósitos pedagógicos de mobilizar o educando
para a tarefa de pensar por conta própria. Isso não elimina, é verdade, a tensão inerente ao
processo educacional entre a necessidade da pressão, por um lado e, por outro, da
liberdade. No entanto, Kant mesmo considerou esta tensão como altamente significativa
para a pedagogia. Por outro lado, o próprio Wahring Deutsches Wörterbuch (p. 1415)
toma Druck, que em alemão significa literalmente pressão, como sinônimo de Zwang.
Pode-se notar também que nos ambientes escolares e universitários alemães é usual o
emprego da expressão Druck visando um sentido ou uma finalidade pedagógicos, como,
por exemplo, em situações nas quais o estudante precisa escrever seu segundo diploma e
não consegue avançar na escrita, então ele é “pressionado” pedagogicamente pelo seu
orientador a fazê-lo. Neste contexto, gostaria de agradecer a Elli Benincá por ter me
precavido sobre alguns pontos problemáticos que possam estar contidos no emprego de
Zwang como coação, sobretudo considerando que tal termo é empregado no âmbito de
justificação de uma teoria educacional que tem como fim mostrar em que sentido a ação
pedagógica tem o papel de aproximar a ação humana à moralizacao.
375
condições são criadas pela disciplina coativa. Na segunda, que é a etapa
da sujeição ativa, o educando deve ser permanentemente provocado
(mobilizado ou estimulado) a fazer uso permanente de sua própria
reflexão e liberdade, desde que ambas estejam “mediante certas leis”
(Päd, IX, 452).
Ambas as etapas estão orientadas pelo conceito de pressão
(Zwang), para o qual Kant atribui também um duplo significado: “No
primeiro período a pressão é mecânica, no segundo, é moral” (Päd, IX,
452). A pressão mecânica se caracteriza por ser um tipo de pressão que
deve ser exercida junto ao educando, em sua infância, com o intuito de ir
regulando progressivamente o seu “comportamento selvagem”, formado
por uma vontade que, embora livre, é constituída arbitrariamente. A
pressão moral, pressupondo o trabalho já realizado pela pressão
mecânica, caracteriza-se pela ação racional do educador sobre uma
vontade já acostumada minimamente a agir mediante regras menores.
Por se tratar de uma pressão baseada na reflexão, ela implica no uso da
razão e o convencimento que deriva daí dever ser, portanto, um
convencimento racional.
Neste contexto, não há duvida de que o que interessa a Kant é o
conceito de pressão moral, pois ele significa um passo decisivo para o
ideal educativo da moralização. A pressão moral deve preparar a
passagem de um tipo de ação baseada na pressão para agir mediante
regras menores, que é a ação orientada pela disciplina, para um outro
tipo de ação orientada pelo respeito pela lei moral, ação essa que só
pode ser exercida por uma vontade livre que é racionalmente obrigada a
agir de acordo com a lei moral. Esta última só pode ser levada a diante
pela vontade autônoma de um sujeito capaz de pensar por conta própria.
Uma diferença fundamental que já se esboça aqui entre a ação
376
disciplinada e a ação moral consiste no fato de que enquanto a primeira
tem o papel de evitar maus hábitos, ou seja, de evitar uma formação
viciada do caráter, a moral é um tipo de ação baseada em máximas, as
quais formam “o modo de pensar” (“Denkungsart”). Neste sentido, é
preciso proceder de tal forma, no âmbito da educação moral, que “a
criança se acostume a agir segundo máximas (Maximen), e não segundo
certos impulsos (Triebfedern)” (Päd, IX, 480).
O tipo de ação denominado por Kant de moralização, que
constitui o fim último tanto da ação humana em geral como da ação
pedagógica em particular, não deve ser entendida, no entanto, como um
lugar onde se possa chegar ou como algo que se possa realizar
inteiramente. Ao contrário disso, tal ação deve ser entendida enquanto
processo que se desenvolve progressivamente, visando o bem. Diz Kant:
“Na verdade, não basta que o homem se incline à toda espécie de fins; é
necessário também que ele consiga a disposição de escolher apenas os
bons fins. Bons são aqueles fins que são aprovados necessariamente por
todos e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um” (Päd, IX,
450). Esta finalidade da ação, voltada para a idéia do bem, pressupõe
que ela mesma possa orientar-se pela exigência posta pelo imperativo
categórico. Ou seja, boa é aquela ação baseada numa máxima que pode
se tornar ela mesma uma lei universal.
Mas se a moralização é o fim a ser buscado e a pressão moral é
indispensável para que a ação humana se aproxime cada vez mais dela,
ambas só podem ser pensadas a partir do trabalho preparatório da
pressão passiva, ou seja, ambas só são possíveis na medida em que
forem precedidas pela ação formada com base na pressão disciplinadora.
Por isso, o trabalho disciplinador do educador assume papel importante
no sentido de orientar (conduzir) a ação do educando, mostrando-lhe,
377
permanentemente, os limites de sua relação com o mundo. Trata-se de
uma árdua tarefa, para a qual não há prescrição de receitas. Consciente
de que ao falarmos de educação, estamos diante de um dos problemas
mais complexos e difíceis que o ser humano já criou, Kant não poderia
deixar-se guiar pela idéia reduzida de tratar a relação pedagógica a partir
de um conjunto de técnicas organizadas num método que terminaria por
aprisioná-la como numa camisa de força. Para que isso seja evitado é
fundamental que o trabalho disciplinar não seja exercido como
adestramento. Talvez nenhuma passagem contenha de modo tão claro a
idéia kantiana de educação do que esta: “A educação deve ser
impositiva; mas nem por isso deve ser escravizante” (Päd, IX,472).
Portanto, a ação disciplinar exercida pelo educador em relação
ao educando não pode, nem de perto, ser confundida como uma ação de
adestramento. A expressão adestramento conduz para uma imagem bem
familiar à cultura humana da domesticação de animais. Domesticar um
animal significa adequar o seu comportamento à vontade humana com
base na pressuposição que o mesmo não possui liberdade e nem
vontade. Por possuir um comportamento reflexo determinado, o animal
não pode sair de sua rotina e, por isso, pode ser facilmente domado. Ora,
transpor esta relação de domesticação para o âmbito da relação
pedagógica entre educador e educando significa ignorar o que existe de
profundamente humano no homem, a saber, sua racionalidade e sua
liberdade. Este é o motivo porque Kant se volta radicalmente contra a
idéia de se adestrar homens.
Ao conceber a educação como uma tarefa tão complexa que,
por isso, não pode ser tratada por meio de simples receitas, Kant atribuiu
ao conceito de disciplina um papel importante para o ideal de construção
de um estado futuro melhor, associando-o inteiramente ao propósito de
378
ensinar a criança a pensar. Assim diz ele: “O homem pode ser, treinado,
disciplinado, instruído, mecanicamente, ou também ser ilustrado.
Treinam-se cães e cavalos; mas também se podem treinar homens. [...]
Entretanto, não é suficiente treinar as crianças; é necessário que
aprendam a pensar” (Päd, IX, 450). Com base neste propósito, a
disciplina não pode ser confundida com adestramento. Neste sentido, o
procedimento disciplinador do educador em relação ao educando, na
fase inicial de seu processo educativo, precisa incidir sobre a vontade
desse, isto porque sua vontade está constituída de modo arbitrariamente
livre. Trata-se de disciplinar a liberdade de uma vontade que ainda não
conhece regras e, portanto, ainda não pode estabelecer nenhum limite
entre sua ação e o mundo. Trata-se de uma vontade que quer tudo,
agindo simplesmente de acordo com seus caprichos e inclinações.
Aqui se ve claramente que Kant parte de um conceito de
infância no qual a criança é compreendida como um ser que ainda não
possui as condições racionais de agir por conta própria. Por isso, ela
ainda não está em condições de agir moralmente e ser imputada,
inteiramente, como o jovem ou o adulto, por suas ações. A criança ainda
não é livre no sentido moral de decidir por conta própria e de ser
responsabilizada pelas ações que derivam dessa decisão. Justamente por
partir deste conceito de infância é que ele atribui papel central para o
conceito de disciplina. A criança é concebida como “matéria bruta” que
é, pela ação da educação enquanto arte, “polida” em sua rudeza. Kant
deixa entender aí uma concepção de ser humano como constituído por
uma associação entre humanidade e selvageria, competindo à disciplina,
neste contexto, evitar que o homem permaneça no estado selvagem.
Assim afirma ele: “A disciplina impede o homem de se desviar de seu
destino, de se desviar da humanidade por meio de suas inclinações
379
animais” (Päd, IX, 442). Aqui se nota claramente sua função negativa,
porque a disciplina “é a ação por meio da qual se tira do homem a sua
selvageria” (Päd, IX, 442).
O conceito de disciplina assume, deste modo, um duplo papel:
negativo, enquanto recurso pedagógico por meio do qual se estabelecem
limites à ação do educando em sua relação com os outros seres humanos
e com o mundo e um sentido positivo, derivado do negativo, na medida
em que ao agir mediante limites, a criança se exercita a viver mediante
regras. Para se entender a importância do conceito de disciplina, se faz
necessário compreender sua relação com o sentido atribuído por Kant ao
conceito de selvageria (Wildheit)58. Este, que caracteriza o estado inicial
da infância, significa o oposto da moralização entendida como estado no
qual a ação humana obriga-se racionalmente a agir de acordo com a lei
moral. Ou seja, a ação que se encontra no estado de moralização é
aquela guiada por uma vontade que decidiu racional e livremente a
assumir a lei moral como um dever de ação e, portanto, como um
imperativo moral. Por conter uma vontade livre que age de acordo com a
lei que a razão se dá a si mesma, o estado de moralização se caracteriza,
portanto, por uma ação livremente orientada por leis. Ora, a selvageria
significa o seu oposto, na medida em que é um agir independente de leis.
Kant diz isso, literalmente, na seguinte passagem: “A selvageria consiste
na independência de leis” (Päd, IX, 442).
58
Kant também emprega o conceito de animalidade (Tierheit) como sinônimo de
selvageria e não atribui nenhum fator descritivo biológico ou psicológico para estes
conceitos. Animalidade significa muito mais, como deixarei claro a seguir, um conceito
normativo contrário à moralidade. Enquanto humanidade e racionalidade são conceitos
idênticos, a disciplina pode conduzir à emancipação e, neste contexto, a animalidade
significa o “ainda-não” (“Noch-Nicht”) da racionalidade. Sobre isso ver: Hufnagel, 1988,
p. 50.
380
Neste sentido, justifica-se aqui seu empenho em superar o
estado selvagem por meio da educação, pois Kant era consciente de que
a permanência do ser humano neste estado o afastaria da moralidade,
simplesmente pela razão de que um adulto que não tenha regrado a sua
vontade, em sua infância, não saberá viver mais tarde mediante a
obrigação racional exigida pela lei moral. Ora, como do estado selvagem
deriva-se um conceito de liberdade enquanto ausência de lei, e como tal
conceito está muito distante daquele exigido para o cumprimento da lei
moral, ou para a obrigação moral diante da lei, então ele precisa ser
criticado e a disciplina cumpre esta finalidade. “A disciplina submete o
homem às leis da humanidade, começando por fazê-lo sentir a força das
próprias leis” (Päd, IX, 442). Ela se volta contra o estado selvagem de
uma vontade que quer ser livre de qualquer lei, impedindo que o
conceito de liberdade sem lei se fortaleça no processo de formação do
ser humano. A disciplina é compreendida então como forma de
educação dos desejos, dos caprichos e inclinações e, neste sentido, como
desempenhando uma função preparatória para o exercício futuro de
obediência à lei, a qual está fundada racionalmente no sentimento de
“respeito pela lei moral”.
Se o conceito de disciplina não pode ser entendido, por um
lado, como um tipo de imposição do educador sobre o educando que
levaria ao adestramento, por outro, com ele também não é pensado um
tipo de proteção excessiva que os pais devem exercer sobre seus filhos
ou que o educador deve exercer sobre o educando. Disciplina nada mais
é do que acostumar o homem “a submeter-se aos ditames da razão”
(Päd, IX, 442). Com isso o conceito kantiano de educação movimenta-se
no meio de uma tensão entre impedir que a vontade arbitrária do
educando exercite-se livremente e sem direção, por um lado e, por outro,
381
que os pais intervenham excessivamente na formação dos filhos.
Portanto, se a vontade do educando precisa ser disciplinada, também a
ação do educador precisa encontrar os seus limites e o desafio
educacional consiste em estabelecer limites sem impedir que a liberdade
dos envolvidos no processo pedagógico se desenvolva.
Kant mesmo oferece uma formulação lapidar da tensão inerente
ao processo educacional com as seguintes palavras: “Um dos maiores
problemas da educação é o de poder conciliar a submissão à pressão das
leis com o exercício da liberdade. Na verdade, a pressão é necessária!
Mas, de que modo cultivar a liberdade?” (Päd, IX, 453). Tal tensão
manifesta-se no processo pedagógico, como ele esclarece ainda na
seqüência da mesma passagem, na medida em que é “preciso habituar o
educando a suportar que a sua liberdade seja submetida à pressão de
outrem e que, ao mesmo tempo, dirija corretamente a sua liberdade”
(Päd, IX, 453). Nos encontramos aqui no coração de uma teoria
educacional que tem na idéia de liberdade e no exercício adequado da
mesma o seu ponto culminante. A tensão que daí deriva consiste no fato
de que a própria liberdade precisa ser educada por meio da pressão.
Como exercer autonomamente a liberdade mediante a sujeição à pressão
de leis, eis aí o grande desafio de uma educação voltada para a
moralidade. Tal desafio antecipa, de modo claro, aquela situação,
aparentemente desconcertante, na qual o sujeito sente-se racionalmente
obrigado a agir de acordo com a lei moral. O problema consiste aqui em
saber, como Grundlegung mesma pergunta, “woher das moralische
Gesetz verbinde” (GMS, IV, 450).
382
Educação como idéia regulativa
Penso ter deixado claro, com a argumentação desenvolvida até
aqui, as razões que tornam a disciplina um conceito central à pedagogia,
principalmente ao seu propósito de ser uma das formas de realização da
filosofia prática. Agora, pretendo dar um passo adiante e mostrar que
esta tarefa da pedagogia só pode ser compreendida adequadamente na
medida em que for esclarecida mediante o conceito de educação como
idéia, defendido por Kant em Über Pädagogik. Pois, ao meu ver, é a
concepção kantiana de educação como idéia que baliza um emprego
adequado do termo “realização” no interior de sua filosofia prática.
Se o conceito de moralização empregado por Kant nas
preleções Über Pädagogik tem o lugar sistemático nos seus escritos de
filosofia moral, o conceito de idéia desempenha papel sistemático
central no interior da KrV, no sentido de legitimar a passagem e, ao
mesmo tempo, demarcar os domínios e a continuidade entre “Analítica
Transcendental” e “Dialética Transcendental”, entre entendimento
(Verstand) e razão (Vernunft) e, com elas, de legitimar o emprego
especulativo da razão pura.59 A possibilidade de tal emprego, bem como
sua legitimidade, surgem no âmbito daquela problemática aberta pela
aventura da razão pura para além da experiência determinada como
possível pelo seu emprego teórico. Sem poder entrar nos detalhes dos
problemas que tal discussão contém, basta dizer apenas, para os
propósitos do momento, que é por meio das idéias que Kant procura
justificar, inicialmente, a importância da discussão sobre o emprego
59
Para um comentário detalhado sobre a “Dialética Transcendental” e, de modo especial,
sobre o significado e papel que as idéias desempenham na KrV, ver: Heimsoeth, 1971.
Aqui especialmente a primeira parte: “Ideenlehre und Paralogismen” (“Doutrina das
Idéias e Paralogismos”.
383
especulativo da razão pura. Pois, uma desautorização completa do
emprego especulativo resultaria, simultaneamente, na redução da razão
pura somente ao seu emprego teórico. Neste sentido, visto sob a
perspectiva mais ampla do desenvolvimento progressivo da filosofia
crítica kantiana subseqüente a KrV, a passagem da “Analítica” para a
“Dialética Transcendental” e, com ela, a noção de idéia reterão,
momentaneamente, toda a possibilidade de justificação futura de um
emprego prático da razão pura. Isso, no entanto, o próprio Kant deixa
claro numa nota da passagem B 398, que é um acréscimo da segunda
edição da KrV, onde indica o primado da razão prática, estritamente
vinculado ao caminho aberto pela razão especulativa. Como afirma
Terra: “Assim o campo das idéias amplia-se à medida que as idéias
práticas também são consideradas, e coloca-se a questão da relação entre
as idéias especulativas e as práticas” (Terra, 1995, p. 19).60
Kant considera as idéias tão naturais à razão pura especulativa
como os conceitos o são para o entendimento, ou seja, para a razão pura
teórica. Elas nada mais representam do que a ampliação das categorias
até o incondicionado (KrV, III, B 436). Entretanto, elas não podem ser
confundidas com a função constitutiva de conhecimento que as
categorias desempenham e nem com “a ilusão dialética”, pois possuem a
legitimidade de descortinar um leque de possibilidades à razão pura que
não podem ser visualizados pelo emprego teórico da mesma, o qual,
para ser objetivamente válido, como já mostraram tanto a “Estética”
como a “Analítica”, deve permanecer restrito ao âmbito estabelecido
pelo princípio da conexão necessária entre intuição e conceito. Ora,
justamente por estarem livres da restrição imposta por este princípio, é
60
Como mostra Terra neste trabalho, a herança platônica do termo idéia em Kant é clara.
No entanto, Kant a transforma “numa regra, num padrão de medida racional, recusando
qualquer hipóstase” (p. 21).
384
que as idéias não são obrigadas a possuírem algo congruente nos
sentidos e isso constitui o núcleo de sua definição: “eu compreendo por
idéia”, assim afirma Kant, “um conceito necessário da razão para o qual
não pode ser oferecido nenhum objeto correspondente nos sentidos”
(KrV, III, B 383). Ou, como é dito em outra passagem, “a peculiaridade
da idéia consiste exatamente no fato de nenhuma experiência jamais
poder congruir com ela” (KrV, III, B 649).
Por estarem livres daquele princípio, elas não podem ser
submetidas a nenhum tipo de dedução, que fosse semelhante aquele
realizado com os conceitos puros do entendimento, no âmbito de
justificação do emprego teórico-transcendental da razão pura. No
entanto, embora não suportem uma dedução transcendental e, por isso,
não possuam validade objetiva no sentido posto por aquela dedução, as
idéias comportam uma “derivação subjetiva da natureza de nossa razão”
(KrV, III, B 393) e, enquanto tal, possuem uma validade indeterminada
(unbestimmte
Gültigkeit),
transformando-se
assim
em
princípio
regulativo próprio para a unidade do emprego do entendimento. As
idéias expressam, portanto, a determinação objetiva da razão, a saber,
enquanto
“princípio
da
unidade
sistemática
do
emprego
do
entendimento” (Prol, IV, # 56). E, o mais importante de tudo isso, é o
fato de que Kant, no interior da “Dialética Transcendental”, concebe-as
como “causas eficientes (das ações e seus objetos) na moralidade”
(KrV, III, B 374) e, depois, já no interior do “Cânon da razão pura”,
trata-as como forma de avaliação da moralidade (“die Beurteilung der
Sittlichkeit”), distinguindo-as das máximas, que são a forma pela qual as
leis da moralidade são observadas (KrV, III, B 840).
Com isso fica claro que as idéias, segundo Kant, não possuem
significado de utopia e nem podem ser confundidas com uma mera
385
ilusão. Elas são, isto sim, conceitos racionais necessários (notwendigevernünftige Begriffe), que, embora não possuam uma função constitutiva
de conhecimento, assume um papel regulador central. Tal é o
significado atribuído por Kant a idéia de perfeição no contexto da Über
Pädagogik. Kant define a idéia aí como “o conceito de uma perfeição
ainda não encontrada na experiência” (Päd, IX, 444). Ora, conceber a
educação como idéia significa concebê-la como um processo contínuo
de formação orientada para o ideal de busca da perfeição humana, a qual
é
possível
de
ser
alcançada
progressivamente
por
meio
do
“desenvolvimento das disposições naturais” do ser humano. Com isso
fica claro então que a concepção de educação como idéia significa
concebê-la como um projeto que tem como fim desenvolver e
aperfeiçoar as disposições naturais humanas e isso não significa outra
coisa do que conceber a idéia de educação também como um conceito
racional necessário.
A educação entendida como idéia evita, deste modo, que o
termo “realização” seja compreendido somente no sentido histórico de
concretizar ou alcançar uma meta ou um estado social desejados.
Também evita, por sua vez, sua simples redução a uma premissa
empírica, no sentido de que sua própria “existência” devesse ser
verificada na “realidade”, embora, neste caso, tanto existência como
realidade devessem ser devidamente esclarecidos. Neste sentido, o
termo “realização” desempenha uma função normativa, enquanto um
ideal regulador da própria relação entre filosofia prática e pedagogia.
Não quer dizer, por isso, uma simples aplicação dos postulados da
filosofia prática ao processo pedagógico. Pensar a relação entre filosofia
prática e pedagogia de acordo com este conceito de “realização” impede,
ao meu ver, pelo menos de se conceber tal relação no sentido de que a
386
filosofia moral devesse tratar somente de problemas de fundamentação e
a pedagogia à tarefa de se ocupar com a aplicação dos conceitos morais
fundamentados. Pois, pensada nestes termos, tal relação não extrapolaria
o âmbito da “arte mecânica”, não podendo alcançar a “arte raciocinada”.
Bibliografia
CENCI, A. V. Esclarecimento, Autonomia e Educação Moral em
Kant. Passo Fundo, 2003, p. 12-14. (Mimeo).
DALBOSCO; C. A. Ding an sich und Erscheinung. Perspektiven des
transzendentalen Idealismus bei Kant. Würzburg 2002.
GROOTHOFF, H-H. Immanuel Kant. Ausgewählte Schriften zur
Pädagogik und ihrer Begründung. Paderbon: Ferdinand Schöningh,
1982.
HEIMSOETH, H. Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu
Kants Kritik der reinen Vernunft. Vier Teile (Dilética Transcendental:
Um comentário sobre a Crítica da Razão Pura. Quatro Partes)
Berlin/New York: Walter der Gruyter, 1971.
HUFNAGEL, E., Kants pädagogische Theorie“, in: Kant-Studien,
79(1988), 43-56.
KAUDER, P.; FISCHER, W. Immanuel Kant über Pädagogik.
Möhnesee: Schneider-Verl. Hohengehren, 1999.
TERRA, R. A Política Tensa: Idéia e realidade na filosofia da
história de Kant. São Paulo: Iluminuras, 1995.
WEISSKOPF, T. Immanuel Kant und die Pädagogik. Beitrag zu einer
Monographie. Basel: Editio Academica, 1970.
387
HERMENÊUTICA, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO
388
HERMENÊUTICA, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO
Nadja Hermann∗
O tema desta Mesa Redonda não se configura com um tema
clássico para a educação ou para a pedagogia, porque a hermenêutica
não integra aquele conjunto de saberes filosóficos que constituíram, a
partir da tradição moderna, as bases de justificação da educação. De
modo geral, os cursos de formação de professores incluem em seu
currículo a tradição iluminista, mas a hermenêutica não costuma ser
objeto de tematização no meio educacional. Podemos ainda afirmar que
são tímidas ou quase inexistentes as iniciativas que tentam pensar a
educação a partir da abordagem hermenêutica. Entretanto, quem a ela se
dedica sabe de sua produtividade para uma nova compreensão da
educação.
Este evento é uma oportunidade de tornar mais esclarecida as
relações entre educação e filosofia, sobretudo quando a filosofia não se
coloca mais como um “fundamento” da educação, deixando de ser
Professora Titular de
[email protected]
Filosofia
da
Educação/UFRGS.
Endereço
eletrônico:
389
filosofia da educação para ser uma filosofia na educação61, como será
retomado mais adiante.
Desde o pensamento platônico até o século XIX, a filosofia
estabeleceu um fundamento para a educação e sob tais fundamentos,
definiu os chamados
fins educacionais.
“Fundamento” é o termo
moderno utilizado para designar o princípio primeiro das coisas. Seu
pressuposto é que nada existe sem sentido: nihil est sine ratione.62 A
tradução da palavra latina ratio é fundamento, mas também razão e
causa. Nesse sentido, educar, na tradição clássica, deve ter um
fundamento, uma razão, algo que justifique a ação que pretende
transformar o ser humano naquilo que deveria ser, se realizasse o fim
definido pela sua natureza. Entender qual a essência da natureza
humana, qual a relação com o universo, com os outros e consigo mesmo
passa a ser o objeto da formação, de base metafísica. Como indicou
Heidegger, a culminância da metafísica traz o mundo técnico e a
predominância da racionalidade científica, pela qual tudo pode ser
objetificado, tornando a educação fortemente influenciada pelas
racionalizações
técnicas.
Disso
advém
todas
as
críticas
do
reducionismos da educação, que se deixar encerrar pelos ditames da
cientifização, pelo empobrecimento da experiência e pelo atrelamento à
mera formação profissional.
É justamente quando entram em crise os fundamentos
derivados da metafísica
que novas respostas são pensadas sobre
61
Essa sugestão foi indicada por Hans-Georg Flickinger na Mesa Redonda intitulada
“Filosofia da educação: para quê?”, I Seminário Internacional sobre Filosofia e Educação,
realizado pela UPF, Passo Fundo, RS, de 22 a 26/09/2003.
62
A noção de causa, causalidade, relação causal, princípio causal aparece no pensamento
filosófico, desde seu início. A expressão nihil est sine ratione (nada é sem razão) é o
princípio da razão suficiente formulado por Leibniz (1646-1716), pelo qual nada pode ser
como é sem que haja uma causa para isso. Compreender é dar razão, valendo-se de
princípios invariáveis.
390
natureza humana, nossas relações com o mundo, conosco mesmos etc. A
hermenêutica põe em dúvida o sujeito soberano como fundamento do
conhecimento baseado na representação dos objetos, para dar lugar à
linguagem e aos contextos práticos da vida cotidiana, como forma de
compreensão. Nosso acesso ao mundo se dá pela interpretação, dentro
de determinado contexto.
A hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2002) é um
tipo de racionalidade que surge da exigência de se contrapor a uma
época que procurou conhecer
seguindo apenas a racionalidade de
procedimentos empírico-formais e da explicação causal própria das
ciências naturais63. Ou seja, o saber só teria validade quando atendesse
às seguintes características: verificação empírica, estabelecimento de
relação causal,
eliminação de todo o pressuposto subjetivo e
hostilização da historicidade. Só mais tarde, quando se instaurou a
dúvida e a crítica radical à hegemonia avassaladora da racionalidade de
procedimentos empírico-formais e de explicação causal, predominante
no âmbito da ciência, é que a cultura em sua totalidade se defrontou
com a autolimitação do método científico para obter conhecimento. A
desconfiança passou a questionar se nosso acesso ao mundo poderia ser
assegurado apenas por um tipo de procedimento. Encontrávamo-nos,
assim, diante de uma profunda desconfiança quanto a um modo de
conhecer e saber que não negociasse com outras experiências como
aquelas vividas pela arte e pela consciência histórica. A hermenêutica
surge, então, como uma teoria inserida no mundo prático, apontando a
história e a linguagem como elementos estruturadores de nosso acesso
ao mundo e nosso aprender.
63
Parte das argumentações que se seguem, retomam, com modificações, algumas idéias
desenvolvidas no livro de minha autoria, Hermenêutica e educação.
391
Embora as origens da hermenêutica sejam bastante recuadas no
tempo, trata-se de um modo de filosofar típico do século XX, que
tematiza a compreensão da experiência humana no mundo, um mundo
que desde já se dá interpretado. Seu problema central é a interpretação,
um ato cultural que surge com as profundas lutas espirituais do
Renascimento, diretamente associado à criação do sujeito e à produção
do saber.
Nosso conhecimento tem raízes na prática das relações précientíficas que mantemos com as coisas e as pessoas. Isso significa que
o saber mantém vínculos estreitos com o mundo prático, antes que
qualquer tematização. Estamos, assim, desde já inseridos num mundo
que constitui o horizonte sob o qual se realizam nossos processos
compreensivos. É nessa medida que a hermenêutica filosófica é uma
racionalidade que conduz à verdade pelas condições humanas do
discurso e da linguagem. Ela pode designar “uma capacidade natural do
homem, isto é, a capacidade de um contato compreensivo com os
homens” (Gadamer, 1983, p. 61). Compreender é participar de um
sentido comum, de uma tradição a qual pertencemos. Gadamer se
pergunta pelo que significa propriamente compreender: “Compreender
não é, em todo o caso, estar de acordo com o que ou quem se
compreende. Tal igualdade seria utópica. Compreender significa que eu
posso pensar e ponderar o que o outro pensa. Ele poderia ter razão com
o que diz e com o que propriamente quer dizer. Compreender não é,
portanto, uma dominação do que nos está à frente, do outro e, em geral,
do mundo objetivo” (2000b, p. 23). Compreender assim depende da
linguagem e do diálogo.
392
O que significa linguagem para a hermenêutica?
Gadamer defende a tese de uma unidade entre linguagem e
pensamento, ou seja, a linguagem não é um instrumento do pensamento,
ou “um dos meios através dos quais a consciência liga-se ao mundo”
(Ibid., p. 120), mas, ao contrário, a linguagem é o meio pelo qual se
efetiva a compreensão de algo, por ela temos um mundo e o modo como
nele nos situamos. Trata-se da lingüisticidade originária de estar-nomundo. Mas abordar o tema da linguagem não é tarefa simples. O
próprio Gadamer reconhece que:
a linguagem é uma das coisas mais obscuras que há
para a reflexão humana. O caráter lingüístico está
tão extraordinariamente próximo de nosso pensar e
na sua realização é tão pouco objetivo, que ele
esconde, a partir de si próprio o seu verdadeiro ser.
[...] A partir do diálogo que somos, procuramos nos
aproximar da obscuridade da linguagem (1977, p.
457).
Mesmo reconhecendo seu caráter obscuro, é por possuir linguagem que
o homem “pode falar, isto é, pode tornar patente o não-presente através
de seu falar, de forma que também um outro o veja diante de si. Tudo o
que pensa, ele pode, assim,
comunicar. Mais ainda é pelo fato de
poderem assim comunicar-se que existe, entre os seres humanos, e só
entre eles, um pensar partilhado, isto é, conceitos comuns e aqueles,
sobretudo, através dos quais torna-se possível a convivência humana
sem assassinatos e homicídios, a saber, na forma de uma vida social, na
forma de uma constituição política” (2000b, p. 118).
A linguagem encontra sua realização no diálogo. Gadamer
vale-se do diálogo platônico para estruturar a experiência hermenêutica
393
do compreender. O diálogo se estrutura pela lógica da pergunta, que
tem prioridade sobre o enunciado. Quando uma pergunta é lançada, ela
projeta um horizonte de sentido sob o qual se situa e se torna possível de
ser formulada.
Perguntar é mais difícil que responder, por isso os
diálogos platônicos seguem um caminho imprevisível. Fazer perguntas
é condição fundamental para saber, uma vez que elas contêm a oposição
entre o sim e o não, atendendo à dialética do saber, que consiste em
considerar o seu contrário. Todos os envolvidos estão determinados pelo
tema e o objetivo não é enfraquecer a posição do outro, como uma mera
disputa, mas penetrar
no tema e mostrar sua
força. O verdadeiro
diálogo, portanto, não tem por objetivo derrotar uma pessoa, mas deixar
o tema vir à luz. O diálogo exige a abertura ao outro, através do
reconhecimento de que não sabemos.
O diálogo possibilita condições de reflexão sobre um
entendimento ainda não disponível; ou seja, oportuniza aos participantes
fazer uma auto-reflexão sobre seus próprios pontos de vista.
A primazia da pergunta para a essência do saber, diz Gadamer,
aponta, de maneira mais originária, a inadequação do método. Não há
um método para ensinar a perguntar e é justamente com Sócrates que se
criam os pressupostos o perguntar e o querer saber pressupõem um
saber que não se sabe e as perguntas são conduzidas através da arte de
desconcertar. O diálogo é impossibilitado se um dos participantes
pressupõe uma tese superior, pois ele exige abertura ao outro, levando à
sério suas posições.
A pergunta abre o horizonte do outro, conduz o participante do
diálogo para fora de suas próprias reservas. Flickinger observa que
aprender a perguntar marca o próprio processo de compreender: “Tratase aqui, naturalmente, de uma lógica do perguntar, desvinculada das
394
condições do conhecimento objetivo, porque não se pergunta para
confirmar o que se sabe, senão para proporcionar a si mesmo e ao
desconhecido um mostrar-se que o preserve e exponha simultaneamente.
Prevalece aqui, portanto, o perguntar sobre o responder. E o destino de
cada debate vindo após uma determinada apresentação depende
inteiramente da pergunta que o abre. O mesmo dá-se no encontro entre
duas pessoas. É a postura inicial de cada um que determina o aparecer
da outra, no seu horizonte interpretativo. O compreender exige, por isso,
em primeiro lugar, o aprendizado de como perguntar, a saber, de como
preservar, na pergunta, a alteridade, isto é, o outro na sua diferença,
dentro do próprio horizonte do encontro” (Ibid. p. 46).
O impulso daquele que não aceita opiniões pré-estabelecidas é
o que promove a pergunta, proveniente da negatividade da experiência.
Isso ocorre porque, em determinados momentos, dado o tipo de
experiência a que nos submetemos, a pergunta se impõe e não é mais
possível nem iludir-se, nem permanecer nas opiniões prévias. Com
esses aspectos, Gadamer destaca a singularidade da dialética da pergunta
e resposta frente a tudo o que se pode aprender e ensinar. Por isso ela
não é arte de ganhar ou convencer os participantes
pelo uso dos
argumentos, mas é uma arte que só se manifesta naquele que sabe
perguntar e que for capaz de manter em pé suas perguntas, isto é,
manter sua “orientação aberta”. A verdadeira interrogação pressupõe
abertura e, conseqüentemente, desconhecimento da resposta. A dialética
entre pergunta e resposta desmobiliza a firmeza das opiniões
dominantes, pois põe a descoberto o que até então não havia surgido. A
arte de perguntar, diz Gadamer, “é a arte de seguir perguntando e isto
significa que é a arte de pensar. Chama-se dialética porque é a arte de
conduzir um autêntica conversação” (1977, p. 444).
395
O diálogo, que se realiza pela maiêutica socrática (o parto da
palavra), faz
aparecer a verdade do lógos, que não é a de nenhum dos
parceiros do diálogo, pois se trata de uma verdade que não estava até
então disponível. Ela aparece na arte de olhar juntos e produzir um novo
conceito.
A linguagem, que se realiza no diálogo, é a valorização de um
saber prático da vida, independente de toda a ciência. Por isso, para
Gadamer, “a experiência hermenêutica chega na verdade tão distante
como na disposição ao diálogo entre os seres racionais” (Ibid., p. 466).
A possibilidade que o diálogo tem de trazer uma verdade que não é
aquela obtida pelos procedimentos metódicos é uma recuperação da
dialética platônica para a fundamentação do próprio processo de
compreender. Nesse sentido, a dialética platônica foi decisiva na
estruturação da hermenêutica filosófica e deixou marcas mais intensas
que o idealismo alemão. A dialética que interessa a Gadamer é definida
pelo próprio Platão como a arte de interrogar e responder. Num diálogo
filosófico não deve sobressair o desejo de brilhar de um em relação a
outro, mas a procura da verdade, onde as perguntas de um dos
interlocutores leva o outro a esclarecer sua própria posição, sem que se
chegue a uma síntese absoluta como seria na dialética hegeliana. Assim,
a verdade que pode ser obtida no diálogo, não significa uma posse da
verdade, mas uma verdade compartilhada pelo diálogo.
O que significa, para a educação, a defesa da linguagem e do
diálogo, proposta pela hermenêutica?
A possibilidade compreensiva da hermenêutica permite que a
educação
torne esclarecida para si mesma suas próprias bases de
justificação, através do debate a respeito das racionalidades que atuam
396
no fazer pedagógico. Assim, a educação pode interpretar seu próprio
modo de ser, em suas múltiplas diferenças. Esta auto-compreensão que a
hermenêutica reivindica não se refere a uma pretensão de total
transparência. Segundo Gadamer,
a auto-compreensão está sempre em trânsito, isto é,
se encontra num caminho cuja realização até o final
é impossível. Se há uma dimensão do inconsciente
que não foi iluminada, se todas as nossas ações,
desejos, impulsos, decisões e formas de
comportamentos – e por conseguinte o todo de
nossa existência humano-social remonta à obscura e
oculta dimensão da totalidade dos impulsos
inconscientes – se todas as nossas representações
conscientes podem ser somente máscaras, pretextos
– sob os quais nossa energia vital ou nossos
interesses sociais perseguem seus fins de maneira
inconsciente –, se todas as compreensões evidentes
e patentes que possuímos estão sujeitas a tais
dúvidas, então a ‘auto-compreensão’ não pode
significar uma auto-transparência de nossa
existência (1983, p. 70).
A interpretação nunca pode estar plenamente concluída porque
ela revela a finitude humana. A interpretação nos remete assim a um
incessante jogo de perguntas e respostas, que exige que se compreenda
os pressupostos da perguntas. Mesmo que saibamos não ser possível
obter um completo esclarecimento, faz parte da situação hermenêutica
continuar buscando o esclarecimento dos pressupostos de nossos
interesses. Daí a importância das perguntas e do diálogo.
Ao perguntar pela prevalência da normatividade técnicocientífica que domina o cenário pedagógico, a hermenêutica expõe o
reducionismo de entender a educação a partir dos ditames da
397
cientificização, em que o outro se torna objetificado (seja através de uma
relação de poder, seja por imposições técnicas que condicionam o
caminho da aprendizagem), para indicar que o processo educativo é uma
experiência do próprio aluno, que se realiza pela linguagem. Quanto
mais o processo pedagógico se aproxima dos ditames científicos, maior
será a pretensão de controle das circunstâncias em que ocorre tal
processo.
As
diferentes
versões
do
olhar
objetificador,
seja
behaviorismo, tecnicismo ou construtivismo, deixam escapar a
experiência dos atores envolvidos no processo, com seus inevitáveis
preconceitos e danos e, por conseqüência, empobrecem a experiência
formativa.
Se o processo educativo se torna objeto desse modo de fazer
ciência, deixa de considerar a pluralidade de concepções pedagógicas
que expressam diferentes modos de socialização e de orientações
valorativas em favor da crença de que só temos um caminho a seguir.
Esse é um dos principais equívocos na condução do processo
pedagógico, que a abordagem hermenêutica expõe como um limite
científico-metodológico, para buscar na linguagem um horizonte
intransponível de interpretação das relações educativas. Horizonte este
que, por princípio, não é objetificável e que se constitui num espaço
interpretativo que não tem limites.
É nessa perspectiva que o processo educativo extrapola a
relação sujeito-objeto, no sentido do sujeito que domina o objeto.
Evidentemente que uma interpretação dessa natureza expõe a estreiteza
de muitas categorias prevalentes nos sistemas de ensino, que abrangem
desde modos de avaliação da aprendizagem, procedimentos pedagógicos
até
metodologia da pesquisa
condição
determinante
da
em cursos de pós-graduação, como
aprendizagem.
Tais
determinações
398
metodológicas costumam reduzir o espaço da experiência, em que
aquele que aprende deve-se entregar à nova situação, aceitando o risco
das incertezas. É em favor de uma abertura da experiência educativa
que se situa a afirmação de Gadamer que “educar é educar-se” (2000a,
p. 11). Isso implica em levar a sério a posição do outro, no caso, o
aluno, como alguém que necessita ter suas capacidades e limites
respeitados. Só nesse espaço de abertura pode se dar o convencimento
necessário a respeito dos conteúdos da aprendizagem e o aluno pode
realizar sua própria experiência. “Educar é educar-se” implica,
sobretudo, no reconhecimento de que o processo contém debilidades e
que educar-se pressupõe a exposição ao risco. Nessa perspectiva, quem
efetivamente aprende, aprende a partir de suas próprias falhas (Idem,
ibid., p. 48).
A experiência educativa, enquanto hermenêutica, exige a
exposição ao risco, às situações abertas e inesperadas, coincidindo com
a impossibilidade de assegurar a tais práticas educativas uma estrutura
estável, que assegure o êxito da ação interventiva. Além disso, não pode
deixar de reconhecer a fecundidade da experiência do estranhamento,
pela constante necessidade de ruptura com a situação habitual, como
exigência para penetrar no processo compreensivo. Assim, a
desorientação e a desestabilização, que tanto mal-estar provocam pela
quebra da regularidade metódica - que se orienta por uma expectativa de
comportamento correto -, se constituirão em produtividade de sentido.
O sentido da educação não emerge de uma abstração, de uma
subjetividade pura, nem encontra sua produtividade quando se entrega à
rede de técnicas e procedimentos metodológicos, mas da entrega à
própria
experiência
educativa,
aceitando
o
que
ela
tem
de
imprevisibilidade. Trata-se da lógica do acontecimento, que não é
399
captável pela lógica dos conceitos. Daí que a valorização da metáfora
na educação se deve às possibilidades interpretativas da hermenêutica,
onde não está mais vigente o pensamento da identidade, como propôs a
metafísica, mas a decisão de pensar o ser como abertura, como propôs
Heidegger. Abrir o sentido da educação pela metáfora é ampliar as
possibilidades compreensivas, deixar o espaço para a pluralidade contra
o esmagamento do modelo único e seus perigos.
O mundo se torna legível pela interpretação que damos aos
sinais, pois não há uma essência a penetrar, portanto, não há um método
decisivo para chegar à verdade. Isto torna compreensível dois aspectos
que ocorrem na prática pedagógica, aparentemente contraditórios: por
um lado, a existência de uma ansiedade tecnizante, proveniente de uma
tradição em que a metodologia penetrou fortemente o campo
educacional, com sua pretensão de intervir para obter resultados seguros.
Poderíamos afirmar que desde as políticas até a organização curricular o
fazer pedagógico tenta se traduzir numa técnica (técnicas de leitura,
técnicas de trabalho em grupo, passando pelas promessas das novas
tecnologias informatizadas que facilitam o processo conhecedor). A
existência da técnica tem como pressuposto um certo aparato conceitual
que permite a ação intervencionista. Não há nada de errado com a
técnica, exceto quando ela tutela o processo, sem tornar explícitas as
bases de seu proceder e quando ela pretende encerrar a produtividade de
um processo, que consiste em abertura ao outro, em suas proceduras
lógicas. É evidente aqui o contrabando da metodologia científica em sua
pretensão de universalidade. Por outro lado, a frustração em relação às
promessas de êxito da metodologia leva os professores a uma
radicalização da perda de sentido. Ou seja, se as posições seguras
oscilam, se o objetivo estabelecido não é atingido, a educação deve
400
encontrar um horizonte mais amplo para compreender esse suposto
fracasso.
Contudo, a necessidade de autocompreensão do processo
educativo não pode significar uma pretensão de total transparência. É
uma ilusão considerar que podemos clarear todas as motivações e
interesses, que subjazem à experiência pedagógica. A hermenêutica nos
mostra que nem tudo aquilo que é desconhecido é transformado em
conhecido, como pretendia o conceito de progresso iluminista. E os
processos pedagógicos, a despeito do domínio buscado por diferentes
técnicas, trazem consigo o movimento próprio da existência humana que
é a tensão entre iluminação e encobrimento.
Reconhecendo esse movimento da existência humana, sob
influência de Heidegger e a desconstrução da metafísica e de seus
fundamentos, desestabiliza-se o conceito mais forte da educação que é
natureza humana interpretada idealisticamente. A partir desse conceito,
sempre se derivou uma ética e uma pedagogia. Por muitos descaminhos,
a compreensão que o humanismo trouxe a respeito de natureza humana é
de um ente objetificado, controlado por procedimentos racionais.
Loparic, em Ética da finitude, aponta que o perigo maior do humanismo
moderno, na perspectiva de Heidegger, não é o terror e o totalitarismo,
mas o modo de conceber a essência do homem, como um ser tematizado
no horizonte das objetividades. Ao usar o termo Dasein, Heidegger
quer descomprometer-se de toda a concepção prévia de natureza humana
para compreender o homem fora do âmbito das categorias tradicionais,
seja como mente, corpo, ou qualquer relação causal. O homem é um
acontecer temporal e suas possibilidades são uma acontecência do estar
aí no mundo.
401
Certamente isso implica em, pelo menos, desestabilizar o
arcabouço teórico do projeto pedagógico moderno. O ser humano, que
foi visto pelo iluminismo como um ser racional, deveria levar adiante
um processo educacional marcado pelo otimismo na ação emancipatória
e pela certeza no esclarecimento científico e no processo de
aperfeiçoamento que orienta as práticas educacionais. Isso resultou em
ênfases unilaterais, apoiadas no que se convencionou chamar critério
racional e num forte aparato tecnológico para garantir a intervenção
segura sobre a natureza
humana, da qual é esperada sempre novas e
melhores performances. A hermenêutica impõe limites à descrição
estrutural do sujeito, uma vez que ele se dá no acontecer. Nesse sentido,
ela quer mostrar a impossibilidade de a educação seguir o caminho do
ideal metafísico do conhecimento como descrição de estruturas
objetivamente dadas, pois isto seria a negação da historicidade que nos é
constitutiva.
Com a hermenêutica abrem-se, então, novas perspectivas de
reflexão para as ciências humanas e para a educação, pois dissolve a
idéia metafísica de fundamento. Assim, creio que se torna mais claro o
que foi anunciado no início: não temos uma filosofia da educação, que
nos proporcione um fundamento inequívoco. A perspectiva que se abre é
uma filosofia na educação, um incessante interrogar sobre suas rede de
pressupostos, de modo a articular de forma cada vez mais explícita a
inspiração original da educação, o que implica em compreender sua
própria herança, para além de qualquer dogmatismo ou prescrição
dedutiva. A educação pode assim compreender-se a si mesma numa
abertura de linguagem, numa conversação filosófica,
em que pode
seguir conversando com os envolvidos, repensando e redefinindo sua
402
própria experiência. Trata-se de um trabalho da educação recuperar seu
sentido, recuperar sua própria memória, uma vez que, originalmente, a
filosofia fez parte da educação.
Bibliografia
GADAMER, Hans-Georg. Gesammelte Werke. Tübingen: Mohr
Siebeck,1999.
_____. Verdad y Metodo. Trad. por Ana Agud Aparicio e Rafael de
Agapito. Salamanca: Sígueme, 1977,
_____. Verdad y Metodo II. Trad. por Manuel Olasagasti. Salamanca:
Sígueme, 1992.
_____. El problema de la conciencia histórica. Trad. por Augustín
Domingo Moratalla. Madrid: Tecnos,1993a.
_____. Hermenêutica como filosofia prática. In:. GADAMER, HansGeorg. A razão na época da ciência. Trad. por Ângela Dias. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro,1983.
_____. Elogio de la teoría: discursos y artículos. Trad. por Anna Poca.
Barcelona: Ediciones Península, 1993b.
_____. Der Anfang der Philosophie. Stuttgart: Reclam, 1996.
_____. Der Anfang des Wissens. Stuttgart: Reclam, 1999.
_____. Erziehung ist sich erziehen. Heidelberg: Kurpfälzischer Verlag,
2000a.
_____. Da palavra ao conceito, a tarefa da hermenêutica enquanto
filosofia. In: ALMEIDA, Custódio Luís Silva de; FLICKINGER, HansGeorg: ROHDEN, Luiz Hermenêutica filosófica: nas trilhas de HansGeorg Gadamer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000b, p.13-26.
_____. Homem e linguagem. In: ALMEIDA, Custódio Luís Silva de;
FLICKINGER, Hans-Georg: ROHDEN, Luiz Hermenêutica filosófica:
nas trilhas de Hans-Georg Gadamer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000b,
p.117-127.
_____. Retrospectiva dialógica à obra reunificada e sua história de
efetuação. Entrevista de Jean Grondin com H-G Gadamer. In:
ALMEIDA, Custódio Luís Silva de; FLICKINGER, Hans-Georg:
403
ROHDEN, Luiz Hermenêutica filosófica: nas trilhas de Hans-Georg
Gadamer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000c, p. 203-222.
GRONDIN, Jean. Introdução à hermenêutica filosófica. Trad. por
Benno Dischinger. São Leopoldo: Editora UNISINOS,1999.
HABERMAS, Jürgen. Dialética e Hermenêutica. Trad. por Álvaro
Valls. Porto Alegre: L&PM, 1987.
HEIDEGGER, Martin. Caminos de bosque. Trad. por Helena Cortés e
Arturo Leyte. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
_____. Ser e tempo. Trad. por Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis:
Vozes, 1995.
HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
HOY, David Couzens. Heidegger and the hermeneutic turn. In:
GUIGNON, Charles B. The Cambridge Companion to Heidegger.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. 170-194.
LOPARIC, Zeljko. Ética e finitude. São Paulo, EDUC, 1995.
PALMER, Richard. Hermenêutica. Trad. por Maria Luisa Ribeiro
Ferreira Lisboa: Edições 70, 1989.
PLATON. Obras completas. Trad. del grego, preámbulos y notas por
Maria Araújo e outros. Madrid: Agilar, 1981.
404
PRAGMÁTICA DO SABER:
A MUDANÇA DE PARADIGMA NA EDUCAÇÃO∗
Amarildo Luiz Trevisan∗
Considerações introdutórias
Tendo em vista as transformações por que passa o contexto
cultural atualmente, a teoria pedagógica, que pretende oferecer
embasamento às nossas práticas, e a formação docente, são solicitadas a
fazer a terapia das grandes fábulas ou das grandes esperanças
depositadas na idéia do progresso. Para propor a “terapia” dos excessos
da razão, a Filosofia deve captar o espírito do tempo (Zeitgeist),
preocupando-se em identificar onde ele se manifesta. Hoje esse espírito
se manifesta no visível, no movimento de voltar-se para o imediato, no
aqui e agora, no modo tribal de viver, na idéia de interatividade (que
sozinhos não resolveremos os nossos problemas), na valorização do
O texto é uma versão resumida da terceira unidade do livro que será publicado em breve
sob o título Terapia de Atlas: Pedagogia e Formação Docente na Pós-Modernidade.
Santa Cruz do Sul/RS: EDUNISC, 2004 (no prelo).
∗
Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação do CE/UFSM e Pesquisador do
CNPq. Endereço eletrônico: [email protected]
405
corpo e o que lhe está próximo, como o imaginário e o estético. Ora, se é
preciso capturar o Zeitgeist que permeia esses temas para entender as
transformações do mundo atual, procuro num primeiro momento
decifrar ou decodificar melhor o enigma desafiador da idéia de fim das
grandes histórias explicativas, como uma das características básicas da
chamada
pós-modernidade,
tentando perceber
por que elas estão
desacreditadas. A seguir, busco na historicidade das tradições alguns
elementos para pensar o equilíbrio dos excessos cometidos pela
racionalidade moderna. A discussão procura acolher alguns elementos
históricos, como a relação entre mito e educação e, depois de uma breve
análise, investigo a reelaboração que as tragédias gregas e a Filosofia
deram aos mitos. E, num terceiro momento, pretendo mostrar como
alguns autores podem auxiliar a fazer a terapia dos discursos que
estabeleceram uma sobrecarga metafísica e epistemológica nos discursos
educacionais, a partir da análise de algumas teses de Adorno e
Habermas especialmente.
A pragmática do saber na pós-modernidade
Estamos vivendo uma espécie de esgotamento de opções da
racionalidade que apostou na ideologia do progresso a todo custo, em
nome da qual o homem acabou destruindo os seus parceiros, como a
natureza, investindo na guerra por conta do lucro – motor do progresso
capitalista. Não é mais sensata a suposição de que podemos promover a
educação tendo como guia o ideário de um progresso cego. A ideologia
das grandes metanarrativas do progresso perdeu credibilidade, porque
ninguém mais acredita na idéia de que o cientista faz pesquisas visando
ao desenvolvimento social, senão com o interesse do capital e do lucro,
406
por exemplo. A influência do paradigma da relação sujeito e objeto,
homem e mundo, que está no fundamento da dominação que norteia o
desenvolvimento da modernização capitalista, trouxe como resultado a
reificação, coisificação ou alienação do indivíduo. Em conseqüência
disso, os objetos (mercadorias) passaram a ter vida, e os sujeitos
passaram a ser vistos como coisas sem vida ou objetos, transformandose em verdadeiros “instrumentos úteis”. Complementando essa idéia,
Vattimo alerta para uma outra relação que devemos estabelecer com o
mundo: “No fundo dessa constatação está a idéia, bastante discutível,
mas que, justamente por isso, merece ser debatida e levada em
consideração, de que vivemos uma época em que a produtividade e o
crescimento de uma sociedade não são medidos mais exclusivamente,
ou sequer principalmente, a partir de sua capacidade de dominar,
subjugar, reorientar, etc., as forças naturais, segundo uma imagem
mecânica da relação homem-mundo” (1992, p. 16).
A Filosofia, como de resto todas as áreas do conhecimento, está
passando por uma crise que sinaliza para grandes mudanças de
paradigmas. No paradigma epistemológico do pensamento moderno, os
conhecimentos eram valorizados pela sua proximidade em relação à
realidade, pelo atingimento de certezas ou não. Quanto mais próximo da
representação do real, mais a área do conhecimento era digna de crédito
e, portanto, mais aportes de status e financiamentos recebia. Era o
paradigma segundo a imagem da mente como espelho, a que se refere
Richard Rorty, ou paradigma da consciência, conforme afere Jürgen
Habermas. A derrota do pensamento moderno inicia, no entanto, quando
a
cultura
contemporânea
constata,
em
diversos
campos
do
conhecimento, que não temos o pretendido controle sobre os dados da
407
realidade, controle esse prometido pelo uso adequado do método
científico. E que a formação do sujeito consciente, autônomo, racional e
emancipado é uma ficção. Na verdade, somos muito mais controlados
do que controladores do meio social, somos como marionetes
teleguiados pelo inconsciente (Freud), ou pelos controles do sistema
econômico
(Marx),
ou
ainda
pelas
confusões
de
linguagem
(Wittgenstein). As novas evidências trazem profundas repercussões em
todas as instâncias teóricas, porque não temos mais como afirmar que
um tipo de conhecimento é mais importante, hierarquicamente falando,
do que outro tipo de conhecimento, dado que nenhum apresenta certezas
absolutas.
Conseqüentemente as informações passam a ser tratadas de
outra maneira, na medida em que impera uma pragmatização e uma
democratização dos saberes. Como exemplifica Anísio Teixeira a esse
respeito: “Está claro que não basta, para isso, aprender uma informação.
Pode-se saber tudo a respeito de dentes: a sua estrutura, a causa de suas
cáries e de suas moléstias e, ainda assim, nada disso alterar a conduta
prática da vida” (2000, p. 64-65). Não se pergunta mais nesse novo
paradigma sobre o que algo é em essência ou o que ele significa ou
representa, para o indivíduo saber posteriormente como deve agir, mas a
pergunta é direcionada no sentido de saber para que fim esse algo pode
ser utilizado. Ao comentar a virada paradigmática inaugurada por
Wittgenstein, Auroux argumenta nesse sentido: “Partindo do jogo de
linguagem, não se pode mais defender a identificação da significação
com a coisa: ela consiste na função de reconhecimento dos objetos
correspondentes a partir da percepção de seu nome no curso de uma
atividade determinada. Dito de outro modo, o uso é uma dimensão
408
irredutível: o importante não é mais se perguntar sobre a significação,
mas sobre o uso” (1998, p. 273).
O peso das metanarrativas
Sob o pano de fundo da pós-modernidade, a cultura, e, por
conseguinte, a linguagem, por uma questão de tradutibilidade, precisa
deixar o peso das metanarrativas de lado, pois elas eram instâncias
agregadoras de subjetividades que se reconheciam de forma homogênea.
No ambiente da pós-modernidade, as teorias e práticas pedagógicas são
desafiadas a se desfazer do peso das metanarrativas, dos grandes
discursos que alimentaram os sonhos da modernidade por dias melhores.
Afinal, eles se tornaram muito densos, pesados, iguais à figura lendária
do mito de Atlas, que ficou condenado a levar a esfera do mundo sobre
os ombros.
Tendo então essa compreensão do problema, o exorcismo do
complexo de Atlas pode ocorrer pela terapia das linguagens. Assim,
mister se faz que a educação possa se relacionar melhor com o espírito
da pós-modernidade, confrontando-se com uma tradição que enfatiza a
compreensão da Filosofia como terapêutica da linguagem e de teorias de
filósofos
contemporâneos
(trans)histórica. Pretendo
que
procuram
aliviar
essa
carga
apresentar a seguir, de um ponto de vista
hermenêutico, alguns dados históricos que apontam para essa outra
maneira de encarar o conhecimento. Afinal, a hermenêutica é uma
abordagem que serve para nos lembrar os compromissos históricos
assumidos pela Filosofia desde o seu surgimento, especialmente no
sentido de phronesis, que significa, antes de tudo, amor ao equilíbrio e
ao senso de medida.
409
Mito e educação
A
Filosofia
surge
como
tentativa
de
resposta
aos
questionamentos colocados pelos mitos. Os mitos eram narrativas que
apresentavam os perigos para o homem dos excessos postos no mundo,
quando era extrapolada a medida do humano, tanto no exagero quanto
na falta. A enormidade tem a ver com a idéia de monstruosidade e
também de desumanidade. Atualmente os mitos não têm mais a carga
negativa que lhes era atribuída até há um certo tempo atrás, quando eram
vistos, principalmente na perspectiva positivista, como depósito de todo
tipo de irracionalidades. Ao contrário, novos estudos fizeram com que
os mitos pudessem ser analisados com outros olhos. A importância do
elemento mítico está sendo recuperada, a ponto de a oposição entre
mito e Filosofia já não estar sendo mais aceita. Jaeger, nesse aspecto,
chega a afirmar que há uma filosofia no mito, ou melhor, os mitos
“constituíam toda a filosofia daqueles homens” (1995, p. 89). Os mitos
revelam forças ocultas dentro do ser humano, pulsões originais, sentidos
a desvelar, que trazem mais liberdade no sentido interpretativo. A sua
performance coloca em cena as enormidades e os excessos sem
julgamento moral, sem ocultamentos e sem máscaras, mas como formas
que podem se fazer presentes no mundo humano.
Ao mostrar as pulsões originais que podem levar ao exagero que está na raiz das doenças da alma ou da psiquê humana - e ao
cometimento da loucura, tanto no sentido individual quanto no coletivo,
ou atuar no revigoramento das capacidades psico-espirituais humanas,
os mitos revelam o seu conteúdo educativo, sendo então, ao mesmo
tempo, multifuncionais e pluridiversificados. Em função do desejo da
410
população de evidenciar as conseqüências dos conflitos humanos, seus
desequilíbrios e sua reelaboração na justa medida, os mitos continuaram
a existir de forma reelaborada, primeiro pelas tragédias gregas e, depois,
por intermédio da contribuição da Filosofia.
As tragédias gregas foram uma tentativa anterior à Filosofia de
repensar os mitos, porém, enquanto esta procurava fazer a sua
reestruturação em bases racionais, aquelas o faziam
num sentido
voltado à catarse ou à terapia dos sentimentos e emoções. As tragédias
são educativas porque mostram o que acontece quando o equilíbrio
humano é rompido, tanto no excesso quanto na falta da justa medida,
que os gregos chamavam de phoronesis, isto é, a sábia compreensão
(leitura) da situação. A tragédia causa no espectador a purgação, a
purificação ou a catarse dos sentimentos de piedade e medo (que são
dois extremos do comportamento moderado), através do choque dos
extremos pelas imagens representadas no teatro. Quando um dos lados
rompe o equilíbrio de forças contrárias, cumpre-se a “força do destino”,
que é onde o trágico busca compreender a existência da desmedida no
mundo humano. É por isso que elas foram aproveitadas pelo estado
grego como instrumento educativo e, contemporaneamente, como um
material prodigioso para a psicologia e a psicanálise, que trabalham com
a terapia do emocional. A tradição cultural que se estabeleceu depois, e
que substituiu o período áureo das tragédias gregas, também preocupouse em zelar pelo equilíbrio do bem viver.
A busca do equilíbrio pela Filosofia
411
A Filosofia nasceu de forma sistemática na vida urbana
ateniense, depois que os helenos deixaram de lado as grandes batalhas
que deram origem às narrativas mitológicas e o sentimento do trágico,
expresso nas tragédias. Ela surge no ambiente da cidade-Estado,
preocupada com a convivência próxima entre as pessoas e a necessidade
do respeito às regras da civilidade. Nessa linha de raciocínio, a Filosofia
brota do contexto grego com a marca da busca do exercício da cidadania
de forma harmoniosa e racional. Se a Filosofia nasceu sob essa
condição, então significa que toda a cultura está batizada com a mesma
marca da busca do equilíbrio das paixões no campo racional, pois no
berço
da civilização
ocidental todos
os conhecimentos eram
considerados Filosofia, isto é, amor à sabedoria. A Filosofia não aceita
que o equilíbrio seja dado pela intervenção de um ente divino, mas ele
deve ser conquistado pelo exercício da razão. É nesse sentido que ela se
aproximou do logos, para os pré-socráticos, da retórica, segundo a
versão dos Sofistas, da maiêutica socrática, das matemáticas, como no
caso de Platão, buscando adequação entre razão e proporção, ou então
esteve preocupada com o meio termo das decisões que se posiciona de
forma eqüidistante dos extremos, conforme a interpretação da ética
aristotélica.
A preocupação dos grandes aportes teóricos do pensamento
grego com o comportamento embasado na justa medida mostra o quanto
a Filosofia se preocupou com a “cura” das desmedidas e o quanto é
possível compreendê-la no seguimento da linha que leva dos mitos às
tragédias, e não em sua contraposição. É por isso que a Filosofia não
pode ser isolada da educação, e também do convívio com as ciências,
pois cada uma, a sua maneira, contribui para a construção da harmonia,
412
seja na invenção de procedimentos de intervenção educativos
(planejamento de métodos e técnicas), seja para a produção de
tecnologias e inovações (ciências), seja ainda em forma de sentidos para
ação (Filosofia) que permitam colocar em equilíbrio os diferentes
elementos que dão suporte à atividade humana. A Filosofia da
Educação, herdeira dessa compreensão, se preocupa em eliminar os
excessos contidos na educação, procurando resguardar a sua
racionalidade.
A contemporaneidade rompeu com a noção de equilíbrio grego,
mas não com os compromissos históricos assumidos pela Filosofia. A
novidade é que essa dinâmica adquiriu na atualidade uma nova
configuração, estando preocupada com os exageros causados pelo uso
da própria racionalidade, isto é, a própria racionalidade se transformou
em mito, ela própria é causadora das monstruosidades e desumanidades
já denunciadas nas mitologias.
A cultura contemporânea e a terapia dos excessos da razão
A teoria da Escola de Frankfurt, na versão dada por Adorno e
Horkheimer, esforçou-se em demonstrar que a oposição entre mhytos e
logos, fantasia e razão, já não é tão evidente como pensavam a ciência e
o positivismo. E, nesse sentido, procuraram mostrar a inviabilidade da
separação entre um elemento e outro na etapa do capitalismo tardio
(pós-moderno), ao afirmar que a própria racionalidade (instrumental) se
transformou em um novo mito. O conhecimento racional tornou-se
semelhante às características fantásticas do mito, portanto resultou em
algo fictício e circular. A dureza da dominação dos poderes naturais -
413
expulsa pela porta da frente pelo iluminismo - acabou agora retornando
pela porta dos fundos, causando a frieza das relações sociais, a rígida
extratificação social e o endurecimento da cultura em fórmulas fixas e
desligadas do fluxo da vida.
A rigidez conceitual dificulta levar adiante o compromisso da
educação com um ensino de qualidade, pois não permite flexibilizar as
ações pedagógicas de acordo com as necessidades de debelar o
empobrecimento da experiência. Para se contrapor a esse estado de
coisas, Adorno defende uma espécie de utopia às avessas, em que o
poder da imagem é utilizado no sentido educativo para despertar a
humanidade de suas idiossincrasias coletivas. É uma espécie de
flexibilização para o alto, já que Adorno tem em mira a alta cultura, em
sua expressão no campo das artes, da literatura e da estética. A imagem,
nesse caso, tem uma função terapêutica, desinflando a abstração e o
controle do conceito, livrando dos didatismos rígidos.1 A imagem em
estilo adorniano serve para quebrar a reificação do conceito, é uma
espécie de terapia da paralisação da discussão em um aspecto fechado da
discussão.
1
Em trabalhos anteriores (Trevisan, 2000; 2002a e 2002b), procurei refletir sobre os
potenciais pedagógicos de diversas teorias filosóficas que colaboram para fazer a terapia
das linguagens utilizadas por diversos discursos vigentes no campo da educação. Enfatizei
nesse sentido a teoria estética de Theodor W. Adorno, que busca resgatar o poder das
imagens – a filosofia das imagens – como antídoto da prática conceitual reificada, e sua
apropriação pela hermenêutica filosófica de Gadamer e a teoria da ação comunicativa, de
Jürgen Habermas. Em ambos os textos, procurei refletir sobre a possibilidade de uma
“mímesis da arte” e de uma “educação pela imagem”, respectivamente, servirem de fonte
de inspiração para a requalificação do processo educativo em seu sentido mais elevado. A
investigação se concentrou em desvelar as imagens presentes nos discursos filosóficos e
pedagógicos, com o intuito de avaliar a crise das noções ligadas à formação cultural
(Bildung) na pós-modernidade, que tem dificultado a avaliação de um produto cultural
autêntico no campo da educação e da Pedagogia. Pretendo agora retomar alguns pontos
dessa discussão, tentando mostrar como Adorno e Habermas, cada um à sua maneira,
querem evitar extremos perturbados, opor-se à sobrecarga de demandas e à inflação de
perspectivas elevadas de trabalho, colaborando para a instauração do paradigma da
pragmática do saber.
414
Habermas pensa o legado de Adorno sob o mesmo viés da
crítica da Escola de Frankfurt ao Iluminismo. O paradigma da relação
sujeito e objeto jogou a reflexão num beco sem saída, uma vez que
pensou a relação do homem com o mundo de maneira excessivamente
objetivada. Esse foi o problema da reflexão de Adorno, como de resto de
toda a Escola de Frankfurt: o sujeito se tornou objeto do sistema,
acabando reificado ou coisificado na alienação de todos os
procedimentos, o que levou a cultura a uma paralisação ou inércia da
objetividade. Ao deixar de ser sujeito e tornar-se mero objeto, o
indivíduo se desumaniza. A educação teria como tarefa lutar nesse
paradigma contra as forças da alienação em direção à humanização, para
reverter o quadro de dominação do sistema, que tende a se ampliar cada
vez mais, igualando indivíduos a mercadorias.
Por ser fiel à dimensão lingüística, para Habermas é preciso
retirar a sobrecarrega do ato de fala de seus estrangulamentos. Seu
diagnóstico é o de que a cultura se tornou reificada ou então ossificada
em fórmulas fixas e rígidas, porque perdeu contato com o mundo da
vida, com o espírito de época e com as transformações ocorridas. É
nesse sentido que os discursos reificados se transformaram em
ideologia ou falsa consciência, a qual, segundo Freitag e Rouanet (1993,
p. 21), acaba atuando em dois sentidos básicos na esfera pública: de um
lado, acobertada nas visões religiosas, metafísicas e epistemológicas de
mundo, acaba suprimindo do horizonte de discussão pública ‘temas e
problemas’ que a afronta e, de outro, impedindo a abertura de canais de
comunicação para os ‘discursos práticos’, que poderiam reorientar a
ação no sentido da correção dos desvios patológicos da comunicação.
Ainda de acordo com o diagnóstico de Freitag e Rouanet:
415
É assim que Habermas concebe a terapia como a
tentativa de re-simbolizar esses conteúdos banidos,
reintegrando-os na linguagem pública. E é também
à base do modelo psicanalítico que concebe o papel
da teoria crítica, enquanto instrumento de
elucidação
pedagógica:
ela
deve
propor
interpretações que levem os sujeitos, imersos na
falsa consciência a reconhecer-se em tais
construções, por processos autônomos de autoreflexão, assim como o analista propõe
interpretações que, se verdadeiras, são apropriadas
autonomamente pelo paciente, que com isso
reconstrói fragmentos de sua autobiografia. A crítica
da ideologia é uma espécie de ‘discurso terapêutico’
(Ibid., p. 21-22).
A necessidade de elaboração das desmedidas, entendidas por
Habermas como patologias sociais, poderia ocorrer colocando em
contato o problema com o mundo vivido isto é, com as condições
normais de fala. Ao ser colocado em contato com o mundo vivo, o
problema tende a se diluir, pois as confusões de linguagem estão na
origem das dificuldades de compreensão. A terapia nesse caso visa a
fazer a catarse, desinflacionar as expectativas exageradas de trabalho,
para que se adquira um comportamento mais adequado à realidade e daí
se possa, livre das amarras, operar com criatividade no contexto pósmoderno. Com isso, a terapia desfaz os paradoxos restituindo a
discussão para a esfera pública, para que as pessoas se ponham em
acordos válidos, minimamente possíveis, sobre questões envolvendo a
prática da vida. Porém, enquanto em Wittgenstein a diluição do
problema, ou, como ele mesmo diz, a “saída da mosca da garrafa” faz
com que não sobre mais nada para ser refletido, para Habermas existem
416
aí elementos a ser aproveitados. A crítica descontrutiva à modernidade
não faz desaparecer o seu projeto, mas levanta novas possibilidades para
reconstruir, de forma hermenêutico-pragmática, a problemática da crise
da razão que se enredou novamente no círculo vicioso do mito.
O tema da imagem é tratado sob o fundo da crise do
Iluminismo, que veio a desembocar na programação reificada das
indústrias culturais, as quais, em vez de esclarecer as populações de suas
potencialidades emancipatórias, acabam muitas vezes confundindo e
alienando os indivíduos. Nesse espectro há uma predominância das
imagens fugidias, flexíveis e desconstrutivas que guardam uma relação
direta com o consumo e a fruição estética dos sentidos e que, além disso,
têm um forte apelo visual. Habermas sinaliza favoravelmente à idéia de
que a linguagem pode abarcar as reivindicações da comunicação que se
utiliza das imagens produzidas pela publicidade e que pode ser refletida
nos discursos. “Compreensão do sentido se orienta para o conteúdo
semântico do discurso, mas também para as significações fixadas por
escrito ou em sistemas de símbolos não-lingüísticos, na medida em que
eles, em princípio, podem ser ‘recolhidos’ (eingeholt) em discursos” (,
1987, p. 26).
Na verdade, há um acordo, um pacto, que estabelece um fundo
comum
entre
quem
produz
as
imagens
midiáticas
e
quem
assiste/consome. Para haver mudanças, é preciso mexer nesse fundo ou
nesses acordos gerais que mantêm a produção da mídia operando de
maneira estática (ou reificada), sem compromisso com a dimensão
educativa da imagem. E esse fundo comum (nesse caso, distorcido),
existe positivamente em todos os jogos de linguagem. São consensos
que os homens estabelecem e que ultrapassam a multiplicidade dos
417
contextos e que une a todos sem constranger as diferenças. Se não
houvessem esses acordos públicos a sociedade não poderia sobreviver.
Aqui o paradigma de Habermas se distancia daquele utilizado
por Adorno, pois enquanto o segundo contenta-se em denunciar as
mazelas trazidas pela coisificação do ser humano (sujeito que se tornou
objeto do sistema), o primeiro avança a discussão mostrando que o
sujeito perde autonomia pelo consentimento em não fazer uso público da
razão. Os acordos que permitem à publicidade funcionar, produzindo a
alienação dos indivíduos, não é algo alheio ao querer da coletividade,
mas sempre passa pelo assentimento ou concordância da opinião
pública. É nesse ponto que a terapia da razão dialógica passa a atuar,
diluindo os paradoxos criados pelo paradigma da relação sujeito e
objeto, porque não são forças estranhas que inviabilizam o indivíduo de
ser sujeito frente ao real, mas a sua própria subjetividade que não se
reconhece no confronto com outras subjetividades, renunciando a si
mesma e as suas múltiplas diferenças, se tornando então homogênea e
indiferenciada. Porém, para tocar esse fundo comum que a publicidade
midiática tornou falso, é preciso formar a opinião pública crítica e por
isso a relação da imagem com a razão comunicativa é um campo
profícuo a ser potencializado. Por esse caminho, a teoria da ação
comunicativa responde afirmativamente às reivindicações
da pós-
modernidade.
A educação em sintonia com a pós-modernidade
Cabe um questionamento dirigido à educação nesse novo
cenário: como é possível desenhar os contornos da Pedagogia e da
418
formação docente de acordo com o espírito da pós-modernidade, ou
então, como a Pedagogia, interessada na sua inserção na cultura
contemporânea, pode fazer a “terapia” do Complexo de Atlas? A
reelaboração do Complexo de Atlas, que é justamente a fixação
excessiva e por demais idealizada numa atitude enrijecida, tanto teórica
quanto prática, pode acontecer na educação, na medida em que se
desenvolverem novos olhares sobre o problema da formação docente e a
sua base pedagógica. E isso repercute diretamente na prática educativa,
uma vez que as diretrizes de que a educação e a Pedagogia ficaram
reféns, muito mais do que produzir reflexão, por vezes penalizaram o
avanço da discussão no sentido pragmático.
Concluo que seria interessante uma atenção especial da
educação para a hegemonia da comunicação na forma da cultura
imagística, que está situada excessivamente no nível da exploração
mercantilizada. Assim, é necessário situar a Pedagogia como um
conhecimento crítico, auto-crítico e criativo, decodificando os enigmas
(sinais, símbolos, signos e ícones) da sociedade pós-moderna. “Nisto se
baseia aquela reflexividade que permite, contra a regra dos tipos que o
conteúdo semântico de proferimentos lingüísticos contenha, ao lado da
comunicação manifesta, também uma comunicação indireta sobre suas
aplicações. Isto vale, por exemplo, para o uso metafórico da linguagem”
(Ibid., p. 29). E isso exige situar a educação no plano da sensibilidade
estética, pois a tradição contém metáforas que, de forma implícita, são
imagens do discurso a ser potencializadas no sentido de auxiliar a
promover a formação da vontade pública esclarecida. Nesse sentido, a
educação e a Pedagogia não precisam mais operar com a compreensão
de trabalho abnegado, conforme a imagem do pedagogo-escravo, ou a
419
aceitação da veiculação de valores eternos e imutáveis, como na imagem
da caverna platônica, e ainda a concordância com os esquematismos das
pedagogias da consciência, que repassaram para dentro da educação
todo o peso da transformação social, como é ilustrado na interpretação
da metáfora segundo a curvatura da vara. Torna-se possível acreditar
então que as imagens produzidas no âmbito estético da linguagem
permitem desvelar as estruturas distorcidas que transitam na
comunicação, clarificando e auxiliando na terapia dos mecanismos da
racionalidade da dominação que permeiam o processo educativo.
É claro que essa é uma terapêutica diferente daquela que visa,
em princípio, a trabalhar aspectos singulares da conduta humana. Ela
tem antes muito mais a ver com a tradição grega que compreende a
Filosofia como “medicina da alma” e “amor à sabedoria”. A terapia da
linguagem utilizada visa à cura dos males ligados aos diversos
idealismos. Talvez por esse caminho possam ser combatidas as doenças
da Filosofia, que Deleuze denunciou tão bem ao dizer: “Não vamos
comparar os filósofos e as doenças, mas há doenças propriamente
filosóficas. O idealismo é a doença congênita da filosofia platônica e,
com seu cortejo de ascensões e de quedas, a forma maníaco-depressiva
da própria filosofia. A mania inspira e guia Platão” (2000, p. 131).
Bibliografia
AUROUX, Sylvain. A filosofia da linguagem. Trad. José Horta Nunes.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1998.
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2000.
420
FREITAG, B.; ROUANET, S. P. Introdução. In: ___. (Orgs.)
Habermas. Col. Grandes Cientistas Sociais. Vol. 15. São Paulo: Ática,
1993.
HABERMAS, J. Dialética e hermenêutica. Para a crítica da
hermenêutica de Gadamer. Trad. de Álvaro L. M. Valls. Porto Alegre:
L&PM, 1987.
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Artur
M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
TEIXEIRA, Anísio. Pequena introdução à filosofia da educação - A
escola progressiva, ou, a transformação da escola. 6. ed. São Paulo:
DP&A Editora, 2000.
TREVISAN, Amarildo Luiz. A educação da sensibilidade humana pelas
imagens estéticas. In: ___; ROSSATTO, Noeli Dutra. (Orgs). Revista
Educação. Dossiê: Filosofia e Ensino. Santa Maria: UFSM/CE, 2002a,
v. 27, n. 2, p. 83-92.
___. Filosofia da educação: mímesis e razão comunicativa. Ijuí: Ed. da
UNIJUÍ, 2000.
___. Pedagogia das imagens culturais: da formação cultural à
formação da opinião pública. Ijuí: Ed. da UNIJUÍ, 2002b.
VATTIMO, Gianni. A educação contemporânea entre a epistemologia e
a hermenêutica. In: Revista Tempo Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 108 – Interdisciplinaridade. jan.-mar., 1992.
421
HERMENÊUTICA E FORMAÇÃO NA VIRADA LINGUÍSTICA
Noeli Dutra Rossatto∗
Pois quando uma forma do Espírito não traz mais satisfação,
a filosofia presta rapidamente atenção
e procura compreender o descontentamento (Hegel).
1.
Espistemologia e hermenêutica na educação
Em artigo publicado em 1992 com o título A educação
contemporânea entre a epistemologia e a hermenêutica, Gianni
Vattimo, após constatar que a perda da autoridade do ideal científico de
formação ocorre num contexto amplamente condicionado pelo fim da
crença no progresso e que, além disso, depende por sua vez da
dissolução da concepção de unidade da história, acrescenta: “A
hermenêutica apresenta-se como possível sucessora da epistemologia,
enquanto ideal diretivo da educação, num momento em que a atitude
Professor e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM.
Endereço eletrônico: [email protected]
422
científica característica da mentalidade européia da idade moderna se
evidencia, justamente, como um aspecto desta mentalidade e nada mais”
(Vattimo, 1992, p. 14-15).
O diagnóstico de Vattimo se completa a partir do acréscimo de
algumas exigências que daí advêm, a destacar:
a) o estado de desagregação das sociedades avançadas prova
que a informação técnico-científica não é suficiente para gerar valores
sociais;
b) a pura formação técnico-científica não educará o cidadão
para uma sociedade democrática, mas criará apenas “instrumentos
inanimados”;
c) a capacidade de cooperar, de mudar de trabalho, de
consumir,
de
comunicar,
é
essencial
à
sobrevivência
e
ao
desenvolvimento de uma sociedade democrática;
d) e, por fim, a produtividade e o crescimento de uma sociedade
não são apenas medidos com base no domínio mecânico das forças
naturais pelo homem (cf. Vattimo, 1992, p. 16).
Dentro desse quadro é que a hermenêutica é vista como a
natural candidata a responder às exigências impostas por essa nova
realidade. Ela poderia capacitar o ser humano a se abrir a uma
pluralidade de paradigmas, compreender uma infinidade de linguagens e
dialogar com diferentes sistemas de metáforas enunciadores do mundo.
Frente a isso, cabe a pergunta: que se pode entender com a
chamada passagem do ideal epistemológico ao ideal hermenêutico em
educação? E mais: que se pode entender quando se diz que a primazia
423
do ideal da educação não mais poderia ficar nas mãos da formação
científica?
Tentar tirar a primazia do ideal de educação da ciência significa
no mínimo voltar-se contra séculos de afirmação de um tipo de
formação em que o trabalho técnico-artesanal triunfalmente substituiu a
chamada educação humanística, essencialmente contemplativa, que
seguia os pressupostos remanescentes da filosofia greco-clássica.
Antes, porém, de tratar do tipo de formação voltada para o
trabalho, cabe apontar algumas características do modelo de educação
voltado para a contemplação.
2. Educação: contemplação e ócio
Em sua origem grega, a imortalidade foi concebida desde o
início como uma atividade diretamente relacionada com a contemplação
da natureza (physis). Era a natureza o modelo a ser imitado, pois, em seu
ciclo interminável, ela configurava o protótipo daquilo que permanecia
para sempre: o mundo, como ensina o Timeu (37d) platônico, é um ser
vivente que procura realizar em seu curso uma certa imagem móvel da
eternidade. A idéia antiga de eterno retorno é bem ilustrada pela ave
Fênix que renasce sempre igual de suas cinzas. Porém, logo os gregos
vão se deparar com um problema: a grandeza humana não poderia
continuar a ser medida em função da eterna repetição do curso natural
do mundo. Segundo essa medida, o verdadeiramente humano, que para
eles residia nas palavras e nas ações humanas, ficaria situado no campo
dos elementos fúteis e menos duradouros.
424
Conforme mostra Hannah Arendt (1996, p, 49ss), a primeira
solução ao impasse virá dos poetas e historiadores e não dos filósofos. A
imortalidade, para os poetas e historiadores, passa a residir nas palavras
que eternizam os feitos, os eventos e as façanhas dos mortais. Aquiles,
por exemplo, será considerado um homem de grandes façanhas e de
grandes palavras. Os relatos dos historiadores e poetas superam não só o
momento trivial da palavra e da ação humanas, mas vão elevar aqueles
que falam e agem a um patamar situado além da simples vida dos
mortais. É o período dos heróis.
Apenas em segundo momento, continua Arendt, a solução será
dada em termos filosóficos. Não obstante, nem Platão nem Aristóteles
parecem estar dispostos a deixar que a imortalidade seja medida em
função das grandes proezas (historiador) e das grandes palavras (poetas)
humanas. Isso pode ser constatado na atitude tomada por Platão em
relação aos poetas. Eles acabam banidos de sua República. Também, o
mesmo Platão deitará sombra sobre o mundo sensível, factual, efêmero
dos eventos humanos. E se isso não bastasse, para o filósofo grego, a
verdade última, proporcionada pelo mundo das idéias, é algo que não
pode ser expresso por palavras (Cf. Leis, 721 e a Sétima Carta).
Seu discípulo Aristóteles, mesmo definindo o homem em
termos do discurso (zoon logon), não deixará de reconhecer na atividade
contemplativa do nous, que não se utiliza de palavras, a mais alta
capacidade humana (Ética a Nicômacos, 1143a36 e 1177b30-35).
Assim, poetas, historiadores e filósofos se distinguirão em um ponto
fundamental: se para os primeiros a palavra ocupa um lugar central, para
os últimos a atividade que mais se acerca da imortalidade é a
contemplação sem palavras (Cf. Arendt, 1996, p. 55 e 81).
425
Não obstante, seríamos injustos com Platão e Aristóteles se
deixássemos de registrar que, apesar da desconfiança em relação à
palavra, eles continuam creditando a ela uma função mediadora no
acesso às verdadeiras coisas. E é nesse mesmo sentido que mais tarde
virá a diferenciação estóica - e depois agostiniana - entre a palavra
proferida (logos prophorikós) e a palavra não proferida (logos
endiáthetos) ou contemplada. Apenas a última poderá revelar a
plenitude do Logos ou Verbo.
Assim, pois, não deve surpreender que, desde suas mais
remotas origens, o termo grego skolé (escola) e o latino schola, estão
associados à atividade contemplativa, à inação, ao repouso, ao tempo
livre e, em uma palavra, ao otium. A prática, entendida no sentido do
trabalho (tecné), será considerada uma atividade de escravos. E se os
medievais passam a entender o trabalho como virtude e o ócio como
pecado, nunca deixarão de prezar o saber contemplativo. Bem
ilustrativo, nesse aspecto, é o clássico Nome da Rosa de Umberto Eco,
em que o saber está contido nos livros e é domínio absoluto dos
bibliotecários, chefiados pelo velho e cego monge, Jorge de Burgos.
3. Educação: conhecimento e ação
A relação entre a práxis como trabalho ou técnica e teoria só
aparecerá claramente no Renascimento. É aí que o trabalho passa a
alcançar um lugar bem distinto daquele antes ocupado no mundo grecoromano e medieval. Com a Reforma Protestante, ele passa a
desempenhar o papel de mediador no processo de santificação do
mundo. Alcança assim o grau de plenitude e de pureza outrora reservado
426
apenas aos contemplativos. A nova relação entre teoria e trabalho está
registrada, talvez por vez primeira, nas utopias renascentistas, que são
uma espécie de paralelo teórico dos movimentos reformistas (Cf. Turrò,
1985, p. 99ss).
3.1. Das utopias à tecnologia: quem sabe faz
Na Utopia de Tomas Morus de 1516, na Cidade do Sol de
Tommaso Campanella, escrita em 1602 e na Nova Atlântida de Francis
Bacon, publicada em 1627, do mesmo modo que na utópica República
platônica, os postos de governo continuam a ser ocupados pelos
detentores da teoria: os sábios. Porém, eis a questão: quem é agora o
sábio? Certamente, não são mais os contemplativos filósofos gregos e
medievais.
Tomemos a Cidade do Sol como exemplo. Nela, o sábio é o
hábil engenheiro que se ocupa da natureza mediante o trabalho e a
técnica. Uma frase posta por Campanella na boca de seu personagem, o
Almirante, bem ilustra a quebra com a velha relação entre saber e
contemplação, ócio e educação, trabalho e ignorância: “Não posso
exprimir-lhe quanto desprezo têm por nós, por chamarmos de ignóbeis
os artífices e de nobres os que, não sabendo fazer coisa alguma, vivem
no ócio e sacrificam tantos homens que, chamados servos, são
instrumentos da preguiça e da luxúria. Dizem ainda que não é de
admirar que dessas casas e escolas de torpeza saiam catervas de
intrigantes e malfeitores, com infinito dano para o interesse público”
(Campanella, 1983, p. 253).
427
Um dos elementos que marca a nova relação saber e trabalho é
ruptura com a antiga distinção greco-medieval entre naturalia e
artificialia. Até então o objeto de contemplação era o mundo natural.
Em contrapartida, os que trabalhavam eram desvalorizados porque
exerciam uma atividade inferior, e os produtos do trabalho, (os
artificialia) porque eram consideradas cópias. A partir do renascimento
dá-se o processo inverso: as cópias passam a valer.
3. 2. Ação como processo mecânico
Porém, há aqui um elemento novo a destacar. Não se trata
apenas de deixar de contemplar mimeticamente a natureza, passando a
valorizar em troca os produtos humanos. Trata-se, sim, de imitar os
processos naturais de forma mecânica. Como observa pontualmente
Arendt, o investigador já não mais se pergunta, em sentido
contemplativo, pelo “que” das coisas: irá investigar “como” elas são
feitas. Assim: “«conheço» algo quando compreendo como chegou a ser”
(Arendt, 1996, p. 66). A ênfase agora migra das coisas para o processo
de fabricação das mesmas. O movimento geral não será mais o de
contemplar a natureza ou a história em busca de um bom exemplo a ser
imitado. Busca-se agora fazer ou fabricar artificialmente a natureza e a
história.
Em semelhante sentido diz Habermas (cf. 1987, p. 67ss): tratase de reproduzir de forma artificial os processos naturais e, segundo esta
mesma medida, a teoria ganha um novo critério de verdade que é o da
certeza do técnico: só conhecemos um objeto na medida em que somos
capazes de fazê-lo ou reproduzi-lo. Exemplo disso é a mentalidade que
428
permeia O Príncipe de N. Maquiavel, em que ganha prioridade a busca
de artifícios eficazes para mantenere lo stato. Ou o Leviatã de Tomas
Hobbes, em que, a saída de um suposto estado natural ameaçador, se dá
pela construção de um estado artificial, mediante leis e pactos.
Tal mentalidade é que vai forjar vocábulos e expressões, tais
como “desenvolvimento” e “progresso”, “unidade da história” e
“história única”. Palavras e expressões que são até hoje usadas com esse
mesmo conteúdo semântico e hermenêutico.
Em termos de educação, a julgar pelo que diz Paolo Rossi, há
nesse momento uma clara tendência a substituir uma pedagogia literária
e retórica por um tipo de ensino que dará progressiva importância à
preparação técnica e a formação profissional (Rossi, 1966, p. 21-22).
Esse modelo de treinamento prima pelo tecnicismo pedagógico e a
utopia do trabalho. As escolas aos poucos vão se transformar em
verdadeiras fábricas, e essas linhas de montagem não vão fazer mais que
treinar jovens para o mercado.
E como fica a questão da linguagem nesses modelos técnicocientíficos? Tomemos um exemplo. Trata-se de uma das versões
renascentistas da lenda judaica do Golem.
4. O Golem: ética e linguagem na ciência
Várias são as versões dessa lenda judaica, romanceada por
Gustav Meyrink, sob o título O Golem (Der Golem, 1915). Todas elas
revivem a mesma hipótese formulada por alguns rabinos medievais,
segundo a qual era possível construir, mediante artifícios mágicos da
429
linguagem, um ser dotado de vida e de inteligência. Em uma palavra: era
possível repetir o experimento da criação de Adão.
Para tanto, bastava moldar uma imagem humana em argila
vermelha e infundir-lhe vida. Como na tradição judaica a marca do
divino é da Palavra, acreditavam eles, assim como o Deus
veterotestamentário, poder descobrir a combinação alfabética capaz de
infundir vida a esse bloco de barro. A palavra mágica, que devia ser
escrita em sua testa, era emeth (verdade). Tão logo ela fosse gravada na
fronte desse boneco de argila, ele se ergueria e transformar-se-ia numa
espécie de autômato a serviço dos humanos.
Houve um primeiro problema. A criatura cresceu de maneira
desmedida e tornou-se muito perigosa. Outro problema surge: ela era
totalmente destituída de princípios morais. Não fazia distinção entre o
bem e o mal. Simplesmente levava a cabo o que queria executar. Surgiu
daí a necessidade de eliminá-la. Era preciso apagar a primeira letra da
fórmula, revertendo-a em meth (morte).
Vejamos dois aspectos deste exemplo.
4.1. Além do bem e do mal
O primeiro aspecto a destacar é o da relação entre ética e
ciência. No exemplo citado, a criatura, que é a imagem de seu criador, é
incapaz de distinguir o bem e o mal. Assim, criador e criatura encarnam
um tipo de consciência incapaz de reconhecer imperativos morais. Este é
o protótipo da consciência renascentista e moderna que só conhece
depois de ter varrido todos os ídolos de seu fórum interior. E tal
conhecimento se reduz a aplicação de um conjunto de verdades
430
apodíticas (episteme), isto é, verdades fixas e atemporais como as da
matemática, na obtenção de um determinado fim prático-operativo
(tecné). Assim, não há mais lugar para a ação que não visa um fim
instrumental e conseqüentemente a ética não tem mais razão de ser.
Uma das justificativas da exclusão da ética da ciência pode ser
buscada num dos pressupostos do empirismo de Hume (1973, p. 138),
que diz ser a razão humana capaz de lidar apenas com dois tipos de
objetos: as relações de idéias (princípios lógicos e matemáticos) e as
questões de fato. Idêntico pressuposto reaparece mais tarde na
desalentadora afirmação do Tractatus lógico-philosophicus (6.42), de
Ludwig Wittgenstein, que conclui de modo lacunar: “não pode haver
proposição ética”. E por que não podem existir proposições éticas?
Porque tal concepção de razão, que só sabe avaliar proposições factuais
e relações matemáticas, concluirá inevitavelmente que, no tocante às
proposições éticas, que implicam em juízos de valor e fins não
instrumentais, o melhor é guardar silêncio (Cf. Macintyre, 2001, p.
102ss e Habermas, 1989, p. 62ss).
Esta análise pode ser complementada com base na comparação
entre o modelo helênico de ciência e o babilônico (cf. Husserl, 1976,
Anexo III; e os comentários de Turrò, 1985, p. 325ss). A nova ciência,
herdeira da técnica renascentista, traz consigo os remanescentes da
magia, da alquimia e de todo o saber hermético. Desse modo, a sua
própria essência radica em um elemento obscurantista, propício a ocupar
um posto fundamental com o passar do tempo. Trata-se do saber
reduzido a uma minoria de especialistas, isto é, um grupo de iniciados
que convertem a mediação teórica em serva da pura operatividade
técnica, reavivando a prática do hermetismo mágico-místico.
431
Esses remanescentes obscurantistas não advêm da ciência
helênica propriamente dita, pois esta, ao contrário: a) preza o caráter de
publicidade, dado que está aberta a todos os homens, b) submete a pura
atividade técnica a uma normativa de fins e razões éticas, e c) privilegia
a razão sobre a operatividade fática desenfreada (cf. Turrò, 1985, p.
325).
Assim, pois, o caráter privado da linguagem científica, os
métodos que visam a cega e rígida aplicação técnica de uma teoria e a
ausência
de
princípios
éticos
são
elementos
introduzidos
na
modernidade e que não advêm strito sensu da tradição grega.
O segundo aspecto consiste em dirigir um comentário
específico à linguagem científica.
4.2. Linguagem oracular e ciência
A nova ciência, fiel à herança do hermetismo renascentista,
concebe a linguagem enquanto um conjunto velado de arcanos só
decifrados coerentemente por um pequeno, seleto e fechado grupo de
especialistas. Essa linguagem, tal qual um oráculo sagrado, alberga as
verdades que, quando aplicadas corretamente, produzem efeitos
mágicos, verdadeiros milagres. Cada grupo de cientistas - e daí não
escapam os cientistas políticos e sociais, economistas, pedagogos e
filósofos - produz seu jargão particular, difícil de ser comunicado e
compreendido desde uma posição externalista. Quem olha de fora, aliás,
não tem mais nada a fazer senão reverenciar tantas palavras sábias com
tantos resultados fantásticos.
Significativo ainda para essa análise é o fato de que a
linguagem científica, ao reivindicar para si a pretensão de neutralidade e
432
objetivadade, não faz mais que reviver um dos elementos caros à
tradição judaica. Trata-se da identificação entre palavra e coisa. Lembrese que o termo davar na tradição semita, diferentemente da helênica,
significa palavra e coisa a um só tempo. O nome é a referência essencial
da coisa. O Livro do Gênesis já apontava para a falta de distancia entre
dito e feito: “Deus disse: Faça-se a luz. E a luz foi feita” (Gen 1,3). De
igual modo, a linguagem científica opera com um pressuposto nada
modesto: o da identificação entre conhecimento, linguagem e ser ou
fazer. Daí algumas ilações. Quem conhece o ser (as coisas) sabe como
fazê-lo. Quem domina o ser, domina sua linguagem e possui a verdade
das coisas. E quem tem o domínio dos meios e dos fins tem a verdade.
Nada mais alheio a isso que os resultados das últimas pesquisas
no campo da filosofia. Depois da virada ontológica, provocada por
Heidegger, só se pode conhecer como ser-no-mundo; e mais: o ser
reside na linguagem. Desde os chamados teóricos da suspeita (Marx,
Freud e Nietzsche) já se desconfia da linguagem devido aos seus
conteúdos ideológicos, inconscientes e genealógicos. Para outros, no
melhor dos casos, a linguagem se mostra apenas como a representação
de uma presença ausente (Lefebvre, 1983).
É em semelhante sentido que a hermenêutica gadameriana vem
estabelecer, contra a teoria iluminista da consciência, que o sujeito do
conhecimento já está ontologicamente situado no-mundo-da-linguagem;
e, por isso, está previamente dominado pelos prejuízos que ele mesmo
nega e não admite como ponto de partida (Gadamer, I, 1991. p, 437). A
semiótica, por seu lado, vem endossar essa crítica ao dizer de forma
irreverente que, em última instância, a linguagem só serve para
“mentir”, dado que os signos são sempre “um substituto significante de
433
outra coisa qualquer”, e esta coisa “não precisa existir nem subsistir de
fato no momento em que o signo ocupa seu lugar” (Eco, 1980, p. 4).
5. Confluências atuais: formação e processos livres
Dentro desse quadro geral, vê-se com maior clareza o porquê
da desconfiança em relação a deixar nas mãos da formação técnicocientífica a primazia do ideal da educação. Vê-se, ainda, conforme foi
advertido inicialmente com Vattimo, como a informação técnicocientífica não podia gerar valores e educar para a cidadania, dado que,
por seus resquícios obscurantistas, se tornara extremamente adversa ao
mundo da ética. E, por fim, vê-se que a capacidade de cooperação, a
produtividade e o crescimento não podem continuar a ser medidos
apenas pelo domínio mecânico das forças naturais.
Para concluir, apontamos, além disso, para dois pontos que
atualmente confluem, levando a repensar o diferenciado tratamento da
ação educativa.
1. O primeiro ponto reside na categoria de ação. A ação não
pode mais ser tratada simplesmente dentro do rígido esquema técnicocientífico, como ação instrumental (tecnologia) ou como trabalho social
(marxismo). De igual modo, deve deixar de ser tratada como práxis vital
(fenomenologia) ou práxis espontânea, reduzindo-se a uma seqüência de
atos isolados, alheios ao contexto de origem (existencialismo e filosofia
analítica).
Parece ser esse o dilema vivido pelo personagem Antoine
Roquentin de A náusea de Jean-Paul Sartre: ou as ações são tomadas no
cotidiano
do
indivíduo
isolado,
sem
sentido
algum
e
sem
434
inteligibilidade; ou, de outro lado, elas já estão plenas de sentido e
significado no palco da História. Nos dois casos, as ações ficam
deturpadas. A conclusão não poderá ser outra: a História com
inteligibilidade é falsa; verdadeira, ainda que ininteligível, é a descrição
da sucessão de atos individuais.
Isso ilustra bem o conflito que marca a passagem do paradigma
epistemológico (ordem do conhecimento) para o ontológico (ordem da
existência). Qual a solução ao impasse? Ela não virá de Sartre.
O passo seguinte será o de tirar a ação dos limites da relação
sujeito e objeto, ou seja, deixar de pensar dentro do paradigma da
consciência iluminista. Assim, é preciso, em um momento, reconhecer
que há uma instância atemática ou pré-cognitiva que precede e funda a
relação sujeito-objeto. Porém, em outro momento, se faz necessário
passar a compreender a ação, o sujeito e o objeto dentro dos limites da
linguagem. É o que, em última instância, está entredito nos conceitos de
ação comunicativa de Habermas, de narração de A. MacIntyre e de
narrativa de P. Ricoeur.
Apenas compreendendo a ação como linguagem, como texto,
como narração é que se pode dar primazia à hermenêutica na educação.
Exercerá ela o papel de interlocutor situado dessas várias linguagens.
2. O segundo ponto resulta do novo rumo tomado pela própria
pesquisa científica. Por mais paradoxal que possa parecer, há algum
tempo a ciência começou a operar com um novo conceito de ação: a
ação como processo livre. Nesse sentido, H. Arendt (1996, p. 68ss), em
texto publicado em 1954, já advertia para a entrada definitiva nesse
segundo momento da ciência. A ação como processo mecânico,
435
característica fundamental da modernidade sólida, aos poucos foi
cedendo lugar à ação livre, conceito que era até então reservado apenas
ao universo da ética.
De acordo com isso, o procedimento científico vai desencadear
processos naturais que adquirem uma espécie de vida própria, dado que,
tal qual os seres humanos, desenvolvem-se com plena liberdade e
autonomia. Ao contrário dos processos mecânicos, que, do início ao fim,
podiam ser controlados, posto que seguiam às rígidas leis da
causalidade, agora na liquid modernity não se tem mais essa
possibilidade: os processos livres não deixam atrás de si produto algum.
Tal qual a ação ética, que não visa um fim exterior, os processos livres
não deixam vestígio atrás de si. E, devido a essa natureza sutil, não
podem ser facilmente diagnosticados, medidos, avaliados, controlados
ou dominados.
A duração eterna que, segundo Bauman (2001, p. 145), era o
principal motivo da ação na modernidade sólida e o foco do
conhecimento científico, não tem mais função. Ela deixou o lugar para
uma noção de tempo fugaz, instantâneo, imediato, real. Assim, o
máximo que se pode antever é que o processo vai a uma determinada
direção, e mesmo a respeito disso nunca se está seguro. Aqui, poder-seia exemplificar tanto com as mais recentes conquistas da ciência
(Projeto Genoma, Clonagem, Medicina nuclear, transgenia, etc), como
com alguns dos produtos da indústria cultural (Big Brother, reality
show, informações em tempo real), ou ainda as novas formas de guerra
de terror, os fluxos de capital e a informática.
Não é de estranhar, portanto, que hoje a própria ciência de
ponta volte-se para a ética. Mais especificamente, no caso da clonagem
436
humana, que pode pôr em jogo o destino da espécie, e das guerras
atômicas ou bacteriológicas, que podem colocar em risco a destruição do
planeta, fica-se, em última instância, à mercê de decisões e imperativos
éticos. Em consonância com isso, caberia ao educador desencadear
processos livres em que não se pode avaliar de forma mecânica os
resultados da aprendizagem, pois, ao contrário do que antes ocorria, não
se teria mais certeza a respeito do produto final, ou melhor, não poderia
mais haver produtos finais. Seriam processos livres e nada mais.
Bibliografia
ARENDT, Hannah. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre
la reflexión política. Barcelona: Península, 1996.
___. A vida do espírito. O pensar, o querer e o julgar. Rio de Janeiro:
Dumará, 1991.
BACON, Francis. Novum organum. Nova Atlântida. 3ª ed., São Paulo:
Abril Cultural (Os Pensadores), l984.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida (Liquid Modernity, 2000).
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
ECO, U. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1980.
GADAMER, H.-G. Verdad y método. Fundamentos de una
hermenéutica filosófica. Vol. I, 4ª ed., Salamanca: Sígueme, 1991.
HABERMAS, J. Teoría y praxis. Estudios de filosofía social. Madrid:
Tecnos, 1987.
HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano. In: Os
pensadores (Berkeley/Hume). São Paulo: Abril Cultural, 1973.
HUSSERL, E. La crise des sciences européens et la phénoménologie
transcendentale. Paris: Gallimard, 1976.
LEFEBVRE, H. La presencia y la ausencia. Contrubuición a teoria de
las representaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
MACINTYRE, A. Depois da virtude. Bauru: Edusc, 2001.
437
NAPOLI, R. B., ROSSATTO, N. D., FABRI, M. (Orgs). Ética e
justiça. Santa Maria: Palloti, 2003.
ROSSI, Paolo. Los filósofos y las máquinas. Barcelona: Labor, 1966.
TURRÓ, Salvio. Descartes: del hermetismo a la nueva ciencia.
Barcelona: Antropos, 1985.
VATTIMO, Gianni. A educação contemporânea entre a epistemologia e
a hermenêutica, in Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro: 108:9/18,
jan.-mar., 1992.
438
MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
439
ANTROPÓFAGOS, ECOLOGISTAS E OUTROS “BÁRBAROS” –
UMA CONTRIBUIÇÃO FILOSÓFICA À EDUCAÇÃO
Valdo Barcelos∗
Introdução
“O problema não é que somos poucos, e
sim que temos um pensamento
reducionista e unidimensional. Conseguir,
um dia, ser muitos não é uma tarefa
simples, mas poder realizar os próprios
sonhos é uma maravilha”
(Daniel Cohn-Bendit – Maio de 68).
Para alguns pensadores contemporâneos, dentre os quais cito o
italiano Gianni Vattimo, não mais vivemos um tempo em que ainda se
possa pensar a partir de uma representação única de historia. O que
temos, em síntese, são imagens construídas de um passado. Imagens e
representações, essas, que provém de diversos, e até mesmo
divergentes, pontos de vista. Como não acredito na existência de um
ponto de vista único, capaz de dar conta da complexidade das questões
Prof. Adj. CE/UFSM - ADE (Dep. Administração Escolar) - GEPEIS (Grupo de Estudos
e Pesquisas em Educação e Imaginário Social). Endereço eletrônico:
[email protected]
440
que emergem nos tempos de pós-modernidade em que vivemos, me
filio àqueles e àquelas que preferem olhar para a história através de
diferentes possibilidades interpretativas.
Essa concepção está em acordo, também, com o que defende o
poeta e ensaísta mexicano Octávio Paz (1994) quando este afirma que,
muito mais que fazerem a história, como sempre defendeu o
pensamento iluminista moderno, os homens e mulheres são a história.
Para esse pensador latino-americano, a vida em sociedade é muito mais
ritual que histórica. Em função dessa característica não se submete a
mudanças sucessivas e muito menos de tipo linear. O passado se
comporta como um arquétipo e o presente como algo que a ele se
ajusta, se adequa, em um processo de regressos e avanços num ritmo
que é dado pelos rituais e pelas festas. Uma dessas possibilidades
interpretativas da história, a que me referi acima, nos é oferecida pelos
movimentos sociais não clássicos da modernidade. Me refiro aos
movimentos das ditas minorias ativas (Moscovici, 1978).
Nesse ensaio farei uma reflexão
contribuições
filosóficas
do
movimento
sobre as possíveis
ecologista,
como
um
movimento político e cultural, para a educação em tempos de pósmodernidade. A perspectiva de pós-modernidade, aqui tomada, é a de
um movimento de superação dos ideais paradigmáticos da modernidade,
buscando a construção daquilo que Boaventura Santos (2000) denomina
de transição para um universo crítico pós-moderno e inquietante ou de
resistência. De oposição a uma idéia de pós-modernidade conservadora
e de viés meramente economicista tão ao gosto das elites conservadoras
latino-americanas.
Ao se referir a este período de transição, Holanda (1991) o
denomina de “Pós-modernidade de resistência”. Para ela poucas
441
expressões tem causado tanta polêmica entre acadêmicos e intelectuais
em geral quanto o termo pós-moderno. Holanda vê a pós-modernidade
de resistência como uma forma de enfrentamento à pós-modernidade da
fragmentação e da desconstituição dos sujeitos e das relações. Essa, uma
das tantas facetas do quadro contemporâneo. Na sua opinião o pósmodernismo de resistência surge como uma resistência prática não
apenas à representação oficial das elites modernas, mas, também, contra
uma falsa normatividade reacionária. Está preocupada com a
desconstrução crítica da tradição em lugar de “instrumentalizar apenas
pastiches de formas pseudo-históricas, com uma crítica das origens, não
como uma volta a elas” (Holanda, 1991, p. 09).
Em um estudo recente sobre as representações sociais da
Intelligentsia latino-americana sobre ecologia e meio ambiente, Reigota
(1999) ressalta que, via de regra, o termo pós-moderno é rápida e
apressadamente associado às elites conservadoras e ao ideário
neoliberal. No entanto, para este autor, pós-modernidade não pode ser
resumida apenas a estes aspectos. Na sua opinião, tal resistência está
relacionada a uma série de equívocos. Destes, o mais comum, é o
simplismo de reduzir pós-modernidade a um mero processo de
passagem
do
modelo
industrial
ao
pós-industrial.
Uma
das
conseqüências imediatas dessa visão simplista é acreditar que este
movimento se restringiria aos países que atingiram o modelo pósindustrial de desenvolvimento.
É a partir desse lugar, e com esse olhar, que proponho refletir
sobre as contribuições do pensamento ecologista para uma educação que
privilegie o diálogo entre as diferentes culturas, a solidariedade, a
442
tolerância e o Direito dos Povos64 a um mundo social e ecológicamente
mais justo. Esse diálogo tem como pressuposto uma relação de troca, de
encontro e não de submissão e/ou colonialismo cultural. Um encontro
desse tipo tem muito que ver com um importante movimento da segunda
década do século XX. Me refiro ao Movimento Antropofágico, do qual
Oswald de Andrade foi um dos principais inspiradores. Suas idéias serão
um dos principais referenciais teórico-filosófico para o presente ensaio.
A idéia da antropofagia cultural será tomada como uma
contribuição filosófica com o objetivo de nos ajudar a viver de forma
mais justa, social e ecologicamente, em um mundo cada vez mais
cosmopolita e marcado pela intolerância e pelos sectarismos de toda
ordem. No entanto, e paradoxalmente, vivemos num mundo em que ao
mesmo tempo em que aumentam os confrontos, também se diversificam
as possibilidades para os encontros.
Façamos nossas escolhas. E que elas sejam mais pela dança e
menos pela marcha. Mais pela poesia e menos pela prosa. Enfim, pela
paz e não pela guerra. Como muito bem escreveu Oswald de Andrade no
Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) “A poesia anda oculta nos cipós
maliciosos da sabedoria. Nas lianas da saudade universitária”.
Ecologistas, tropicalistas, antropófagos e outros bárbaros
“Importamos toda a produção dos prelos
incoerentes do Além-Atlântico. Vieram
para nos desviar, os Anchietas
escolásticos, de sotaina e latinórios...Que
fizemos nós? Que devíamos ter feito?
64
Direito dos Povos na perspectiva defendida por John Rawls (2001), onde os povos
devem reconhecer que não podem compensar a falha em regular seu crescimento
demográfico e econômico em cuidar de sua terra, mediante conquista ou migração para o
território de outro povo sem o seu consentimento.
443
Comê-los todos. Enquanto esses
missionários falavam, pregando-nos uma
crença civilizada, de humanidade
cansada e triste, nós devíamos tê-los
comido e continuar alegres. Devíamos
assimilá-las, elaborá-las em nosso
subconsciente, e produzirmos coisa nova,
coisa nossa”
(Antropofagia de Cultura, Oswald Andrade,
Os dentes do Dragão, 1990, p. 44).
Do ponto de vista histórico, político e cultural, a década de
sessenta, do século XX, foi rica quanto ao surgimento de movimentos
sociais que buscavam escapar às formas tradicionais e/ou clássicas de
organização. Surgem, entre outros, o movimento feminista, dos
homossexuais, das etnias, da contracultura (na música, no cinema, no
teatro, na pintura, na literatura, etc), movimento negro, movimento
estudantil
(Maio
68),
movimento
pacifista
e
movimento
65
ambientalista/ecologista em sua vertente libertária da década de 60 do
século XX.
Tais movimentos são também denominados de movimentos das
“minorias”, que buscam organizar-se na tentativa de assegurar seus
direitos mínimos, como o direito à cidadania e autonomia. Várias são as
tentativas de explicação para o surgimento destes movimentos
reivindicatórios, que têm seu principal foco nos países do chamado
“mundo industrializado”, “desenvolvido” ou do dito “primeiro mundo”.
Aproveito esse momento para dizer que o uso das expressões “mundo
industrializado”, “mundo desenvolvido” ou “primeiro e terceiro
mundo”, não significa que concorde com o significado que em geral lhes
65
Nesse ensaio adotarei a expressão movimento ecologista e/ou ecológico por considerála de domínio público no mundo acadêmico, bem como nos movimentos sociais.
444
é atribuído. Acredito, isto sim, que estas denominações são, ou genéricas
ou reducionistas demais para designar as formas complexas pelas quais
as desigualdades hoje se apresentam no mundo globalizado. Uma prova
disto é que basta uma rápida análise, por exemplo, dos indicadores
clássicos de distribuição de renda, no Brasil, para constatarmos que
temos aqui convivendo estes dois “mundos”. Em países do dito “terceiro
mundo”, temos uma pequena parcela da sociedade que tem acesso a
boas escolas, a uma ótima atenção à saúde, enfim, tem acesso ao que de
melhor e mais sofisticado a ciência e a técnica modernas podem
oferecer, estando, assim, muito bem enquadradas ao dito “primeiro
mundo”. Entendida desta forma a situação atual, a idéia de existência de
um “centro único e fixo” de poder dá sinais de esgotamento. O que se
percebe é que estes centros de poder também fragmentaram-se,
globalizaram-se, com todas as conseqüências daí decorrentes. Da mesma
forma, a idéia anterior de “periferia” também passa por este processo de
mudança.
Paradoxalmente, estas denominações são muito utilizadas para
conceituar e/ou classificar a situação dos países latino-americanos frente
ao contexto mundial. No entanto, as mesmas, quando muito conseguem
ser fiéis aos parâmetros clássicos da economia. Dificilmente
conseguiriam dar conta da realidade histórica, cultural e artística dos
povos latino-americanos. O poeta e ensaísta mexicano Octávio Paz
(1994), foi um dos intelectuais latino-americanos que se dedicou, com
muita propriedade, profundamente ao estudo da forma como as elites
deste
continente
se
comportaram
historicamente.
Sobre
estes
reducionismos classificatórios ele faz a seguinte observação, e um
oportuno esclarecimento
445
La noción de subdesarollo, por ejemplo, puede ser
aplicada a la economía y a la técnica, no al arte, la
literatura, la moral o la política. Más vaga aún es la
expresión: Tercer Mundo. La denominación no sólo
es imprecisa sino engañosa (1994, p. 74).
Outro autor no qual me referencio para fazer esta reflexão é o
antropofágico Oswald de Andrade. Em seu Manifesto Atropófago
(1928) ele as denomina de “elites vegetais em contato com o solo”.
Esses grupos souberam muito bem, ao longo dos séculos, locupletaremse da riqueza dos povos ditos “primitivos”, “selvagens”, “descobertos”
do “novo mundo”. Retornarei mais adiante as idéias antropofágicas
deste autor, como uma contribuição filosófica e ecologista para a
educação brasileira.
Em um detalhado e pioneiro estudo sobre as representações de
meio ambiente, junto a Intelligentsia latino-americana, Reigota (1999),
ao procurar responder a uma pergunta muito antiga e que inquietou e
ainda inquieta os intelectuais e acadêmicos sobre se existe uma América
Latina, argumenta que no contexto globalizado em que se dão,
atualmente, as relações, trona-se cada vez mais temerário e complexo
definir o que caracterizaria uma América Latina. Isso se deve, ao fato de
que tal definição requer uma profunda reflexão. Reflexão, esta, que
precisa contemplar não apenas aspectos geográficos, econômicos e
políticos, mas sim, os aspectos relativos as representações imaginárias e
simbólicas dos povos. Para este autor não há como descuidar
Das manifestações culturais no espaço físico,
aleatório e nômade, de indivíduos e comunidades de
origem afro-asiática-indígena-latina, caracterizado
por grupos e pessoas que transportam sua identidade
individual e coletiva de mistura cultural e étnica,
446
desafiando, criando e estabelecendo novas fronteiras
e rompendo com os conceitos clássicos da
geopolítica, ultrapassando assim a concepção
(moderna) de identidade com base em parâmetros
de origem nacional” (1999, p. 35-36).
Uma das justificativas para o surgimento dos movimentos das
minorias da década de 60, já antes referidos, credita-se à busca da
autonomia dos sujeitos ou grupos moleculares (Guatarri, 1987) que não
se sentiam representados - se é que um dia o foram - pelas instituições
clássicas de luta contra a ordem estabelecida: os partidos políticos de
esquerda e as organizações sindicais. Estas instituições tinham como
principal fonte de organização, e veiculação de suas idéias, a classe
operária da época.
O confronto político e ideológico dava-se basicamente com a
sociedade capitalista, que era vista até então como a única responsável
por todos os problemas de desigualdade e de opressão sociais. Para
Gonçalves (1991) era em torno do movimento operário que se
organizavam as críticas e contestações teóricas e práticas em relação à
ordem capitalista estabelecida. Esta era tida como a única responsável
por todas as mazelas com que a sociedade se defrontava na época.
Ao mesmo tempo em que surgem estes movimentos sociais, de
emancipação política e de questionamento do modo de vida 66, começa a
ocorrer um movimento de tomada de consciência nos mais diferentes
segmentos da sociedade civil, de que está em andamento uma
degradação crescente do ambiente social, ambiental e mental (Guattari,
1991). Para este autor não se constituiria em nenhum ato de pessimismo
66
Gonçalves, C.W.P. Contexto, 1990. Chama a atenção para o fato de que nenhum outro
movimento social levou tão a sério esta idéia de questionamento das formas de vida como
o movimento ecológico dos anos sessenta.
447
ou exagero, postular que a tomada de consciência ecológica67 nos
próximos anos não poderia ficar restrita aos fatores físicos do
“ambiente”, mas sim, que estas preocupações precisariam também levar
em conta outros tipos de degradações/deteriorações, tais como
“devastações ecológicas no campo social e no domínio mental”. Para o
autor, sem uma mudança radical nas mentalidades e nos costumes
coletivos, o que teremos serão apenas “medidas ilusórias relativas ao
meio material”. Sobre a contribuição da concepção ecológica
guattariana Reigota (1999, p. 05), assim se manifesta
A perspectiva ecológica guattariana apresenta
grandes possibilidades, já que rompe com muitos
clichês do senso comum, ou melhor, com as
representações sociais naturalistas sobre a questão
ecológica, ainda fortemente enraizadas nas escolas,
nas universidades, meios de comunicação de massa,
produção artística, etc...
Foi nesta mesma época, que uma publicação chamada
“Primavera Silenciosa” da jornalista Rachel Carson (1962), faz um
conjunto de relatos sobre catástrofes e desastres ambientais. O referido
livro passa a ser visto como uma importante fonte de denúncia sobre os
perigos de uma forma de pensar a relação homem/mulher e seu mundo
circundante. Não é sem motivo que esta publicação transforma-se em
um dos clássicos mais lidos na época sobre a questão ambiental.
67
A utilização da expressão “ecológica(s)” tem como referência a idéia Guattariana de
Ecosofia, apresentada pelo autor, Félix Guattari, no livro As três ecologias. São Paulo.
Papirus, 1991. Este seria, para Guattari, um conceito onde estariam contemplados os três
territórios constituintes da Ecosofia: a ecologia do social; a ecologia do ambiente e a
ecologia da mente. Para o estudo que vou realizar este conceito é o que no momento
melhor se adequa, na medida em que, propicia maior espaço para as dimensões sociais e
subjetivas das questões ecológicas contemporâneas.
448
Esta publicação pode ser considerada um marco para o início
de grandes discussões sobre o ambiente, indo da simples inquietação
individual do(a) cidadão(ã) até grandes organizações como a ONU
(Organização das Nações Unidas). Rachel Carson, já naquela época
conclui seu livro com uma forte e muito atual advertência:
El control de la naturaleza, es una frase concebida
com arrogancia nascida em la edad de neardenthal
de la biologia y de la filosofia, quando se suponia
que la naturaleza existe para la conveniencia del
hombre. Nuestra alarmante desgracia es que ciencia
tan primitiva se haya armado a sí misma com la más
moderna terryble de las armas, y que al volveria
contra los insetos se ha vuelto tambien contra la
tierra” (Carson, 1962, p. 302).
Tomam forma e evidência públicas, mais concreta a partir de
então, uma série de movimentos sociais que visavam questionar o modo
de vida adotado no planeta e suas conseqüências sobre as diferentes
formas de degradação dos processos de vida. Dentre estes movimentos
está o movimento ecologista. Com a pressão destes movimentos,
oriundos da sociedade civil, as decisões que envolviam as questões
ambientais, que até então não eram tomadas pelas entidades
governamentais, no caso do estado, ou das entidades empresariais e
industriais, no caso do sistema produtivo privado, começam a ser
questionadas.
Dois movimentos culturais, surgidos no Brasil, tiveram uma
grande influência na formação filosófica, ética e estética do movimento
ecologista brasileiro:
Tropicália, ou movimento tropicalista e Antropofagia, ou
movimento antropofágico.
449
Tropicália é um movimento da década de 60 que fecundou o
movimento ecologista por vias indiretas e de maneira não intencional.
Estabeleceu, com ele, por vias indiretas, uma relação de mestiçamento
altamente criativo e pertinente. Este movimento sacudiu os alicerces
conservadores da sociedade brasileira. Constituiu-se em uma tendência
que se manifestou em vários campos da cultura nacional. Nas artes
plásticas com Hélio Oiticica; Glauber Rocha no cinema novo; a música,
que tornou mais conhecida esta tendência, contou entre outros com
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Torquato Neto, Rita Lee, Celso
Martinez, José Carlos Capinam, Gal Costa, Nara Leão, maestro Rogério
Duprat...e muitos outros(as).
A música, Tropicália, símbolo deste movimento, é um
chamamento à contestação, à organização dos diferentes grupos sociais.
Enfim, à busca de espaços de contestação em uma sociedade aprisionada
pela ditadura militar pós-64. Mesmo sob o signo da repressão política,
que começa a recrudescer no país desta época, ainda aparecem nesta
música refrões do tipo:
“sobre a cabeça os aviões
sob os meus pés os caminhões
aponta contra os chapadões
meu nariz...
eu organizo o movimento
eu oriento o carnaval
eu inauguro o monumento no planalto central
do país”
O monumento é de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar, do sertão.
O monumento não tem porta,
A entrada é uma rua antiga estreita e torta
E do joelho uma criança sorridente feia e morta
450
Estende a mão
Viva a mata ta ta
Viva a mulata ta ta
(Caetano Veloso, 1988).
Como não ver nesses versos, daquela que foi a música
inauguradora do tropicalismo, uma enorme afinidade com a conjuntura
de um Brasil de quarenta anos depois? Um Brasil que viu golpes
militares, revoluções, reformas, sofreu ditaduras e aberturas? Que teve
campanhas “Diretas Já?” Que teve impeachman de presidente? Um país
onde ainda se precisam fazer campanhas contra a prostituição infantil,
contra o trabalho escravo, contra a exploração de mulheres e de crianças
em trabalhos insalubres? Um Brasil que assiste ao assassinato de suas
lideranças populares como o ambientalista Chico Mendes e tantos outros
e outras? Que ainda precisa de programas do tipo “Fome Zero”? Que vê,
agora, a esquerda chegar ao poder máximo do país, via Partido dos
Trabalhadores e da eleição de LULA, seu líder maior, presidente da
república? Novamente é profética a frase de Oswald de Andrade no
Manifesto Antropófago “A nossa independência ainda não foi
proclamada...Antes dos portugueses terem descoberto o Brasil, o Brasil
tinha descoberto a felicidade” (1928).
Além das contribuições filosóficas e estéticas do Tropicalismo,
para o movimento ecologista, muitos de seus representantes se
envolveram ativamente – e ainda o fazem - com as causas ecologistas. O
atual ministro da cultura, Gilberto Gil, é apenas um exemplo. Ao estudar
a relação de entrecruzamento entre ecologia e tropicalismo Reigota
(1999), mostra como esses dois movimentos promoveram atividades
conjuntas que em muito contribuíram para a divulgação das idéias
ecologistas no Brasil e no planeta.
451
O outro movimento, que em muito influenciou os ecologistas foi
A antropofagia, chegando a ser considerado como uma das origens do
tropicalismo.
Sobre a origem do nome, Antropofágico, a este movimento,
acredita-se que o mesmo decorre de um quadro que a pintora Tarsila do
Amaral deu como presente de aniversário, (11 Janeiro de 1928), ao seu
então marido Oswald de Andrade, um dos fundadores do movimento e
autor do Manifesto Antropófago. A pintura constava de uma figura
humana um pouco “estranha”. Grotesca. Diriam alguns, como Raul
Bopp, logo que a viram. Tratava-se de um homem de tamanho fora do
“normal”: um gigante. Curiosamente tinha mãos e pés muito grandes em
contraste com uma cabeça diminuta. A coloração de terra da figura
contrastava com o azul do céu, o sol alaranjado e um cactus verdejante.
Ao receber o quadro de presente Oswald de Andrade não o entendendo,
socorreu-se de seu amigo modernista Raul Bopp, que também ficou
intrigado com “aquilo” que Tarsila tinha pintado. A própria Tarsila do
Amaral ao ver o resultado de sua obra chegou a exclamar surpresa:
“Mas como é que eu fiz isso?” Como brincadeira Oswald sugeriu que
dessem à figura o apelido de um selvagem gigante. Recorreram ao
dicionário de língua Tupi. Lá encontraram como sinônimo de Homem:
Aba. Para aquele que come carne humana: Poru. Foi fácil a ligação
Aba-Poru. Aquele que come carne humana: Antropófago.
Nasce assim a Antropofagia. Este movimento teve já de início vários
desdobramentos. Dentre eles uma revista chamada Revista de
Antropofagia, que ao invés de edições, tinha, segundo seus fundadores
“dentições”.
São mais conhecidos desta produção cultural no campo da
literatura brasileira os Manifesto Antropófago (1928) e o Manifesto
452
Poesia Pau-Brasil (1924) de Oswald de Andrade. Assim Oswald
encerra o Manifesto Poesia Pau-Brasil “Bárbaros, crédulo, pitorescos e
meigos. Leitores de jornais. Pau-Brasil. A floresta e a Escola. O Museu
Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil”
(1972, p. 10).
Esta mistura de conceitos e palavras, característica do
pensamento de Oswald de Andrade, aparece novamente em vários
representantes do tropicalismo. Um destes exemplos está na música
Geléia Geral com música de Gilberto Gil e letra de Torquato Neto
“Um poeta desfolha a bandeira
E a manhã tropical se inicia
Resplandente, cadente, fagueira
Num calor girassol com alegria
Na geléia geral brasileira
Que o Jornal do Brasil anuncia.
A alegria é a prova dos novembro
E a tristeza é teu porto seguro
Minha terra é onde o Sol é mais limpo
E Mangueira é onde o samba é mais puro
Tumbadora na selva-selvagem
Pindorama, país do futuro
A alegria é a prova dos nove
Superpoder de paisano
Um carnaval de verdade
Com o roteiro do sexto sentido...
Faz do morro pilão de concreto
Tropicália bananas ao vento!”
(Gilberto Gil e Torquato Neto, 1996).
Esta mistura de elementos estéticos, essa mestiçagem de cores,
sons, sabores, humores e de componentes epocais distintos, fez da
antropofagia um movimento que na própria concepção de um de seus
maiores inspiradores, Oswald de Andrade, era de muito difícil definição
ou enquadramento. Diga-se de passagem, essa dificuldade de
453
conceituação e de definição é uma das características do que hoje está
sendo denominado de pensamento ou período da pós-modernidade.
Quando lhe pediram que definisse o movimento da Antropofagia,
Oswald Andrade (1990, p. 43) respondeu que tratava-se de um culto “Á
estética instintiva da Terra Nova; é a redução, a cacarecos, dos ídolos
importados, para a ascensão dos totens raciais; outra: É a própria
terra da América, o próprio limo fecundo, filtrando e se expressando
através dos temperamentos vassalos de seus artistas”.
Foram essas as únicas definições encontradas, por Oswald de
Andrade, para esse movimento do qual também faziam parte Antônio de
Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, Menotti del Pcchia,
Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto, Tarsila do
Amaral, Anita Malfatti, Zina Aita, Yan de Almeida Prado, Di
Cavalcanti, Oswaldo Costa, Sergio Buarque, Alvaro Moreira, Filipe
D’Oliveira, Sergio Milliet, entre outros e outras que se rebelaram contra
a arte imitadora dos museus da velha Europa (Andrade, 1991).
Como pode-se perceber, a busca de definições e de amarras
conceituais nunca foi coisa de que gostassem os antropofágicos. Se
assim não fosse, certamente, não teriam se arriscado em criar um
movimento tão “exótico” para o Brasil dos anos 20 do século passado.
Da mesma forma, constata-se que a tentativa de definição, de
conceituação e conseqüente burocratização das idéias não é algo novo
em nosso mundo acadêmico ou intelectual “normal”. Ao contrário,
como diria Oswald, faz parte da tradição de “microcefalia” que se
aninha na Academia Brasileira(!)
Regurgitando idéias – deglutindo o novo e vomitando as mesmices
454
“A poesia existe nos fatos. Os casebres de
açafrão e de ocre nos verdes da Favela,
sob o azul cabralino, são fatos estéticos...É
pois o academicismo, a imitação servil, a
cópia sem coragem, sem talento que forma
os nossos destinos, faz as nossas
reputações, cria as nossas glórias de
praça pública...Nada de revolução: o
papel é mais forte que as metralhadoras”
(Oswald de Andrade, 1992, p. 20).
Recentemente em seu livro A Floresta e a Escola: por uma
educação ambiental pós-moderna, ao investigar as relações entre as
idéias antropofágicas e as questões ecológicas contemporâneas Reigota
(1999), afirma que o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto
Antropófago se constituíram em momentos decisivos na cultura
brasileira, na medida em que inauguraram o rompimento de seu autor,
Oswald de Andrade, com as principais idéias que marcaram a Semana
de Arte Moderna68, dando, com isso, os primeiros sinais do que viria a
ser o “movimento antropofágico”. Para ele, um dos movimentos mais
importantes da cultura brasileira e inaugurador da pós-modernidade por
essas terras brasilis.
Em Antropofagia ao alcance de todos, Benedito Nunes (1972)
salienta a importância dos manifestos de Oswald de Andrade para o
entendimento do restante de sua obra ensaística, poética e romancista,
bem como o papel que a mesma desempenhou no modernismo, para o
entendimento de seus escritos e reflexões filosóficas pós-modernistas.
68
Encontro que ocorreu no teatro Municipal do Estado de São Paulo, no ano de 1922, e
que reuniu intelectuais de diferentes áreas como literatura, pintura, escultura, cinema,
músicos e intelectuais em geral. Seu objetivo principal era refletir criticamente sobre o
momento em que se encontrava a produção acadêmica, política e cultural no Brasil de
então.
455
As discussões sobre as questões ecológicas no Brasil em geral
e, em particular, sobre o desafio de trazer a educação ambiental para o
contexto educativo – escolar e não escolar – tem exigido um grande
esforço intelectual de todos aqueles e aquelas que nos últimos anos se
envolveram com esse assunto. Pode-se dizer que já avançamos bastante
quanto à produção de conhecimentos, saberes, subjetividades e
imaginários que envolvem a ecologia local e planetária. Já fazem parte
do passado as representações e concepções simplistas, ingênuas e, em
alguns casos, até oportunistas que reduziam as questões ecológicas a
meros problemas de resolução técnica e/ou burocrática.
Uma conseqüência disso é que já podemos afirmar, com certa
tranqüilidade, que a educação ambiental que se desenvolve nas
diferentes regiões e territórios simbólicos do Brasil é uma das mais
criativas e diversificadas do planeta. Muitas das experiências aqui
desenvolvidas têm despertado o interesse e a curiosidade de
organizações e de pessoas de vários países que para cá se dirigem em
busca de conhecê-las melhor, bem comover de que forma podem
aprender com elas.
Curiosamente a educação ambiental brasileira está provocando
uma reação inversa ao que sempre ocorreu com as elites latino
americanas em geral, e com a brasileira em especial – e que aqui é o
cenário que privilegiei para analisar. Se para as elites modernas o
correto, o importante e suficiente era copiar, com a educação ambiental
em sua perspectiva pós-moderna e antropofágica, o que se busca é
exatamente o contrário: é inventar, recriar, imaginar, mestiçar,
experimentar. Enfim, para usar uma forma criativa dos antropófagos:
comer, regurgitar e depois deglutir o que queremos - que achamos que
nos interessa – e vomitar aquilo que não queremos – que no momento
456
não nos atrai. Como diria o amigo, estudioso da educação ambiental e
antropófago cultural, Marcos Reigota: o banquete está apenas
começando.
A produção teórica, e as iniciativas na busca de entendimento
das questões ecológicas tem obrigado a que façamos rupturas e
mudanças de rumo. Nossa tradição filosófica de copiar, ao invés de
criar, não mais consegue dar conta dos desafios contemporâneos. Como
já me referi anteriormente, neste texto, esse costume amplamente
adotado pelas elites latino-americanas é um dos principais responsáveis
por boa parte das injustiças sociais e econômicas neste continente.
Esteve, também, sempre ao lado das ditaduras políticas que se
instalaram – e ainda tentam renascer – nesse pedaço do planeta.
Um dos exemplos desta cultura da cópia foram as várias e
dispersas tentativas de modernizações ocorridas no continente latinoamericano. Modernização que foi tomada como sinônimo de europeizarse num primeiro momento e, posteriormente, como sinônimo de norte
americanizar-se. Reconheçamos, no entanto, que no fundo estas duas
expressões trazem uma carga político-ideológica muito forte:
a
colonização e dominação cultural. Uma dominação que encontrou um
campo fértil na submissão de uma elite latino-americana que contentouse em copiar ao invés de criar. De acomodar ao invés de ousar. Ao
refletir sobre esse comodismo e a essa submissão no Manifesto
Antropófago (1928), Oswald de Andrade chamou seus adeptos de
“Elites vegetais em contato direto com o solo”.
Foram elites que rapidamente aderiam às “novidades” de alémmar, desde que esta adesão não arranhasse seus interesses de poder tanto
econômico quanto político. Uma adesão que não raro era/é carregada de
um certo desdém pelo que existia e/ou existe na cultura nativa.
457
Exatamente
o
inverso
disso
é
o
que
propuseram
os
antropofágicos com suas produções filosóficas e estéticas. Para eles e
elas, devíamos nos voltar para a realidade brasileira antes do dito
“descobrimento”. Valorizando o povo aqui existente antes da chegada
dos europeus. Dialogando com seus aspectos selvagens, sua total
liberdade, sua relação de pureza e integração com o mundo a sua volta.
Enfim, feliz e vivendo soltamente até a nefasta chegada de Cabral com
sua trupe. Antes da imposição da colonização portuguesa, que veio
explorar as riquezas da “nova terra” e tornar cristão os “bárbaros” e
“selvagens” aqui residentes.
É com esse olhar antropofágico que o movimento antropofágaico
acredita poder construir uma estética e uma filosofia que, ao mesmo
tempo em que se relacione com as outras culturas, não despreze as raízes
da terra. Que viva essa experiência de deglutição saboreando suas
diferenças com muito humor, preguiça e irreverência, como mostra
Oswald nessa passagem do Manifesto Antropófago em que caricaturiza
Shakespeare: “Tupi, or not tupi is the question”.
Quando, em educação ambiental, nos voltamos para as
diversidades étnicas, biológicas, estéticas, religiosas, filosóficas, enfim,
culturais de nossas gentes, estamos fazendo uma reverência ao legado
desses bárbaros da antropofagia. Estamos colocando mais uma
“dentição” na sua Revista de Antropofagia – que por sugestão do grupo
não teria Edições e sim Dentições com as quais devoraria os bispos
sardinhas, que pelo caminho aparecessem, bem como os críticos
conservadores e patrulheiros de plantão na arcádia. Sobre esses
sentinelas da estética Oswald, ao defender seu Manifesto Poesia PauBrasil (1924), prega uma radical ruptura estética, pois até então a
lembrança das fórmulas clássicas
458
Impediram durante muito tempo a eclosão da
verdadeira arte nacional. Sempre a obsessão da
Arcádia com seus pastores, sempre os mitos gregos
ou então a imitação das paisagens da Europa com
seus caminhos fáceis e seus campos bem alinhados,
tudo isso numa terra onde a natureza é rebelde, a luz
é vertical e a vida está em plena construção. A
reação contra os museus da Europa, de quem resulta
a decadência da nossa pintura oficial foi operada
pela semana da arte moderna, que se realizou em
São Paulo (Andrade, 1991, p. 38).
São contribuições filosóficas desse tipo que podem nos auxiliar
no rompimento com uma certa tradição latino americana em geral, e
brasileira em particular, de pouco respeito e apreço pela cultura nativa,
bem como pela opinião alheia. Atitudes, essas, de conseqüências
extremamente nocivas ao processo democrático no continente latinoamericano. Tal postura fez com que a intelectualidade latino-americana
acabasse por abraçar sem, ou com muito pouco, espírito crítico as teses
do liberalismo, do positivismo e, num terceiro momento, a doutrina do
Marxismo-Leninismo. Esse foi/é mais um paradoxo latino-americano:
ao pensar sua modernidade como sinônimo de europeizar ou
americanizar, abriu-se mão daquilo mesmo que é um dos fundamentos
da própria idéia de modernidade: a crítica. Caiu na armadilha de adotar
idéias contemporâneas concomitantemente com ações arcaicas. A isto
Paz denomina de “Paradóxica modernidade: as idéas são de hoje, as
atitudes de ontem” (1994, p. 77). Acabamos, com essa postura
intelectual, preferindo idéias à realidade e adotando os sistemas de idéias
antes da crítica e da reflexão sobre os mesmos.
Últimas “mordidas” ou...o começo da devoração
459
“Nada existe fora da devoração. O ser é a
Devoração pura e eterna...Um passo além
de Sartre e de Camus. É preciso ouvir o
homem nú. A Antropofagia... Só a
antropofagia nos une”
(Oswald de Andrade, 1946).
A idéia da Antropofagia, como uma construção filosófica, teve
sua última defesa por parte de Oswald de Andrade, como Tese para
concurso da Cadeira de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de são Paulo, no ano de 1950. A Tese se
denominava “A Crise da Filosofia Messiânica”. Sua construção teórica
e filosófica se apoiava, justamente, nos seus dois manifestos: Poesia
Pau-Brasil (1924) e Manifesto Antropófago (1928). Por razões óbvias
não foi aceita e ficamos sem saber como se comportaria esse
antropófago nos ambientes acadêmicos que foram, por ele, sempre
criticados.
Após um período de “esquecimento” ou, como diria Reigota
(1999), de ostracismo, as idéias antropofágicas retomam sua ânsia de
devoração na esteira do movimento Tropicalista ou da Tropicália. Este
movimento e seus organizadores(as) – já mencionados(as) anteriormente
neste texto – são considerados(as) legítimos(as) herdeiros(as) da
antropofagia. Fazem parte, não só de uma enorme fonte criativa em suas
respectivas áreas de produção estética e artística, como foram, também,
“porta-vozes” de um grande número de jovens e intelectuais que nessa
época (década de 60/70) tentavam criar espaços de resistência à ditadura
militar imposta ao país pelas elites políticas reacionárias com o apoio
dos coturnos dos militares golpistas.
As idéias antropofágicas, como uma referência teóricofilosófica, têm merecido uma restrita atenção ao longo dos anos pelos
460
setores acadêmicos tradicionais. Salvo melhor juízo, são estudadas e
analisadas quase que exclusivamente no campo dos estudos literários,
das artes cênicas e em alguns poucos casos nos campos da sociologia e
da antropologia.
A busca de interlocução com o pensamento de Oswald de
Andrade e de seus parceiros antropofágicos é quase que totalmente
inexistente por parte de educadores e educadoras. Uma das exceções por
mim encontradas - talvez para justificar a regra – são os estudos e
pesquisas realizadas pelo educador e educador ambiental Marcos
Reigota. Não por acaso seus estudos sobre a contribuição das idéias
antropofágicas para o movimento ecologista, foram uma das fontes em
que me orientei nesse texto. Além das bibliografias desse autor, aqui
citadas, foram de muita importância as conversas e diálogos intelectuais
que temos travado ao longo dos últimos anos. Para Reigota (1999, p. 57)
é importante levar em consideração, quando se coloca em diálogo
ecologia e Antropofagia, o fato de que
A interpretação ecologista dos manifestos PauBrasil e Antropófago precisa ser feita a partir da
contemporização destes, juntamente com o conjunto
de textos produzidos pelo autor, paralelamente à
produção específica em ecologia global, sobretudo
nos seus aspectos, sociais, culturais e políticos. Que
estão implícitos ou explícitos nas imagens, frases e
slogans” (1999, p. 57).
É nesta perspectiva que tomei nesse ensaio algumas idéias e
dialoguei com seus autores. Até porque, ao decidir tomar como
referencial teórico textos de caráter literário não podemos nos esquecer
que as interpretações feitas são apenas algumas das tantas possíveis. Há
461
que levar em conta que, nossos atos e atitudes cotidianas estão
fortemente condicionadas por nossas representações. São a expressão de
parte de um imaginário construído que está, por sua vez, de forma direta
ou indireta, impregnado de nossas crenças, valores e mitos. Somos
criaturas simbólicas e como tal nos movemos no mundo. Em tempos de
pós-modernidade
a realidade é muito mais o resultado de uma
“mistura”,
“contaminação”
uma
resultante
da
diversidade
de
representações, imagens e interpretações que se formam em nossas
vivências quotidianas. Fazem parte de um processo intenso de
devoração, deglutição e reelaboração de conceitos, símbolos e imagens
veiculadas através das mais diferentes e complexas possibilidades de
comunicação disponíveis nos tempos atuais de pós-modernidade.
Resultando disso um conjunto de elaborações imaginárias que não estão,
segundo Vattimo (1992), necessariamente, sendo coordenadas por
alguma entidade organizadora central, muito menos única. Tal
construção subjetiva leva a uma dilatação dos espaços de vida,
proporcionando a entrada em cena de outros possíveis mundos e modos
de vida. Tais construções não são, porém, apenas territórios imaginários,
marginais ou complementares ao mundo real. Ao contrário, acabam por
constituir, através de seu jogo de relações, o mundo real em que
vivemos. Considero que as questões ecológicas contemporâneas são um
dos exemplos desse tipo de construção a que se refere Wattimo.
Vale lembrar o que nos diz Candido (2000) que, ao se referir as
possibilidades da literatura como alternativa de diálogo com a
sociedade, afirma que a mesma constitui-se em um produto social. Uma
construção que se dá na relação do escritor com seu grupo. Ou como nos
adverte Deleuze (2000) que compara a literatura, com o delírio, tendo,
ambos, origens na sociedade. Passam, necessariamente, pelos povos,
462
pelas questões étnicas, pelos grupos tribais. Em função desta
característica, a literatura, como o delírio, está inscrita no movimento
histórico e cultural da humanidade. Assim como o delírio, carrega
consigo os dois pólos: doença e saúde. A literatura pode, então,
representar um estado doentio, por exemplo, ao “eleger uma
determinada raça pretensamente pura, superior e dominante” e também
representar a saúde ao invocar esta raça menor, oprimida que “não pára
de se agitar sob as dominações, de resistir a tudo o que esmaga e
aprisiona” (Deleuze, 2000, p. 19). Para este autor a literatura pode, a
partir desta idéia, significar a invenção de um povo, uma possibilidade
de vida. Seria uma forma de escrever por este povo que falta, sem querer
com isto, ocupar o lugar deste, mas, segundo Deleuze na “intenção
deste”. Algo semelhante é o que propõe Oswald Andrade quando no
Manifesto Antropófago (1928) defende o direito dos nativos a
construírem e viverem sua cultura
Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro
empréstimo, para ganhar a comissão. O reianalfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas
sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o
açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em
Portugal e nos trouxe a lábia...Contra Anchieta
cantando as onze mil virgens do céu, na terra de
Iracema...Contra a realidade social, vestida e
opressora, cadastrada por Freud...Contra a baixa
antropofagia aglomerada nos pecados de
catecismo...Peste dos povos cultos e cristianizados,
é contra ela que estamos agindo. Antropófagos
(1970, p. 18-19).
Ao refletir sobre a escrita como forma de comunicação entre os
seres humanos Derrida (1991), lembra que se escreve com o objetivo de
463
comunicar alguma coisa para alguém. Escrever é buscar o diálogo com
aquele ou aquela que está ausente. É nesta perspectiva que, para o autor,
o conceito de representação é indissociável dos de comunicação e
também de expressão. Sobre esta relação entre sociedade e literatura,
recorro novamente a Octávio Paz, quando este afirma existir uma
relação que é ao mesmo tempo muito forte e complexa entre obra e
história. Paz vê também como fundamental o entendimento da relação
existente entre o leitor, o texto literário e sobre o autor, pois, na sua
opinião “En toda sociedad funciona un sistema de prohibiciones y
autorizaciones” (1994, p. 21). Residiria aí o domínio daquilo que se
pode ou não fazer. Ao nos voltarmos para o que é produzido pelo autor
veremos que, segundo Paz, existe uma outra esfera de regulação que
nos diz aquilo que pode ou não ser dito e/ou escrito. Para Paz (1994, p.
21) “ El sistema de represiones vigente en cada sociedad reposa sobre
ese conjunto de inhibiciones que ni siquiera requieren el ascentimiento
de nuestra conciencia”.
É neste sentido que podemos afirmar que a literatura ao ser
entendida como um discurso que acontece na e pela sociedade, não pode
ser vista de forma apartada, isolada da cultura desta sociedade na qual
está inserida e onde a estamos analisando. Assim sendo, podemos pensar
a literatura como uma das tantas formas de manifestação de valores,
crenças, regras, mitos. Enfim, uma maneira a mais e muito especial, das
pessoas tornarem públicas, na sociedade, suas diferentes representações.
Uma das características do pensamento ecologista, na sua
vertente libertária da década de 60 do século XX, é uma permanente
busca de novos interlocutores políticos, culturais, éticos e estéticos. Não
apenas por serem contemporâneos do ponto de vista de época, mas, sim,
por terem algo a dizer mesmo tendo origens distantes histórica e
464
culturalmente, bem como por se expressarem através de diferentes
linguagens – na literatura, no cinema, no teatro, na pintura, etc. As idéias
antropofágicas são, em meu entendimento, um desses exemplos de
pertinência que atravessa épocas, gerações e se manifestam em
diferentes cenários estéticos da cultura no Brasil. Que dialoga com o
outro, mesmo que estrangeiro, mesmo que “exótico”. Não foge do
diferente. Ao contrário, vai ao encontro – às vezes de encontro –
buscando aquilo que
Oswald Andrade (1970, p. 18) chama de a
“Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana
aventura. A terrena realidade...Antropófagos”.
A filosofia antropofágica traz, também, esse ingrediente
fundamental para o pensamento ecologista que é a capacidade de se
relacionar antropofagicamente com diferentes culturas. Ou seja: estar
aberta ás diferenças, ao paradoxal, à necessidade de diálogo mesmo
entre os contrários e/ou momentaneamente opostos.
Não podemos nos esquecer que os graves problemas ecológicos
que hoje afetam a vida no planeta (degradações sociais, ambientais e
psicológicas; poluições; extinções de espécies de outros animas, de
vegetais e de culturas; guerras tradicionais e não convencionais;
terrorismo de estado e de grupos; exploração do trabalho infantil;
discriminação de gênero e de opção de sexualidade, etc.) não podem
prescindir de uma visão complexa e de ações de solidariedade locais e
planetárias.
O pensamento ecologista ao mesmo tempo em que não
descuida dos aspectos globais dos problemas ambientais não os vê de
forma dissociada do local, do cotidiano. Está atento aos encontros – ou
desencontros – cotidianos entre as diferentes etnias, nas esquinas
cosmopolitas das grandes cidades, nos metrôs superlotados, nos
465
shopping centers, nos centros de lazer e de consumo pós-modernos. Por
outro lado reconhece que são fundamentais os saberes e fazeres
ecológicos dos povos que vivem em seus ambientes primeiros. Me refiro
aos povos nativos que ainda resistem à face silenciadora dos processos
de globalização excludentes, de colonialismos e aniquilamentos
culturais.
Da mestiçagem, resultante da deglutição e da devoração
antropofágica, pode surgir o novo, o diferente, o estranho. Enfim, desse
encontro nasce um terceiro. Diferente de ambos. Um terceiro, quem
sabe, mais interessante, mais complexo que seus originadores. Mais
alegre, mais colorido. Criativo. Como sugerem os antropófagos “Contra
a
verdade
dos
povos
missionários...Contra
as
sublimações
antagônicas...Contra a fonte do costume. A experiência pessoal
renovada...A alegria é a prova dos nove...Antropofagia” (1970, p. 1618).
É extremamente ilustrativa, dessa necessidade/possibilidade da
Antropofagia, a convivência entre o local e o global que o Tropicalista e
antropófago Gilberto Gil faz na sua música Parabolicamará. Esse
bárbaro reúne na mesma palavra – parabolicamará – o pós-moderno, da
antena parabólica, com o cesto artezanal camará dos povos amazônidas
e os envolve no ritmo afro-brasileiro da capoeira. Um banquete
antropofágico digno dos criadores desse movimento filosófico.
Devoração da melhor qualidade. Cardápio mais diverso impossível.
Talvez até por isso que ainda não o tenhamos provado em nossas
academias e círculos intelectuais tradicionais.
As idéias antropofágicas e seus desdobramentos, nos mais
diferentes
campos
da
produção
cultural
brasileira,
são
uma
demonstração da necessidade de ampliação de nossos horizontes
466
filosóficos e educacionais. São um chamamento, no sentido de mostrar
que o processo educativo, mais do que nunca, precisa buscar novos
interlocutores. Não é mais possível, nem aceitável, que continuemos
repetindo normas, regras, fórmulas, ou, simplesmente, importando
modelos sem fazer a sua devida, e necessária, tradução.
A antropofagia cultural tem, na sua origem, esse compromisso:
o de dialogar com o(a) outro(a) sem, no entanto, abrir mão do seu eu.
Portanto, não há porque pensar de forma pessimista. Ao
contrário. Podemos pensar de maneira otimista, pois, a força da
antropofagia está, justamente, nessa capacidade dos(as) antropófagos(as)
de perambularem entre os demais comensais. Está na fragilidade da
“metamorfose ambulante” (Seixas, 2001), resultante das devorações
culturais.
Não desanimemos, antropófagos e antropófagas, em grupo ou
solitários. Assim como foram devorados bispos, bandeirantes, nativos
valentes e outros viventes, há muito o que ser devorado, deglutido ainda.
Organizemos novos banquetes! Lá onde estão – no céu ou no inferno –
os antropófagos e antropófagas mostrarão suas dentições afiadas...e seu
sorriso escarlate!
Saudações ecologistas e antropofágicas!
Bibliografia
ANDRADE. O. Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Obras
Completas. V.6. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1970.
_____. Estética e Política. São Paulo, Globo, 1992.
_____. Os dentes do dragão- entrevistas. São Paulo. Globo, 1990.
467
CANDIDO. A. Literatura e Sociedade. Estudos de teoria e história
literária. São Paulo. T.A. QUEIRÓS, 2000.
CARSON, R. A Primavera Silenciosa. Barcelona. Grijalbo, 1980.
COHN-BENDIT, D. O grande bazar. São Paulo. Brasiliense, 1988.
DELEUZE, G. Crítica e Clínica. Lisboa. Edições Século XXI, 2000.
DERRIDA, J. Margens da Filosofia. Campinas. Papirus, 1991.
GIL, G. Todas as letras. São Paulo. Companhia das Letras, 1996.
GONÇALVES, C.W.P. Os (Des)caminhos do Meio Ambiente. São
Paulo. Contexto, 1991.
GUATTARI, F. As Três Ecologias. São Paulo. Papirus, 1991.
_____. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São
Paulo. Brasiliense. 1987.
HOLANDA, H. Pós-modernismo e política. RJ. Rocco, 1991.
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de
Janeiro. ZAHAR, 1978.
NUNES, B. Introdução Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias.
Obras Completas. V.6. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1972.
PAZ, O. Obras Completas. V. III. México. Fondo de Cultura
Econômica, 1994. 13v.
_____. Obras Completas. V. IX. México. Fondo de Cultura
Econômica, 1994.13v.
_____. Obras Completas. V. VIII. México. Fondo de Cultura
Econômica, 1994.13.v.
_____. Obras Completas. V. X. México. Fondo de Cultura Econômica,
1994. 13v.
RAWLS, J. O direito dos povos. São Paulo. Martins Fontes, 2001.
REIGOTA, M. A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental
pós-moderna. São Paulo. Cortez, 1999.
_____. Ecologia, elites e intelligentsia na América Latina: um estudo
de suas representações sociais. São Paulo. Annablume, 1999.
BOAVENTRUA, S,S. A Crítica da Razão Indolente: contra o
desperdício da experiência, v. 1. São Paulo. Cortez, 2000.
SEIXAS, R. O baú do Raul – o diário pessoal e escritos inéditos do
maior mito do rock brasileiro. São Paulo. GLOBO, 2001.
468
VATTIMO, G. A Sociedade Transparente. Lisboa. Relógio Dagua.
1992.
VELOSO, C. Literatura comparada. São Paulo. Nova Cultural, 1988.
469
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO DIALÓGICOPROBLEMATIZADORA E MOVIMENTOS SOCIAIS
Fábio da Purificação de Bastos∗
A pretensão com este texto é evidenciar que, diante das atuais
estruturas curriculares dos cursos de formação-escolar inicial de
professores no espaço universitário (licenciaturas), mesmo com as novas
diretrizes curriculares nacionais, a capacitação profissional não
contempla a perspectiva da luta política, necessária para atuar nos
movimentos sociais. Portanto, o desafio em termos de formação política
é mudar o trabalho escolar-formativo dos professores, reorganizando
currículos e práticas escolares dos cursos de licenciatura, mestrado e
doutorado em educação (escopos da escolarização inicial e continuada,
respectivamente, destes profissionais da educação), sintonizando-os com
as teorias-guia
dos movimentos sociais. Diante do quadro atual,
explicitaremos como temos: 1) reorganizado o currículo e o trabalho
Professor do Departamento de Metodologia e do Programa de Pós-Graduação em
Educação – Mestrado - CE/UFSM. Endereço eletrônico: [email protected]
470
escolar nestas instâncias escolares, ao longo da última década no país;
2)contribuído com os movimentos sociais, não apenas teoricamente, mas
na prática política cotidiana, ocupando espaços políticos nos atuais
contextos local, regional e nacional. Onde, por um lado, ocorrem
desregulamentação,
desresponsabilização
escolarização pública e, por outro,
e
flexibilização
da
crescem e se consolidam os
movimentos sociais, mudando o trabalho de formar os professores. É
neste escopo de formação de professores e movimentos sociais, que
explicitaremos como a educação como prática da liberdade, de
orientação existencialista, tem potencializado a elaboração e resolução
de problemas a partir da realidade educacional vivida.
“A consciência crítica é a representação
das coisas e dos fatos como se dão na
existência empírica. Nas suas correlações
causais e circunstanciais. A consciência
ingênua (pelo contrário) se crê superior
aos fatos, dominando-os de fora e, por
isso, se julga livre para entendê-los
conforme melhor lhe agradar”
(Vieira Pinto em Freire, 2000, p. 113,
grifos em negritos nossos).
Problematização inicial da realidade educacional vivida
Como discente de curso de formação-escolar inicial de
professores – licenciatura em Física -, de universidade pública federal,
vivi intensamente na década de oitenta o movimento estudantil
universitária no âmbito do centro acadêmico livre de Física e do
respectivo diretório central dos estudantes. Contudo, mesmo nos
congressos da união nacional dos estudantes, a problematização em
471
torno da formação escolar que estávamos vivendo não emergia com
força suficientes para orientar os momentos reflexivos.
É claro que naquela ocasião, a matriz orientadora dos
movimentos sociais vividos mais de perto do espaço universitário, no
caso o docente e discente, era bastante diferenciada da de hoje. Contudo,
o caráter existencialista da orientação filosófica dos mesmos, embora
não fosse explicitado e sistematizado pelos participantes ativos,
emprestava conceitos-chave para elaboração da prática social, não
apenas no plano discursivo.
Nos cursos de formação-escolar continuada de professores –
mestrado e doutorado em educação -, como participante da associação
nacional dos alunos de pós-graduação, a problematização das realidades
vividas no escopo universitário, embora dicotomizado pela escolaridade,
de um lado e, luta política de outro, refinava-se teoricamente e nos
afastava dos quefazeres cotidianos. Tanto na universidade pública
federal, quando na estadual mais próxima da latência dos movimentos
operários, o vivido no âmbito universitário sinalizava para uma
formação orgânica a distância.
Nos meados da década de noventa, como docente universitário
no movimento grevista dos docentes das universidades públicas
brasileiras, que esta reflexão emergiu no escopo de um comando de
greve local. O foco problematizador incidiu sobre a qualidade do
trabalho educativo cotidiano nos cursos de formação de professores. A
reflexão seguiu pela mão dupla: por um lado, os professores da
escolaridade básica, mais organizados e ativos na luta, pelo menos
naquela ocasião no estado do Rio Grande do Sul. Contudo, mais
distantes das instâncias produtoras dos conhecimentos científicos e
472
tecnológicos, sustentadores da produção escolar. Conhecimentos
científicos e tecnológicos que, são problematizados no dia-a-dia escolar
e tornam-se objetos cognoscentes dos quefazeres educativos.
Por outro lado, os professores universitários do ensino superior,
produtores majoritários dos conhecimentos científicos e tecnológicos,
que amparados na constituição federal ensinam, pesquisam e
extensionam, concomitantemente no cotidiano escolar. Mas, na sua
grande maioria, mesmo dentro do espectro progressista de determinadas
áreas
e
centros
de
conhecimento,
estão
passivos
sócio-
educacionalmente. Mesmo nos momentos de rupturas de um movimento
social como o docente universitário, bastante processual se comparado
com a maioria, nas ocasiões de enfrentamento com os governantes que
comandam as ações do Estado, os professores encontravam-se distantes
dos acontecimentos.
É claro que, os questionamentos centraram-se na formação
escolar que a maioria teve. E a maioria nas universidades não é
professor! Está professor por força de concurso público. Mesmo assim,
como esperar de nós, profissionais atuantes da educação escolar
superior, escolarizados num contexto de opressão cultural explícita,
politização
embargada
até
o
início
da
década
de
oitenta,
comprometimento ativo, ações sintonizadas com a luta em defesa da
escola pública, laica, de qualidade, como dever do Estado e direito dos
cidadãos, constitucionalmente assegurado? Se levarmos em conta,
apenas o histórico escolar, definitivamente não podemos! Mas, por outro
lado, como agir politicamente diferente, no escopo da escolarização dos
professores, neste mesmo espaço-tempo sócio-educacional com esta
“massa aparentemente desinteressada e passiva” pela “coisa pública”,
em especial a educação?
473
Afinal, participação ativa na sociedade para, conquistar e
assegurar, o bem estar material e os direitos sócio-políticos dos
indivíduos e grupos, são tarefas indivisíveis que exigem apoderamento.
Esta luta para atingirmos as mudanças necessárias é uma conseqüência
da vocação, formação ou direito, apenas, de alguns eleitos? Como um
professor ativo pode, de maneira intencional, portanto informada e
sistematizada, compreender que, tem poder para realizar tarefas
“fundamentais” na direção das melhorias das condições de vida da
sociedade? Podem estas ações ocorrerem fora de um processo de
investigação da realidades? Esta condução é ou não uma atividade de
investigação,
ação,
integradas,
conectadas,
concomitantes,
principalmente no escopo privilegiado da formação: a escola?
Investigação, conhecimento e ação sócio-educacional
Será que o problema da passividade humana, nesta sociedade
pautada pela barbárie, não está, enraizada fundamentalmente, na
interação entre o conhecimento indispensável para a construção de um
projeto de vida melhor? Na nossa visão profissional, vista a partir da
educação
escolar,
existencialmente
onde
como
temos
produzido
e
nos
produzido
professor,
produzir
e
comunicar
este
conhecimento científico e tecnológico é o elemento essencial. Isto pode
potencializar, não apenas nossa formação humana, mas também, nos
desafiar a viver como gostaríamos que fosse nosso mundo. Trata-se de
assumirmos a tarefa de intérpretes-autores nesta produção!
É fundamental, para nós seres humanos no mundo com
pretensões de sermos, sempre e cada vez, mais humanos, conhecer como
nossas vidas podem ser diferentes do que são - plenas de injustiças e
474
sofrimentos – e, projetar a possibilidade de mudança. Afinal, para nós, a
condição de seres humanos em estado de incompletude, exige que
participemos ativamente da determinação dos rumos da sociedade na
qual vivemos. Pois isto de fato, afeta nossas próprias vidas (Freire,
1983).
O leitor pode estar pensando que moramos em outro lugar.
Quem sabe algum país europeu, do chamado primeiro mundo. Vale a
pena lembrar que, ao nos referirmos aos países desenvolvidos não
podemos esquecer que, os mesmos são habitados, dirigidos, projetados
por seres humanos. Ou será que a carga de bondade, justiça, fraternidade
destes “habitantes humanizados” é divinamente alta e...os nossos
eivados de maldade e injustiça? Este fato é importante destacar! Afinal,
quando nos referimos aos donos do poder, às elites nacionais, onde nos
colocamos? Se nos colocamos do lado de fora, significa que estamos
vivendo no analfabetismo, na miséria, fora da construção da sociedade
brasileira!
Contextualizar onde estamos vivendo nossa existencialidade, é
fundamental para organizar e orientar nossa ação no mundo. Isso
porque, a ciência e tecnologia são os principais produtos existenciais das
relações entre os seres humanos e o meio. Dito de outra forma, mesmo
apenas na condição de usuário ou consumidor de idéias e produtos,
compartilhamos com nossa prática sócio-educacional com a maioria dos
significados
ideológicos,
por exemplo, da pesquisa científico-
tecnológica e da formação do pesquisador (Vieira Pinto, 1979).
Assumindo a localização sócio-educacional privilegiada e as tarefas
que se impõem
475
Ora, num país de vinte milhões de analfabetos e cem milhões
de brasileiros fora da escolaridade básica, o que somos senão a elite
escolar, intelectual e de certa forma, associados aos donos do poder?
Não esqueçamos que, conhecimento e poder andam de mãos dadas!
Afinal, ser profissional da educação, pago pelo Estado ou por entidade
concessionária - do Estado, convém ressaltar - da educação, não implica
em atuar politicamente para aproximar os cidadãos da cultura elaborada,
científica, tecnológico e escolar de seu tempo? Isto é fazer parte do
contingente de pessoas do país, denominado de “empregado”, com
salário e que realiza “trabalho qualificado” pela escolaridade? Ou será
que, não tem diferença nenhuma entre nosso trabalho e o que recebemos
por ele e o de um servente de pedreiro, ou mesmo do trabalho de um
professor das séries iniciais do ensino fundamental atuante numa escola
pública municipal e o que é pago para ele?
Para nós está claro que, para agirmos na direção de mudanças
estruturais da sociedade, no sentido de corrigir injustiças sociais,
precisamos urgentemente sintonizar nossas ações, de profissionais da
educação, com a dos movimentos sociais. É urgente reorganizar o
processo escolar de nossa formação, priorizando o componente da luta
política por justiça social e distribuição de renda, para permitir às
pessoas serem mais humanas de fato. Ser mais como essência do
existencialismo concreto (Kosik, 1976). Isto implica em priorizar, na
sala de aula, pelo menos, a apreensão de conhecimentos científicos e
tecnológicos com potencial de compreender e mudar a realidade vivida.
476
Outros quinhentos...como exemplar analítico-existencial
Em tempos de realização de rituais oficiais, do Estado e da
mídia, em comemoração ao descobrimento do Brasil (sic!), por
exemplo, qual nosso argumento pedagógico para estudarmos a carta de
Caminha, seus vocábulos (só para citar um: “achamento”), sua
preocupação excessiva em descrever os “comportamentos mansos” e as
“poucas vestes” dos nativos e das nativas. Ou será que nossas crianças
não podem saber que os portugueses, mesmo sem grandes recursos e
preocupações comunicacionais, queriam saber mesmo, apenas, é se tinha
por aqui ouro, prata e outros minérios possíveis de pilhar e valorizar?
Será que, nem ao menos, têm o direito de saber porque passamos a ser
chamados Brasilland na europa?
Por aqui...no Rio Grande do Sul, o governo do Estado tem sido
processado pelos partidos político da oposição (sic! de novo?) por agir
nesta perspectiva, ou seja, de revelar e contar outra história. Ah! Quem
sabe queiram processar também a Varig, pois a edição de setembro de
1999 de sua revista de bordo - a revista Ícaro - mostrou, na íntegra, a
referida carta que noticia o descobrimento do Brasil, com notas de um
professor
universitário
da
área
da
história
(http://www.icarobrasil.com.br).
Ah! Já sei prezado leitor: este “conhecimento proibido” é, só
para os poucos brasileiros - o que inclui o autor, professor universitário
da área da educação em ciências naturais e suas tecnologias, só para não
esquecer é claro - que viajam de avião (quando custeados pela
universidade) ou acessam a internet para comunicação, cooperação,
pesquisa bibliográfica e ensino a distância. A maioria, o que inclui a
maior parte dos professores da educação básica e seus respectivos
477
alunos, que não viajam de avião, portanto, não lêem a referida revista e,
também, pouco ou quase nunca acessam e, muito menos sabem da
existência e função sócio-educativa da Internet, coube tão somente a
campanha da rede Globo dos quinhentos anos, com direito à contagem
regressiva e tudo. Acreditemos que é possível transformar isto tudo nos
“próximos quinhentos”, principalmente com nossas ações investigativas
na sala de aula (Freire, 1992).
A investigação-ação escolar como reorganizadora da prática para
liberdade
Precisamos ter em mente, que a organização majoritária de
nossa prática escolar favorece, injustiças e desigualdades, especialmente
no escopo sócio-educacional. Ter consciência disto, não é suficiente! É
preciso transformarmos os
dados educacionais escandalosos, que nos
revoltam, principalmente pelo que fazemos profissionalmente, para
viver dia após dia. Precisamos criar idéias sobre, porque isto está assim,
procurando compreender como as coisas são, porque são e procurar
resolver nossos problemas existenciais. Por exemplo: do que adianta
sabermos, que oitenta por cento dos professores aposentados, não
desejariam a mesma profissão para os seus filhos, se não buscamos, pelo
menos, uma boa explicação para isto e caminhos para mudar esta
situação? Será que isto acontece, apenas, devido ao baixo valor da
aposentadoria, que a grande maioria recebe como recompensa pelos
anos dedicados a educação escolar?
Por outro lado, o leitor pode estar se questionando: do que
adianta
conhecer
estes
dados
educacionais,
angustiantes
e
desencantadores e, das “teorias educativas explicativas”, construídas, na
478
maior parte das vezes, por quem não vive concretamente, no dia-a-dia, a
realidade da situação em questão? Concordamos que, muito pouco
adianta apenas compreender, se nossa opção é pela mudança das
situações-problema abordadas. Embora, precisamos reconhecer que no
escopo das ciência e tecnologia, estas ‘teorias interpretativas” auxiliem
bastante, a quem se proponha a agir informadamente, com
intencionalidade e sistemática, para mudar a realidade, na direção da
justiça e eqüidade sócio-educacional (Carr e Kemmis, 1986).
O que defendemos, no contexto da prática educativa no espaço
escolar da formação de professores, é um processo formativo pautado
pelo movimento entre as
investigação e ação, simultâneo e
sistematicamente. Por exemplo: ao procurar saber quantos pais ainda
agridem fisicamente seus filhos, posso ficar isento de agir para mudar
esta situação? Ou, mais especificamente ainda, podemos apenas
observar e diagnosticar que, ano após ano de nossa carreira profissional,
apenas vinte por cento dos alunos “sacaram” a organização conceitual
das aulas? Podemos nos conformar, em apenas criar, uma boa teoria
educacional para explicar este fato e assumir, fatalisticamente, que
alguns se desenvolvem, humanamente falando, com nossa prática
escolar e a maioria não?
Pois bem! Assumindo a possibilidade de mudar nossos destinos
e injustiças sentidas e, não apenas observarmos passivamente a vida
passar, optamos por atuar na perspectiva de elaborar colaborativamente
nossos problemas e soluções escolares, na concretude de nossa
existencialidade, da sala de aula mesmo. Para implementar soluções
viáveis-possíveis - às vezes inéditas, é preciso dizer -, necessariamente
colaborativas
porque
educacionais,
precisamos
vivê-las
como
possibilidade de solução na prática. É claro, que isto exige estudo
479
rigoroso dos nossos quefazeres educacionais, reatando, cada vez mais, a
relação da escola com a sociedade que produzimos. Embora às vezes,
digamos meio inconscientemente, que não somos nós os culpados...E
que, pouco podemos fazer de concreto para mudar de fato...Porque não
temos poder, dinheiro, formação...Afinal, que não temos nada a ver com
isto, com estas nuances da realidade...Que nossa tarefa é ensinar um
determinado conteúdo escolar.
Duas frentes de atuação articulada: a parceria com o MST e o
governo popular
Finalmente, vamos contar em poucas palavras, como temos nos
capacitado profissionalmente em educação, conectando formação e
movimentos sociais presentes na realidade. Apesar da cristalização dos
currículos escolares na ocasião, atuamos nos escopos do Programa
Nacional de Reforma Agrária (PRONERA) e do Movimento de
Alfabetizacão de Jovens e Adultos (MOVA) do governo estadual. No
primeiro deles, atuamos nos assentamentos de reforma agrária da macro
região sul e no segundo, no espaço geo-educacional de Santa Maria. Nos
dois, a meta era a capacitação dos profissionais da educação, professores
ou não, que atuavam em programas educacionais recorrentes, com
trabalhadores excluídos do processo de escolarização.
A frente de trabalho no âmbito do PRONERA ocorreu em
parceria com o Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST),
através de um projeto denominado de CUIA (Construindo a Unificação
entre Investigação e Ação). Problematizava, na prática, a atuação
educacional integrando investigação e ação. Concretamente falando,
capacitamos monitores-alfabetizadores para atuar nesta perspectiva com
480
seus companheiros, também trabalhadores rurais assentados na reforma
agrária brasileira. Praticamos a quintaessência de que, só podemos fazer
isto, se investigarmos como eles pensam a respeito desta realidade, por
exemplo: por que será que não se alfabetizaram durante a estada na
escola? Isto foi opção consciente deles? Quais suas principais
dificuldades no trato com lápis e papel? Têm sentido, pra ele, as coisas
escritas? Ou é melhor acreditar na palavra? Será que compreendem a
função da cultura escrita, nesta sociedade que possui como lei, o direito
à terra, à propriedade privada, à educação pública...?
Neste sentido, assumimos concretamente, que não importa qual
seja o assunto a ser tratado, precisamos dialogar com os envolvidos, se
queremos, de fato, viver um processo educacional comprometido com
transformações. Transformações existenciais e concretas, como a vivida
no momento em que ocupa um latifúndio, resiste nas proximidades do
mesmo na barraca de plástico preto com sua família, conquista seu lote
de terra e passa a produzir sua segurança alimentar, desenvolvendo de
forma sustentável sua existência humana. Parece tarefa difícil, nos
formarmos professores,
negligenciando a problematização deste
contexto de inclusão-exclusão sócio-educacional. A própria reforma
agrária, implementada à força pelo MST em tempos de governos
neoliberais, é um exemplar existencial de ser mais.
O desafio vivido foi mostrar que a educação escolar pode
contribuir com este movimento social. Ou no dizer do poeta Zé Pinto,
trata-se de “juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em
prol da educação... se o aprendizado for além do Be a Ba, todo menino
vai poder ser cidadão.... reforma agrária também na educação (CD Arte
em Movimento, 1999).
481
Na frente de trabalho MOVA-RS, atuamos em parceria com o atual
governo do Estado do Rio Grande do Sul (em especial com o grupo de
profissionais da educação responsáveis pela 8ª Delegacia de Ensino da
Secretaria Estadual de Educação) e entidades não governamentais
(como, associações de bairros, igrejas, sindicatos, etc.) para alfabetizar
os trabalhadores e desempregados gaúchos da região geo-educacional de
Santa Maria. Fomos além do diagnóstico do número de analfabetos (que
é importante saber!), construir teorias para explicar esta exclusão num
Estado da Federação que se orgulha do alto nível de escolaridade de
seus habitantes (e isto é fundamental fazermos, antes que um
pesquisador do sudeste faça por nós!), agindo concretamente neste
empreendimento educacional.
A tarefa, à primeira vista impossível, foi resgatar os deserdados
da escola para esta que os deserdou e os condenou à miséria material e
cognitiva. Isto exigiu de nós professores, assumirmos que é possível
apreender com estes sujeitos “deserdados da vida” (escolar, material,
familiar, etc.), o que eles precisam, para revitalizar sua cidadania
roubada no seu tempo escolar. O desafio foi fazer educação na prática,
mostrando sua face desafiadora... Própria da educação progressista, que
tanto lemos nos livros e gostamos de ensinar-investigar-aprender na
formação de professores.
Tanto numa, como noutra frente, a quintessência do
empreendimento educativo foi viver na sua plenitude a tarefa humana
que, na nossa opinião, nos faz mais humanos: a educação como prática
da liberdade. Especificamente, aprendemos na prática, embora fora do
escopo da escolaridade (estamos lutando para introduzir esta dimensão
nos currículos de formação de professores), a capacitar profissionais da
482
educação em sintonia com os movimentos sociais, nos contextos de
políticas neoliberais, por um lado e, populares e democráticas, por outro
(Sader, 1988). Assumimos, na prática, que educação não se faz apenas
produzindo textos, livros e artigos. Por isto nos propomos a correr
riscos, desafios, encarar problemas apontados pela “população
desescolarizada” e viver, com esta, as soluções concretas, para que
efetivamente possamos “encher a boca” pra dizer que educação é
prioridade para o ser humano ser mais humano, existencialmente
falando.
Bibliografia
CARR, W. E KEMMIS, S. Becoming Critical: Action Research,
Educational And Knowledge. Falmer Press, London, UK, 1986.
DE BASTOS, F. da P. E outros. A Luta da Escola Pública Frente a
LDB. Santa Maria, SEDUFSM, 1997.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1983.
FREIRE, P. Pedagogia Da Esperança: um reencontro com a Pedagogia
do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
_____ . Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 2000.
KOSIK, K. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976.
SADER, E. Quando Novos Personagens entraram em cena:
experiências, falas e lutas dos trabalhadores da grande Sào Paulo. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1988.
VIEIRA PINTO, A. Consciência e Realidade Nacional. Rio de
Janeiro, ISEB/MEC, 1961.
VIEIRA PINTO, A. Ciência e Existência: problemas filosóficos da
pesquisa científica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
483
ÉTICA E EDUCAÇÃO
484
A ÉTICA ARISTOTÉLICA DAS VIRTUDES
E A EDUCAÇÃO: COMPLEMENTARIDADE ENTRE
O UNIVERSALISMO E O PARTICULARISMO
Denis Coitinho Silveira∗
Introdução
O objetivo do presente texto é analisar o significado
contemporâneo da ética aristotélica das virtudes em sua relação com a
educação, estudando o modelo de complementaridade entre o
particularismo e o universalismo. Um ponto central de divergência em
relação à validade ou insuficiência da ética das virtudes de Aristóteles se
encontra na própria especificidade de seu método de filosofia prática.
Aristóteles criou um modelo ético baseado na racionalidade da própria
ação humana, não fazendo uso de uma dedução particular de leis
universais, no momento em que se distanciou do modelo que
identificava causas necessárias (tanto pelos fenômenos naturais como
pelas formas ideais) para o agir moral, apontando o homem como
princípio da ação ética, o que destacou o sentido da responsabilidade da
ação humana69. Uma forma de interpretação usual tende a ressaltar suas
Doutor em Filosofia – PUCRS. Professor e Pesquisador da URI – Campus de Erechim.
Endereço eletrônico: [email protected]
69
Ver a respeito do método adotado por Aristóteles em sua ética. (Guariglia, 1997, p. 33102).
485
características particularistas em ética, dizendo que Aristóteles não se
utiliza de princípios universais como referências centrais para a ação
humana em função da inexatidão das afirmações universais sobre ética
(inexatidão da ética) que, por não possuir 6D\$,4" (exatidão), a ética
diz algo de forma aproximada (ñH ¦BÂ JÎ B@8b) (EN I, 3, 1094 b 12-14;
1094 b 19-22. Aristóteles, 1894, Reimp. 1962)70 e, sendo assim,
Aristóteles não identificaria o papel da teoria ética com o
estabelecimento de princípios universais (gerais) para o agente moral
decidir sua ação com base em critérios mais sólidos do que a pura
subjetividade humana. Essa interpretação, conduz à conclusão de que a
teoria das virtudes está fundamentada na percepção dos agentes morais
para o estabelecimento da decisão moralmente acertada sobre casos
particulares, em que não se verifica a utilização de princípios gerais para
orientar a ação, só se utilizando de juízos particulares. Parece que é este
o ponto central que deve ser investigado, a saber: se essas
generalizações em ética que apontam para o provável são somente
resumos para a ação moral (referências), em que os juízos perceptivos
nos casos particulares possuem anterioridade em relação às regras
morais, ou se podem ser interpretadas como guias para a ação, em que se
teriam princípios para a ação moral. Dito de outra forma, o que está em
jogo é evidenciar se se encontra em Aristóteles a defesa da tese
particularista que afirma a anterioridade normativa da percepção
subjetiva do agente moral como sobreposta à validação de princípios
gerais
(universais),
universalistas
neste
ou
se
modelo
é
de
possível
ética.
verificar
Pretendo
características
demonstrar
a
70
Para as citações em português, uso a tradução de Mario Gama Kury (4. ed.), editada
pela Editora UnB, Brasília, 2001. A obra será abreviada por EN.
486
complementaridade entre o particular e o universal na teoria da ética das
virtudes, evidenciando-se que Aristóteles não subscreve a tese
particularista da prioridade da percepção moral em casos particulares,
pois, mesmo que o agente moral não possua uma lista completa de
princípios éticos que possibilite a adequação do caso particular com o
princípio acertado, os indivíduos são orientados por princípios gerais
para a ação, o que estabelece, por conseguinte, que o indivíduo possui
uma capacidade com conteúdo que é fornecida pelas generalizações;
porém essas generalizações não se apresentam como suficientes para a
decisão contingente acertada. Nessa perspectiva, é possível evidenciar
aspectos universalistas nesse modelo de pensamento através de um
estudo que inicia com a investigação sobre o significado da inexatidão
em ética e, depois, analisa a abrangência dos princípios generalizantes
usuais e, também, a importância dos princípios universais para,
posteriormente, investigar a respeito do significado da percepção moral
particular. Vale ressaltar que a significação da ética aristotélica das
virtudes para a educação estará circunscrita neste modelo de
complementaridade entre o particularismo e o universalismo.
Significado da Inexatidão em Ética
Em seu projeto de elaboração de uma ética (¦B4FJZ:0
B@84J46Z - ciência política) (EN I, 2, 1094 a 27 – 1094 b 2), que tem
seu objeto no próprio bem humano (sua finalidade última) e seu objetivo
na realização desse bem (praticar e não apenas conhecer), Aristóteles
abandonou o modelo matemático como única forma de racionalidade e
conhecimento na filosofia prática, abandonando a categoria de
487
6D\$,4" (exatidão) (EN I, 3, 1094 b 13) como único critério para o
conhecimento científico, introduzindo uma outra forma de cientificidade
que deve contentar-se com um delineamento do que é, em linhas gerais,
através de um conhecimento esquemático, isto é, de um conhecimento
de JbBå (EN I, 2, 1094 a 24-26), compreendendo a ética não como um
conhecimento
com
exatidão
matemática,
que
possibilita
um
conhecimento detalhado e exaustivo do objeto, mas que se apresenta
como suficiente para o propósito estabelecido da prática (BD>4H)
(Berti, 1998, p. 119-120). Para interpretar essa especificidade de
exatidão, proposta por Aristóteles (EN I, 3, 1094 b 11-12), é importante
ter como referência a distinção entre as ciências teoréticas, práticas e
produtivas, no momento em que Aristóteles adverte que não é possível
alcançar a mesma dimensão 6D4$ZH (exata) em todas as partes da
filosofia, bem como em todos os produtos de determinados ofícios (EN
I, 3, 1094 b 12-14). A filosofia, para Aristóteles, é identificada como
plenitude e totalidade de conhecimentos, sendo o ser dito de muitas
formas (Met. IV ('), 2, 1003 a 31)71 e, dessa maneira, ela é
compreendida enquanto conhecimento de todos os seres, das formas das
ações humanas e, também, dos instrumentos produzidos pelos homens.
Toda ciência (¦B4FJZ:0) investiga os princípios, as causas e a natureza
dos seres que são seu objeto específico de estudo. É importante ressaltar
que as ciências possuem em comum o procedimento (:X2@*@H) de
busca dos princípios e das causas, porém não podem ser confundidos,
pois diferem segundo a natureza do ser que investigam, sendo que a
natureza do que é investigado faz com que os princípios e as causas em
cada ciência sejam diferentes dos das outras. É a partir dessas diferenças
71
A obra será abreviada por Met.
488
especificadas que é possível a classificação das ciências em três grupos,
a saber: ciências teoréticas (¦B4FJZ:0 2,TD0J46Z), ciências práticas
(¦B4FJZ:0 BD"6J46Z) e ciências produtivas (¦B4FJZ:0 B@40J46Z)
(Guariglia, 1997, p. 68).
As ciências práticas (ética e política) têm como princípio ou
causa o homem enquanto agente da ação, sendo sua finalidade (JX8@H) o
próprio homem. Nas ciências práticas, o agente, a ação e a finalidade
específica da ação são inseparáveis, sendo que a ética e a política se
referem ao que é propriamente humano, isto é, a BD>4H (prâxis), que é
uma atividade que não produz algo dissociado do agente e tem como
causa central a vontade humana enquanto escolha deliberativa, refletida
e, também, racional (Reale, 1986, p. 99-100. As ciências práticas não
são contemplativas como as teoréticas e seu objeto (que é a prâxis) não é
universal ou necessário (Ionescu, 1973, p. 147-148). O que é
determinante nas ciências práticas é a finalidade (télos), e isso confere
uma certa universalidade e necessidade a elas, pois as ações que são
racionais e refletidas são aquelas realizadas para atingir um fim, e isso
constitui um bem (("2`<). Esse bem (finalidade) não é universal e
necessário como um princípio teorético, porém é uma referência estável
e geral, sendo válido para todos e oferecendo um critério (:XJD@<) para
o agente racional fazer sua escolha entre as várias ações que são
possíveis (Aubenque, 1976, p. 49). O que está em jogo é identificar que
o específico da filosofia prática se constitui na ação humana, e essa não
pode estar pressuposta em uma ciência imutável, universal e necessária,
pois Aristóteles se posiciona afirmativamente a respeito da existência de
um horizonte da vida humana que permanece contingente e particular
(política, ética e técnica), mas nem por isso pode ser classificado como
489
sem-sentido ou irracional72. Para Aristóteles, as ações humanas são
realizadas
por
uma
vontade
racional,
entretanto
permanecem
contingentes e dependentes de escolhas concretas, não sendo possível
sua identificação com a idéia universal de Bem (como no caso
platônico) (Düring, 1995, p. 528). Isso pode ser explicado porque o
conceito de 6D\$,4" sempre esteve identificado com o conceito de
8Z2,4" (verdade) que possui um caráter normativo, o que implicaria a
noção de um conhecimento exato sobre todas as coisas a partir de uma
forma ideal para compreender o real. Aristóteles utiliza uma noção não
absoluta de 6D\$,4", sem, contudo cair no relativismo, no momento
em que estabelece uma adequação do conceito de exatidão à matéria
específica do conhecimento prático (Guariglia, 1997, p. 65). Essa
inexatidão na ética não significa uma renúncia absoluta de um
universalismo em ética, reduzindo cada situação particular ao
mecanismo de cálculo em relação às circunstâncias, pois a ação moral,
que é particular, é um caso particular da ação humana em geral, isto é,
da prâxis (Aubenque, 1976, p. 95-105), da mesma maneira que o
relativismo não encontra espaço neste modelo de pensamento
72
Aristóteles também distingue entre ciência prática e ciência produtiva (BD>4H B@\0F4H). A ciência produtiva, do agir instrumental, do fazer, do produzir, pertence à
esfera da JXP<0 (técnica) e esta, voltada para a perfeição da própria obra, é um meio em
função de um fim que é exterior a si mesma. As ciências produtivas investigam a respeito
da ação fabricadora humana. Na poíêsis o agente, a ação e o produto da ação constituem-se
como em separados, em que a finalidade da ação está em um objeto, estando fora da
própria ação a finalidade. As ciências produtivas também operam com o contingente e o
particular e possuem um critério que oferece uma certa universalidade e necessidade que é
a finalidade (o télos). A finalidade é o modelo daquilo que vai ser produzido, sendo que as
ações produtivas são compreendidas enquanto técnicas, pois são ações repetitivas que
visam à produção de um objeto, não tendo sua finalidade na própria ação. As ciências
produtivas têm referência a um aspecto particular da capacidade técnica humana, sendo
seus exemplos: a arquitetura, a escultura, a medicina, a guerra, a discussão, a poesia, a
engenharia, a tecelagem etc. Os casos investigados por Aristóteles são a retórica, como
arte da discussão e da persuasão por meio do discurso e a poética, onde se analisa o drama
(tragédia), a comédia, a poesia épica e lírica etc. Ver a respeito da distinção entre prâxis e
poíêsis: Natali, 1996, p. 109-112 e Gauthier, 1973, p. 38-44.
490
(Guariglia, 1997, p. 61).
Abrangências dos Princípios Generalizantes Usuais e Universais
Aristóteles estabelece uma relação entre a inexatidão da ética
com a perspectiva usual das generalizações éticas, pois a filosofia
prática, que tem como objeto o belo, o justo e o bem, não pode
determinar com exatidão absoluta o que são o belo, o justo e o bom em
todas as circunstâncias particulares, porém, ela indica o seu significado
em termos gerais (Berti, 1998, p. 1)73. Aristóteles evidencia que o objeto
da filosofia prática está identificado com o “belo” (6"8`H), o “justo”
(*\6"4@H) e o “bem” (("2`<) (EN I, 3, 1094 b 14-18) e que estes estão
envolvidos pela *4"N@DV< (diversidade de opinião, diferença) e pela
B8V<0< (incerteza, variação sobre o tema) (EN I, 3, 1094 b 15-16), o
que pode conduzir a um convencionalismo (EN I, 3, 1094 b 16). Se se
interpretar que a diversidade e a incerteza que envolvem as questões a
respeito do belo, justo e bom conduzem a uma convenção, ter-se-ia um
Aristóteles absolutamente relativista, em que as determinações de
justiça, por exemplo, seriam estabelecidas pela decisão contingente e
subjetiva do agente moral. Se não é esse o caso, só se pode identificar
que essa diversidade e incerteza tem relação não com a pura
subjetividade do agente, mas com aspectos objetivos em relação ao
objeto da ciência prática (com o justo). Concordando com o argumento
de Irwin (1996), é possível identificar essa intenção de objetividade em
73
Uma outra maneira de pensar a diferença de exatidão é fazer referência às qualificações
que uma ciência oferece em sua explicação e, sendo assim, ela será mais exata, quanto
mais qualificações fizer ao objeto em questão. Por isso, as generalizações em ética não
podem ser exatas como na matemática, e isso significa que o tipo de objeto que se faz
generalizações não permite a formulação de conclusões absolutas sem apresentar as
qualificações pertinentes e, também, que as generalizações sem qualificações não abarcam
a multiplicidade da vida humana. Ver a esse respeito: Irwin, 1996, p. 27.
491
Aristóteles no momento em que ele insere efeitos objetivos nocivos
diferenciados em relação às concepções de bem (Irwin, 1996, p. 30).
Aristóteles aponta que a concepção de bem também está circunscrita à
mesma incerteza em função de coisas boas poderem ter um efeito
nocivo, como é o caso da riqueza (B8@ØJ@H) e da coragem (<*D,\"),
que podem destruir a vida de pessoas (EN I, 3, 1094 b 16-19). Qual é o
entendimento de Aristóteles? Que em função da riqueza e da coragem
poderem se constituir em algo danoso para o indivíduo elas seriam
apenas uma convenção, podendo ser boas em algumas circunstâncias e
más em outras? Não parece ser esse o argumento defendido, pois a
riqueza e a coragem que destroem a vida não são consideradas como
algo bom de forma absoluta, isto é, se uma concepção de bem tem como
referência uma compreensão de riqueza e coragem que são nocivas para
a vida do indivíduo, ela não pode ser subscrita e defendida. Isso
significa dizer que Aristóteles não está apoiando uma tese particularista
em relação às coisas belas, justas e boas, na qual a decisão sobre a ação
moral (do que é belo, justo e bom) está apenas no agente particular (tese
particularista) em função de a ética ser uma ciência que não é exata da
mesma maneira que uma ciência teorética, revelando, assim, a
necessidade objetiva de o agente particular identificar que o objeto da
ciência prática não é uma pura convenção e que deve estar baseado em
critérios gerais e universais que orientam a decisão particular do
indivíduo (Irwin, 1996, p. 32). Como o caráter de inexatidão da ética
está relacionado com as generalizações usuais em ética, o segundo passo
para analisar a respeito do pretenso particularismo na ética das virtudes
de Aristóteles é identificar o que significa a utilização de premissas
incertas que são generalizações usuais que admitem exceções (ñH ¦BÂ
JÎ B@8b) para a fundamentação do agir moral na validade usual das
492
regras éticas (que valem na maior parte dos casos). Como Aristóteles
tinha identificado que o objeto da ética (belo, justo e bom) está
circunscrito à diversidade de opinião (*4"N@DV<) e a incerteza
(B8V<0<), diz que a ética deve se contentar com o ponto de partida de
premissas incertas, em que será possível um delineamento da verdade,
sendo que essas premissas são generalizações que possibilitam
conclusões que possuem validade na maior parte dos casos (EN I, 3,
1094 b 19-23).
Uso como ponto de partida o entendimento de que é possível
interpretar o significado de ñH ¦BÂ JÎ B@8b de duas formas distintas, a
saber: ou significa dizer que a validade usual em ética está
fundamentada no juízo particular do agente somente, em que essas
generalizações representariam como as coisas ocorrem na maioria dos
casos, o que revelaria uma compreensão particularista em ética; ou
representa afirmar que a validade usual das premissas em ética podem
ser entendidas enquanto uma norma, o que introduziria uma
característica universalista na ética aristotélica. Minha intenção é
demonstrar que é razoável identificar no modelo da ética de Aristóteles,
que utiliza generalizações usuais, um universalismo, no momento em
que essas generalizações que admitem exceções forem interpretadas
enquanto normas; também, é importante evidenciar que se encontram
nesse modelo de pensamento generalizações universais, o que corrobora
com a interpretação das generalizações usuais enquanto normas e não
enquanto um entendimento particular.
Essa regra generalizante pode ser formulada da seguinte
maneira: na maior parte dos casos (ñH ¦BÂ JÎ B@8b) A é bom, sendo
que temos generalizações que podem ser acompanhadas de exceções,
493
não se encontrando, aqui, uma dedução de uma lei universal de tipo para
todo X, A é bom. Isso significa que a razão prática se baseia em objetos
que acontecem freqüentemente da mesma maneira, sendo que ela busca
os princípios da ação humana partindo da finalidade (JX8@H) e
estabelece as condições necessárias para que essa finalidade seja
alcançada (Guariglia, 1997, p. 179-180)74. Sendo assim, a ética das
virtudes de Aristóteles tem relação com os princípios por ser uma
ciência, que é um conhecimento do que é geral e permanente, porém não
possui de antemão esses princípios em função da variedade de
fenômenos que se relacionam com a ação humana (Guariglia, 1997, p.
84; Berti, 1998, p. 125-126). Dessa maneira, tem-se a utilização de uma
regra que admite exceções (que vale na maior parte dos casos), porém
essa especificidade não significa um impedimento de cientificidade que
aponta para o verdadeiro. Veja-se o caso anterior a respeito de as
concepções de bem estarem inscritas na esfera da incerteza em função
de coisas boas poderem ter algum efeito nocivo, como o caso de a
riqueza e a coragem poderem destruir a vida dos indivíduos. Dizer que a
riqueza ou a coragem são um bem na maior parte das vezes, é dizer que
elas são um bem, mesmo que em alguns casos elas sejam nocivas. A
essa aparente indeterminação, parece que Aristóteles aponta para a
conclusão que nos casos em que a riqueza e a coragem constituírem-se
como nocivas, elas não podem ser consideradas como bens 75. Isso
74
Aristóteles não se utiliza de uma racionalidade teórica que especifica a ação particular
em função de um axioma geral, utilizando-se de uma racionalidade prática que apresenta
as seguintes características: quer resolver questões contingentes, sendo que a causa da ação
está no homem; não possui a exatidão dos raciocínios teóricos; fica satisfeita com um
conhecimento esquemático dos objetos específicos de sua investigação; não propõe juízos
infalíveis, mas razoáveis.
75
Pode-se evidenciar a seguinte formulação: (1) A riqueza é um bem geralmente; (2) A
riqueza é um bem mesmo que em alguns casos ela seja nociva; (3) A riqueza não é um
bem quando for nociva. Ver a esse respeito Berti, 1998, p. 122.
494
significa que as generalizações em ética devem ser acompanhadas de
qualificações, isto é, devem estar acompanhadas de referências objetivas
em relação ao objeto específico (Irwin, 1996, p. 50), como pode ser
observado no exemplo da nocividade da riqueza e da coragem que
oferecem qualificações às regras generalizantes. Entretanto não é
possível que se oportunizem todas as qualificações necessárias ao objeto
com a finalidade de estabelecimento de princípios corretos (universais)
em função da própria intenção prática da ética; isso, porém, não invalida
a possibilidade de tomar essas generalizações em ética como referências
normativas essenciais para a fundamentação do agir moral (Irwin, 1996,
p. 50-51). Essa referência normativa pode ser identificada em diversos
momentos da estrutura da EN, como no Capítulo 2 do Livro IX da EN,
quando Aristóteles se pergunta se incondicionalmente se deve
obediência aos pais, se o médico deve ser obedecido no caso de o
indivíduo estar doente, se em uma eleição, se deve escolher o mais apto
para o cargo ou um amigo etc (EN IX, 2, 1164 b 18-26). Em um
primeiro momento, ele identifica que essas questões estão também na
esfera da imprecisão, pois possuem diversas variações para se
estabelecer à ação acertada, o que dificulta o estabelecimento de uma
norma geral para a ação moral (EN IX, 2, 1164 b 27-29). Entretanto
Aristóteles estabelece que, como regra geral (éH ¦BÂ JÎ B@8b) (EN IX,
2, 1164 b 31), deve-se preferir restituir serviços a prestar favores aos
próprios amigos; que se deve pagar uma dívida a um credor a emprestar
esse dinheiro a um amigo (EN IX, 2, 1164 b 31-33); que se deve pagar a
dívida (EN IX, 2, 1164 b 40) e, por isso, pode-se identificar uma
estrutura generalizante (EN IX, 2, 1164 b 30-33) em que aparece a
fórmula “um bom número de As são B” (Zingano 1996, p. 60)76. É claro
76
Essa estrutura generalizante impõe uma fórmula ‘bom número de As são B’.
495
que essas ações admitem exceções, pois em determinadas circunstâncias
essa regra geral deve ser interpretada pelo agente para a realização da
ação moral alcançar o melhor resultado, levando-se em conta que a
exatidão possível deve ser compatível com a indeterminação que cercam
as ações humanas (EN IX, 2, 1165 a 13-15; Irwin, 1996, p. 60).
Entretanto essas exceções não impedem Aristóteles de chegar à
conclusão a respeito da regra generalizante que obriga que na maior
parte das vezes: deve-se cuidar do sustento dos pais, pois a eles é devida
a existência; deve-se honrar e estimar os pais; deve-se respeitar os mais
velhos; deve-se ajudar os amigos; deve-se dar o que é devido aos
parentes e concidadãos (EN IX, 2, 1165 a 26-41). Isso representa que
não é apenas o particularismo da ação do agente moral que é
privilegiado, observando-se, também, uma regra de generalização que
obriga na maior parte dos casos, o que reforça o ponto de vista
universalista, pois essas regras gerais usuais não determinam as ações
particulares em toda sua extensão; sua finalidade é oferecer um
direcionamento normativo para contribuir com a determinação da ação
correta particular (Irwin, 1996, p. 60-61).
Essa regra generalizante que obriga na maior parte das vezes é
também observada na teoria da justiça de Aristóteles, quando a justiça é
identificada com o ordenamento legal (B@84J46Î< *\6"4@<) que trata
especificamente das relações públicas de justiça entre indivíduos que são
considerados livres e iguais e possuidores de uma vida comum para a
satisfação de suas necessidades visando ao estabelecimento da autosuficiência (EN V, 6, 1134 a 20-24). Aqui, a justiça política significa um
conjunto de regras que são generalizações usuais que admitem exceção,
exceção esta possibilitada pela virtude da eqüidade (¦B4,\6,4"). A
função da eqüidade no interior da teoria da justiça, descrita no Capítulo
496
10 do Livro V da EN, é a de possibilitar uma correção da generalidade
da lei, pois ela é uma espécie de corretora da justiça legal
(¦B"<`D2T:" <`:@L) (EN V, 10, 1137 b 50-52), no sentido principal
de aplicação concreta da justiça em razão de a lei ser uma regra
generalizante que não favorece o aspecto concreto da justiça nos casos
particulares (EN V, 10, 1137 b 52-58). A eqüidade é compreendida
enquanto uma virtude (D,JZ) que está associada com a ND`<0F4H
(razão prática) que estabelece a adequação do universal ao particular;
porém não possui força coercitiva para obrigar (EN VI, 11, 1143 a 2022). Isso não representa que a eqüidade seja superior à lei, pois apenas
possui a função de corrigir o erro que é decorrente da estrutura
generalizante da lei que não oportuniza a exatidão pretendida em todos
os casos (Höffe, 2001, p. 147). A eqüidade não é compreendida como
uma substituta da justiça regular das leis em função de ser uma virtude
que não possui força coercitiva; entretanto tem a tarefa de possibilitar
um complemento para a justiça política, significando que tanto a lei
quanto a eqüidade tem seu local assegurado no interior da teoria da
justiça. Isso significa que o ordenamento legal (justiça política) é
entendido enquanto um sistema de regras generalizantes que são usuais,
isto é, que admitem exceções, sendo que essas exceções são
oportunizadas pela virtude da eqüidade (Zingano, 1996, p. 97; Irwin,
1996, p. 61).
Aristóteles
apresenta
uma
série
de
argumentos
de
generalizações universais que não admitem exceções (Broadie, 1991, p.
18)77, o que pode levar a uma identificação que a ética das virtudes
77
Não são todas as generalizações em ética que são apenas usuais, isto é, que admitem
exceções, pois Aristóteles faz uso de generalizações universais como no exemplo da teoria
da mesótês que é universal.
497
aristotélica tem por objetivo construir uma teoria de complementaridade
entre o particularismo e o universalismo, sendo a função do aspecto
particular oportunizar qualificações (uma maior precisão) quando da
inexatidão dos princípios universais ou usualmente generalizantes
(Irwin, 1996, p. 46). Essa estrutura universalista pode ser identificada
em diversos momentos da elaboração da EN, quando Aristóteles
estabelece princípios universais que não dependem do entendimento
particular do indivíduo, nem são princípios gerais usuais. Aponto alguns
exemplos:
(1) O bem (("2`<) está identificado com a finalidade
(JX8@H), em que, se todas as coisas visam a algum bem, o bem será
encontrado na finalidade de todas as coisas (EN I, 1, 1094 a 1-3);
(2) É necessário estabelecer um ordenamento dos fins concretos
dos homens a um fim último (bem supremo) para não cair em um
regresso ad infinitum (EN I, 2, 1094 a 18-22);
(3) Este bem supremo do homem é a finalidade da ciência
política (filosofia prática) (EN I, 2, 1094 b 3-7);
(4) A ,Û*"4:@<\" (eudaimonía) é a finalidade última (,Þ .< bem supremo) de todos os indivíduos (EN I, 4, 1095 a 21-24);
(5) A ,Û*"4:@<\" (felicidade) é uma atividade da alma (RLPH
¦<XD(,4") (EN I, 9, 1099 b 26) segundo a virtude (D,JZ) (EN I, 8,
1098 b 36-);
(6) A virtude (D,JZ) é encontrada na mediania (:,F`J0H)
entre as ações opostas, isto é, entre o excesso e a deficiência (extremos)
(EN II, 6, 1106 b 39-42).
Todas essas afirmativas que constituem o delineamento central
da ética das virtudes de Aristóteles são universais, isto é, são princípios
498
absolutos que não admitem exceções nem permitem a deliberação
subjetiva do indivíduo particular, a saber: o bem de alguma coisa é
encontrado em sua finalidade; os diversos fins devem estar subordinados
a um fim último; a finalidade última humana é o objeto da ciência
política; a eudaimonía é a finalidade de todos os homens; a eudaimonía
é uma atividade (da alma) que tem relação com a virtude (D,JZ); a
virtude é uma mediania entre o excesso e a deficiência. O exemplo mais
controverso poderia ser identificado na regra da mediania (:,F`J0H),
onde a virtude é encontrada em um meio-termo justo entre extremos
(excesso e deficiência) que são vícios. Em um primeiro momento, essa
teoria da mesótês parece afirmar a tese particularista apenas, pois em
relação ao meio-termo, a virtude se constitui como meio em relação a
nós e significa encontrar a ação justa em relação a dois extremos a
evitar; onde se evidencia que, para aplicar o que a norma ordena, é
necessário que se levem em conta as circunstâncias no meio das quais os
indivíduos agem (Zingano, 1996, p. 91)78. Mas não é somente a regra
particularista que é afirmada na doutrina da mesótês, em função da
identificação de que a mediania é melhor que os extremos, significando
que os extremos (excesso e deficiência) estão sendo negados de maneira
absoluta (universalmente) (Kraut, 1991, p. 14; Irwin, 1996, p. 46-47;
Broadie, 1991, p. 18). Dessa maneira é possível identificar com Zingano
(1996) a afirmação de uma regra universal do tipo “todo A é B”
(Zingano, 1996, p. 97), mesmo que negativamente, pois os extremos,
que são considerados como vícios, não podem ser escolhidos em função
de sua deficiência, sendo a virtude a mediania. Por exemplo, não é
78
Dessa maneira, tem-se a afirmação do particularismo em função das circunstâncias no
interior das quais ocorre a ação. A ação que é considerada nela mesma é indeterminada,
sendo que as circunstâncias nas quais ocorre a ação são indefinidas e, em função dessa
característica de indeterminação, a aplicação da regra segue a lógica particularista.
499
possível ser covarde (N@$,ÃF2"4) ou temerário (2D"FbH), não existindo
nenhum espaço para a análise das circunstâncias em relação a essas
ações extremas, sendo a virtude a coragem (<*D,\") ( EN II, 7, 1107 b
1-2); não é correto ser insensível em relação aos prazeres nem tampouco
é permitido ser concupiscente (desregrado em relação aos prazeres), pois
é a moderação (FTND@Fb<0) que deve ser privilegiada (EN II, 7, 1107
b 6-8); não é acertado deliberar entre a avareza ou a prodigalidade, pois
a virtude é mediania entre esses extremos que é a liberalidade
(¦8,L2,D4`J0H) (EN II, 7, 1107 b 12-14). Em todos esses exemplos, as
ações extremas estão sendo negadas de forma universal, em que
necessariamente não é correta a ação identificada com o excesso ou com
a deficiência, sendo que essa ação não está baseada nas circunstâncias
particulares. Em relação aos extremos, identifica-se uma proibição
universal, pois a virtude não é encontrada nessas situações. Isso significa
dizer que na tese ‘nas circunstâncias X, A é bom’ (Zingano, 1996, p.
93)79, que é a lógica da regra particularista da mesótês, exclui-se de
forma absoluta que B e C (extremos) possam ser considerados bens.
Dessa forma, ao analisar-se a teoria da mediania (:,F`J0H), é possível
identificar tanto a tese forte do particularismo, em que o meio-termo
justo deve ser encontrado em função de circunstâncias que são
indeterminadas, como, também, a tese universalista que proíbe
necessariamente ações que se encontram nos extremos (excesso e
deficiência) (Zingano, 1996, p. 98). Por mais paradoxal que possa ser, a
mesma teoria da mesótês (:,F`J0H), no mesmo momento em que
afirma uma tese particularista da ação em razão das circunstâncias
79
Esta é a regra particularista que pode ser identificada na teoria da mediania, a saber, que
em determinadas circunstâncias, fazer uma determinada coisa é que se constitui como um
bem.
500
particulares do agente moral, afirma uma tese universalista das ações
que não podem ser realizadas80. A pergunta que deve ser feita é: qual o
papel das proibições dos extremos no modelo da ética das virtudes?
Parece razoável apontar que essa proibição de ações extremas tem uma
função de limitar o espaço da indeterminação em que a mediania deve
ser encontrada, significando a introdução de referências normativas
universais que oportunizam uma maior exatidão para a escolha
particular
do
indivíduo,
circunscrevendo
o
particularismo
ao
universalismo. Nessa linha de raciocínio seria plausível esperar que
Aristóteles identificasse algumas ações que não admitissem uma regra
da
mediania,
pois,
dessa
forma,
estaria
comprovando
seu
comprometimento com o estabelecimento de um referencial normativo
em seu modelo ético para delimitar a esfera indeterminada na escolha
moral particular. É exatamente isso que Aristóteles faz, identifica
algumas ações e emoções que não possibilitam uma mediania, o que
corrobora a tese de um universalismo que possui a função de oportunizar
uma maior precisão ao mecanismo subjetivo de escolha.
Essa introdução de uma referência normativa universal é
fundamental para a comprovação do caráter universalista da ética das
virtudes aristotélica, sendo que isto é observado em razão da
identificação da existência de certas ações e emoções que não admitem
mesótês, isto é, que não admitem uma regra particular de escolha, em
função de estarem identificadas com a maldade (perversidade) de forma
absoluta (Vergnières, 1998, p. 139; Zingano, 1996, p. 99). Logo após o
80
“L’action morale inclut un rapport au sujet, et en ce sens on peut dire qu’elle est
subjective. Mais ce rapport est lui aussi une réalité, et l’action qu’il définit reste aux yeux
d’Aristote une action objectivement déterminée, et, il n’hésitera pas à le dire, une chose
(E.N., II, 3, 1105 b 5). Le juste milieu est, chez Aristote, la qualité de cette chose, et en ce
sens il est valeur objective” (Gauthier, 1973, p. 72).
501
estabelecimento da definição de virtude (D,JZ) como :,F`J0H
(mediania) entre ações extremas, em que o meio-termo é encontrado
pelo agente particular em função das circunstâncias, Aristóteles
identifica algumas ações (BD>4H) e emoções (BV2@H) que não
permitem uma mediania, a saber: (1) BV2@H: ¦B4P"4D,6"6\"
(malevolência); <"4FPL<J\" (impudência); N2`<@H (inveja) e (2)
BD>4H: :@4P,\" (adultério); 68@BZ (roubo); <*D@N@<\" (homicídio)
(EN II, 6, 1106 b 48 - 1107 a 4). Como essas ações e emoções
constituem-se como perversidades, sendo censuráveis por si mesmas,
não é possível identificar o problema no excesso ou na deficiência, mas,
sim, nelas próprias. Aristóteles é claro nesse ponto: “Nunca será
possível, portanto, estar certo em relação a elas; estar-se-á sempre
errado” (EN II, 6, 1107 a 4-5). A conclusão que está sendo estabelecida,
aqui, é que não é possível considerar como moralmente acertada a
realização de nenhuma dessas ações, bem como não é correto possuir
alguma dessas emoções. Esses casos não têm referência com as
circunstâncias particulares que envolvem a ação, pois, como no exemplo
citado por Aristóteles, é observado que não é possível “(...) cometer
adultério com a mulher certa, no momento certo e do modo certo” (EN
II, 6, 1107 a 6-7). É impossível considerar o adultério como correto em
função de certas circunstâncias, assim como também não é possível
aceitar que o roubo e o homicídio sejam considerados como bons em
função de suas circunstâncias particulares. A tese formulada é
claramente universalista, pois proíbe absolutamente essas ações e
emoções perversas que, não admitindo mesótês, são necessariamente
identificadas com o erro e, portanto, estão sob uma interdição absoluta.
Nesses exemplos elencados por Aristóteles, nenhum mecanismo
502
particularista da ação contingente é levado em consideração, o que
possibilita a identificação da utilização de princípios universais
normativos para a delimitação da indeterminação da ação particular do
agente moral81. Dessa forma, não é possível analisar a ética das virtudes
de Aristóteles somente a partir de suas características do particularismo,
em razão de nela também ser identificada a utilização de princípios que
oferecem generalizações usuais e, também, princípios que oportunizam
uma referência normativa universal (Zingano, 1996, p. 99). É no
horizonte de complementaridade ente o particularismo e o universalismo
que o modelo da ética das virtudes de Aristóteles deve ser interpretado,
pois ele possibilita que se evidenciem os aspectos positivos da
deliberação particular do agente, o que assegura a responsabilidade e a
liberdade do indivíduo; entretanto, oportuniza, também, que se aponte
para a vantagem da utilização de princípios generalizantes usuais e
princípios universais em ética, inserindo um grau maior de precisão e
exatidão nas decisões particulares subjetivas. Quero demonstrar que a
objetividade identificada neste modelo aristotélico de filosofia prática
não invalida suas referências subjetivas; pelo contrário, possibilita uma
maior qualificação para ação humana ser considerada como moralmente
acertada. Em função disso, não é possível concluir que os juízos
perceptivos particulares possuam uma anterioridade em relação às regras
morais, sendo as generalizações usuais em ética apenas resumos para a
ação moral, pois, até aqui, evidenciou-se que, tanto as generalizações
prováveis, bem como os princípios universais servem como referência
normativa para ação particular, por não demarcar uma fronteira
excludente entre a percepção particular subjetiva e o ordenamento
81
Segundo Höffe (2001, p. 173-174), Aristóteles estabelece um reconhecimento de
princípios universais de justiça que proíbem o roubo, o adultério, o homicídio, a injúria
etc., quando trata da justiça corretiva no Livro V da EN.
503
referencial normativo. O próximo passo, será investigar o significado
dos juízos perceptivos particulares no esquema da ética das virtudes de
Aristóteles.
Especificidade da Percepção Moral Particular
A ética aristotélica das virtudes possui uma característica
específica, a saber, ela se constitui em um tipo de conhecimento que tem
a ação humana como seu objeto e, por conseguinte, possui uma exatidão
apenas variável, pois está fundamentada na decisão particular do agente
moral que delibera subjetivamente para encontrar a mediania em função
de as formulações éticas serem generalizações usuais, isto é,
apresentarem validade na maior parte dos casos, significando que essas
formulações admitem exceções, o que implica na validade da avaliação
particular para o estabelecimento da ação moralmente correta (Guariglia,
1997, p. 206). À primeira vista, essa formulação de fundamentação
parece justificar apenas a interpretação particularista da ética
aristotélica, ao dar um destaque maior para a centralidade dos juízos
perceptivos. Entretanto é necessário investigar se nesse modelo de
fundamentação não é possível a identificação de características
universalistas, no momento em que se observa que esses juízos
perceptivos particulares não possuem uma anterioridade em relação ao
referencial normativo utilizado nessa teoria ética. Parto da hipótese que
é possível interpretar a ética das virtudes a partir de uma perspectiva de
complementaridade entre o particular e o universal, identificando que os
juízos particulares não possuem uma anterioridade em relação ao
referencial normativo. Para tanto, investigo a respeito do significado de
504
BD@"\D,F4H (escolha, decisão), $@b8,LF4H (deliberação) e ND`<0F4H
(razão prática, prudência).
Aristóteles define a virtude (D,JZ) como uma disposição da
alma (ª>4H) que conduz a escolha de ações e paixões (BD@"\D,F4H) e
que consiste em uma mediania (:,F`J0H) subjetiva (tem relação ao
particular) entre extremos, sendo que esta mediania é possibilitada pela
razão (8`(@H), pois é o indivíduo dotado da racionalidade prática
(ND`<4:@H) que consegue alcançar este meio-termo (EN II, 6, 1106 b
38-41). Dessa definição de virtude já se pode verificar os dois eixos
fundamentais que constituem a fundamentação da ação moral, a saber:
(1) ela está relacionada com uma BD@"\D,F4H (escolha) particular entre
ações e paixões extremas (que são vícios) para determinar a mediania,
ressaltando-se que esta escolha é particular e (2) ela está identificada
com a capacidade racional (ND`<0F4H) para a determinação da mediania
(Kraut, 1991, p. 328). Em um primeiro momento pode-se ser levado a
acreditar que a lógica utilizada por Aristóteles é puramente
particularista, pois fundamenta a ação moral em uma escolha deliberada
particular; porém esta fundamentação particularista não está em
desacordo com o referencial normativo oportunizado (a) pelas regras
generalizantes que possuem validade na maior parte das vezes e (b)
pelas regras universais. Esse mal-entendido já pode ser evidenciado
quando Aristóteles argumenta que a conduta humana está relacionada
aos fatos contingentes, pois no âmbito do discurso racional prático os
princípios particulares possuem um grau maior de verdade, ressaltandose a observação de que os princípios universais têm uma aplicação mais
irrestrita (EN II, 7, 1107 a 18-22). Aristóteles alerta para o fato de que
encontrar a mediania entre extremos não é algo fácil, assim como não é
505
fácil encontrar “o centro de um círculo” (EN II, 9, 1109 a 41), em
função das diversas indeterminações que circunscrevem a ação moral.
Essa forma de apresentação da fundamentação da ação moral está
apontando para a necessidade de utilização de princípios particulares
para a deliberação em casos de indeterminação; entretanto Aristóteles
não está invalidando o referencial normativo que se utiliza de princípios
generalizantes e universais para oportunizar uma maior precisão para a
ação, e nem está afirmando a anterioridade desses princípios
particulares.
Para identificar essa não discordância entre a deliberação
particular e as regras generalizantes e universais, é importante
demonstrar como é construída a argumentação que esclarece a respeito
da mesótês (:,F`J0H), em que são apresentadas três regras: (1) a
primeira regra afirma que a mediania é encontrada quando se evita o
extremo que mais se opõe à mediania (EN II, 9, 1109 a 47-48); (2) a
segunda regra afirma que a mediania pode ser alcançada quando o
indivíduo identifica sua propensão ao erro e se afasta dessa direção,
sendo que ao afastar-se dessa direção o indivíduo se aproxima da
mediania (EN II, 9, 1109 b 7-13); (3) a terceira regra estabelece que o
indivíduo deve estar atento para evitar aquilo que é prazeroso (EN II, 9,
1109 b 14-19). A conclusão dessa argumentação, oferecida por
Aristóteles, destaca que a escolha no caso particular para alcançar a
mediania deve estar baseada na percepção ("ÇF20F4H), sendo difícil
uma determinação racional nesses casos de indeterminação (EN II, 9,
1109 b 29-33).
Qual o significado dessa conclusão? O ponto central da questão
está em como se interpreta esta frase: “Mas não é fácil determinar
racionalmente até onde e em que medida uma pessoa pode desviar-se
506
antes de tornar-se censurável (...); tais coisas dependem de
circunstâncias específicas, e a decisão depende da percepção
("ÇF20F4H)” (EN II, 9, 1109 b 29-33). Se a interpretação vincula a
escolha deliberada no caso particular com a percepção, de forma a
afirmar que a fundamentação do juízo particular se dá apenas pela
percepção subjetiva e não pelas normas gerais, ter-se-ia a afirmação da
tese particularista. Todavia, se a interpretação identifica que para a
escolha particular é necessária a percepção, não invalidando o auxílio
normativo, tem-se uma afirmação da tese universalista-particularista, o
que parece mais condizente com o propósito de Aristóteles. Isso pode
ser comprovado ao se analisar o significado das regras da mediania. Na
primeira regra, deve-se evitar o extremo que está mais distante da
mediania. Como é possível realizar isso com base apenas na percepção
subjetiva? Além de uma percepção particular, o indivíduo deve contar
com uma série de regras generalizantes que orientam para uma série de
ações que devem ser evitadas, oportunizando a evidência de uma
referência normativa para a análise particular. Mesmo na segunda e
terceira regras é possível verificar que, além da necessidade da
percepção para encontrar a propensão particular ao erro e evitar o que é
prazeroso, o indivíduo não deixa de contar com referências
generalizantes para a orientação do que é o erro e no que se constitui o
prazer que deve ser evitado. É importante ressaltar que em nenhum
momento se encontra a afirmação de Aristóteles de que é a percepção
que realiza o juízo pertinente sobre o meio-termo a atingir, apenas
afirma que não é possível o estabelecimento de um juízo nesses casos
particulares sem a presença da percepção (Irwin, 1996, p. 58). A questão
não está sendo apresentada a partir de uma lógica de exclusão, em que,
se a percepção é utilizada, ter-se-ia a anulação das normas gerais ou
507
universais, mas, sim, através de um mecanismo inclusivo, no qual tanto
o aspecto perceptivo particular como o aspecto normativo têm seu lugar
assegurado, e isso quer dizer que na ética aristotélica é possível verificar
que a fundamentação da ação moral é oportunizada tanto pelos juízos
perceptivos particulares como pelas regras generalizantes usuais e regras
universais.
Para Aristóteles, a ação que possui validade moral é aquela
ação voluntária (©6@bF4@<), isto é, aquela ação que tem sua
fundamentação na vontade do agente que delibera e escolhe a partir de
uma situação indeterminada. Por isso, é importante analisar qual é o
entendimento de Aristóteles a respeito da escolha (BD@"\D,F4H) e da
deliberação ($@b8,LF4H). Ele inicia sua investigação sobre a
BD@"\D,F4H apontando que geralmente ela é identificada com o desejo
(¦B42L:\"), com a ira (2L:`H), com a aspiração ou vontade
($@b80F4H) e com a opinião (*`>"); porém não concorda com essa
interpretação usual (EN III, 2, 1111 b 16-18)82. Tanto o desejo como a
ira não podem ser considerados como estritamente racionais, pois os
animais agem também segundo o desejo e a ira. Por isso, dizer que a
BD@"\D,F4H não é um desejo, ou que não está identificada com a ira, é
afirmar que a escolha resulta de um ato de racionalidade, enquanto que
desejo e ira podem ser considerados como atos instintivos (EN III, 2,
1111 b 18-28). A aspiração (vontade) também não pode ser confundida
com a escolha. Dizer que a escolha não é uma vontade é inserir o objeto
específico da decisão que é a possibilidade, pois pode-se ter vontade
(aspiração) de coisas impossíveis, como, por exemplo, “querer a
imortalidade” (EN III, 2, 1111 b 33). Só é pertinente a escolha (decisão)
82
Ver Zingano, 1997, p. 75.
508
sobre aquilo que é possível e que depende da ação humana (EN III, 2,
1111 b 33-37). Outra diferença é que a vontade ($@b80F4H) se relaciona
com os fins e não com os meios (§J4 *z º :¥< $@b80F4H J@Ø JX8@LH
¦FJÂ :88@<), enquanto que a escolha se relaciona com aquilo que
contribui para a consecução do fim (Jä< BDÎH JÎ JX8@H) (EN III, 2,
1111 b 38-39). As diferenças entre BD@"\D,F4H (escolha) e $@b80F4H
(vontade) podem ser ordenadas da seguinte maneira:
- a $@b80F4H:
(a) pode se relacionar com coisas impossíveis;
(b) pode estar identificada com coisas que não dependem da ação
individual;
(c) visa a um fim;
- enquanto que a BD@"\D,F4H:
(a) relaciona-se com aquilo que é possível;
(b) tem referência com aquilo que depende da ação humana particular;
(c) tem relação com aquilo que contribui para a consecução de um fim
(JX8@H) (EN III, 2, 1111 b 39-43)83.
Isso significa que a BD@"\D,F4H está relacionada com as
escolhas deliberadas que são possíveis para o indivíduo realizar (ação),
considerando que essa decisão deliberada contribui para a realização de
um fim84. A escolha também não pode ser confundida com a opinião
(*`>"), pois esta versa sobre coisas que possuem relação com a verdade
ou falsidade e a escolha tem relação com aquilo que é bom ou mau, em
83
É importante fazer referência ao exemplo utilizado por Aristóteles que tematiza a
respeito da saúde e da felicidade: pode-se aspirar à saúde e à felicidade, porém, não se
pode escolher ter saúde ou ser feliz, pois a escolha tem relação com aquilo que possibilita
a saúde e a felicidade, sendo que estas têm referência ao controle particular do agente.
84
“Cette distinction de la volonté et du choix, Aristote en exprime plus clairement encore
le príncipe, en disant que la première porte surtout sur la fin (JX8@H) et le second sur les
moyens (J BDÎH JÎ JX8@H)”. Ver também Muñoz, 2002, p. 151-152.
509
que só se pode escolher sobre aquilo que é um bem (EN III, 2, 1111 b
44-49), isto é, o objeto da BD@"\D,F4H não pode ser confundido como
uma asserção, pois está relacionado com a aceitação em relação à
deliberação ($@b8,LF4H) (Zingano, 1997, p. 87). Já que a escolha não
pode ser identificada nem com o desejo, nem com a ira, nem com a
vontade nem com a opinião, Aristóteles apresenta a definição de
BD@"\D,F4H: ela é uma ação voluntária que é precedida pela deliberação
(BD@$,$@L8,L:X<@<), sendo que a escolha envolve o raciocínio (uso
da razão - 8`(@L) e o pensamento (*4V<@4"). Por isso, BD@"\D,F4H
significa a escolha premeditada, em que se escolhe uma coisa antes de
outras coisas (EN III, 2, 1112 a 15-19; Aubenque, 1976, p. 121). Isso
significa que a escolha premeditada não pode ser considerada como uma
ação a partir do impulso passional, pois ela supõe o pensamento e a
razão que orientam para as ações concretas e contingentes que se
apresentam ao indivíduo (Millet, 1990, p. 135). A BD@"\D,F4H não se
encontra nem no puramente factual nem no estritamente necessário e
universal, sendo que ela pressupõe o desejo dos fins e escolhe os meios
necessários para realizá-los, tendo em conta estes fins (Farias, 1995, p.
232; Aubenque, 1976, p. 121).
A deliberação ($@b8,LF4H) está circunscrita às coisas que
pertencem ao controle humano e que são possibilitadas pela ação
($@L8,L`:,2" *¥ B,DÂ Jä< ¦Nz º:Ã< 6"Â BD"6Jä<), não tendo
relação com a ordem natural (NbF4H), nem com o necessário (<V(60)
nem com as coisas que resultam do acaso (JbP0), pois sua relação está
identificada com as coisas que podem ser realizadas e dependem do
empenho do indivíduo (Jä< *z <2DfBT< ª6"FJ@4 $@L8,b@<J"4
510
B,DÂ Jä< *4z "ßJä< BD"6Jä<) (EN III, 3, 1112 a 36-41; Aubenque,
1976, p. 107). Não se delibera sobre os assuntos humanos que não
admitem exceções, e isso significa que não é possível deliberar a
respeito da “incomensurabilidade da diagonal e do lado de um
quadrado” (EN III, 3, 1112 a 26) nem é possível a deliberação a respeito
“da ortografia” (EN III, 3, 1112 b 1-2), pois estas matérias já estão
completamente definidas. Isso representa que a deliberação opera no
horizonte da indeterminação, quer dizer, só é possível se deliberar sobre
aquilo que não é necessário ou universal (EN III, 3, 1112 b 9-11). A
deliberação está relacionada com a escolha sobre o tipo de ação que é
necessária em um caso específico que não é definido, podendo ser
entendida como uma “pesquisa” para encontrar aquilo que contribuirá
para a realização de um fim (Aubenque, 1976, p. 109). Essa
identificação da deliberação com as coisas indefinidas pode apontar para
a existência de dúvida sobre o que deve ser realizado em cada caso
particular (Irwin, 1996, p. 55), o que poderia afirmar apenas o caráter
particularista da ética das virtudes; porém, é importante chamar a
atenção para os elementos universalistas dessa argumentação. Em
primeiro lugar, Aristóteles faz referência a que a deliberação está sujeita
a regras generalizantes usuais (ñH ¦BÂ JÎ B@8b) que apontam para o
bem; porém essas regras generalizantes não podem determinar com
exatidão todas as ações em função das coisas indefinidas (*4`D4FJ@<)
(EN III, 3, 1112 b 9-11). Em segundo lugar, para se estabelecer a
deliberação no caso indeterminado é necessário recorrer a um elemento
intersubjetivo, isto é, é necessário o estabelecimento de uma deliberação
conjunta para encontrar a decisão correta (EN III, 3, 1112 b 10-13). Isso
significa afirmar que a deliberação, que usa de escolhas nos casos
particulares, não pode alcançar a escolha correta utilizando-se de
511
generalizações que sejam aplicáveis em todos os casos, sem a reflexão
particular. Entretanto isso não representa que as generalizações não
sejam positivas e não tenham seu lugar garantido na ética aristotélica,
pois a questão é identificar que essas generalizações devem ser
qualificadas e suas limitações devem ser observadas, possibilitando,
assim, um referencial normativo para a escolha deliberada particular
(EN III, 3, 1112 b 10-13). Com isso se verifica que a $@b8,LF4H
(deliberação) está relacionada com o julgamento particular que está ao
alcance do indivíduo e pressupõe um juízo razoável (juízo epistêmico)
para a determinação da ação correta, significando que a deliberação
particular do indivíduo se encontra circunscrita à uma esfera normativa
generalizante e universal que propicia uma fundamentação da ação
moral intersubjetiva (Guariglia, 1997, p. 207-208). Isso representa que a
deliberação está relacionada com aquilo que interessa diretamente ao
indivíduo e com aquilo que é variável e indeterminado e é passível de
escolha
individual
(Millet,
1990,
p.
135-136);
porém
esta
indeterminação da escolha subjetiva utiliza-se de um referencial que é
válido na maior parte das vezes, oportunizando um encontro entre o
particular e o universal (Guariglia, 1997, p. 208).
O ponto central da investigação a respeito da $@b8,LF4H indica
que se delibera não sobre fins (B,DÂ Jä< J,8ä<), mas sobre aquilo que
contribui para a realização de um fim (B,DÂ Jä< BDÎH J JX80) (EN
III, 3, 1112 b 12-13). Como o indivíduo é considerado como o princípio
de suas ações (<2DTB@H ,É<"4 DP¬ Jä< BDV>,T<) (EN III, 3, 1113
a 10), a deliberação está relacionada com a especificação das ações que
devem ser realizadas pelo agente no âmbito particular e tem relação não
com os fins, mas com aquilo que possibilita a realização dos fins (@Û (
512
D < ,Ç0 $@L8,LJÎ< JÎ JX8@H 88 J BDÎH J JX80) (EN III, 3, 1113
a 12-13). Não é necessário entender que a deliberação é sobre os meios
que conduzem a fins, em que se teria uma redução do papel da
deliberação85. Pensar a deliberação como aquela que está relacionada
com os fins é identificar uma ampliação na categoria de deliberação que
seria possibilitada por um silogismo prático, em que: (1) ela visa como a
uma instância de um ato que está conforme uma regra e (2) ela é
entendida como um elemento (parte) na direção de um fim (Guariglia,
1997, p. 208). O objeto da BD@"\D,F4H (escolha) é oportunizado pelo
resultado da $@b8,LF4H (deliberação) e, sendo assim, a BD@"\D,F4H é
uma decisão deliberada de ações que estão em poder do indivíduo,
sendo que, primeiro se delibera e depois se decide a ação que deve ser
tomada86. A decisão deliberada (BD@"\D,F4H) está relacionada com os
objetos esquemáticos (de JbBå) e tem relação com aquilo que
possibilita alcançar os fins (º :¥< @Þ< BD@"\D,F4H JbBå ,ÆDZF2Ts
6"Â B,DÂ B@ÃV ¦FJ4 6"Â ÓJ4 Jä< BDÎH J JX80) (EN III, 3, 1113 a 3032). Isso significa que a responsabilidade da ação moral é do indivíduo,
pois as atividades nas quais se exercem as virtudes são consideradas
como aquilo que possibilita os fins e, sendo assim, a virtude (D,JZ)
depende de ações voluntárias, determinando que onde o indivíduo é livre
para realizar algo, ele também é livre para a sua não realização (EN III,
3, 1113 b 21-29). As categorias de $@b8,LF4H e BD@"\D,F4H estão
estreitamente vinculadas, sendo que ambas possuem o mesmo objeto,
85
Pensar a deliberação como estritamente identificada com meios que conduzem a fins é
reduzir a deliberação à “(...) búsqueda de las conexiones causales que producen un
determinado fin y de los recursos al alcance del agente para poder iniciar esa cadena de
efectos” (Guariglia, 1997, p. 208).
86
A decisão (BD@"\D,F4H) não se distingue do julgamento que faz parte da deliberação
($@b8,LF4H): a decisão é o julgamento mesmo que pode ser entendido com um imperativo
que obriga (Gauthier, 1973, p. 38).
513
que é a ação humana, entretanto, possuem uma ordem inversa. A ordem
da deliberação parte da representação do fim determinado e investiga a
obrigatoriedade da ação humana particular para chegar ao fim através de
um ordenamento descendente, sendo que é o intelecto prático que deve
decidir sobre a ação específica (Guariglia, 1997, p. 211). Por sua vez, a
decisão deliberada é entendida como um juízo prático que conclui a
deliberação (EN III, 3, 1113 a 10-12). A conclusão que Aristóteles chega
é que a D,JZ (virtude) é entendida enquanto uma :,F`J0H (mediania)
e enquanto uma ª>4H (disposição) oportunizada pela ÏD2ÎH 8`(@H (reta
razão), sendo que ela depende da decisão particular do indivíduo (¦Nr
º:Ã<) e são ações voluntárias (©6@bF4@4) (EN III, 5, 1114 b 34-38). A
virtude (D,JZ) é uma maneira específica de ação que está baseada na
decisão deliberada (BD@"\D,F4H) do fim das ações humanas, um fim
que não é externo às ações (Guariglia, 1997, p. 216). Isso significa dizer
que a virtude é possibilitada pela prática, entendendo-se por prática uma
ação voluntária de acordo com a virtude, em que o agente particular
delibera e decide intencionalmente realizar o ato nas circunstâncias
específicas como um fim em si mesmo (Guariglia, 1997, p. 217). Em
nenhum momento encontra-se a afirmação de que a decisão deliberada,
que é particular e subjetiva, estaria em uma situação de anterioridade em
relação às regras generalizantes e universais, apenas está destacando a
responsabilidade individual particular, o que não anula o papel das
referências normativas.
A partir da análise do sentido de προα\ρεσις para Aristóteles,
é possível estabelecer uma aproximação entre a ética deontológica de
Kant (éticas das normas - deveres) e a ética teleológica de Aristóteles no
momento em que se interpreta a prudência – razão prática (ϕρ`νησις)
514
na teoria aristotélica como a boa deliberação (,Û$@L8\"), pois o
prudente possui a faculdade de entender o que é bom tanto para si como
para os outros indivíduos, através do uso da razão (Aubenque, 1976, p.
114; EN VI, 9, 1142 b 40-43). O argumento lógico, estabelecido por
Aristóteles, demonstra que em relação à ação que é um contingente
indeterminado, a regra é a deliberação e através dela a razão impõe algo
em prejuízo de outro, introduzindo, dessa forma, a necessidade de uma
norma prática. Essa interpretação a respeito da deliberação aproxima
Aristóteles de Kant em função de, na teoria de Kant, a adoção de um
ponto de vista moral estar inteiramente ligada à autonomia do agente.
Para Kant, a condição estabelecida é que para ter validade moral a ação,
é necessário seguir uma máxima que possa ter valor para todo agente
racional87. Uma das formulações principais do imperativo categórico
kantiano estabelece que a máxima do indivíduo deve valer como uma lei
universal da natureza, quer dizer, uma máxima que todos os indivíduos
racionais sigam88. É importante destacar que a ética aristotélica não se
encontra afastada desse paradigma, pois a ação do indivíduo prudente é
a boa deliberação tanto em relação a si como em relação aos outros
87
Para uma possível legislação universal, deve-se perguntar se a máxima pode se
converter em lei universal. Se não for possível, esta máxima deve ser rejeitada. Apenas a
máxima que pode se converter em lei universal pode ser princípio numa possível
legislação universal. A máxima, assim, deve ter valor universal. A razão dá a lei universal
que inspira respeito e impõe o dever, o qual aparece como condição da vontade boa em si
(Kant, 1985, p. 35).
88
O imperativo categórico não oportuniza à vontade a possibilidade de escolha porque é
incondicional, tendo o caráter de uma lei prática que obriga necessariamente a
conformidade da máxima à lei, lei esta universal. O seu conteúdo é constituído pela lei e a
necessidade de adequação da máxima (vontade subjetiva) à lei universal: “Age apenas
segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei
universal” (Kant, 1985, p. 59), podendo-se derivar deste, todos os outros imperativos do
dever. Pode-se identificar nesta primeira formulação do imperativo categórico o princípio
da universalidade e, como a realidade (natureza) é determinada por leis universais, temos a
segunda formulação do imperativo categórico: “Age como se a máxima da tua ação se
devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” (Kant, 1985, p. 59).
515
através da razão (Zingano, 1996, p. 89). A decisão deliberada é, para
Aristóteles, um processo de busca dos meios necessários para obter um
fim e isso conduz a uma avaliação das conseqüências das ações
(Zingano, 1996, p. 90). Qualquer que seja o fim do agente, ele delibera
sobre os meios e a razão, significa identificar os prós e os contras desses
meios. Ao deliberar sobre os meios, e deliberar é pesar razões, a adoção
desses meios é sua adoção aos meios. Isso garante a responsabilidade do
agente, isto é, a voluntariedade do ato moral, na qual é o indivíduo
particular que delibera a partir dos meios para alcançar o fim. Com isso,
se garante a liberdade do agente entre adotar uma ou outra tese, que são
os meios. A questão é garantir que os meios adotados são uma atividade
particular do agente, em que os meios adotados são circunscritos a
razões morais (καλοØ ªνεκα)89.
A tese particularista procura compreender as generalizações
usuais em ética como apenas resumos de exercícios particulares de
percepções éticas, de forma a tratar os princípios gerais como
indicadores para a situação particular, em que se teria uma anterioridade
da percepção ("ÇF20F4H) em relação aos princípios generalizantes e
universais. Dessa maneira, as percepções éticas são entendidas enquanto
um meio para aplicar regras gerais em casos particulares, o que conduz a
relação estabelecida entre a percepção ("ÇF20F4H) e a prudência – razão
prática (ND`<0F4H). Encontram-se duas referências centrais sobre a
relação da ND`<0F4H com a "ÇF20F4H na análise realizada no Livro VI
89
A tese de Zingano é que pode ser identificada a partir desse raciocínio uma doutrina
moderada da liberdade prática, em que o sujeito autônomo (αÛθα\ρετος), ao fazer certos
atos, na forma de ter escolhido os meios de forma individual, o indivíduo adquire uma
disposição (ªξις), e a repetição de atos cria uma disposição, criando uma natureza prática,
existindo fins a partir dessa natureza prática. Tem-se, então, a autonomia dos fins, em que
se parte da escolha racional dos meios para ser o espaço de deliberação individual com
vistas a fins, obtida com a autonomia em relação aos meios (Zingano, 1996, p. 90-91).
516
da EN, a saber: (1) a phrónêsis (ND`<0F4H) tem relação com os
particulares e, sendo assim, necessita da percepção ("ÇF20F4H) (EN VI,
8, 1142 a 23-30) e (2) os universais são estabelecidos a partir dos
particulares, em que se deve ter a percepção desses particulares,
considerando o <@ØH (entendimento) como um tipo de percepção (EN
VI, 11, 1143 b 2-6). A questão central, aqui, é analisar como essas duas
referências à percepção ("ÇF20F4H) não comprovam sua anterioridade
em relação às regras generalizantes e universais, possibilitando a
identificação de um modelo cooperativo entre o particular e o universal
na ética das virtudes aristotélica.
Em relação à primeira referência, a questão que se coloca é a de
saber se as generalizações usuais em ética possuem alguma importância
normativa, ou se apenas são as percepções subjetivas que têm validade
para a determinação da ação moralmente correta, em outras palavras, se
quer responder se o ND`<4:@H (indivíduo prudente) é interpretado como
aquele que encontra o agir correto a partir de uma percepção particular,
ou se ele pode ser compreendido como aquele que se utiliza de
generalizações com força normativa para a deliberação correta, além da
percepção dos casos particulares. Para tanto, é necessário analisar como
Aristóteles desenvolve sua investigação a respeito da ND`<0F4H. A
phrónêsis é a capacidade de deliberação sobre o contingente e, sendo
assim, a ND`<0F4H está identificada com a deliberação ($@b8,LF4H),
pois o indivíduo ND`<4:@H é aquele que sabe deliberar sobre aquilo que
é bom em um sentido geral (EN VI, 5, 1140 a 17-22) e isso implica a
capacidade de deliberar bem com o objetivo de alcançar um fim (EN VI,
5, 1140 a 22-25). A ND`<0F4H tem relação ao que é concernente aos
assuntos humanos e as coisas que podem ser objeto de deliberação (EN
517
VI, 7, 1141 a 50-54; Nussbaum, 1986, p. 373-374), pois deliberar bem é
o que caracteriza o indivíduo prudente e isto significa calcular bem para
chegar a um bom resultado (Berti, 1998, p. 146). A phrónêsis não é
compreendida como um conhecimento de princípios gerais apenas, pois
está relacionada com fatos particulares, sendo que ela envolve a ação e
estes estão relacionados com particulares (EN VI, 7, 1141 b 3-5). A
ND`<0F4H não é uma arte (JXP<0) por visar à ação (BD>4H) (EN VI, 7,
1141 b 11-14) e não à produção (B@\0F4H) nem é uma ciência
(¦B4FJZ:0) por visar ao contingente e não ao necessário.
Sendo assim, a ND`<0F4H é uma disposição (ª>4H) prática e,
dessa maneira, por ser uma disposição, diferencia-se da ciência e, por
ser prática, diferencia-se da arte (Aubenque, 1976, p. 34). A phrónêsis é
uma disposição prática e é uma virtude dianoética90 concernente às
regras da escolha deliberada (Aubenque, 1976, p. 34). Como a
ND`<0F4H implica conhecimento dos fatos particulares, sendo que este
conhecimento é propiciado pela experiência (EN VI, 8, 1142 a 1-5), isso
representa que a phrónêsis não pode ser confundida com o
conhecimento científico (¦B4FJZ:0), pois ela se reporta à apreensão dos
fatos particulares finais, sendo que a ação moral é identificada desta
maneira (EN VI, 8, 1142 a 18-20; Berti, 1998, p. 149)91. O problema
90
Para entender o significado das virtudes dianoéticas (intelectuais) é importante fazer
referência que a alma racional ou dianóia está dividida em duas partes, a saber: uma é a
parte em que se especula sobre as coisas cujos primeiros princípios são invariáveis e a
outra é a parte em que se especula sobre aquilo que admite variação. A primeira é a
faculdade científica (¦B4FJ0:46`<) e a segunda é a faculdade calculadora ou deliberativa
(8@(4FJ46`<), cf. EN VI, 1, 1139 a 17-18. Fazem parte da faculdade científica a ciência
(¦B4FJZ:0), entendida como capacidade demonstrativa, o entendimento ou inteligência
(<@ØH), compreendido como capacidade pelos princípios e a sabedoria (F@N\"), entendida
como capacidade pelos princípios e por sua demonstração, sendo que as virtudes
dianoéticas que fazem parte da faculdade calculativa são a prudência (ND`<0F4H) e a arte
(JXP<0).
91
A phrónêsis possui um caráter prático que a relaciona com a ação, sendo necessário o
conhecimento dos casos particulares, o que implica experiência, que é compreendida como
518
surge quando Aristóteles vincula a ND`<0F4H com a "ÇF20F4H, dizendo
que
a
especificidade
da
ND`<0F4H,
em
oposição
ao
<@ØH
(entendimento), está em ela se ocupar da coisa particular, só podendo ser
compreendida pela percepção ("ÇF20F4H) (EN VI, 8, 1142 a 20-27). Ao
se analisarem as relações entre a ND`<0F4H com a "ÇF20F4H, não se
encontra a afirmação de Aristóteles a respeito da anterioridade
normativa da percepção em relação às regras generalizantes, o que não
confirma a tese particularista. Isso pode ser demonstrado analisando-se a
ND`<0F4H como a razão que se relaciona a um fim. A phrónêsis é
identificada com a razão prática, que é entendida como a razão que tem
relação com o fim, e seu aspecto moral é compreendido a partir de sua
contribuição para o estabelecimento de um ordenamento objetivo da
norma de acordo com a qual atua a virtude. A função da ND`<0F4H está
em estabelecer a finalidade moral apropriada nas circunstâncias
particulares da ação em que o agente particular escolhe a ação
(Vergnières, 1998, p. 133; Guariglia, 1997, p. 294). A phrónêsis tem
como ponto de partida uma premissa universal, que é a premissa a
respeito da finalidade, que revela um determinado fim como algo que
deve ser realizado pela ação. Dessa forma, entende-se a ND`<0F4H
como a faculdade que relaciona esses pontos de partida gerais, que são
os princípios das ações morais, que servem de referência para a situação
particular que é múltipla (Guariglia, 1997, p. 307-308). Isso significa
dizer que a ND`<0F4H não tem por função estabelecer uma
generalização empírica baseada nas experiências particulares que lhe
possibilita o estabelecimento de um raciocínio hipotético a respeito dos
casos particulares; pelo contrário, a ND`<0F4H possibilita que se alcance
conhecimento dos particulares; além disso, ela inclui o conhecimento do universal para
poder aplicar no caso particular uma perspectiva universal.
519
a norma, as generalizações, para possibilitar o norteamento dos casos
particulares (Guariglia, 1997, p. 308), pois o ND`<4:@H se caracteriza
por alcançar a boa deliberação (EN VI, 9, 1142 b 40-43).
Em relação à segunda referência, a questão fundamental é a de
saber se a afirmação de que os universais são derivados dos particulares
não invalidaria a perspectiva que identifica que a deliberação sobre
casos particulares pode estar relacionada com um referencial normativo
para ação. Essa questão é identificada quando Aristóteles afirma que o
entendimento (<@ØH) é um tipo de conhecimento em que as regras gerais
são inferidas dos casos particulares e, por conseguinte, é necessário que
se
utilize
a
percepção
("ÇF20F4H)
dos
particulares
para
o
92
estabelecimento de princípios generalizantes (EN VI, 11, 1143 b 2-6) .
A questão central está em como se interpreta o significado da afirmação
de que os universais são derivados dos particulares para Aristóteles. Se a
interpretação identificar que os princípios generalizantes são inferidos
dos particulares, então teria-se a fundamentação da ação moral na
deliberação particular do agente, sendo que os princípios generalizantes
serviriam apenas como resumos para a escolha subjetiva, o que
invalidaria a observação de um referencial normativo para a ação
particular deliberativa. Entretanto, se se interpretar a inferência dos
universais a partir dos particulares apenas como uma possibilidade de
revisão dos princípios generalizantes em razão da deliberação
individual, então é razoável identificar que a deliberação subjetiva está
circunscrita a um referencial normativo oportunizado pelos princípios
generalizantes usuais e pelos princípios universais. Nesse contexto,
92
Ver sobre os dois significados de <@ØH em Natali, 2001, pp. 74-75. Nesse texto, o autor
faz referência que, em um primeiro momento, o <@ØH é visto como o oposto de ND`<0F4H
e que esta está identificada com a "ÇF20F4H e, posteriormente, o <@ØH passa a estar
relacionado com a "ÇF20F4H.
520
Aristóteles apenas está afirmando que o indivíduo ND`<4:@H realiza
uma revisão de seus princípios gerais em função dessa reflexão
particular (Irwin, 1996, p. 67), o que não comprova a anterioridade
normativa da percepção sobre as regras generalizantes.
Conclusão
Não é possível pensar que a ética das virtudes conta somente
com uma fundamentação particularista para a ação moral em razão da
identificação de um modelo cooperativo entre o particular e o universal
que assegura a validade da decisão deliberada subjetiva e, também,
conta com um referencial normativo para a escolha individual. Isso pode
ser demonstrado ao se analisar a relação estabelecida entre a ND`<0F4H
e a F@N\" (sabedoria). A ND`<0F4H é prescritiva e é ‘inferior’ à F@N\"
em função de orientar-se para os objetos não-necessários e particulares
(EN VI, 13, 1145 a 1-9). Através da phrónêsis, o indivíduo deve
alcançar aquilo que promove o bem para a realização da máxima
perfeição que é possível na indeterminação do contingente. Escolher os
meios acertados significa uma antecipação dos fins, isto é, significa
saber aonde se quer chegar. Como a ND`<0F4H não está relacionada
com o necessário, estabelecendo um movimento contrário em relação à
F@N\", ela não se determina em relação ao objeto (que é mutável), mas
em relação à disposição individual para a ação contingente que busca
alcançar um JX8@H. Sendo assim, o ND`<4:@H (indivíduo prudente) é
aquele que conhece o particular, tendo a visão dos meios necessários
para a realização dos fins, mas, também, possui o conhecimento
universal do fim humano, tendo um tipo de conhecimento que engloba o
521
particular e o universal93. Aqui, se identifica o apoio da ND`<0F4H à
F@N\", pois o ND`<4:@H deve possuir uma visão abrangente do todo,
mesmo que não seja uma compreensão teórica da realidade que explica a
partir de causas universais, e isto inclui o conhecimento dos particulares
e o conhecimento dos princípios generalizantes usuais e universais,
estando a phrónêsis em conformidade com a ÏD2ÎH 8`(@H (Farias,
1995, p. 215).
Bibliografia
ARISTÓTELES. Ethica Nicomachea. Ed. I. Bywater. Oxford: Oxford
University Press, 1894 (Reimp.1962).
_______. Ética a Nicômacos. 4. ed. Trad. Mário da Gama Kury.
Brasília: Editora UnB, 2001.
_______. Metafísica. Ed. G. Reale. Edição Bilíngüe (grego e
português). Trad. Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002, Vol.II.
AUBENQUE, Pierre. La Prudence chez Aristote. 2. ed. Paris: PUF,
1976.
_______. “Aristote etait-il communitariste?”. In: GÓMEZ, A.;
CASTRO, R. En Torno a
BERTI, Enrico. Aristóteles no Século XX (Aristotele nel Novecento).
Trad. Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1997.
_______. As Razões de Aristóteles (Le Ragioni di Aristotele). Trad.
Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1998.
BROADIE, Sarah. Ethics with Aristotle. New York: Oxford University
Press, 1991.
DÜRING, Ingemar. Aristotele. Trad. Pierluigi Domini. Milano: Mursia,
1995.
93
Segundo Gauthier e Jolif (1970, p. 469) a phrónêsis se constitui como sabedoria prática
que se dirige para a ação, devendo ter conhecimento do singular e conhecimento dos meios
e, também, permanece normativa, pois deve possuir o conhecimento universal do fim da
vida humana.
522
FARIAS, Maria do Carmo Bettencourt. A Liberdade Esquecida:
fundamentos ontológicos da liberdade no pensamento aristotélico. São
Paulo: Loyola, 1995.
GAUTHIER, René-Antoine. La Morale d’Aristote. Paris: PUF, 1973.
GAUTHIER, René-Antoine; JOLIF, Jean Yves. L’Éthique a
Nicomaque: introduction, traducion et commentaire. Tome II (1, 2).
Louvain: Publications Universitaires, 1970.
GUARIGLIA, Osvaldo. Ética y Política según Aristóteles II: el bien,
las virtudes y la polis. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina,
1992.
_______. La Ética en Aristóteles: o la moral de la virtud. Buenos
Aires: EUDEBA, 1997.
HÖFFE, Otfried. “Aristóteles”. In: RENAULT, Alain. História da
Filosofia Política 1: a liberdade dos antigos. Trad. Jean Kahn. Lisboa:
Instituto Piaget, 2001, pp.111-178.
IONESCU, Constantin Vicol. La Filosofía Moral de Aristóteles en sus
Etapas Evolutivas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1973. Tomos I e II.
IRWIN, T.H. “A ética como uma ciência inexata: as ambições de
Aristóteles para uma teoria moral”. Trad. Sílvia Altmann. Analytica,
Rio de Janeiro, 1/3 (1996): 13-73.
_______. Aristotle’s First Principles. Oxford: Clarendon Press, 1995.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes
(Grundlegung zur Methaphysik der Sitten). Trad. Paulo Quintela.
Lisboa: Edições 70, 1985.
KRAUT, Richard. Aristotle on the Human Good. Princeton, New
Jersey: Princeton University Press, 1991.
MILLET, Louis. Aristóteles (Pour Connaître Aristote). Trad. Roberto
Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
MUÑOZ, Alberto Alonso. Liberdade e Causalidade: ação,
responsabilidade e metafísica em Aristóteles. São Paulo: Discurso
Editorial/ FAPESP, 2002.
NATALI, Carlo. “A base metafísica da teoria aristotélica da ação”.
Analytica, Rio de Janeiro, 1/3 (1996): 101-125.
_______. The Wisdom of Aristotle. Transl. Gerald Parks. Albany:
SUNY Press, 2001.
523
NUSSBAUM, Martha. The Fragility of Goodness: luck and ethics in
greek tragedy and philosophy. Cambridge: Cambridge University Press,
1986.
REALE, Giovanni. Introducción a Aristóteles. Barcelona: Herder,
1985.
VERGNIÈRES, Solange. Ética e Política em Aristóteles: physis, éthos,
nómos (Éthique et Politique chez Aristote). Trad. Constança Marcondes
César. São Paulo: Paulus, 1998.
ZINGANO, Marco. “Particularismo e universalismo
aristotélica”. Analytica, Rio de Janeiro, 1/3 (1996): 75-100.
na
ética
_______. “Deliberação e vontade em Aristóteles”. Filosofia Política,
Porto Alegre, NS/1 (1997): 96-114.
524
A RACIONALIDADE COMUNICATIVA E SUAS
IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO ÉTICA NA EDUCAÇÃO
Luiz Claudio Borin∗
Introdução
A crise do sistema educacional, entre outros fatores, é uma
decorrência da crise da racionalidade moderna. Prestes (1996, p. 11)
afirma que a atual “crise na educação não é mais nem menos que a crise
da modernidade e da racionalidade, dos quais a educação se apresenta
como filha promissora”. Seguindo esse pensamento, é evidente que as
instituições que trabalham com a educação precisam verificar os
principais efeitos desse modelo e procurar, na medida do possível, quais
as saídas mais viáveis no qual podemos encontrar.
A supervalorização do paradigma da consciência acarreta
teoricamente um problema muito complexo de ser discutido: a questão
da pouca ênfase metafísica nos diversos planos da vida. A racionalidade,
baseada na cientificidade e no plano empírico, passa a configurar-se na
sociedade moderna como um dos poucos elementos no qual poder-se-ia
chegar na verdade. Dessa forma, o pensamento racional contribuiu
Professor de Filosofia da Faculdade Palotina (FAPAS). Endereço eletrônico:
[email protected]
525
fortemente para a formação intelectual dos indivíduos, trazendo sérios
problemas no que tange o campo educacional.
Nesse sentido, a Teoria da Ação Comunicativa, do pensador
alemão Jürgen Habermas, torna-se uma possível saída para a crise que
estamos presenciando na educação. Assim, retomando a questão ética
nos estabelecimentos de ensino, verificamos que ela não pretende
combater a neutralidade de pensamento e ao mesmo tempo não ser um
elemento que venha propor receitas prontas, mas acima de tudo colocarse como um chão promissor de discussões em diversos pontos,
contribuindo para um melhor acabamento formativo para a educação.
Implicações da racionalidade moderna
A racionalidade moderna surge como uma reação a toda
forma de pensamento que não tivesse como pano de fundo a
cientificidade e o empírico em seus aportes teóricos. Se, por um lado, a
Idade Medieval baseia-se numa iluminação Divina, por outro, a
modernidade busca sustentação na razão humana, tendo como base
inicial a teoria empirista de Francis Bacon94 (fundamento na obra
Novum Organun), no qual procurava descartar a metafísica aristotélica
das quatro causas, e reduzindo-as a apenas uma: a causa eficiente, no
qual o autor atribui ao ser humano o total domínio sobre todos os
fenômenos da natureza.
94
Bacon é considerado para muitos o “pai da era industrial”. Nasceu em 1561 na cidade
inglesa de Londres, tendo sua morte ocorrida em 1626. Sua pretensão estava em criar uma
“nova” ciência, tendo como base o método indutivo, capaz de dar ao ser humano um
domínio sobre a natureza. A “verdadeira” filosofia para ele não é a ciência divina ou
humana e nem a busca da verdade, mas é algo prático.
526
Bacon (1973, p. 20) no aforismo IX da obra Novum
Organum afirma que:
A verdadeira causa e raiz de todos os males que
afetam as ciências é uma única: enquanto
admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da
mente humana, não lhe buscamos auxílios
adequados – e complementa – Todas aquelas belas
meditações e especulações humanas, todas as
controvérsias são coisas malsãs.
Nessas palavras fica claro que o autor afirma que enquanto o
ser humano permanecer no plano contemplativo ou simplesmente
voltado as questões de ordem metafísica, não tendo um relacionamento
direto com os objetos, não terá como dominá-los.
Por sua vez, a teoria racionalista de René Descartes95 procura
colocar o pensamento racional como ponto de partida para toda a
espécie de conhecimento, sendo este, a única experiência que resiste às
“ilusões” provocadas pelos sentidos. O referido autor rompe com o
pensamento medievo que consiste na dependência do homem a Deus.
Ele passa a ignorar a teoria hierárquica do grau das perfeições, no qual
estão elementos metafísicos.
O racionalismo cartesiano vai além de uma interpretação dos
fenômenos naturais, e visa atingir o conhecimento por via da razão. A
partir do método dedutivo e de uma investigação racional, por meio da
matemática, chega-se ao conhecer.
95
Descartes nasceu em La Haye (França) em 1596 e morreu em 1650. Sua base de
pensamento está voltada para alcançar um conhecimento das coisas tão exato quanto à
exatidão da aritmética e geométrica. Parte da dúvida metódica está para chegar ao
conhecimento. Em seu entendimento, a dúvida é o principio de tudo, menos da existência
do que se duvida, pois é pela dúvida que se chega a conclusão de sua existência (primeira
verdade). Partindo da dúvida se chega ao conhecimento exato das coisas.
527
Fica claro que os projetos bacaniano e cartesiano configuram
um ser humano voltado à razão empírico-tecnicista. Sendo assim, a
confiança fundamentada nas dimensões metafísicas, não ocupa mais sua
devida importância. O homem moderno estimulado pelas ciências e pela
técnica passa a exercer um domínio em todas as esferas humanas. As
próprias relações passam a se tornar burocráticas e instrumentalizadas,
voltando-se ao domínio da natureza e do próprio ser humano.
Oliveira (1989, p. 183) afirma que:
o ideal-base da modernidade, é hoje proclamada
perversa: uma faculdade voltada para a dominação
da natureza e através dela para a dominação sobre
os próprios homens, força ambivalente, que
pressupõe o sacrifício e a renúncia.
A necessidade de sempre estar buscando uma melhor
maneira de dominar a natureza resulta a renúncia da sua humanidade.
Com o domínio tecnológico e cientifico, o homem não potencializou
essas conquistas para resolver os problemas de convivência, de ética, de
justiça, entre outros.
Não muito diferente dessas dimensões, o projeto da
modernidade transita nos estabelecimentos de ensino, no qual
racionaliza-se o conhecimento, reificando os sujeitos. São visíveis as
“patologias” oriundas da racionalidade moderna nos ambientes
escolares, estabelecendo uma relação sujeito-objeto. Fica evidente que a
educação está de certa forma ligada ao projeto inacabado da
modernidade, no qual a idéia de técnico-pedagogização no ensino
empobreceram as relações subjetivas, intersubjetivas e metafísicas, além
do pensamento emancipatório dos sujeitos. A modernidade com seus
528
métodos e processos utilitaristas aprisionou os seres humanos gerando
um certo descontentamento do mundo.
A
razão
instrumental96
apropriou-se
das
esferas
do
conhecimento, impossibilitando as relações interpessoais, elevando-os a
categoria de consumo e acima de tudo, fragmentando o saber, tornando a
educação pouco crítica e criativa, ressaltando os conhecimentos
racionais e técnicos.
A ação comunicativa e suas contribuições para uma educação
metafísica
Diante dos efeitos causados pela crise da racionalidade
moderna, muitos teóricos procuraram entender e tematizar essa
problemática. Uma das mais severas críticas feitas à referida
problemática consiste nos pareceres dos pensadores da Escola de
Frankfurt. Contudo, a intenção não está no nível da crítica, mas procurar
analisar quais elementos da modernidade pode ser potencializado.
Nesse sentido, Habermas busca aportes teóricos para
entender o projeto inacabado que sofre a razão científica. Sua pretensão
está em formular uma teoria capaz de questionar os ideais científicos.
Acreditando no grande potencial da racionalidade, Habermas visualiza a
possibilidade da razão ser um instrumento no desenvolvimento da
sociedade, dando um novo sentido para a mesma, pois conforme
mencionado, a razão encontra-se em crise, mesmo sendo muito utilizada
nos últimos séculos.
Segundo o pensador alemão, essa problemática é decorrência
da concepção dos pensadores modernos, que reduz tudo ao empírico96
O conceito de razão instrumental é utilizado pelos teóricos da Escola de Frankfurt.
529
instrumental e distanciando-se dos conhecimentos de outra ordem, entre
eles a dimensão ética. Partindo disso, ele procura construir uma teoria
capaz de desvencilhar dessa herança, não esquecendo da realidade e
tendo preocupação com o ser humano e suas realidades.
O modelo de racionalidade procura formatar um sujeito
cognoscente que se relaciona com os outros seres com a pretensão de
manipular. Para o autor, as relações estão no nível da intersubjetividade,
a fim de construírem entendimentos sobre algo na busca do consenso,
por isso, sua racionalidade não é técnico-científico, mas uma
racionalidade mediada pela linguagem. Seguindo essa linha de
pensamento, Prestes (1996, p. 293) afirma:
Habermas acredita na possibilidade de que o
universal venha a emergir na comunicação entre as
diferentes experiências dos atores, nutridas pelas
particularidades do mundo da vivido. Assim, a
pluralidade, as diferenças não estão ameaçadas e a
razão pode ser ‘a razão do todo e das partes’
(Habermas).
Fica claro o posicionamento teórico adotado pelo pensador
alemão, no qual consiste uma “reviravolta” na razão. Por isso, sua
posição é a de resgatar a dimensão comunicativa esquecida nos
discursos proclamados nos últimos séculos. Essa teoria, segundo ele
mesmo afirma, é a de “investigar a razão inscrita na própria prática
comunicativa cotidiana e reconstruir a partir da base de validez da fala
um conceito não reduzido à razão” (Habermas, 1987, p. 506).
A Teoria da Ação Comunicativa busca reconstruir teoricamente
alguns pontos necessários para a formação do ser humano, visando
acordos em que o melhor discurso tem sua validade para o momento em
530
que se vive. Assim, sua teoria é analisada num plano conceitual em que
busca fundamentar os discursos, tanto do mundo sistêmico como no
mundo vivido pelos interlocutores, como afirma Bernstein (1991, p. 48)
A perspectiva teórica de Habermas (...) sublinha
conceptualmente a necessidade de fomentar a
racionalidade comunicativa do mundo da vida a fim
de que se possa alcançar um equilíbrio adequado
entre as exigências legitimas da racionalidade
sistêmica e a racionalidade comunicativa do mundo
da vida.
Por meio da ação comunicativa os sujeitos devem direcionar
os processos sistêmicos direcionando-os para a finalidade da vida
humana, ampliando constantemente seus atos de fala, proporcionando
um relacionamento mais ético entre os indivíduos.
Embora seus estudos não tenham uma conotação pedagógica,
a educação entendida na Teoria da Ação Comunicativa é a ação entre
sujeitos que procuram desenvolver a capacidade de relacionamento
mediado pela linguagem, com a pretensão de estabelecerem acordos no
“plano de ação”. Essa “filosofia da linguagem” está centrada na
intersubjetividade, indo mais além da dimensão da filosofia da
consciência, que estabelece um diálogo entre o sujeito com sua própria
razão, que em sua relação está entre o sujeito e o objeto. Por sua vez, a
ação comunicativa está em colocar os sujeitos num embate,
proporcionando acordos mais apropriados, estabelecendo uma relação
sujeito-sujeito.
Assim, Habermas (1987, p. 10) ao escrever a Teoria da Ação
Comunicativa, destaca a finalidade da sua teoria, dando três pretensões,
que consistem em:
531
1) um conceito de racionalidade, que faça frente às
reduções cognitivo-instrumentais da razão; 2) um
conceito de sociedade, que articule o mundo da vida
e o mundo do sistema; 3) uma teoria de
modernidade, que explique as patologias sociais.
Fica evidente na primeira intenção que Habermas visa
substituir a razão instrumental pela razão comunicativa, superando os
impasses causados pelo projeto inacabado da modernidade, levando em
conta as características e qualidades dessa razão. Por meio da razão
comunicativa, o autor acentua que ela é capaz de colocar em relação o
mundo físico, com seus objetos, com os outros aspectos ligados ao
homem.
A linguagem utilizada como interação visa o entendimento
entre os sujeitos, sendo assim, é possível através da comunicação,
formar entendimentos éticos e sociais entre os sujeitos. Fica evidente
que a formação ética perpassa, segundo Habermas, uma conotação
centrada na relação sujeito-sujeito, respeitando suas posições e
possibilitando que os melhores argumentos sejam capazes de
fundamentar a sociedade em que vivemos.
Vale dizer que a ação comunicativa propicia a formação de
sujeitos críticos, versáteis, com capacidade de fundamentação em seus
atos de fala, e acima de tudo, a volta das discussões éticas como
elemento educativo, não reduzindo a razão a questão técnicoinstrumental.
532
Bibliografia
BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras Indicações
Acerca da Interpretação da Natureza. Trad. José Aluysio Reis de
Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
BRENSTEIN, Richard. Habermas y la modernidad. 2ª ed. Madrid:
Ediciones Cátedra, 1991.
HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa:
racionalidade de la acción y racionalización social. Trad. Espanhol:
Manuel Jiménes Redondo. Madrid: Taurus, 1987.
___. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote,
1990.
BOUFLEUER, José Pedro. Pedagogia da Ação Comunicativa: uma
leitura de Habermas. Ijuí: Unijuí, 2001.
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A
modernidade. São Paulo: Loyola, 1989.
filosofia
na
crise
da
PRESTES, Nadja Hermann. A perspectiva habermasiana na
investigação científica: a racionalidade comunicativa na educação.
Veritas, Porto Alegre, v. 41, n. 162, p. 291 – 297, junho 1996 a.
___. Educação e Racionalidade: conexões e possibilidade de uma
razão comunicativa na escola. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996 b.
533
ÉTICA: UMA AÇÃO COMUNICATIVA
Jerônimo José Brixner ∗
A pretensão do artigo é de reconstruir a concepção do ethos a
partir da racionalidade habermasiana, com a intenção de organizar e
justificar criticamente as diversas visões da ética no decorrer das
tradições e pensamentos oriundos desde a antiguidade. Na tentativa de
reduzir as questões éticas a um ponto de vista, Habermas discute a
temática com a pretensão de construir acordos éticos mediados pela
linguagem. Sua tentativa é a de dar bases teóricas para justificar os
impasses que tanto o logos, como o pensamento medievo, bem como a
racionalidade moderna causaram na elaboração das bases de
sustentação no pensamento humano.
Ética e moral
Na tentativa de buscarmos uma compreensão da ética, torna-se
necessário recorremos ao entendimento do conceito, a fim de que o
mesmo não seja tomado como o equivente moral. Na seqüência,
apresentamos algumas contribuições éticas na intenção de mediar
acordos para uma melhor convivência humana ao longo da história.
Coordenador do Curso de Filosofia e professor de Filosofia da FAPAS, Santa Maria, RS.
Endereço eletrônico: [email protected]
534
Aristóteles entendia a ética como a filosofia das coisas humanas, pois
ela ocupa-se dos fundamentos do agir humano. Nesse sentido, a palavra
ética vem do grego ethos, que significa “caráter” ou “modo de ser”. A
ética pode referir-se a costumes, normas, princípios e valores.
Por sua vez, o conceito da palavra moral é derivado do latim
“mos” ou “mores”, que quer dizer “costume” ou “costumes”. Assim
sendo, moral significa conjunto de regras adquiridas por hábito, podendo
ser mudado ao longo das transformações sociais.
A ética tem a função de explicar, esclarecer ou investigar uma
determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Ela
busca os fundamentos das normas morais. Estas devem valer para toda
uma sociedade. Por exemplo, a ética não diz quando ou que situações
devemos fazer o bem, mas procura definir o que é o bem e justificar
porque o bem é um valor fundamental para a pessoa.
A moral, por sua vez, é a realização da ação. Como a moral é
um comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem,
isso significa que ela pode ir mudando com a história, conforme referido
acima. Na mudança que vai acontecendo na história, vai mudando
também a conduta moral. Por isso, ela precisa ser revisada.
Evolução sobre a discussão ética
A ética, como fundamento do pensamento humano, tem sua
origem na Grécia. Ela surge como uma necessidade de explicar e
esclarecer a convivência das pessoas que se dá na polis (cidade). Até
então, recorria-se a mitos para explicar os fenômenos, especialmente da
natureza, que eram objeto da atenção das pessoas. Os mitos não
conseguem fundamentar sistematicamente o agir humano. A ética
535
destaca-se como um dos elementos que fornece aos indivíduos
capacidade de dicernimento e de orientação de forma racional (logos),
indo na direção dos princípios para uma ação humana mais sensata.
A ética como busca da felicidade
A ética grega caracteriza-se, em geral, por fundamentar a ação
humana na busca da felicidade (Eudaimonéo). Esta, por sua vez, pode
ter conotações diferentes. A felicidade pode ser vista como o alcance do
maior número de bens materiais ou exteriores, ou pode significar a
conquista de bens interiores.
Segundo Aristóteles (384-322 a.C.), a felicidade era o bem
supremo ao qual o homem devia aspirar. A felicidade consiste em
dinamizar um dos aspectos do homem, a razão. Com a realização do
elemento racional humano, supõe-se que outras dimensões, como saúde,
fortuna, situação social e outros, possam ir adquirindo êxito.
O homem atinge a felicidade no exercício da virtude. Por
virtude, Aristóteles compreende um saber
prático. A virtude não é
estática, mas um aprendizado suficientemente eficaz para garantir a ação
virtuosa. A excelência moral, revelada pela prática da virtude, seria,
antes de tudo, uma disposição de caráter (ética). Para o exercício da
virtude seria, pois, necessário conhecer, julgar, ponderar, discernir e
deliberar, para não cair em extremos.
Na eleição dos bens e do modo de agir, o homem deve
buscar o “justo meio”: nem um extremo, nem outro. A felicidade é
alcançada quando o homem consegue aquilo que o realiza,
especialmente como ser relacional. Cenci (2000, p. 41) comenta:
536
Para assegurar a especificidade do saber prático,
Aristóteles tomou de empréstimo da aritmética a
idéia do meio-termo. Há o meio-termo aritmético e
o meio-termo para nós. O primeiro tem a pretensão
de ser exato, pois visa indicar a distância precisa
entre dois extremos; o segundo, não. O meio-termo
para nós é o ajuste entre a falta, isto é, a deficiência
moral (a falta de caráter) e o excesso.
Fica claro que Aristóteles busca teoricamente elementos que
propiciem uma ligação entre a teoria e a prática, em que a elevação de
uma em detrimento de outra não torna favorável a realização plena da
virtude (ética).
Um dos pensadores de destaque dessa época é Epicuro (341271 a.C.), fundador do epicurismo. Sua moral é baseada no princípio de
que o fim supremo da vida é o prazer espiritual; critério único de
moralidade é o sentimento. O único bem é o prazer, como o único mal é
a dor; nenhum prazer deve ser recusado, a não ser por causa de
conseqüências dolorosas, e nenhum sofrimento deve ser aceito, a não ser
em vista de um prazer, ou de nenhum sofrimento menor. No epicurismo
não se trata, portanto, do prazer imediato, como é desejado pelo homem
“vulgar”; ora, dessa forma, não se trata de qualquer prazer, mas aquele
que está na elevação da alma, ou seja, prazeres mais duradouros e de
certa forma mais estáveis. Por isso, fica claro que o ao tratar dos
prazeres, Epicuro diz que é preciso não se deixar dominar por eles. A
filosofia está nesta função de elevação da alma. O prazer espiritual
diferencia-se do prazer sensível, porquanto o primeiro se estenderia
também ao passado e ao futuro e transcende o segundo, que é
unicamente presente. Verdade é que Epicuro mira os prazeres espirituais
537
como os mais altos prazeres. A condição fundamental da felicidade,
segundo Epicuro, está na renúncia de tudo que possa perturbar o
espírito. O maior prazer reside na satisfação das necessidades essenciais,
evitando o sofrimento no corpo, buscando a tranquilidade e o sossego.
O estoicismo, fundado por Zenão de Citium (334-262 a.C.),
tem como base de pensamento não é o prazer, mas a virtude97; não é
concebida como necessária condição para alcançar a felicidade, e sim
como sendo ela própria um bem imediato. A felicidade do homem
virtuoso é a libertação de toda perturbação, a tranqüilidade da alma, a
independência interior, a autarquia.
A ética medieval
Na Idade Média, busca-se a felicidade não mais na razão ou nos
prazeres, mas em Deus. É feliz a pessoa que busca e encontra Deus.
Santo Agostinho (345-430) prega a elevação ascética a Deus, que
culmina no êxtase místico ou felicidade, que não pode ser alcançada
neste mundo.
Santo Tomás de Aquino (1226-1274) coloca Deus como o bem
objetivo ou fim supremo, cuja posse causa gozo ou felicidade. O fim
último é alcançado pela contemplação e pelo conhecimento de Deus,
como prova disso Tomás de Aquino referenda na sua obra Suma
Teológica as cinco vias da existência de Deus. Aqui aparece o acento
97
Mondin (1977, p. 130-131) observa que “enquanto Aristóteles havia distinguido a
felicidade da virtude (a felicidade é o fim último do homem, a virtude o meio para
consegui-la), os estoicos a identificam, fazendo uma coisa só. A felicidade consiste na vida
segundo a razão (segundo o Logos), ou, o que é o mesmo, na vida segundo a natureza (a
natureza racional do homem), e a vida segundo a razão, para os estoicos, equivale à
virtude. Mas o que se entende por virtude? A virtude é uma disposição interna da alma
pela qual ela está em harmonia consigo mesma, ou seja com o próprio Logos”.
538
intelectualista, no qual o autor busca através da filosofia elementos
intrínsecos para que sua ética tenha uma conotação divina.
No período medieval, a questão ética é dinamizada pela
instituição religiosa, chamada Igreja. As questões são atribuídas a Deus,
sistematizadas pela Igreja.
Ética na modernidade
A ética na modernidade caracteriza-se pela laicidade, em
contrapartida da ética teocêntrica do medioevo. Trata-se de uma ética
centrada no homem, no Eu (subjetividade). Na época moderna, acentuase a dimensão da racionalidade humana baseada na cientificidade.
Procura-se o fundamento da ação humana, não mais em Deus, mas na
razão. Nesse período da história, acentua-se a ação do dever pelo dever,
conforme a ética kantiana.
A modernidade caracteriza-se pela cientificidade e pelo
empirismo. Há um acento muito grande na ciência e no uso dos métodos
científicos, deixando de lado o elemento metafísico. Nesse sentido, a
ética é um elemento que tem um grau de importância pouco acentuado.
Na contemporaneidade, encontramos uma vida moral e uma
ética que se caracterizam de diversas maneiras: centrada no Eu, busca do
estético, quebra das neuroses e repressões, crítica ao racionalismo, apelo
à sensibilidade, valorização das emoções, educação para a liberdade,
autonomia sem autocracia, heteronomia sem anulação. Em nosso tempo,
diante de todas essas manifestações, surgem muitos questionamentos
éticos. A ética é questionada.
As perguntas que surgem nos tempos atuais são as seguintes:
o
A ética é apenas conceito ou vivência no cotidiano?
539
o
Em nossa instituição vivemos em uma verdadeira “Morada”?
o
Quais são as referências éticas que temos?
o
Que referência ética nós somos?
o
Como trabalhar a eticidade sem cair no moralismo? E no
Permissivismo?
Como alternativa de resposta às interrogações acima feitas,
buscamos em Habermas alguns pressupostos que podem auxiliar nessas
questões e assim entendemos que possam fazer com que a ética ocupe
uma posição de destaque na vida das pessoas e em seus
relacionamentos.
A ação comunicativa e suas contribuições para a ética
O mundo contemporâneo apresenta desafios decorrentes dos
progressos científicos e tecnológicos, que não encontram resposta nos
modelos éticos tradicionais. Habermas busca uma reconstrução racional
de uma ética universalista, através da ética discursiva. Segundo o
pensador alemão, os pensadores modernos reduzem, de certa forma, as
diversas áreas do saber no plano empírico-instrumental, o que ocasiona
um afastamento das dimensões metafísicas, entre elas a ética. Habermas
procura construir uma teoria que leve em conta as situações concretas do
mundo da vida dos sujeitos, fazendo com que suas sistematizações não
sejam distanciadas do mundo vivido.
Segundo Habermas, a racionalidade técnico-científica não
leva em conta as realidades que envolvem o ser humano e as relações
entre as pessoas. Para o autor, as relações entre as pessoas estão no nível
da intersubjetividade, propiciando uma construção de entendimentos
540
sobre algo através do consenso. Contudo, vale dizer que os argumentos
devem ter uma pretensão de validade, devendo portanto estar
fundamentados.
Por isso, o pensador alemão deixa claro que é importante
dizer que a racionalidade moderna não potencializou, de certa forma,
seu projeto inicial e que é necessário aproveitar seus propósitos
positivos e reconstruir o que não se concretizou.
Sua racionalidade proporciona uma nova guinada, não mais
na dimensão empírico-cientificista, mas por meio da linguagem. Nesse
sentido, sua base teórica visa um entendimento ético fundamentado na
comunicação, buscando uma solução consensual para os conflitos de
ordem ética e moral, provindos de argumentos racionais.
É pelo paradigma da linguagem que Habermas visualiza uma
possível saída para a reconstrução das razões práticas. Suas bases
normativas
enquadram-se
na
compreensão
adequada
do
agir
comunicativo.
Assim, a Teoria da Ação Comunicativa pretende reconstruir
teoricamente alguns pontos necessários para a ação humana, tendo em
vista acordos nos quais vence o melhor discurso, aquele mais
fundamentado, e que valerá para o momento em que se vive. Aqui se
levará em conta a sistematização e também a vivência. A sistematização
deverá levar em conta a vivência humana, não podendo ser desvinculada
da vida das pessoas.
Na ética discursiva, a interação entre os indivíduos se dá pela
linguagem. A ética discursiva não tem a mesma intenção da filosofia da
consciência, que dinamiza a relação sujeito-objeto, ou seja, valoriza o
sujeito que usa de sua razão. Mas, no paradigma habermasiano os níveis
relacionais se encontram na relação sujeito-sujeito. Um indivíduo irá
541
estabelecer por meio de embates com o outro acordos de entendimentos
éticos e sociais entre os sujeitos.
Nesse sentido, Hermann (2001, p. 121) afirma:
A validade das normas não depende de uma
consciência solitária, mas de um acordo
racionalmente motivado entre todos os envolvidos.
As condições do discurso e o acordo racional obtido
dependem de uma situação ideal de fala, que se
caracteriza pela simetria de oportunidades dos que
participam do diálogo.
Com isso, vale ressaltar que a pretensão proposta pela
racionalidade moderna propicia uma visão unilateral, não ampliando
seus discursos, mas voltando-se a uma razão solitária.
Em contra-partida, o pensamento habermasiano caminha na
direção de acordos normativos por meio da razão dialógica, buscando
fortalecer os atos de fala de maneira a produzir um discurso sem coações
e valendo-se de bons argumentos.
Habermas (1989, p. 153) diz que é preciso valer-se da
situação ideal de fala, “em que as comunicações não só não vêm
impedidas por influxos externos contingentes, como também por
coações que se seguem da própria estrutura da comunicação. A situação
ideal de fala exclui as distorções sistemáticas da comunicação”.
Fica evidente, nessa citação, que o pensador atribui uma
situação ideal de fala não recorrendo a coerções ou a ambientes
empíricos, fora de uma realidade, mas a uma “suposição inevitável que
reciprocamente nos fazemos nos discursos” (Ibidem, p. 155).
Ora, assim sendo, um discurso ético deve, segundo o
filósofo, passar pelas dimensões cognitivas, universais e formalistas. Por
542
isso, sua teoria acerca da ética não cai em um “vale tudo” ou a um
relativismo,
mas
baseia-se
em
pretensões
válidas,
com
suas
fundamentações adequadas, mediadas pelas relações intersubjetivas.
De modo geral, sua ética foge ao paradigma ditado pela
filosofia da consciência e assegura-se pelo pressuposto da comunicação,
valendo-se das tradições e procurando, através da hermenêutica,
proceder suas bases teóricas de fundamentação.
Bibliografia
BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras Indicações
Acerca da Interpretação da Natureza. Trad. José Aluysio Reis de
Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
BOUFLEUER, José Pedro. Pedagogia da Ação Comunicativa: uma
leitura de Habermas. Ijuí: Unijuí, 2001.
BRENSTEIN, Richard. Habermas y la modernidad. 2ª ed. Madrid:
Ediciones Cátedra, 1991.
CENCI, Angelo Vitório. O que é ética? Elementos em torno de uma
ética geral. Passo Fundo: EDIUPF, 2000.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa:
Dom Quixote, 1990.
___. Teoria de la acción comunicativa: complementos y estudios
prévios. Trad. de Manuel Jiménez Redondo. Madri: Catedra, 1989.
___. Teoria de la acción comunicativa: racionalidade de la acción y
racionalización social. Trad. Espanhol: Manuel Jiménes Redondo.
Madrid: Taurus, 1987.
HERMANN, Nadja. Pluralidade e ética em Educação. Rio de Janeiro:
DP&A, 2001.
MONDIN, Battista. I Filosofi dell’Occidente: Corso de storia della
filosofia. Volume primo. Milano: Editrice Massimo, 1977.
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A
modernidade. São Paulo: Loyola, 1989.
filosofia
na
crise
da
543
PRESTES, Nadja Hermann. A perspectiva habermasiana na
investigação científica: a racionalidade comunicativa na educação.
Veritas, Porto Alegre, v. 41, n. 162, p. 291 – 297, junho 1996 a.
____. Educação e Racionalidade: conexões e possibilidade de uma
razão comunicativa na escola. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996 b.
SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Jürgen Habermas: razão
comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
544