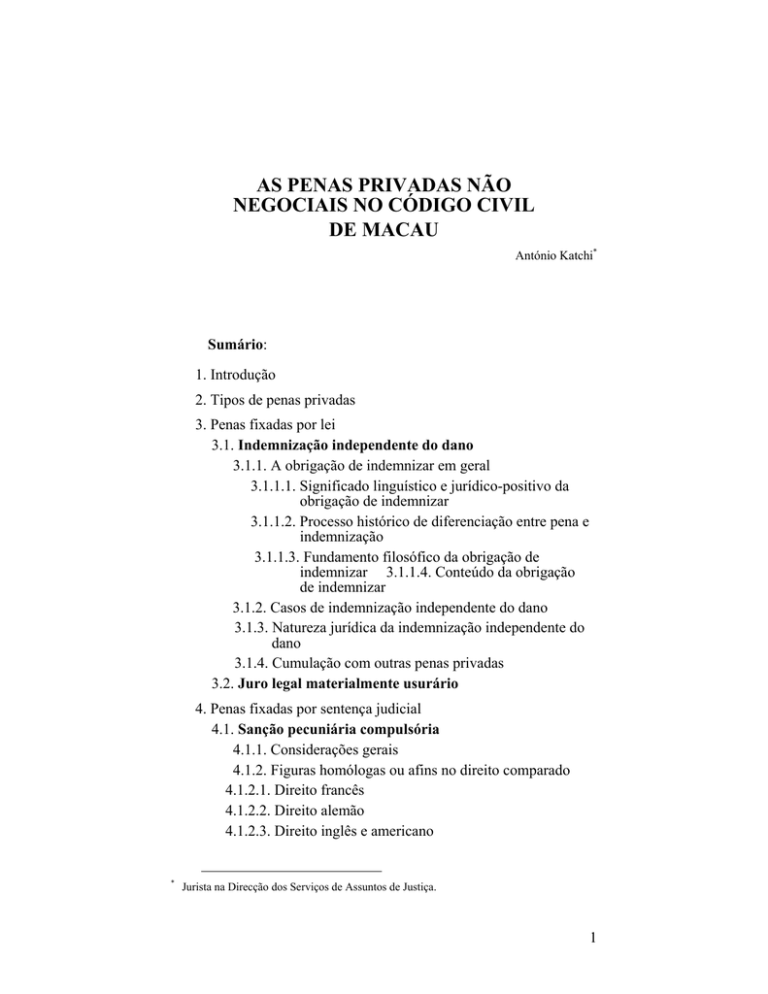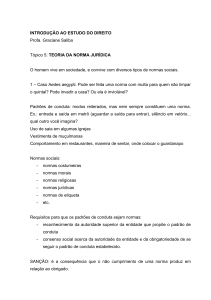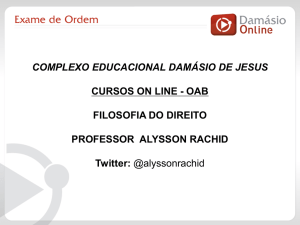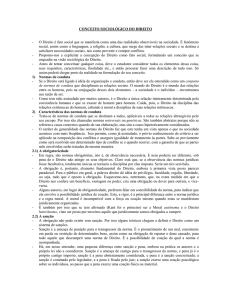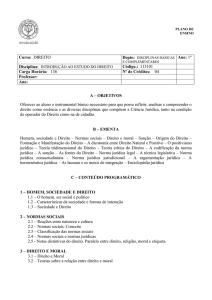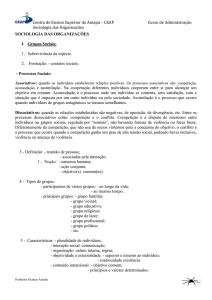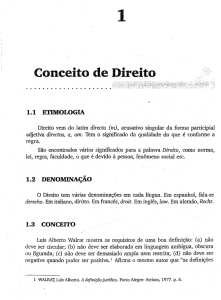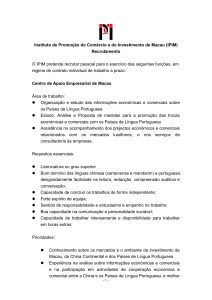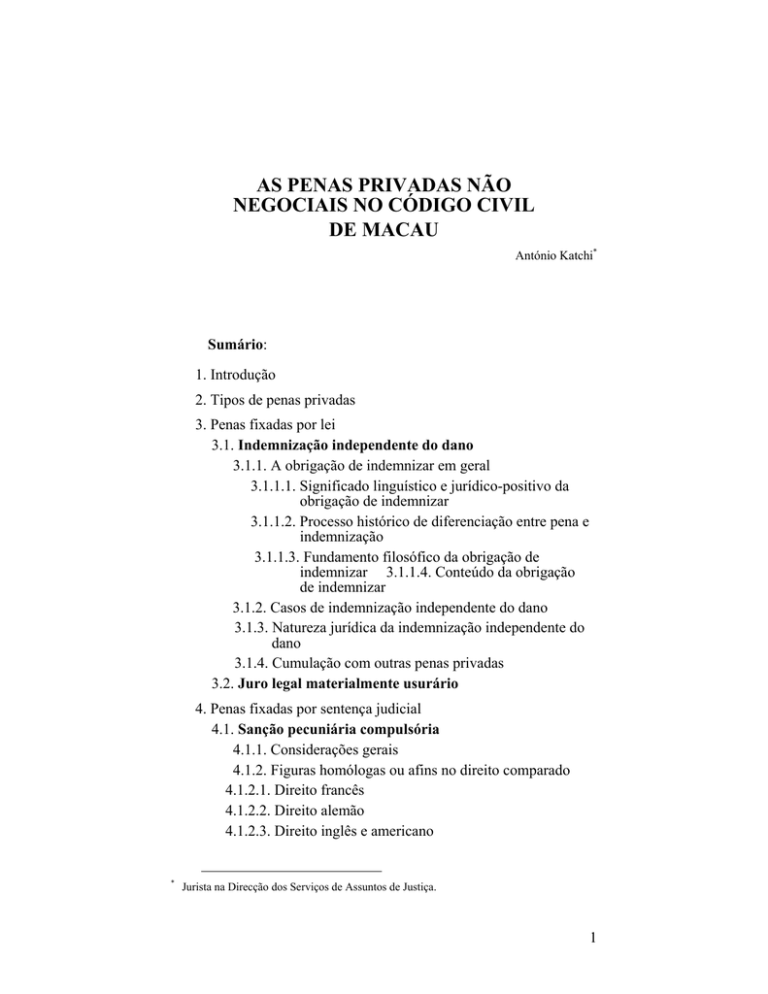
AS PENAS PRIVADAS NÃO
NEGOCIAIS NO CÓDIGO CIVIL
DE MACAU
António Katchi*
Sumário:
1. Introdução
2. Tipos de penas privadas
3. Penas fixadas por lei
3.1. Indemnização independente do dano
3.1.1. A obrigação de indemnizar em geral
3.1.1.1. Significado linguístico e jurídico-positivo da
obrigação de indemnizar
3.1.1.2. Processo histórico de diferenciação entre pena e
indemnização
3.1.1.3. Fundamento filosófico da obrigação de
indemnizar 3.1.1.4. Conteúdo da obrigação
de indemnizar
3.1.2. Casos de indemnização independente do dano
3.1.3. Natureza jurídica da indemnização independente do
dano
3.1.4. Cumulação com outras penas privadas
3.2. Juro legal materialmente usurário
4. Penas fixadas por sentença judicial
4.1. Sanção pecuniária compulsória
4.1.1. Considerações gerais
4.1.2. Figuras homólogas ou afins no direito comparado
4.1.2.1. Direito francês
4.1.2.2. Direito alemão
4.1.2.3. Direito inglês e americano
*
Jurista na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.
1
4.1.2.4. Direito da República Popular da China
4.1.2.5. Direito português
4.1.3. Sanção pecuniária compulsória e “prisão
compulsória”
4.1.4. A sanção pecuniária compulsória em Macau
4.1.4.1. Regime jurídico
4.1.4.1.1. Semelhanças com o regime do Código Civil
português
4.1.4.1.2. Diferenças em relação ao regime do Código
Civil português
4.1.4.2. Natureza jurídica
4.2. Indemnização agravada em relação ao dano
5. As penas privadas e o direito de propriedade privada
5.1. Considerações gerais
5.2. Tutela constitucional do direito de propriedade privada
5.2.1. O regime previsto na Constituição da República
portuguesa
5.2.2. O regime actualmente aplicável em Macau
5.3. Princípios constitucionais relativos às penas
5.4. Os princípios constitucionais da justiça e da igualdade
5.5. Apreciação da constitucionalidade das penas privadas e
dos seus regimes jurídicos
1. Introdução
Uma das orientações de política legislativa que se pode
identificar no novo Código Civil de Macau é a promoção daquilo que
designaremos de “penas privadas”.
A expressão “penas privadas” não é, obviamente, da nossa
autoria. Ela é utilizada, por exemplo, como título de uma obra
colectiva dirigida pelos italianos Francesco Busnelli e Cesare Salvi,
dedicada precisamente a esse tema.1 E entra também no título de, pelo
menos, alguns dos textos que compõem essa obra.2
1
2
Título original da obra: Le Pene Private. Infelizmente, não tivemos acesso a ela.
V.g. Massimo Basile, Le “pene private” nelle associazioni (traduzimos como As “penas
privadas” nas associações); Francesco Busnelli, Verso una riscoperta delle “pene private” ?
2
A esta figura também se refere o civilista português António
Pinto Monteiro na sua dissertação de doutoramento.3 Eis um pequeno
trecho dessa tese:4
“Pode dizer-se que o renovado apelo à pena privada se insere
num contexto mais amplo de uma certa privatização da justiça – de
que constituem elemento relevante todas as formas de
Verbandsstrafen5 e outras medidas de Betriebsjustiz6, e a que também
não é alheia a reacção tomada contra os Ladendiebstaelen7-, perante a
relativa ineficácia da Justiça estadual (o crescente recurso à
arbitragem é também, noutro plano, disso testemunho).”
O apelo à pena privada é, de facto, uma tendência do direito civil
dos nossos dias e insere-se, como afirma Pinto Monteiro, num
contexto mais amplo de privatização da justiça.
Esta privatização da justiça enquadra-se, por sua vez, no contexto
ainda mais amplo das políticas de privatizações: a privatização das
actividades económicas, a privatização dos serviços sociais, a
privatização de espaços, tanto na Terra como noutros planetas, etc. E,
tal como a privatização das empresas é justificada pelos seus
responsáveis, beneficiários e apologistas com a alegada ineficiência
das empresas públicas, a privatização da justiça é defendida com o
argumento de que a justiça pública é morosa e que os tribunais
públicos não têm capacidade para resolverem todos os casos que lhes
são submetidos.
Nesse amplo e complexo processo que é a privatização da justiça
podemos incluir todas as medidas por meio das quais uma entidade
pública é substituída por uma entidade privada no quadro da
administração da justiça.
A medida mais emblemática, e que mais frequentemente é
associada ao fenómeno da privatização da justiça, é a atribuição de
competência judicatória ao tribunais arbitrais.
Outra medida é a atribuição a entidades privadas do poder de
3
4
5
6
7
(traduzimos como A caminho de uma redescoberta das “penas privadas”?); Cesare Salvi,
Risarcimento del danno extracontrattuale e “pena privata” (traduzimos como
Ressarcimento do dano extracontratual e “pena privada”). Note-se que estes autores
colocam a expressão pena privada entre aspas.
Cláusula Penal e Indemnização, Livraria Almedina, Coimbra, 1990. A esta obra tivemos
acesso e a ela recorreremos amiúde ao longo deste trabalho.
Página 114, nota de rodapé n.º 250.
Penas associativas.
Justiça de empresa.
Furtos em lojas.
3
estabelecer penas, traspassando o princípio nulla poene sine lege. Este
princípio significa, como se sabe, que só pode ser aplicada uma pena
que tenha sido estabelecida pela lei, seja sob a forma de um valor fixo,
seja através de uma fórmula de cálculo, seja sob a forma de uma
moldura penal. A possibilidade de dois contraentes, por acordo,
estipularem uma cláusula penal de natureza punitiva – como se prevê
no artigo 799.º/1 do Código Civil de Macau – implica deslegalização,
já que permite o estabelecimento de uma pena através de um acto
jurídico infralegal, e privatização, porquanto esse acto jurídico
infralegal é de natureza privada.
Uma outra medida que podemos integrar no processo de
privatização da justiça é a criação de penas em benefício de uma
entidade privada.
Ao contrário das indemnizações, o produto da aplicação das
penas reverte, em princípio, a favor de uma pessoa colectiva pública, e
não a favor do lesado. Assim, as quantias pagas a título de multa ou de
coima vão para os cofres públicos, e não para os bolsos dos lesados.8
O trabalho prestado por um recluso no cumprimento de uma pena é-o
no quadro de uma relação jurídico-administrativa entre ele e a pessoa
colectiva pública responsável pelo estabelecimento prisional ou no
quadro de uma relação jurídico-laboral entre ele e uma entidade
designada por aquela pessoa colectiva pública, e não no âmbito de
uma situação de servidão pessoal perante o ofendido.
Assim sendo, quando se permite que o produto de determinada
pena reverta a favor de um particular, como acontece com a sanção
pecuniária compulsória prevista no artigo 333.º do Código Civil de
Macau, está-se a criar um novo tipo de pena – uma pena que, embora
sendo pública quanto ao autor, pois que é fixada pelo tribunal, é
privada quanto ao beneficiário, já que o produto da sua aplicação
8
Em Portugal, e certamente noutros países também, começou-se a atribuir aos agentes
policiais uma parte do produto das coimas por eles aplicadas por infracções ao Código da
Estrada. Esta medida, que visa incentivar os agentes policiais a aplicar coimas, tornando-os
partes pessoalmente interessadas nessa aplicação, é um factor extremamente negativo de
corrupção da justiça pública. Se se avançasse mais nesta via, o passo seguinte seria,
possivelmente, fazer com que as pessoas condenadas a pena de prisão se tornassem
escravas, pelo menos a tempo parcial, dos polícias que as tivessem detido ou dos juízes que
as tivessem condenado. E, se houvesse pena de morte, atribuir-se-ia parte da herança do
condenado aos polícias que o tivessem apanhado, aos juízes que o tivessem condenado e
aos carrascos que o tivessem executado. Pensamos que, se se quer melhorar a situação dos
agentes policiais, importa, antes de mais, reconhecer-lhes os mesmos direitos de que
gozam – ou devem gozar – os outros trabalhadores, nomeadamente o direito de associação
sindical, a liberdade de acção sindical e o direito à greve.
4
reverte a favor do lesado.
A privatização da justiça, a ser levada até ao extremo, significaria
o retorno à vingança privada como forma de reacção às ofensas. Nessa
longa caminhada cruzar-nos-íamos com a Arábia Saudita, que ainda
se encontra num estádio de publicização da justiça tão atrasado que o
julgamento e a punição de muitos tipos de crime competem ao chefe
da família. Nesse país, é pouco provável que os tribunais se queixem
de estar “inundados de processos menores”. Mas, felizmente, na
generalidade dos países ainda não se chegou a tal ponto de
privatização da justiça.
No presente artigo não vamos analisar o problema da
privatização da justiça em geral, mas apenas o das penas privadas.
2. Tipos de penas privadas
Por penas privadas pretendemos designar todos os meios
punitivos cujo conteúdo concreto seja fixado por entidades privadas
ou cuja utilização seja feita em benefício de entidades privadas.
Quando dizemos “meios punitivos”, queremos obviamente
afastar todas as formas de simples reparação, como a indemnização
pelos danos e a restituição por enriquecimento sem causa, e todos os
meios de simples reposição da legalidade ou de defesa dos próprios
direitos ou interesses legítimos, como sejam a anulação, declaração de
nulidade ou resolução de um negócio jurídico e a excepção do
contrato não cumprido. Queremo-nos, pois, referir aos meios que
tenham um propósito de castigar o infractor, fazendo com que ele
sofra mais do que aquilo que seria necessário para tutelar a situação
jurídica do lesado. Ou seja, estamo-nos a referir a verdadeiras penas.
Estas penas podem ser privadas quanto ao autor (poderíamos
designá-las por “penas juridicamente privadas”) ou quanto ao
beneficiário (poderíamos chamá-las de “penas economicamente
privadas”).
Penas privadas quanto ao autor são aquelas que, conquanto
abstractamente previstas na lei, são fixadas por entidades privadas.
Podem ser fixadas por contrato 9 , como as cláusulas penais
9
Parece-nos que só estas são consideradas por Figueiredo Dias e Costa Andrade como penas
privadas, já que estes autores adoptam como critério de distinção entre penas públicas e
privadas a relação entre a pessoa sancionada e o poder sancionatório. Para eles, são sanções
públicas aquelas em que o “sancionado se apresenta perante o poder sancionatório numa
relação de sujeição”, e privadas as que são “fundadas na submissão voluntária dos
5
compulsórias e os juros convencionais materialmente usurários;
podem ser fixadas por estatutos ou regulamentos de entidades
colectivas privadas, como as penas aplicadas no âmbito de pessoas
colectivas privadas ou de condomínios ou subcondomínios; ou podem
ser fixadas por deliberações de órgãos dessas entidades colectivas,
dentro de molduras estabelecidas nos respectivos estatutos ou
regulamentos.
Penas privadas quanto ao beneficiário são aquelas cuja aplicação
é feita em benefício de entidades privadas. Tratando-se de penas de
natureza patrimonial, são privadas quanto ao beneficiário aquelas cujo
produto da aplicação reverta a favor do património de entidades
privadas. As sanções mencionadas no parágrafo antecedente, além de
serem privadas quanto ao autor, também o são quanto ao beneficiário,
porquanto o produto da sua aplicação reverte para entidades privadas.
Mas também estão previstas no Código Civil de Macau penas que,
embora fixadas por entidades públicas, são aplicadas em benefício de
entidades privadas: a sanção pecuniária compulsória (artigo 333.º),
que é fixada por sentença judicial; as “indemnizações” independentes
de qualquer dano (artigos 996.º/1, 1027.º/1, 1044.º/2 e 1379.º/2), cujas
fórmulas de cálculo estão fixadas no próprio Código; a
“indemnização” agravada no caso de encrave de um prédio (artigo
1443.º/1), cujo valor é fixado pelo tribunal dentro de um limite
prescrito pelo Código (artigo 1443.º/2); e ainda o juro legal (artigo
552.º), cuja taxa é fixada em diploma regulamentar (actualmente está
fixada na Ordem Executiva n.º 9/2002, e o seu valor é de 6%).10
Pode parecer estranho que juntemos numa mesma figura duas
realidades tão distintas. Realmente, uma pena fixada por uma entidade
privada e uma pena aplicada em benefício de uma entidade privada
parecem mais duas figuras autónomas do que dois tipos diferentes de
interessados ao poder sancionatório” (Jorge Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade,
Direito Penal, lições policopiadas, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1996,
página 160). Presumimos que a “submissão voluntária” a que aludem estes penalistas se
reporte ao momento da fixação da pena, e não ao da sua aplicação, e que, portanto, o
“poder sancionatório” que eles mencionam se refira ao poder de fixar a sanção e não ao
poder de a aplicar. É que qualquer pena, se não for voluntariamente cumprida pela pessoa
sancionada, só poderá ser aplicada se for imposta coactivamente por uma autoridade
pública, mesmo que ela tenha sido estipulada por contrato. Por isso, a distinção entre pena
pública e pena privada não se pode fazer com base na posição que tem a pessoa sancionada
no processo de aplicação da pena, mas apenas com base na posição que ela teve no
processo de estipulação da pena.
10
Qualificamos aqui o juro legal de pena, porque o seu valor é fixado sem dependência da
taxa de inflação. Aliás, o seu valor actual excede largamente o da taxa de inflação. V. infra,
3.2.
6
uma mesma figura.
Une-as, todavia, um aspecto comum: ambas implicam a
existência de uma relação jurídica sancionatória privada, ou seja, uma
relação jurídica de que ambos os sujeitos são entidades privadas e cujo
objecto é uma sanção. O facto de uma pena ser privada quanto ao
autor implica que a própria estipulação da pena seja feita no quadro de
uma relação jurídica privada, em vez de ser determinada por um acto
jurídico-público. O facto de uma pena ser privada quanto ao
beneficiário implica que o seu cumprimento se processe no quadro de
uma relação jurídica privada, cujo conteúdo é, exactamente, a
obrigação de cumprir a pena.
A pena privada reflecte, pois, um fenómeno de privatização das
penas, ou de insuficiente publicização das mesmas, enquadrando-se,
como diz Pinto Monteiro, no contexto mais amplo de “uma certa
privatização da justiça” 11 e, como dizemos nós, no contexto ainda
mais amplo da privatização da economia.
De qualquer modo, todas as penas privadas previstas no Código
Civil são aplicadas em benefício de uma entidade privada, não
havendo nenhuma que o seja em favor de uma entidade pública. Ou
seja, são todas penas economicamente privadas. Por isso, podemos ver
nelas mais este aspecto comum e, desse modo, apresentar como mais
unitária a figura que é objecto do presente artigo.
Para fazermos uma classificação das penas privadas previstas no
Código Civil de Macau, podemos adoptar como critério a fonte
jurídica em que o valor ou fórmula de cálculo da pena é fixada. Com
base nesse critério podemos distinguir três tipos:
— as penas privadas legais, cujos valores ou fórmulas de cálculo
são fixados na lei (indemnização independente do dano e juro
legal materialmente usurário);
— as penas privadas judiciais, cujos valores ou fórmulas de
cálculo são fixados em sentença judicial (sanção pecuniária
compulsória e indemnização agravada em relação ao dano);
— as penas privadas negociais, cujos valores ou fórmulas de
cálculo são fixadas em negócios jurídicos (cláusula penal
compulsória, juro convencional materialmente usurário,
sanções pecuniárias de condomínio ou subcondomínio, etc.).
No presente trabalho, vamos analisar somente as penas privadas
11
Obra citada, página 114, nota de rodapé n.º 250.
7
não negociais, isto é, as penas privadas legais e as penas privadas
judiciais. Por outras palavras, vamos restringir o âmbito deste trabalho
às penas que são públicas quanto ao autor e privadas quanto ao
beneficiário.
3. Penas fixadas por lei
3.1. A indemnização independente do dano
3.1.1. A obrigação de indemnizar em geral
3.1.1.1. Significado linguístico e jurídico-positivo da
obrigação de indemnizar
Como é sabido, em português “indemnização” significa “acto ou
efeito de indemnizar”, “indemnizar” significa “tornar indemne” e
“indemne” (do latim indemnis) significa “sem dano”. “Indemnização”
significa, portanto, “reparação dos danos”.12
Na versão chinesa do Código Civil de Macau, a palavra
correspondente a “indemnização” é 損害賠償 sunhai peichang, que
literalmente significa “compensação dos danos”.13
As disposições do Código que definem o conteúdo da obrigação
de indemnizar não traem, antes corroboram com grande fidelidade, o
significado etimológico da palavra “indemnização” e a justeza da sua
tradução em chinês como 損害賠償 sunhai peichang. Vejamos as
principais dessas disposições:
— artigo 556.º: “Quem estiver obrigado a reparar um dano deve
reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse
verificado o evento que obriga à reparação”;
— artigo 557.º: “A obrigação de indemnização só existe em
12
13
O mesmo se diga das palavras cognatas existentes noutras línguas, nomeadamente
indemnity e indemnification em inglês, indemnité e indemnisation em francês,
indemnización em espanhol e indennità e indennizo em italiano.
Refira-se, a título de curiosidade, que têm estrutura semelhante a esta as expressões
correspondentes a “indemnização” noutras línguas não latinas: em inglês, compensation of
dammages (expressão provavelmente mais usada que indemnity e indemnification); em
alemão, Schadensersatz ou Schadenersatz (Schaden significa “dano” e Ersatz significa
“substituto” ou “compensação”); em russo, vozmeshchenie ushcherba (vozmeshchenie
significa “compensação”, ushcherb(a) significa “(de) dano”.
8
relação aos danos que o lesado provavelmente não teria
sofrido se não fosse a lesão”;
— artigo 558.º/1: “O dever de indemnizar compreende não só o
prejuízo causado, como os benefícios que o lesado deixou de
obter em consequência da lesão”;
— artigo 560.º/5: “Sem prejuízo do preceituado noutras
disposições, a indemnização em dinheiro tem como medida a
diferença entre a situação patrimonial do lesado, na data mais
recente que puder ser atendida pelo tribunal, e a que teria
nessa data se não existissem danos”.14
Se remontarmos à origem histórica da obrigação de
indemnização, também veremos claramente o nexo entre ela e o dano.
3.1.1.2. Processo histórico de diferenciação entre pena e
indemnização
A principal fonte histórica do direito europeu relativa à matéria
dos danos e da responsabilidade civil é a Lex Aquilia, cuja data precisa
se desconhece, mas se situa entre os séculos V e III a.C. 15 Essa lei,
14
Estas disposições correspondem aos artigos 562.º, 563.º, 564.º/1 e 566.º/2 do Código Civil
português.
O mesmo entendimento da obrigação de indemnizar observa-se nos códigos civis europeus
que mais influenciaram o Código Civil português e, através deste, o Código Civil de Macau.
Assim, o Código Civil alemão (BGB), no seu artigo 249, reza o seguinte: “Quem estiver
obrigado a indemnizar, tem de constituir a situação que existiria, se a circunstância que
obriga à reparação se não tivesse verificado. Se houver lugar a indemnização por lesão
causada a uma pessoa ou pela danificação de uma coisa, o credor pode exigir, em lugar da
própria constituição da situação, o montante pecuniário para ela necessário“. A tradução é
nossa. O texto original é: “Wer zum Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand
herzustellen, der bestehen wuerde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht
eingetreten waere. Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen der Beschaedigung einer
Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Glaeubiger statt der Herstellung den dazu
erforderlichen Geldbetrag verlangen” (utilizamos “ae” para designar “a” com trema e “ue”
para designar “u” com trema).
O Código Civil italiano emprega a expressão “ressarcimento do dano” (risarcimento del
danno) em várias disposições (artigos 81, 1218, 1223, etc.) correspondentes a outras tantas
dos códigos português e macaense onde se utiliza a palavra “indemnização”.
Indo mais atrás, ao Código Civil francês (o Code Napoléon), também verificamos que as
diversas disposições concernentes à responsabilidade delitual (artigos 1382 a 1386) e
contratual (artigos 1142 a 1155) contêm sempre palavras como “dano” (dommage) e
“reparação” (réparation).
15
Segundo J. Cretella Júnior, a lei data dos finais do século V a. C. (Curso de Direito
Romano, 17ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1994, página 312). Outro especialista
na matéria, Brassielo, atribui-lhe a data de 286 a. C (António Meneses Cordeiro, Direito
das Obrigações, 2.º volume, 1ª edição, Associação Académica da Faculdade de Direito de
Lisboa, 1986, página 261).
9
proposta por um magistrado de nome Aquílio e aprovada por uma
assembleia popular (concilium plebis), representou um importante
marco no longo processo histórico de despenalização dos delitos
meramente civis.
Em Roma distinguiam-se dois tipos de delitos: os delitos
privados16 e os delitos públicos.
Inicialmente, eram delitos privados os que atingiam a pessoa ou
os bens de um particular e públicos os que atingiam o Estado, dando
os primeiros lugar a processos nos tribunais ordinários e os segundos a
processos penais perante tribunais especiais. Nos casos de delitos
privados, os tribunais podiam condenar o autor do delito a pagar uma
certa quantia à vítima, quantia essa que incluía uma multa e uma
compensação pelo prejuízo sofrido.17 Tratando-se de delitos públicos,
os tribunais podiam condenar o delinquente a “penas corporais (morte,
exílio) ou pecuniárias, revertendo estas ao Estado e não à vítima”.18
Gradualmente, o rol de delitos considerados públicos foi-se
alargando, passando a abranger vários factos praticados contra os
particulares. A Lei das XII Tábuas (Lex duodecim tabularum),
aprovada nos finais do século V a. C., incluía entre os delitos públicos,
nomeadamente, o assassinato de parentes próximos (parricidium) e o
furto (furtum).19 Esta lei, coroando um movimento de luta do povo
romano pela tutela dos seus direitos 20 , veio reflectir, assim, uma
evolução na diferenciação entre delitos públicos e delitos privados: os
primeiros eram aqueles que, por lesarem bem jurídicos especialmente
importantes, públicos ou privados, exigiam a intervenção repressiva
do Estado; os segundos eram todos os outros. Isto significa que a lesão
de bens privados já podia acarretar a aplicação, pelo Estado, de penas
16
Os delitos privados subdividiam-se, por seu turno, em delitos civis e delitos pretorianos. Os
delitos civis eram julgados e punidos, em primeiro lugar, com base no direito civil (jus
civile), e, subsidiariamente, com base no direito pretoriano (jus praetorium ou jus
honorarium), ao passo que os delitos pretorianos eram julgados e punidos apenas segundo
o direito pretoriano. O direito pretoriano tinha um carácter jurisprudencial - era criado pelo
pretor através da confirmação, completação ou correcção do direito civil.
17
J. Cretella Júnior, obra citada, página 305.
18
Obra citada, página 303.
19
Ditlev Tamm, Roman Law and European Legal History, 1ª edição, DJ∅F Publishing,
Copenhaga, 1997, página 157.
20
Assim explica J. Cretella Júnior: “A plebe luta novamente por seus direitos, reclamando
uma lei aplicável a todos, menos sujeita ao traço de incerteza que caracterizava o costume
(…) Por proposta do tribuno Tarentílio Arsa, em 462, é nomeada uma comissão
encarregada de redigir uma lei. É a famosa Lei das XII Tábuas ou Lex duodecim tabutarum,
cuja redação é precedida de muita resistência por parte dos patrícios e do senado” (note-se
que o segundo “t” em “tabutarum” é uma gralha, deveria ser um “l”).
10
que não consistissem em simples quantias pagas à vítima.
Tentando resumir a evolução do direito romano em matéria de
responsabilidade por delitos privados, podemos enumerar as seguintes
fases:
- a fase da vingança privada não regulamentada: “a vítima de
um delito, ou seus parentes, de armas na mão, procura retribuir o mal
pelo mal, sem método, sem sistema, sem proporcionalidade”21;
- a fase da vingança privada regulamentada: a retribuição é feita
mediante a aplicação da pena de talião (“olho por olho, dente por
dente”), começando-se, assim, a esboçar um princípio de
proporcionalidade entre a ofensa e o castigo22;
- a fase da composição voluntária: a vítima do delito pode
escolher entre a vingança privada regulamentada e a aplicação de uma
pena pecuniária fixada pelas partes;
-a fase da composição legal e obrigatória: “a lei fixa certa soma
para cada tipo de delito que o autor é obrigado a pagar, submetendo-se
a vítima ao quantum fixado”23, surgindo, assim, a ideia de multa24;
- a fase da repressão pelo Estado: o Estado chama a si a
responsabilidade de reprimir os delitos.
A Lei das XII Tábuas, atrás mencionada, situa-se no início da
fase da composição legal e obrigatória, mas ainda conserva normas
próprias das fases anteriores. Por exemplo, ao permitir matar, em acto
de vingança privada, quem cometa um furto nocturno (tábua VIII,
parágrafo 12)25, está a acolher uma solução típica da fase da vingança
privada não regulamentada. Outro exemplo: ao permitir aplicar a pena
de talião a quem cometa a ablação de um membro26, está a sancionar
uma reacção típica da fase da vingança privada regulamentada.
21
J. Cretella Júnior, obra citada, página 303.
A palavra portuguesa “talião” provém do termo latino “talio”, que por sua vez deriva de
“talis”, que significa “tal”. A ideia é “tal delito, tal vingança” (obra citada, página 304).
23
Ibidem
24
É interessante notar que este tipo de punição já se encontrava no código legislativo de
Eshnuna, um antigo reino situado na Mesopotâmia (no território do actual Iraque) e
posteriormente conquistado por Hamurabi, 6.º rei da 1ª dinastia da Babilónia (2003-1961
a.C.). Durante muito tempo, o código de leis escritas mais antigo que se conhecia era o de
Hamurabi; hoje é o de Eshnuna, no qual aquele se baseou. No código de Eshnuna, mesmo
os crimes mais graves, como os de homicídio e de ofensas corporais, eram punidos com
penas meramente patrimoniais.
25
Ditlev Tamm, obra citada, página 159.
26
J. Cretella Júnior, obra citada, página 307.
22
11
Como já dissemos, a Lei das XII Tábuas alargou o leque de
delitos públicos, neles incluindo alguns actos lesivos de bens jurídicos
privados. A transformação de um delito privado num delito público
significava, entre outras coisas, que o produto da pena pecuniária
passava a reverter para o Estado, ficando a vítima apenas com o
direito à reparação do prejuízo. Parece-nos que esta mudança
prefigurava também a progressiva abolição das multas privadas,
passando os delitos privados a dar lugar, apenas, à compensação dos
danos por eles causados.
Esta tendência ainda não era muito perceptível na Lei das XII
Tábuas, pois aí ainda se estipulavam, para diversos delitos privados,
consequências
inequivocamente
punitivas.
Um
exemplo
paradigmático de desproporção entre a sanção e o dano era a redução
à escravatura cominada para quem fosse apanhado em flagrante delito
de furto (tábua VIII, parágrafo 1427). Mesmo as sanções pecuniárias
previstas nessa lei prosseguiam claramente um fim punitivo, e não
compensatório, pois o seu valor era fixado ne varietur pela própria lei,
e não pelo tribunal em função do dano sofrido.
Na Lex Aquilia, a ideia de compensação já começava a ganhar
uma certa predominância. Vejam-se as seguintes normas:
— “Se alguém matar ilegalmente um escravo ou uma criada
pertencente a outrem ou uma cabeça de gado quadrúpede,
deve ser condenado a pagar ao dono o valor mais elevado que
o bem tiver atingido no ano anterior” (1.º capítulo)28;
— “Tratando-se de qualquer outra coisa, afora escravos ou gado
que tenham sido mortos, se alguém causar dano a outrem,
queimando, quebrando ou estragando ilicitamente um bem
seu, deve ser condenado a pagar ao dono, no prazo de 30
dias, todo o valor do dano que lhe houver causado” (3.º
capítulo).29
27
Ditlev Tamm, obra citada, página 159.
Texto original: “Si quis servum servamve alienum alienamve quadrupedemve pecudem
iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto”. A
versão que apresentamos em português resulta da nossa tradução da versão inglesa contida
na obra citada de Ditlev Tamm, página 162: “If anyone kills unlawfully a slave or a
servant-girl belonging to someone else or a four footed beast of the class of cattle, let him
be condemned to pay the owner the highest value that the property had attained in the
preceding year.”
29
Texto original: “Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri
damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus trigenta
proximis, tantum aes domino dare damnas esto.” A versão que apresentamos em português
resulta da nossa tradução da versão inglesa constante da obra citada de Ditlev Tamm: “In
28
12
Estes preceitos definiam um novo tipo de delito civil: o damnum
injuria datum30, que consistia em causar um dano a um escravo, criada
ou coisa alheios. Como salta à vista, aquelas duas disposições não
cominavam para este tipo de delito qualquer pena. Impunham ao autor
do delito a obrigação de pagar uma certa quantia ao lesado, mas essa
quantia não era mais do que a expressão pecuniária do valor do dano
que ele lhe infligira. Essa obrigação servia, portanto, e tão-somente,
para reparar o dano, e não para castigar o infractor.
Ganhava, assim, forma aquilo que viria a ser chamado de
“responsabilidade aquiliana”: uma responsabilidade delitual civil,
tendo por efeito a obrigação de compensar o lesado pelo dano
resultante de um delito civil.
A evolução posterior do direito continental europeu veio
clarificar a separação entre a responsabilidade civil e a
responsabilidade penal e consolidar a articulação entre delito civil e
responsabilidade civil, por um lado, e entre delito criminal e
responsabilidade penal, por outro.
Os delitos civis deixaram de estar sujeitos ao regime do numerus
clausus e passaram, portanto, a abranger todos os actos ilícitos
danosos. A reacção a esse tipo de delitos compete ao direito civil e
consiste na imposição da obrigação de reparar os danos. Testemunho
jurídico-positivo desta evolução é o primeiro código civil da Europa, o
Código Civil francês (Code Napoléon), cujo artigo 1382 preceitua:
“Qualquer facto humano que cause dano a outrem obriga aquele
por cuja culpa o dano ocorreu a repará-lo.”31
Os delitos criminais continuaram sujeitos ao regime do numerus
clausus, só abrangendo, por isso, os factos que a própria lei qualifica
de crimes. A reacção a esse tipo de delitos cabe ao direito penal e
traduz-se na aplicação de penas, as quais prosseguem fins de
retribuição pelo mal praticado, prevenção do crime e ressocialização
do delinquente, mas não de enriquecimento da vítima à custa do
criminoso. Por isso, havendo lugar à aplicação de uma pena
pecuniária, o produto dessa aplicação reverte para o Estado.
the case of all other things apart from slaves or cattle that have been killed, if anyone does
dammage to another by wrongfully burning, breaking or spoiling his property, let him be
condemned to pay to the owner whatever the dammage shall prove to be worth in the next
thirty days”.
30
J. Cretella Júnior, obra citada, página 312.
31
A tradução é nossa. O texto original é: “Tout fait quelconque de l′ homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
13
É claro que, em virtude do numerus apertus dos delitos civis,
todos os delitos criminais, na medida em que produzam dano, também
constituem delitos civis, pelo que também podem originar obrigações
pecuniárias a favor da vítima; só que essas obrigações não visam punir
o criminoso, mas apenas ressarcir a vítima do dano sofrido.
Constatamos, assim, uma progressiva publicização das penas, a
qual nos permitiria fazer a seguinte proclamação: ao lesado, a
indemnização; ao Estado, a pena.
É claro que esta evolução não foi assim tão linear. Não podemos
ignorar, por exemplo, que, nos modos de produção esclavagista e
feudal, o não-pagamento de uma dívida podia originar a redução do
devedor à escravatura e à servidão, respectivamente, e que o dono do
escravo ou senhor do servo era, precisamente, o credor.
Mas depois, com a abolição da servidão feudal, o não-pagamento
das dívidas passou a ser punido com a pena de prisão, o que, apesar de
ainda ser cruel e injusto, não deixou de constituir um passo em frente
no caminho da publicização das penas e da atenuação do desequilíbrio
entre credor e devedor.
Essa publicização viria, aliás, a contribuir para a própria abolição
da punição dos devedores com penas pessoais. Na verdade, enquanto
que a escravização e a redução à servidão dos devedores aproveitava
economicamente aos credores, porque estes passavam a poder
explorá-los em seu benefício, o encarceramento dos devedores em
prisões estatais, pelo contrário, não só não beneficiava os credores,
como ainda onerava o Estado e, por essa via, a sociedade no seu
conjunto. Não havia, por isso, nenhum interesse económico
suficientemente forte que se opusesse à luta dos movimentos
humanistas contra a prisão por dívidas. Se esta luta nem sempre
vingou, não terá sido, parece-nos, por interesses económicos directos
de determinado grupo social32, mas pela influência política do espírito
ferozmente repressivo que normalmente acompanha esses interesses.
3.1.1.3. Fundamento filosófico da obrigação de indemnizar
Em termos filosóficos, a obrigação de indemnizar alguém pelos
danos a ele causados pode-se fundamentar no valor da justiça, a
“estrela polar da ideia de direito”, na bela expressão de Radbruch.
32
A não ser quando a gestão das prisões é concessionada a empresas privadas e a prisão se
torna, assim, um negócio. É o que já se começa a verificar nos Estados Unidos.
14
Para sustentarmos esta fundamentação axiológica, poderíamos
começar por invocar a concepção de Aristóteles segundo a qual, nas
relações entre indivíduos, a justiça reside na igualdade entre as
respectivas prestações (justiça comutativa). É certo que não é assim
tão fácil extrair daqui o princípio de que quem causa dano a outrem o
deve compensar, pois a igualdade referida por Aristóteles também
poderia ser conseguida através da aplicação da pena de talião, que é
uma forma de retribuição igualitária do dano. Podemos, por isso,
considerar que a mera ideia de igualdade entre as partes não é
suficiente para impor a obrigação de reparar os danos. Mas ela é
suficiente, pelo menos, para ilegitimar a imposição, ao lesante, da
obrigação de pagar ao lesado mais do que o valor real do dano,
porquanto tal imposição levaria a um enriquecimento do lesado à
custa do lesante, o que se traduziria numa nova situação de
desigualdade entre as partes. Por outras palavras, tal imposição levaria
a uma situação de enriquecimento sem causa.
Consideramos, portanto, que a ideia aristotélica da justiça
comutativa pode não ser suficiente para fundamentar a obrigação de
indemnizar, mas é suficiente para ilegitimar o enriquecimento sem
causa e, por essa via, limitar a obrigação de indemnizar ao valor real
do dano.
De grande utilidade para o desenvolvimento histórico do
conceito de justiça e para a fundamentação da obrigação de
indemnizar nesse valor são as seguintes proclamações de Ulpiano
(Ulpianus), famoso jurisconsulto romano:
— “A justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um
o que lhe é devido”33;
— “São os seguintes os preceitos do direito: viver honestamente,
não lesar ninguém, dar a cada um o que lhe pertence.” 34 35
33
Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi.
Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
35
O direito aqui referido por Ulpiano é o direito natural, o qual, para a generalidade dos
jusnaturalistas, e nomeadamente para o próprio Ulpiano, exprime a justiça absoluta. Por
isso, os “preceitos do direito” aqui enumerados pretendem ser, exactamente, o resultado de
uma dedução normativa feita a partir da ideia de justiça. Para demonstrarmos a
identificação que então se fazia entre a justiça e o direito natural, citamos aqui umas frases
de Cícero (106-43 a. C.), um dos mais influentes jusnaturalistas romanos, extraídas da sua
obra Das Leis (De Legibus): “A lei é a suma razão, inserida na natureza, que ordena as
coisas a fazer e proíbe as contrárias. (…). Com efeito, não há senão um só direito, que
vincula a sociedade dos homens e que constitui o fundamento de uma única lei, a qual
consiste na justa razão, tanto no que impõe como no que proíbe. (…). Não haverá justiça se
ela não se fundar na natureza e se, estabelecida apenas na base de um interesse, um outro
interesse puder destruí-la. (…). A lei consiste na distinção entre as coisas justas e as
34
15
Destas formulações, a mais frequentemente citada a propósito do
conceito de justiça é o último dos “preceitos do direito” – suum cuique
tribuere. Ele pode ser utilizado para sustentar a obrigação de
indemnizar, pois dele se deduz facilmente que quem tirar algo a
outrem lho deve devolver – ou em espécie, ou em equivalente. Além
disso, também serve, tal como a ideia aristotélica da justiça
comutativa, para limitar o âmbito dessa obrigação, já que constranger
o lesante a pagar ao lesado mais do que o valor do dano significaria
tirar ao primeiro aquilo que lhe pertence para dar ao segundo algo que
não lhe é devido. Nesta função, aliás, o preceito suum cuique tribuere
é acompanhado pelo preceito honeste vivere: ambos fundamentam a
proibição do enriquecimento sem causa. No entanto, esses preceitos,
por si só, não impediriam necessariamente que, em alternativa à
indemnização, se aplicasse a pena de talião.
Para fundamentar a rejeição absoluta da pena de talião, o preceito
mais importante é o segundo: alterum non laedere. É o ingrediente
que faltava na concepção de justiça para, no domínio dos delitos civis,
entre duas soluções formalmente igualitárias – a pena de talião e a
reparação do dano –, excluir definitivamente a primeira e adoptar
definitivamente a segunda. A esta evolução filosófico-jurídica talvez
não tenha sido alheia a generosa ideia de misericórdia, proclamada e
defendida por muitos cristãos, embora brutalmente ofendida pela
própria Igreja.
Da combinação destes preceitos resulta, em suma, a seguinte
regra: quem lesar outrem, privando-o de determinado valor que lhe
pertence, deve devolver-lhe esse valor, mas não pode, ele próprio, ser
lesado em mais do que o estritamente necessário para essa devolução.
Apesar do relevo que se tem dado, e que é justo dar-se, ao
preceito suum cuique tribuere como comando fundamental da justiça,
é legítimo considerá-lo insuficiente para se determinar, em concreto, o
que é justo e o que é injusto. Escutemos aquilo que diz, a este
propósito, Cabral de Moncada36:
injustas, expressa em conformidade com a natureza antiquíssima e primordial do mundo,
sobre a qual se estabelecem as leis dos homens (…).” Podemos ainda invocar a relação
etimológica existente entre as palavras latinas jus (direito) e justitia (justiça), relação que é
em geral reconhecida, apesar de subsistirem dúvidas sobre qual de entre essas duas
palavras deriva da outra.
36
Luís Cabral de Moncada, Filosofia do Direito e do Estado, 2.º volume, Coimbra Editora,
página 289.
16
“(…) trata-se dum valor puramente formal, susceptível de ser
invocado por todos e colocado ao serviço de todos os conteúdos
sociais. Há uma justiça capitalista e uma justiça comunista, uma
justiça democrática e uma justiça aristocrática, e até uma justiça dos
escravos e outra dos senhores. (…). Reduzido o valor formal justiça
àquela fórmula já nossa conhecida do “seu a seu dono” e de “a cada
um como lhe pertence”, ficaremos sempre sem saber o que afinal
devemos fazer, em cada caso, enquanto, com base noutros critérios,
não soubermos precisamente o que pertence a cada um no receber, dar
ou fazer. Teremos na mão uma medida, mas não sabemos ainda o que
vamos medir com ela.”
Neste trecho, o jusfilósofo português refere a necessidade de se
recorrer a “outros critérios” para se saber “precisamente o que
pertence a cada um no receber, dar ou fazer”. Ora, há uma dupla bem
conhecida de filósofos que, apesar de apoucados por Cabral de
Moncada, nos dão esses critérios: Karl Marx e Friedrich Engels.
Para eles, o valor da justiça não tem um conteúdo eterno, mas
antes um conteúdo historicamente determinado. Assim, ele tem como
expressão:
— no modo de produção socialista, o princípio “de cada um
segundo as suas capacidades, a cada um segundo o seu
trabalho”;
— no modo de produção comunista, o princípio “de cada um
segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas
necessidades”.
É claro que, como a sociedade comunista começará a ser
edificada ainda no estádio do socialismo, a sociedade socialista já háde conter, e irá acumulando, características da sociedade comunista,
pelo que, na realização do valor da justiça, já irá atender às
necessidades, tanto naturais como civilizacionais, das pessoas, no
quadro de um sistema de segurança social cada vez mais abrangente.
Do mesmo modo, como a sociedade socialista tem de começar a
ser construída ainda no seio do modo de produção capitalista, uma
sociedade capitalista em fase de transição para o socialismo deve dar
primazia, na realização da justiça, ao trabalho. Guiando-se por teorias
do valor dotadas de fundamento científico (desenvolvidas
sucessivamente por Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, e
certamente por outros que não conhecemos), e deixando de se
subordinar a concepções ideológicas que, “vendo” valor económico
jorrar do capital e até de actividades puramente especulativas,
atribuem igual legitimidade aos rendimentos do trabalho e aos
17
rendimentos do capital, o direito de uma sociedade em fase de
transição para o socialismo deverá utilizar o valor do trabalho
prestado como critério predominante de concretização do preceito
suum cuique tribuere. E deverá, obviamente, considerar a exploração
do trabalho alheio como contrária ao honeste vivere, o primeiro dos
praecepta juris, segundo Ulpiano.
Aplicando estas ideias à obrigação de indemnizar, permitimo-nos
dizer que, numa sociedade em fase de transição para o socialismo, a
obrigação de indemnizar poderá não existir nos casos de
nacionalização, expropriação, requisição ou ocupação de bens, se
estes tiverem sido adquiridos através da apropriação gratuita do
produto do trabalho alheio. É que, neste caso, esses bens não se
considerarão pertença (suum) do dono, mas antes bens dos quais ele se
apropriou desonestamente (num inhoneste vivere).
Esta alusão a Marx e Engels serve para dar um exemplo de
critérios de densificação do preceito suum cuique tribuere. Como
observa Cabral de Moncada, se não se recorrer a algum critério que
permita fazer esta densificação, a justiça torna-se um valor puramente
formal. Este formalismo axiológico desembocará, por sua vez, no
positivismo jurídico, considerando-se o “devido a cada um”
simplesmente aquilo que a lei positiva disser que é devido a cada um37.
Adoptando-se esta posição, será necessário reconhecer que, de acordo
com o direito actual, o “devido a cada um” inclui não apenas aquilo
que lhe tenha advindo como rendimento do seu trabalho ou como bem
nele sub-rogado, mas também aquilo que lhe tenha advindo a outros
títulos, nomeadamente como rendimento do capital ou como bem nele
sub-rogado. Mas, se a lei for alterada no sentido de tornar ilegítimos
os rendimentos do capital, será forçoso reconhecer, nesse momento,
37
Esta preocupação também é revelada por Paulo Cunha, que alerta para o perigo de a
interpretação daquele preceito redundar num “titularismo positivista”. Mas, para este
jusfilósofo português, a chave do problema radica na palavra “vontade” contida na
definição de justiça. Diz ele: “(…) não pode olvidar-se que tal atribuição corresponde a
uma constante e perpétua vontade, que é a vontade da Iustitia (…), sempre por achar e
sempre sublevadora da alma” (Paulo Ferreira da Cunha, Anagnose Jurídica – Releitura de
três brocardos de Ulpianus e de outros textos clássicos). Salvo o devido respeito, parecenos que a ênfase no elemento “vontade” pode ser útil para a definição da justiça subjectiva
(justiça como virtude e, portanto, como valor ético), mas não conduz a qualquer avanço
sensível na definição da justiça objectiva (justiça como valor jurídico), pois que esta tem de
se traduzir sempre em soluções exteriores, não podendo limitar-se a processos interiores.
Além disso, mesmo no plano da justiça subjectiva, se se entender que a vontade justa de
cada pessoa é formada racionalmente, e não de um modo emotivo, será necessário
reconhecer que ela, para ter essa vontade, precisará ainda de, previamente, recorrer a
determinados critérios para saber o que é que realmente é devido a cada um.
18
que esses rendimentos são ilegítimos e que, portanto, a expropriação
desses rendimentos ou dos bens neles sub-rogados não dará lugar a
qualquer indemnização. Cohérence oblige… ou, dizendo o mesmo na
nossa língua, a coerência a tanto obriga!
Avançando um pouco mais nesta pequena análise do conceito de
justiça, fundamento e limite da obrigação de indemnizar, devemos
ainda abordar o problema que surge quando se defrontam dois
“devidos”. Aqui já não se trata de saber o que é que é devido a cada
um, ou por que razão o é, mas de saber o que se faz quando aquilo que
é devido a um só lhe pode ser dado se se tirar de outrem algo que
também lhe é devido. Formulando este problema em termos mais
simples, trata-se da questão de saber como se resolvem os conflitos de
direitos.
Esta questão pode-se desdobrar em duas: conflito concreto de
direitos e conflito abstracto de direitos.
O primeiro é o que surge em situações concretas de aplicação da
lei, quando o exercício de um direito de uma pessoa exige o sacrifício
de um direito, idêntico ou diferente, de outra pessoa. Este conflito é
regulado pelo artigo 327.º do Código Civil, que consagra os princípios
da necessidade, adequação e proporcionalidade.
O segundo é aquele com que depara o legislador na elaboração
de normas que, para tutelarem determinado direito, têm de restringir
outro direito. Até 20 de Dezembro de 1999, este tipo de conflito
estava regulado em Macau através do artigo 18.º da Constituição da
República Portuguesa, que estabelece, em matéria de restrição de
direitos, liberdades e garantias, os importantes princípios da
necessidade, adequação, proporcionalidade e salvaguarda do núcleo
essencial, subordinando-se, assim, a uma ideia de máxima restrição
das restrições aos direitos. Hoje, não há em Macau nenhuma
regulação tão clara deste problema, mas deixaremos a questão para o
ponto 5.
Os princípios atrás enumerados – necessidade, adequação,
proporcionalidade e salvaguarda do núcleo essencial – podem ser
vistos como decorrentes da combinação dos preceitos suum cuique
tribuere e alterum non laedere: por força do primeiro, tem de se
garantir a cada pessoa a possibilidade de gozar e exercer os
respectivos direitos em toda a sua plenitude; em virtude do segundo, é
preciso impedir o titular do direito de, no exercício desse direito,
prejudicar os outros, donde a necessidade de restringir, em certa
medida, esse direito; voltando depois a analisar o primeiro preceito já
com o conhecimento do segundo, vemos que, mesmo havendo lugar à
19
restrição do direito imposta por este, é necessário ainda respeitar esse
direito, pelo que a própria restrição também tem de ser restringida –
tem de ser reduzida ao mínimo que for necessário para, de forma
eficaz e equilibrada, evitar que outras pessoas sejam prejudicadas.
Aqueles quatro princípios representam um importante
desenvolvimento na densificação da ideia de justiça e são, por
conseguinte, importantes alicerces teóricos para a construção de um
sistema justo de reacção jurídica aos delitos. No assunto específico
que neste momento nos ocupa – a reacção jurídico-privada aos delitos
civis -, eles constituem mais um estribo para se circunscrever essa
reacção à reparação dos danos, excluindo-se todas as penas privadas e,
nomeadamente, as falsas indemnizações.
3.1.1.4. Conteúdo da obrigação de indemnizar
De acordo com a doutrina consagrada no artigo 556.º do Código
Civil de Macau, a obrigação de indemnizar tem por conteúdo o dever
de “reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o
evento que obriga à reparação”. Esta norma é igual à que lhe serve de
fonte imediata – o artigo 562.º do Código Civil português de 1966. E
esta, que também não é original, teve por fonte a primeira parte do
artigo 249 do Código Civil alemão.38
Como é sabido, a operação de reconstituição imposta pelo artigo
556.º compreende duas parcelas:
— a reposição daquilo que o lesado tinha à data do evento
danoso e que perdeu como consequência desse evento (dano
emergente ou damnum emergens);
— a prestação daquilo que o lesado não tinha à data do evento
danoso, mas teria entretanto adquirido, se esse evento não
tivesse ocorrido (lucro cessante ou lucrum cessans).
É o que, reproduzindo o artigo 564.º/1 do Código Civil português,
estabelece o artigo 558.º/1 do Código Civil de Macau:
“O dever de indemnizar compreende não só o prejuízo causado,
como os benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da
lesão.”
Fundando-se a obrigação de indemnizar na ideia de justiça e,
nomeadamente, no preceito suum cuique tribuere, a eles será
38
Esta disposição está transcrita no ponto 3.1.1.1.
20
necessário recorrermos para determinarmos o conteúdo de cada uma
das parcelas da obrigação de indemnizar, ou seja, a extensão dos
danos emergentes e dos lucros cessantes que realmente devam relevar
para efeito da obrigação de indemnizar.
Para ilustrarmos este raciocínio, vamos dar o exemplo da
expropriação de uma empresa e da indemnização devida por essa
expropriação39, e vamos aceitar que é a própria lei positiva que nos
fornece os critérios para determinarmos aquilo que é devido a cada um.
Assim, se a expropriação for feita num quadro jurídico que
reconheça a legitimidade dos rendimentos de capital, o valor da
indemnização devida aos titulares da empresa deverá incluir, por um
lado, todos os investimentos que eles tiverem feito com bens seus,
ainda que estes tenham sido obtidos como – ou com - rendimentos de
capital, e, por outro lado, todos os lucros que eles iriam auferir até ao
fim das suas vidas se a empresa não tivesse sido expropriada. E isto,
porque todos esses valores são abrangidos pela expressão “o que lhe é
devido”, contida no preceito suum cuique tribuere.
Se, pelo contrário, a expropriação for feita num quadro jurídico
que considere ilegítimos os rendimentos de capital, tais valores já não
se poderão considerar abrangidos por aquela expressão e, por
conseguinte, não deverão ser atendidos na fixação do valor da
indemnização. Neste caso, só deverão ser atendidos os investimentos
feitos com bens obtidos pelo próprio trabalho, ou por outro meio que a
lei eventualmente considere legítimo (ou seja, que considere
compatível com o preceito honeste vivere). Uma indemnização em
excesso – isto é, uma indemnização que excedesse o valor dos danos
emergentes e dos lucros cessantes legítimos - implicaria uma negação
da justiça comutativa na relação jurídico-económica entre o
expropriante e o expropriado, o que se traduziria num favorecimento
do segundo e numa penalização do primeiro. E, como o expropriante é
uma entidade pública, cujo património é pertença de todo povo, quem
sairia penalizado seria, afinal, todo o povo. Esta penalização de todo o
povo em benefício do expropriado colidiria, por sua vez, com a justiça
distributiva. Além disso, aquela indemnização em excesso significaria
atribuir ao expropriado uma quantia correspondente a rendimentos
que recebeu ou viria a receber em violação do preceito honeste vivere,
39
Até agora, temos falado sempre da obrigação de indemnizar por actos danosos ilícitos, mas,
como se sabe, também pode haver lugar a essa obrigação em virtude de actos danosos
lícitos, desde que a lei a imponha. A expropriação é um desses actos (artigo 1234.º do
Código Civil de Macau).
21
interpretado à luz do novo sistema. Significaria, portanto, tutelar uma
actividade contrária a um dos mandamentos da justiça.
Refira-se ainda, para terminar esta parte relativa ao conteúdo da
obrigação de indemnizar, que, se não for possível a reconstituição
natural da situação actual hipotética, ou se essa reconstituição for
demasiado onerosa para o devedor, a indemnização deverá ser feita
em dinheiro (artigo 560.º/1 e 3). Se a reconstituição natural for
possível e não for demasiado onerosa para o devedor, mas não reparar
integralmente os danos, é fixada em dinheiro a indemnização
correspondente à parte dos danos por ela não coberta (artigo 560.º/2).
3.1.2. Casos de indemnização independente do dano
Analisemos as seguintes disposições do Código Civil de Macau
(os sublinhados são nossos):
Artigo 996.º
(Mora do locatário)
1. Constituindo-se o locatário em mora, o locador tem o
direito de exigir, além das rendas ou alugueres em atraso, uma
indemnização igual a metade do montante que for devido, salvo se
o contrato for resolvido com base na falta de pagamento; se o
atraso exceder 30 dias, a indemnização referida é aumentada para
o dobro.
2. …
3. Enquanto não forem cumpridas as obrigações a que o n.º 1
se refere, o locador tem direito a recusar o recebimento das rendas
ou alugueres seguintes, os quais são considerados em dívida para
todos os efeitos.
4. …
Artigo 1027.º
(Indemnização pelo atraso na restituição da coisa)
1. Se a coisa locada não for restituída, por qualquer causa,
logo que finde o contrato, o locatário é obrigado, a título de
22
indemnização, a pagar até ao momento da restituição a renda ou
aluguer que as partes tenham estipulado, excepto se houver
fundamento para consignar em depósito a coisa devida.
2. Logo, porém, que o locatário se constitua em mora, a
indemnização é elevada ao dobro; à mora do locatário não é
aplicável a sanção prevista no artigo 333.º.40
3. Fica salvo o direito do locador à indemnização dos
prejuízos excedentes, se os houver.
Artigo 1044.º
(Revogação unilateral por parte do arrendatário)
1. …
2. Salvo estipulação em contrário, o direito à revogação
unilateral efectuada nos termos do número anterior dá ao senhorio
direito, a título de compensação, a 1 mês de renda; a indemnização
nunca pode ser estipulada em montante superior a 2 meses de
renda, sob pena de redução a este valor.
Artigo 1379.º
(Pagamento das prestações anuais)
1. …
2. Havendo mora no cumprimento, o proprietário tem o
direito a uma indemnização igual a metade do que for devido; se o
atraso exceder 45 dias, a indemnização é aumentada para o dobro.
3. …
4. À mora no cumprimento não pode ser aplicada a sanção
prevista no artigo 333.º.41
5. …
40
41
Trata-se da sanção pecuniária compulsória.
Idem.
23
Nas disposições acima reproduzidas, vemos estatuídas
obrigações de “indemnização” cujo montante é independente do valor
do dano. Mais: a própria imposição da obrigação de indemnizar, em
cada caso concreto, é independente da verificação, nesse caso, de um
dano. Não serão, então, estas “indemnizações” verdadeiras penas?
3.1.3. Natureza jurídica da indemnização independente do
dano
Vejamos como justificam Antunes Varela e Pires de Lima a
indemnização estatuída no n.º 1 do artigo 1041.º do Código Civil
português, análogo ao n.º 1 do artigo 996.º do Código de Macau42:
“Esta indemnização, correspondente à falta de cumprimento
pontual da principal obrigação contraída pelo locatário, representa
uma forma criteriosa de conciliação entre o interesse do locador ao
rendimento periódico do prédio e o interesse, individual e colectivo,
da estabilidade da habitação. A solução vale hoje, porém, para todo o
instituto da locação (…).”43
Estes egrégios civilistas consideram que a imposição desta
indemnização é uma forma “criteriosa” de conciliar os interesses em
jogo, mas o facto é que ela quebra completamente o princípio da
igualdade, ínsito na ideia de justiça.
Já vimos que a justiça se projecta nas relações bilaterais como
igualdade entre as partes, nela se compreendendo a igualdade
aritmética entre o valor das prestações realizadas por cada uma
(justiça comutativa). A justiça e a igualdade numa relação bilateral
implicam, portanto, que nenhuma das partes enriqueça à custa da
outra ou empobreça em seu benefício.
Daqui também já deduzimos que a obrigação de indemnizar só
deve existir em caso de dano e que deve ter por extensão o valor desse
dano, porque, se existir sem o dano ou se o seu valor exceder o do
dano, estará a provocar o enriquecimento do credor à custa do devedor,
e, se o seu valor ficar aquém do do dano, estará a provocar o
42
Análogo, mas não igual, pois é ainda mais severo. Eis a redacção da norma: “Constituindose o locatário em mora, o locador tem o direito de exigir, além das rendas ou alugueres em
atraso, uma indemnização igual ao dobro do que for devido, salvo se o contrato for
resolvido com base na falta de pagamento.”
43
Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, volume II, 3ª edição, Coimbra
Editora, 1986, página 399.
24
empobrecimento do credor em benefício do devedor.
Ora, a norma constante do n.º 1 do artigo 996.º, ao impor uma
obrigação de indemnizar independente de qualquer dano, origina,
necessariamente, situações de desequilíbrio entre o locador e o
locatário, normalmente em detrimento deste último, pois que é pouco
provável que o dano sofrido pelo locador exceda a indemnização
imposta. Este desequilíbrio é patente, mesmo que nos atenhamos a
uma igualdade fictícia entre o interesse do locador e o interesse do
locatário. Se abandonarmos esta ficção e atendermos ao facto de que o
interesse do locatário é, normalmente, muito mais vital que o do
locador, o desequilíbrio revelar-se-á em toda a sua enormidade.
Podemos, por isso, dizer que a solução adoptada pelo legislador é
“criteriosamente” injusta.
Este juízo valorativo é extensivo, com o mesmo fundamento, às
obrigações de indemnização estatuídas nas restantes normas suprareproduzidas.
Perante o exposto, não é difícil responder à questão técnicojurídica colocada – a de saber se estas “indemnizações” são
verdadeiras indemnizações ou se são penas impropriamente chamadas
de indemnizações. Se elas são independentes da ocorrência de
qualquer dano, não podem ser devidas a título de compensação; são,
sim, um presente para o credor e um castigo para o devedor. São, por
conseguinte, penas, e não indemnizações. Mais precisamente, são
penas privadas, na medida em que o produto da sua aplicação reverte
a favor de uma entidade privada.
Estas falsas indemnizações assemelham-se bastante àquilo que o
Código Civil designa de sanção pecuniária compulsória (artigo 333.º).
Aliás, no fundo, essas “indemnizações” também são, em princípio,
sanções pecuniárias compulsórias: são sanções, como acabámos de
ver, são normalmente pagas em dinheiro e têm o mesmo escopo
compulsório-punitivo que as sanções reguladas no artigo 333.º. A
principal diferença reside no modo de fixação do quantum da pena: no
caso das indemnizações independentes do dano, é determinado
segundo uma fórmula fixada na lei; no caso da sanção pecuniária
compulsória, é fixado pelo tribunal, independentemente de qualquer
fórmula ou limite legal. Podemos, por isso, dizer que a indemnização
independente do dano é uma sanção pecuniária compulsória legal, ao
passo que a figura regulada no artigo 333.º é uma sanção pecuniária
compulsória judicial.
Tanto as falsas indemnizações como a sanção pecuniária
compulsória podem ser incluídas naquilo que Pinto Monteiro designa
25
de meios de coerção privada. Este autor, seguindo uma classificação
utilizada por Gerbay e Calvão da Silva, distingue medidas de coerção
ofensiva e medidas de coerção defensiva. Nas primeiras inclui a
cláusula penal, o sinal, a cláusula resolutiva expressa e os juros de
mora agravados. Como só inclui neste rol as sanções estabelecidas
pelas próprias partes (penas privadas quanto ao autor), não menciona
as falsas indemnizações nem a sanção pecuniária compulsória (que
são penas públicas quanto ao autor e privadas quanto ao beneficiário).
Reconhece, todavia, que “vários preceitos legais, dispersos pelo
Código Civil, revelam, igualmente, uma função sancionatória”. 44
Juntando a esta lista de meios de coerção privada as penas privadas
quanto ao beneficiário, poderemos nela incluir as sanções pecuniárias
compulsórias legais e judiciais.
Convém esclarecer aqui a relação entre “coerção” (ou
“compulsão”) e “punição”.
Apesar de as medidas de coerção acima mencionadas serem
normalmente qualificadas de “compulsórias” (v.g. cláusula penal
compulsória, sanção pecuniária compulsória), e não de “punitivas”, o
seu efeito é primariamente punitivo, só sendo compulsório por
derivação. Segundo uma velha máxima, “ninguém pode ser
directamente coagido a uma acção” (nemo praecise potest cogi ad
factum).
Assim, a compulsão do devedor, se não for uma autocompulsão
ditada por um imperativo de consciência que lhe prescreva uma certa
conduta como moralmente obrigatória, independente de qualquer
interesse (imperativo categórico), será simplesmente determinada
pela consciência de que tem interesse em evitar a aplicação da sanção
(imperativo hipotético).
No primeiro caso, nem sequer é necessária a estatuição, legal ou
convencional, da sanção, pois a conduta é absolutamente
independente dela.
No segundo, é a antevisão da punição que, eventualmente,
“compelirá” o devedor a comportar-se licitamente, já que a estatuição
sancionatória em si dificilmente seria capaz de, qual rajada de vento,
arremessar o devedor para tal comportamento.
Vemos, portanto, que a estatuição de qualquer uma das sanções
supra mencionadas só é compulsória porque é punitiva.
44
António Pinto Monteiro, obra citada, páginas 109 e 110, nota de rodapé n.º 238.
26
Isto não significa, porém, que, em geral, uma estatuição só possa
ser compulsória se for punitiva. A imposição da obrigação de
indemnizar também poderá ter um efeito compulsório, e tê-lo-á
seguramente se essa indemnização for consideravelmente mais
onerosa para o devedor que o próprio cumprimento do dever (por
exemplo, a perspectiva de ter de pagar a reparação da casa do vizinho
pode “compelir” psicologicamente uma pessoa a mandar consertar um
cano roto da sua própria casa, pois custar-lhe-á menos mandar fazer
esta pequena obra do que pagar a reparação da casa do vizinho).
Por isso, podemos dizer que o efeito compulsório tanto pode
derivar de uma estipulação punitiva (cujo efeito imediato é a
punibilidade), como de uma estipulação meramente compensatória
(cujo efeito imediato é a compensabilidade).
Assim sendo, o que distingue a cláusula penal compulsória da
cláusula penal compensatória não é o efeito compulsório da primeira,
mas o seu efeito punitivo. Analogamente, o que distingue a sanção
prevista no artigo 333.º da obrigação de indemnizar não é o efeito
compulsório da primeira, mas o seu efeito punitivo.
Para terminar esta parte, refira-se que, no caso do artigo 996.º,
acima reproduzido, o simples incumprimento da pena de
“indemnização” pode gerar novas penas de “indemnização”, já que o
n.º 3 dá ao credor o direito de recusar as rendas ou alugueres seguintes,
considerando-se estes também em atraso e dando este atraso origem a
uma nova pena de “indemnização”. É uma punição em espiral.
3.1.4. Cumulação com outras penas privadas
Reproduzimos há pouco os artigos 1027.º e 1379.º, que impõem
“indemnizações” independentes de danos. Uma das particularidades
desses artigos é proibirem a aplicação, às situações de mora reguladas
nesses artigos, da sanção pecuniária compulsória judicial prevista no
artigo 333.º (n.º 2 do artigo 1027.º e n.º 4 do artigo 1379.º).
Perante estas normas, formulamos a seguinte pergunta: a
proibição delas constante é uma excepção à regra geral de
cumulatividade entre indemnização e sanção pecuniária compulsória
judicial, expressa no artigo 333.º/1, ou, pelo contrário, a revelação de
um princípio geral de não-cumulatividade entre sanções pecuniárias
compulsórias, ou, mais latamente, de não-cumulatividade entre penas
privadas cujo beneficiário seja o mesmo?
Esta última solução parece-nos a menos má, pois evita a
27
aplicação cumulativa de sanções de objectivo coincidente.
Ela parece também encontrar um certo apoio no n.º 4 do artigo
333.º, que proíbe a cumulação da sanção pecuniária compulsória
judicial com uma cláusula penal compulsória estabelecida com os
mesmos fins. Note-se que a sanção imposta pela cláusula penal
compulsória, se for pecuniária, também é um tipo de sanção
pecuniária compulsória - é uma sanção pecuniária compulsória
contratual. Isto significa que aquilo que o n.º 4 do artigo 333.º proíbe
é mais uma forma de cumulação de sanções pecuniárias compulsórias,
e, portanto, mais uma forma de cumulação de penas privadas.
Apesar deste esteio, não ousamos afirmar que o Código contenha
um princípio geral de exclusão da cumulatividade entre sanções
pecuniárias compulsórias ou entre penas privadas. Preferimos deixar a
questão em aberto.
Não deixamos, todavia, de realçar que, se a opção do legislador
reflectir um princípio geral de não-cumulatividade, ela confirma a
natureza punitiva da “indemnização” prevista nas disposições em
análise, pois só essa natureza justificaria a proibição da cumulação. As
simples compensações não precludem nunca a aplicação de penas,
como se pode depreender do n.º 1 do artigo 333.º, da primeira parte do
n.º 3 do artigo 799.º e da interpretação a contrario sensu do n.º 2 do
artigo 800.º.
3.2. Juro legal materialmente usurário
O juro, seja legal, seja convencional, pode ter duas finalidades ou
efeitos: uma finalidade ou efeito compensatório e uma finalidade ou
efeito punitivo.
Como é lógico, o juro só é estritamente compensatório se o seu
valor for igual ao do dano. Nesse caso, o juro será um modo de
indemnizar o credor, e não um modo de este enriquecer à custa do
devedor. Não será, portanto, um juro real, mas um juro meramente
nominal, e estará certamente fora do alvo das críticas que, ao longo da
história, os cristãos, os muçulmanos e os comunistas justificadamente
dirigiram contra o juro.
Se, pelo contrário, o juro for de valor superior ao do dano,
resultará no enriquecimento do credor à custa do devedor e,
correlativamente, no empobrecimento deste em benefício daquele.
Para este, o juro representará, pois, uma pena.
Foi assim que, na Idade Média, os legistas da escola de Bolonha
28
fizeram uma distinção entre “interesse” e “juro” (usurae). O primeiro,
consistindo na simples reparação do dano causado ao credor pela
mora do devedor, era considerado legítimo. O segundo, originando
um lucro para o credor, era tido por ilegítimo.45 Hoje, porém, o termo
“juro” é utilizado para designar ambas as figuras.
Uma das funções do juro é a de indemnização pela mora no
cumprimento de obrigações pecuniárias. Assim dispõe o n.º 1 do
artigo 795.º:
“Na obrigação pecuniária a indemnização corresponde aos juros
a contar do dia da constituição em mora.”
Trata-se dos juros de mora (ou juros moratórios). E qual é o seu
montante? A isso responde o n.º 2 do mesmo artigo:
“Os juros devidos são os juros legais, salvo se antes da mora for
devido um juro mais elevado ou as partes houverem estipulado um
juro moratório diferente do legal.”
Esta disposição reflecte, aliás, a regra geral constante do artigo
552.º/1, segundo a qual “os juros (…) estipulados sem determinação
de taxa são fixados por portaria do Chefe do Executivo.”
Estes juros valem como montante mínimo da indemnização, e
não como montante ne varietur, pois o n.º 3 do artigo 795.º diz o
seguinte:
“Pode, no entanto, o credor provar que a mora lhe causou dano
consideravelmente superior aos juros referidos no número anterior e
exigir a indemnização suplementar correspondente.”
Se, pelo contrário, o valor do dano se quedar aquém do juro, a
“indemnização” devida será, mesmo assim, o juro. Mas a parte desse
juro que excede o valor do dano é uma pena, e não uma indemnização.
O valor do dano emergente da mora no cumprimento de uma
obrigação pecuniária coincide, regra geral, com o valor real que o
montante em dívida perdeu em consequência da inflação. Por isso,
para ter um efeito meramente compensatório, a taxa de juro deveria,
em princípio, coincidir com a taxa de inflação.
Para tanto, seria necessário que, por um lado, a taxa de juro legal
fosse fixada periodicamente com valor equivalente ao da taxa de
inflação prevista para o período correspondente (não haveria, portanto,
juro legal real), e, por outro lado, que a taxa de juro convencional só
pudesse exceder a taxa de juro legal na medida do estritamente
45
António Pinto Monteiro, obra citada, página 374.
29
necessário para compensar danos não cobertos pela taxa legal (v.g.
desvalorização cambial lesiva para o credor). Ora, nada disto acontece.
Quanto ao juro legal, o valor da sua taxa era anteriormente de
9,5% (artigo 1.º da Portaria n.º 330/95/M, de 26 de Dezembro).
Quando este valor foi fixado, em 1995, a taxa de inflação rondava os
9%46, pelo que a taxa de juro legal real era de apenas 0,5%. Mas, nos
anos seguintes, a taxa de inflação caiu a pique, tendo chegado aos
0,2% em 199847. Depois disso caiu em ainda mais, passando a ser
ligeiramente negativa. Esta situação, aliada à variação cambial
positiva da pataca, tem favorecido amplamente os credores de juros,
nomeadamente as instituições de crédito, ao mesmo tempo que tem
penalizado fortemente os devedores de juros, em especial os
trabalhadores, cujos salários têm estado muito longe de aumentar
9,5% ao ano.
Recentemente, foi publicada uma ordem executiva que reduziu o
valor da taxa de juro legal para 6%. Trata-se da Ordem Executiva n.º
9/2002, publicada em 1 de Abril de 2002. Este diploma, publicado no
Dia das Mentiras, é, realmente, de uma fiabilidade algo questionável,
já que assume uma forma jurídica inadequada. O artigo 552.º/1 do
Código Civil manda fixar a taxa de juro legal por meio de portaria.
Ora, não há nenhuma lei que tenha, explícita ou implicitamente,
mandado interpretar as referências às portarias como referências a
ordens executivas. Assim, se se entender que a interpretação
sistemática e actualista de tais referências exige a substituição de
“portaria” por algum outro tipo de diploma, essa substituição deverá
ser feita, em nosso entender, a favor da figura do regulamento
administrativo, e não da ordem executiva. É que a portaria constituía,
no quadro do sistema de actos jurídico-públicos vigente à data da
aprovação do Código Civil, a categoria mais elevada de regulamento
administrativo. Dentro do sistema de actos jurídico-públicos instituído
após a Reunificação, esse lugar (isto é, o lugar cimeiro na hierarquia
dos actos regulamentares) passou a ser ocupado pelo regulamento
administrativo, o que é testemunhado, nomeadamente, pelo facto de a
sua aprovação ter de ser precedida de consulta ao Conselho Executivo
(artigo 58.º da Lei Básica). Assim sendo, a ordem executiva - que,
pela sua designação, deveria constituir uma modalidade de acto
político ou de acto administrativo, mas não de regulamento
46
Índice de preços no consumidor, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 1998,
página 49.
47
Idem, página 17.
30
administrativo - situa-se necessariamente num escalão inferior ao do
regulamento administrativo; logo, situa-se também num escalão
inferior ao da portaria, não podendo nem substituí-la nem revogá-la,
alterá-la ou suspendê-la.
Em todo o caso, quer se considere que a taxa de juro legal hoje
vigente é de 9,5% ou de 6%, ela é certamente muito superior à taxa de
inflação e à taxa de aumento salarial. Ela faculta aos credores um
enriquecimento sem causa à custa dos devedores, sendo, por isso,
materialmente usurária. Para os devedores, é uma verdadeira pena.
O que se disse dos juros de mora é extensivo, mutatis mutandis,
aos juros emergentes dos contratos de mútuo. É claro que, se o
mutuante for uma instituição de crédito, esta, para não sofrer danos
com a sua actividade, tem de cobrar juros de taxa superior à da
inflação, de modo a pagar os custos do seu próprio serviço (salários,
preço dos equipamentos, etc.). Mas, se o juro exceder o valor
estritamente necessário para o autofinanciamento do serviço de mútuo,
ele estará a provocar um enriquecimento sem causa do mutuante à
custa do mutuário, representando, para este, não o mero reembolso do
valor real da quantia mutuada acrescido do pagamento do serviço de
mútuo, como seria justo, mas uma autêntica pena. E uma pena cuja
causa terá sido um acto lícito – a contracção do empréstimo -, e não
um acto ilícito, como por exemplo um furto. Comparem-se, no entanto,
as penas devidas por empréstimos e as penas devidas por furtos…
Perante o exposto, concluímos que a norma que fixa a taxa de
juro legal colide frontalmente com o princípio da justiça: quebra a
justiça comutativa (igualdade de prestações) na relação jurídicoeconómica entre o credor e o devedor; autoriza o credor a inhoneste
vivere à custa do devedor, apropriando-se do respectivo suum, o que
implica laedere este último; e viola, por conseguinte, o princípio da
proibição do enriquecimento sem causa.
Ora, como o princípio da proibição do enriquecimento sem causa
está consagrado no Código Civil (artigo 467.º), que foi aprovado por
decreto-lei, enquanto que aquela taxa foi aprovada por uma simples
ordem executiva, pode-se afirmar, sem dificuldade, que a disposição
que fixa essa taxa é ilegal, tal como, aliás, a portaria que ela veio
substituir
4. Penas fixadas por sentença judicial
4.1. Sanção pecuniária compulsória
31
4.1.1. Considerações gerais
Vamos agora falar da sanção que no Código Civil é denominada
“sanção pecuniária compulsória” (em chinês, 強 迫 性 金 錢 處 罰
qiangpoxing jinqian chufa).
Trata-se de uma sanção aplicada pelo tribunal, cujo conteúdo é
definido no n.º 1 do artigo 333.º (o itálico é nosso):
“O tribunal, em acréscimo à condenação do devedor no
cumprimento da prestação a que o credor tenha contratualmente
direito, à cominação de pôr termo à violação de direitos absolutos ou à
condenação na obrigação de indemnizar, pode, a requerimento do
titular do direito violado, condenar o devedor a pagar ao ofendido uma
quantia pecuniária por cada dia, semana ou mês de atraso culposo no
cumprimento da decisão ou por cada infracção culposa, conforme se
mostre mais conveniente às circunstâncias do caso; a culpa no atraso
do cumprimento presume-se.”
Esta figura tem por fonte imediata a sua homónima portuguesa,
que está prevista e regulada no artigo 829.º-A do Código Civil
português vigente. Como este artigo só foi introduzido nesse Código
em 1983, através do Decreto-Lei n.º 262/83, de 16 de Junho, e este
diploma nunca foi estendido a Macau, o texto do Código Civil
português que aqui vigorava nunca chegou a conter aquela disposição.
A sanção pecuniária compulsória do tipo previsto no artigo 333.º do
Código Civil de Macau só foi introduzida no ordenamento jurídico do
território com a entrada em vigor desse Código, no dia 1 de Novembro
de 1999.
A introdução da sanção pecuniária compulsória no direito
português ocorreu na sequência de estudos e propostas feitas por Rui
de Alarcão e por Mota Pinto.48 Este último era, aliás, o Vice-PrimeiroMinistro do Governo que aprovou o citado Decreto-Lei.
Esses dois autores inspiraram-se sobretudo na figura francesa da
astreinte (“adstrição”), mas também tiveram em conta figuras afins
existentes noutros ordenamentos.
Mota Pinto, numa das suas obras49 , apresenta três modelos de
“medidas de coerção indirecta”: o francês, o alemão e o angloamericano. A esses acrescentamos um quarto – o da República
Popular da China.
48
49
Pinto Monteiro, obra citada, página 111.
Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 3ª edição, Coimbra Editora,
1993, página 186.
32
Vamos, pois, ver em traços gerais cada um destes quatro modelos
e, depois, os regimes jurídicos da sanção pecuniária compulsória em
Portugal e em Macau.
4.1.2. Figuras homólogas ou afins no direito comparado
4.1.2.1. Direito francês
A astreinte, a que há pouco fizemos referência, é uma medida
coercitiva pela qual um tribunal condena o devedor de uma obrigação,
em especial quando se trate de uma obrigação de fazer que apresente
um carácter pessoal, a pagar ao credor uma soma relativamente
elevada por cada dia (ou semana, ou mês) de atraso no cumprimento
daquela obrigação. 50 O tribunal pode aplicar esta sanção mesmo
oficiosamente.51
Esta figura surgiu na prática jurisprudencial dos tribunais
franceses no século XIX, mas, como não tinha cobertura legal, “era
decretada, de início, como se fosse uma indemnização, a fim de evitar
os protestos e as objecções radicadas no facto de constituir uma
prática ilegal”, relata Pinto Monteiro52.
“Aos poucos, contudo” - prossegue o autor – “ela foi deixando a
descoberto a sua verdadeira face e a jurisprudência ganhando coragem
na afirmação da sua autonomia em face da indemnização”.53
A figura ganhou consagração legal em 1972, através da lei de 5
de Julho desse ano, tendo posteriormente sido adoptada na Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Suíça, Suécia e Itália.54
4.1.2.2. Direito alemão
Como explica Mota Pinto, os artigos 888 e 890 do Código do
Processo Civil alemão “estabelecem, para as obrigações de facto
positivo infungível e para as obrigações de prestação de facto negativo,
que o tribunal deve declarar, a requerimento do credor, estar o
devedor obrigado ao cumprimento do acto ou à omissão sob a ameaça
50
Jean Carbonnier, Droit Civil, tomo 4 (Les Obligations), Presses Universitaires de France,
Paris, 1994, página 582.
51
Idem, página 583.
52
Pinto Monteiro, obra citada, página 118.
53
Ibidem.
54
Idem, página 120.
33
de uma sanção pecuniária (Zwangsgeld; Ordnungsgeld) ou sob a
ameaça de prisão (Zwangshaft; Ordnungshaft)”.
O modelo alemão difere do francês em quatro aspectos:
— é mais restrito quanto ao âmbito de infracções visado, pois
que se limita a punir o incumprimento de obrigações de facto
positivo infungível ou de facto negativo;
— é mais amplo quanto ao âmbito de sanções que comporta,
porquanto, além da sanção pecuniária, inclui uma sanção
privativa da liberdade;
— é mais publicístico quanto ao beneficiário da pena, na medida
em que o produto da sua aplicação reverte integralmente para
o Estado, ao passo que no sistema francês reverte para a
contraparte;
— é mais privatístico quanto à iniciativa, porquanto a aplicação
da sanção depende do requerimento do credor, enquanto que
no sistema francês pode ser feita oficiosamente.
— Sistema semelhante ao alemão existe na Áustria.
4.1.2.3. Direito inglês e americano
O terceiro modelo apresentado por Mota Pinto “é o sistema
anglo-americano do contempt of court (“desprezo pelo tribunal”)”.
Se o obrigado, tendo sido condenado à execução específica de
uma obrigação de conteúdo positivo (specific performance) ou a uma
abstenção ou inibição (injunction), não acatar essa decisão, pode a
contraparte (o credor da obrigação ou o titular do direito lesado)
requerer ao juiz que o obrigado inadimplente seja declarado incurso
em contempt of court e, consequentemente, condenado a prisão e/ou
ao pagamento de uma multa.
O modelo anglo-americano compartilha com o alemão as
seguintes características:
— compreende a sanção de prisão, além da multa;
— a sanção só pode ser aplicada a requerimento do credor, não o
podendo ser por iniciativa do próprio tribunal;
— o produto da aplicação da sanção reverte para o Estado, e não
para a contraparte.
Estes modelos divergem, contudo, no leque de infracções que
abrangem. Ambos sancionam o incumprimento de obrigações de
conteúdo negativo, mas diferem em relação ao incumprimento de
obrigações de conteúdo positivo.
34
Assim, o modelo alemão só contempla as obrigações de facto
infungível, deixando de fora as obrigações de facto fungível e as
obrigações de dare, ao passo que o modelo anglo-americano é
aplicável a qualquer obrigação em cuja execução específica o devedor
tenha sido condenado.
Esta diferença coenvolve uma outra, relativa ao modo de
articulação entre a execução específica e a sanção compulsória:
enquanto que no sistema alemão a sanção compulsória serve
precisamente, e apenas, para os casos em que está vedado ao credor o
caminho da execução específica (por se tratar de uma obrigação de
facto infungível), no sistema anglo-americano ela pressupõe e
complementa uma ordem judicial de execução específica, servindo de
punição pelo seu incumprimento.
4.1.2.4. Direito da República Popular da China
A lei que contém os “Princípios Gerais de Direito Civil da
República Popular da China” (中華人民共和國民法通則 Zhonghua
Renmin Gongheguo Minfa Tongze), aprovada no dia 12 de Abril de
1986, contém duas disposições referentes a punições aplicáveis a
ilícitos civis.
Vejamo-las:
— artigo 110: “Os cidadãos ou pessoas colectivas que incorram
em responsabilidade civil serão também responsabilizados
administrativamente sempre que tal seja considerado
necessário (…)”55;
— artigo 134, último parágrafo: “O tribunal popular, ao julgar
casos civis, (…) pode dirigir ao réu uma admoestação ou
ordenar-lhe que assine uma declaração de arrependimento
(…); também pode condená-lo ao pagamento de uma multa
ou a detenção, nos termos da lei.”56
A leitura desta lei e, em particular, das normas acima
reproduzidas leva-nos a fazer algumas observações.
Em primeiro lugar, a lei chinesa permite que ilícitos meramente
civis sejam judicialmente punidos com uma pena privativa de
55
A tradução e o sublinhado são nossos. A redacção original é: “對承擔民事責任的公民、
法人需要追究行政責任的,應當追究行政責任 (…).”
56
A tradução e os sublinhados são nossos. A redacção original é: “人民法院審理民事案件,
除适用上述規定外,還可以予以訓誡、責令具結悔過 (…),并可以依照法律規定處
以罰款、拘留。”
35
liberdade: a detenção (拘留 juliu). Neste aspecto é idêntica ao direito
americano, inglês, alemão e austríaco.
Em segundo lugar, a lei chinesa também admite sanções como a
admoestação (訓誡 xunjie) e a assinatura de uma declaração de
arrependimento (具結悔過 jujie huiguo), o que não se verifica nos
outros ordenamentos analisados.
Em terceiro lugar, a lei chinesa permite que a responsabilidade
civil origine responsabilidade administrativa. Neste ponto, também
difere dos ordenamentos jurídicos ocidentais e é incompatível com
dois princípios neles consagrados:
— por um lado, o princípio da separação de poderes, porquanto
é aos tribunais que cabe, em geral, dirimir os litígios e, em
particular, apreciar os ilícitos civis, determinar a
responsabilidade civil e fixar as respectivas consequências;
— por outro lado, o princípio da legalidade da administração,
pois os ilícitos civis beneficiam do regime do numerus
apertus e, portanto, se as entidades administrativas pudessem,
à sua discrição, aplicar-lhes sanções administrativas, a sua
actividade sancionatória deixaria de ter um âmbito
claramente definido pela lei.
Em quarto lugar, as sanções previstas nesta lei são triplamente
públicas: quer quanto ao autor (pois, tal como nos sistemas ocidentais,
são aplicadas por entidades públicas), quer quanto ao beneficiário
(pois, tal como nos sistemas alemão e anglo-americano, o produto da
sua aplicação reverte a favor do Estado), quer ainda quanto à
iniciativa (já que, tal como no sistema francês, a sua aplicação pode
ser feita independentemente de requerimento do credor). É o que nos
parece resultar da leitura das normas acima reproduzidas. Aquelas
sanções não são, portanto, de nenhum modo, penas privadas, ao
contrário do que sucede na França e, como veremos, em Macau.
Em quinto lugar, estas sanções aparecem legalmente enquadradas
no âmbito da responsabilidade civil.
As normas acima transcritas encontram-se no capítulo VI do
diploma em análise, que tem como epígrafe “Responsabilidade civil”
(民事責任 Minshi zeren). Parece, portanto, não se fazer a distinção,
presente noutros ordenamentos, entre a responsabilidade civil
propriamente dita, que tem como pressuposto a verificação de um
dano, como medida o valor do dano e como consequência a obrigação
de reparar o dano, e os chamados “meios de coerção indirecta”, cujo
funcionamento é independente de qualquer dano.
36
Esta impressão é confirmada pelo artigo 106 da mesma lei, que
diz em que situações é que uma pessoa incorre em responsabilidade
civil. Eis o artigo:
“Um cidadão ou uma pessoa colectiva que viole um contrato ou
que falte ao cumprimento de outras obrigações incorre em
responsabilidade civil. Um cidadão ou pessoa colectiva que viole
culposamente a propriedade do Estado, a propriedade de uma
colectividade ou a propriedade ou integridade física de outra pessoa
incorre em responsabilidade civil.Um cidadão pode incorrer em
responsabilidade civil independentemente de culpa, se a lei assim o
determinar.” 57 No segundo parágrafo, relativo à violação de direitos
absolutos (direitos reais e direitos de personalidade), há, na versão
chinesa, uma referência quase explícita ao dano: ela manifesta-se na
utilização da palavra 侵害 qinhai (acima traduzida como “violar”),
cujo segundo carácter (害 hai) significa “prejudicar” ou “dano” (損害
sunhai).
Pelo contrário, no primeiro parágrafo, concernente a relações
obrigacionais, não há qualquer referência, nem explícita nem
implícita, a danos.
Isto parece-nos ser demonstrativo de que a “responsabilidade
civil” da lei chinesa não tem como pressuposto indispensável a
verificação de um dano, nem tem como finalidade única a reparação
de um dano.
Esta diferença entre o sistema chinês e os sistemas anteriormente
analisados poderia parecer apenas uma questão de nome. Com efeito,
os chamados “meios de coerção indirecta” existentes nos sistemas
ocidentais, embora autonomizados pela lei e pela doutrina em relação
à responsabilidade civil, são sempre formas de efectivação da
responsabilidade civil, na medida em que representam reacções
jurídicas a ilícitos meramente civis. São, portanto, formas não
compensatórias de efectivação da responsabilidade civil, contidas em
sistemas de responsabilidade civil que já postergaram a sua natureza
puramente reparatória.
57
A tradução e o sublinhado são nossos. A redacção original é:
“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。
公民、法人由于過錯侵害國家的、集体的財產,侵害他人財產,人身的,應當承擔
民事責任。
沒有過錯,但法律規定應當承擔民事責任的,應當承擔民事責任。”
37
Só que a autonomização dos chamados “meios de coerção
indirecta” em relação à responsabilidade civil pode ter a vantagem de
deixar mais clara a seguinte garantia: a possibilidade, que há na
responsabilidade civil, de se prescindir da culpa não pode ser
estendida aos tais “meios de coerção indirecta”, porque estes são
penas e, como tal, estão sujeitos ao princípio nulla poena sine culpa.
Ora, a lei chinesa, nas disposições em que prevê a possibilidade de
uma pessoa que cometeu uma infracção civil vir a sofrer a aplicação
de uma sanção administrativa (artigo 110) ou de uma sanção judicial
de multa ou de prisão (artigo 134), só condiciona a aplicação dessas
sanções à verificação da própria responsabilidade civil, além da
discrição da entidade sancionadora. E, como já vimos, a
responsabilidade civil não depende necessariamente de culpa (artigo
106, último parágrafo).
Isto significa que este diploma não oferece garantias suficientes
de que as medidas punitivas previstas nos artigos 110 e 134 não
possam ser aplicadas sem estar comprovada a culpa do infractor. De
qualquer modo, como não conhecemos o sistema jurídico chinês no
seu conjunto, não ousamos afirmar que essa garantia não exista – pode
ser que esteja consagrada em outro diploma. Aliás, o artigo 134, na
parte em que se refere às penas de multa e de prisão, diz
explicitamente que o tribunal as pode decretar “nos termos da lei”.
Parece estar a aludir a uma legislação complementar.
Em suma, e tendo em conta o diploma que acabámos de analisar,
o sistema da República Popular da China parece ir ainda mais longe
que o anglo-americano na amplitude com que admite a aplicação de
penas pecuniárias ou prisionais a infracções meramente civis. Nenhum
desses sistemas restringe o âmbito das infracções civis puníveis, mas o
sistema anglo-americano condiciona a aplicação dessas penas à
desobediência a uma anterior sentença judicial, ao passo que a lei
chinesa que estudámos nem sequer tal condicionamento estabelece.
Além disso, o sistema chinês permite a responsabilização
administrativa fundada em responsabilidade civil, enquanto que o
sistema anglo-americano, tanto quanto saibamos, não prevê tal
responsabilização.
4.1.2.5. Direito português
O Decreto-Lei n.º 262/83, de 16 de Junho, aditou ao Código Civil
a seguinte disposição (o sublinhado é nosso):
38
Artigo 829.º-A
(Sanção pecuniária compulsória)
1. Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou
negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou
artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor,
condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por
cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme
for mais conveniente às circunstâncias do caso.
2. A sanção pecuniária compulsória prevista no número
anterior será fixada segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo
da indemnização a que houver lugar.
3. O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se,
em partes iguais, ao credor e ao Estado.
4. Quando for estipulado ou judicialmente determinado
qualquer pagamento em dinheiro corrente, são automaticamente
devidos juros à taxa de 5% ao ano, desde a data em que a sentença
de condenação transitar em julgado, os quais acrescerão aos juros
de mora, se estes forem também devidos, ou à indemnização a que
houver lugar.
Este artigo prevê dois tipos de penas privadas quanto ao
beneficiário: uma sanção pecuniária compulsória judicial (n.ºs 1 a 3) e
uma sanção pecuniária compulsória legal, mais precisamente um juro
legal sancionatório (n.º 4).
Da segunda não falaremos agora, porque lhes são extensivas as
considerações já tecidas a propósito do juro legal materialmente
usurário (ponto 3.2.). Efectivamente, o juro previsto no n.º 4 do artigo
acima reproduzido acresce ao juro compensatório devido pela mora,
pelo que se configura como uma verdadeira pena. É, por conseguinte,
materialmente usurário.
Vamos analisar apenas a sanção pecuniária compulsória judicial.
Em primeiro lugar, esta sanção é, como o nome revela,
exclusivamente pecuniária, não podendo nunca consistir noutro tipo
de pena. Não pode, nomeadamente, consistir na pena de prisão. Neste
aspecto, o sistema português, subordinado ao princípio constitucional
da mínima restrição da liberdade, assemelha-se ao francês e distinguese dos sistemas alemão, anglo-americano e da República Popular da
China.
39
Em segundo lugar, esta sanção só pode ser aplicada no caso de
incumprimento de obrigações de facto infungível, nisto se
aproximando do sistema alemão. Esta prudente demarcação não foi
adoptada pelo Código Civil de Macau.
O que justifica a demarcação deste âmbito?
As obrigações de facto infungível são exactamente as que não
podem ser objecto de execução específica. Com efeito, a execução
específica, para não bulir com a liberdade pessoal do devedor, não
pode consistir em coagir directamente o devedor a praticar
determinado facto (recorde-se a já citada máxima nemo praecise
potest cogi ad factum), devendo antes traduzir-se na prestação do
facto por outrem à custa do património do devedor (execução subrogatória). Ora, se o facto é infungível, a substituição do devedor por
outrem na sua prática não é possível, o que significa que a via da
execução específica fica vedada. Por isso mesmo, o legislador
entendeu necessário criar, para esse caso, um mecanismo de coerção
indirecta, traduzido na imposição de uma sanção pecuniária por cada
dia de atraso no cumprimento da obrigação ou por cada infracção.
A delimitação deste âmbito era imprescindível para
compatibilizar a sanção pecuniária compulsória com o princípio
constitucional da necessidade, segundo o qual as restrições de direitos,
liberdades e garantias, ou de direitos de natureza análoga a eles,
devem “limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou
interesses constitucionalmente protegidos” (artigo 18.º/2, extensivo
aos direitos de natureza análoga por força do artigo 17.º).
Reconhecendo o facto óbvio de que as disposições que estabelecem
penas patrimoniais (como a sanção pecuniária compulsória) são
normas restritivas do direito de propriedade, e aceitando a premissa de
que o direito de propriedade é um direito de natureza análoga aos
direitos, liberdades e garantias, como é normalmente propugnado pela
doutrina, não podia o legislador deixar de atender ao artigo 18.º/2, e
ao princípio da necessidade nele contido, na regulamentação da
sanção pecuniária compulsória. De qualquer modo, parece-nos que a
própria existência da sanção prevista no artigo 829.º-A já infringe, por
si só, o princípio da necessidade, pois que, para a tutela que ela
pretende dar aos bens jurídicos do credor que eventualmente tenham
sido lesados, são suficientes os meios que já estavam previstos no
Código, em especial a indemnização pelos danos causados (artigo
798.º) e a excepção de não cumprimento do contrato (artigo 428.º).
Em terceiro lugar, a sanção não pode ser aplicada no caso de a
obrigação em falta exigir especiais qualidades científicas ou artísticas
40
do obrigado. Compreende-se esta excepção: as actividades científicas
e artísticas têm de ser espontâneas, quer por respeito pela liberdade de
criação científica e artística do obrigado, quer para garantia da
própria qualidade da prestação, se vier a ser realizada. Vejamos as
palavras de Pinto Monteiro:
“Terá pretendido o legislador, com esta limitação, exceptuar os
casos em que a personalidade do devedor seria particularmente tocada,
com possíveis reflexos negativos, de vária ordem, se a criação
intelectual, no domínio literário, artístico ou científico – dependente,
em larga medida, de condições subjectivas, impossíveis de controlar –
pudesse ficar sujeita a qualquer tipo de coerção.”58
Esta exclusão era, por isso, necessária para, por um lado, se
evitar a violação da liberdade de criação intelectual (artigo 42.º da
Constituição) e, por outro lado, se garantir a observância do princípio
da adequação, aplicável à restrição de direitos, liberdades e garantias
(artigo 18.º/2 da Constituição) e de direitos análogos (artigo 17.º).
Segundo este princípio, as restrições devem consistir apenas no que
for adequado à prossecução dos seus próprios fins.59
Em quarto
lugar, o artigo 829.º-A aplica-se a um conjunto não tipificado de
incumprimento de obrigações. Isto significa que os pressupostos da
aplicação da sanção pecuniária compulsória, em vez de estarem
fixados na lei, são fixados pela fonte jurídica da obrigação incumprida,
a qual pode muito bem ser um simples contrato ou até um negócio
jurídico unilateral. Isto colide com o princípio da tipicidade das
infracções puníveis. Veja-se o artigo 29.º/1 da Constituição:
“Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude
de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem sofrer
medida de segurança cujos pressupostos não sejam fixados em lei
anterior.”
Esta disposição, segundo o seu teor literal, refere-se apenas às
infracções criminais. Aliás, a epígrafe do artigo 29.º é “Aplicação da
lei criminal”.
No entanto, os seus princípios são extensivos a todo o direito
sancionatório, pois o fundamento desses princípios não é, certamente,
o facto de a lei criminal se chamar lei criminal, mas sim o facto de ela,
através da cominação de sanções, permitir a privação, total ou parcial,
58
59
Pinto Monteiro, obra citada, 125.
José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 4ª edição, Livraria Almedina,
Coimbra, 1989, página 487.
41
de determinados direitos fundamentais. Ou seja, a sua ratio é a defesa
dos direitos fundamentais susceptíveis de serem prejudicados pela
aplicação de penas.
Ora, esses direitos tanto podem ser prejudicados pela aplicação
de penas criminais, como pela aplicação de penas não criminais. Por
exemplo, a multa, que é uma sanção criminal, a coima, que é uma
sanção contra-ordenacional, e a sanção pecuniária compulsória, que é
uma sanção civil, atingem todas, e do mesmo modo, o direito de
propriedade. O facto de a infracção geradora da primeira se qualificar
de crime, a infracção geradora da segunda se qualificar de contraordenação e a infracção geradora da terceira ser o simples
incumprimento de uma obrigação civil é irrelevante para o direito de
propriedade do infractor. Por isso, o princípio nullum crimen sine lege
deve-se considerar extensivo a todos os tipos de infracções puníveis.
A negação dessa extensão redundaria no esvaziamento do
próprio princípio e na negação de um princípio com ela conexo – o
princípio nulla poene sine lege.
Com efeito, se um juiz, atendendo a que o incumprimento de
uma determinada obrigação contratual não está tipificado como crime
no Código Penal, não lhe aplicar a pena de multa, mas, com base no
artigo 829.º-A do Código Civil, lhe aplicar uma sanção pecuniária
compulsória, o princípio nullum crimen sine lege ficará reduzido a
uma simples questão de nome: o que terá sucedido é simplesmente
que, perante uma conduta que não se subsume a qualquer tipo legal de
infracção razoavelmente delimitado, o juiz se terá recusado a chamála de crime e a puni-la com uma multa, mas a terá reconhecido como
pressuposto para a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória e
lhe terá aplicado essa sanção. Isto significa também, obviamente,
negar o princípio nulla poena sine lege, de que falaremos daqui a
pouco.
Um outro argumento que podemos aduzir para demonstrarmos
que a não tipificação legal dos pressupostos da aplicação da sanção
pecuniária compulsória é inconstitucional é o facto de todas as
restrições de direitos, liberdades e garantias, incluindo as restrições
sem intuito punitivo, estarem subordinadas ao princípio da reserva de
lei.
De acordo com este princípio, essas restrições só são válidas se
constarem de leis – de leis que o sejam simultaneamente em sentido
42
material (artigo 18.º/3 60 ) e em sentido formal (artigo 168.º/1, b),
segundo o texto de 1982, e 165.º/1, b), segundo o texto actual, datado
de 199761).
O princípio da reserva de lei é extensivo aos direitos de natureza
análoga aos direitos, liberdades e garantias (artigo 17.º). Entre esses
direitos de natureza análoga conta-se, reconhecidamente, o direito de
propriedade62, em virtude de se tratar de um direito cujo exercício se
traduz numa liberdade perante o Estado e perante terceiros, tal como
sucede com os direitos, liberdades e garantias, e não na obtenção de
uma prestação do Estado ou de terceiro, como acontece com a
generalidade dos direitos económicos, sociais e culturais.
O artigo 829.º-A do Código Civil, na medida em que permite ao
juiz atacar o direito de propriedade do devedor com base em
pressupostos não fixados em lei, está a violar o princípio
constitucional da reserva de lei. É, por isso, materialmente
inconstitucional.
É óbvio que este juízo não se pode estender à obrigação de
indemnizar. As infracções susceptíveis de acarretarem a obrigação de
indemnizar também estão sujeitas ao princípio do numerus apertus.
Só que essa obrigação, como já vimos, é uma derivação da justiça
comutativa - e, portanto, do princípio da igualdade. Estando
historicamente superada a pena de talião, a obrigação de indemnizar é
a única forma de repor a justiça comutativa, quando esta é quebrada
por um acto danoso. É, por isso mesmo, um mecanismo indispensável
de tutela jurídica do direito da parte lesada. Sendo uma consequência
necessária de princípios e direitos fundamentais, ela não pode ficar
subordinada ao regime do numerus clausus. O que interessa é que a
indemnização imposta seja uma verdadeira indemnização, ou seja, que
o seu valor se cinja ao valor do próprio dano.
Em quinto lugar, e tal como nos restantes sistemas analisados, a
sanção pecuniária compulsória não está sujeita a qualquer moldura
legal que fixe os limites mínimo e máximo, ou pelo menos o máximo,
entre os quais o tribunal poderia determinar, em concreto, o valor da
60
“As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e
abstracto (…)”.
61
“1. É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes
matérias, salvo autorização ao Governo: … b) Direitos, liberdades e garantias”.
62
A extensão do regime dos direitos, liberdades e garantias ao direito de propriedade só vale
para os casos em que a propriedade seja verdadeiramente um direito, e não um privilégio.
Sobre isto, ver infra, ponto 5.2.1.
43
sanção. Esta ausência de limites legais ofende, em nosso entender, o
princípio da legalidade das penas (nulla poene sine lege), consagrado
no n.º 3 do artigo 29.º da Constituição63.
Já vimos que, embora o artigo 29.º tenha como epígrafe
“Aplicação da lei criminal”, os seus princípios são extensivos a todo
o direito sancionatório, já que a sua ratio está na defesa de direitos
fundamentais que tanto podem ser prejudicados por sanções criminais
como por sanções não criminais. Por exemplo, as multas cominadas
pelo Código Penal e a sanção pecuniária compulsória prevista no
Código Civil têm, em relação ao direito de propriedade, o mesmo
efeito: através da sua imposição, o tribunal subtrai ao património do
devedor determinado valor, forçando-o a privar-se do direito de
propriedade sobre determinados bens. Se assim é, por que razão
haverá a multa de estar sujeita a um limite legal, mas não a sanção
pecuniária compulsória?
Além disso, o princípio da legalidade, como já vimos, é aplicável
a todas as formas de restrição de direitos, liberdades e garantias e de
direitos de natureza análoga, até mesmo às formas não sancionatórias
de restrição. Ele também é, por isso, aplicável à sanção pecuniária
compulsória. Assim sendo, é num acto legislativo - material e
formalmente legislativo - que têm de ser definidos os elementos
essenciais da sanção pecuniária compulsória, incluindo os seus limites.
Com base no exposto, consideramos que o artigo 829.º-A é
materialmente inconstitucional, na parte em que não fixa qualquer
limite máximo para a sanção. E, aplicando a esta figura mais um dos
brocardos de Feuerbach – nullum crimen sine poena legali -, podemos
dizer que, não fixando limites ao seu valor, o artigo 829.º-A torna
inoperante a sanção que ele próprio institui. A menos que o juiz
desrespeite a Constituição, claro.
Em sexto lugar, a sanção só pode ser aplicada quando haja
simples mora no cumprimento, não podendo ser aplicada em situações
de incumprimento definitivo. Vejamos, de novo, a explicação de Pinto
Monteiro:
“(…) a sanção pecuniária compulsória só será estabelecida se
puder cumprir a sua função de meio compulsório. Tal não acontecerá
perante situações de inadimplemento definitivo ou de impossibilidade
de cumprimento, pelo que só em caso de mora ela é susceptível de ser
63
Este preceito diz: “Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não
estejam expressamente cominadas em lei anterior.”
44
aplicada. Limitação esta que, apesar de não estar expressa na lei,
decorre da própria ratio da figura. Pelos mesmos motivos, a sanção
pecuniária compulsória deixará de ser devida a partir do momento em
que se impossibilite o cumprimento da prestação, seja qual for a causa
(imputável ou não ao devedor) dessa impossibilidade.”64
Esta limitação é imposta pelo princípio constitucional da
adequação, ao qual se têm de subordinar as restrições de direitos,
liberdades e garantias (artigo 18.º/2) ou de direitos de natureza
análoga (artigo 17.º).
Em sétimo lugar, a sanção só pode ser aplicada a requerimento
do credor. É uma solução idêntica à consagrada no direito alemão,
inglês e americano, e diferente da do sistema francês, onde o tribunal
pode aplicar a astreinte oficiosamente.
Em oitavo lugar, o produto da sanção é repartido em partes iguais,
ficando metade para o credor e metade para o Estado. É uma solução
intermédia entre a solução do sistema francês, que atribui o produto ao
credor, e a do sistema anglo-americano, que o atribui ao Estado.
Podemos, por isso, dizer que a sanção pecuniária compulsória prevista
no artigo 829.º-A do Código Civil português é, quanto ao beneficiário,
uma pena semi-pública, ou semi-privada, e não uma pena privada.
De qualquer modo, na medida em que atribui uma parte da
receita ao credor, está a permitir que este se locuplete à custa do
devedor, o que ofende o princípio da proibição do enriquecimento sem
causa e contraria, por consequência, o princípio da justiça comutativa
e os já citados preceitos honeste vivere, alterum non laedere e suum
cuique tribuere.
Em nono lugar, e para terminar, o artigo 829.º-A é formal e
organicamente inconstitucional, porquanto a regulação de matérias
relativas a direitos, liberdades e garantias, ou de direitos de natureza
análoga, era, e é, da exclusiva competência da Assembleia da
República, salvo autorização legislativa ao Governo. Assim dispunha
o já referido artigo 168.º/1, b) do texto constitucional então vigente,
datado de 1982 (correspondente ao artigo 165.º/1, b) do texto actual,
datado de 1997). Essa norma é extensiva aos direitos de natureza
análoga, incluindo o direito de propriedade, em virtude do já referido
artigo 17.º.
Estas regras organicamente inconstitucionais não afectam as
normas cujo conteúdo seja favorável a um direito fundamental, pois o
64
Pinto Monteiro, obra citada, páginas 125 e 126.
45
artigo 16.º/1 da Constituição afirma que “os direitos fundamentais
consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”. Isto significa
que as leis (incluindo os decretos-leis) podem acrescentar ou ampliar
os direitos fundamentais consignados na Constituição (é a chamada
“cláusula aberta dos direitos fundamentais”); o que não podem é
restringi-los, excepto nos casos previstos na própria Constituição.
Ora, o artigo 829.º-A, como já vimos, contém normas restritivas
do direito de propriedade, e foi enxertado no Código Civil através de
um decreto-lei que não se fundou em qualquer autorização legislativa
da Assembleia da República. Não havendo esta autorização, a norma
que enxertou o artigo 829.º-A no Código Civil só poderia ter sido
aprovada por lei da Assembleia da República. Como foi aprovada por
decreto-lei do Governo, é formal e organicamente inconstitucional, o
mesmo se passando com o próprio artigo 829.º-A do Código Civil, já
que faz parte integrante daquela norma.
4.1.3. Sanção pecuniária compulsória e prisão compulsória
Analisámos atrás cinco modelos de penas civis judiciais e vimos
que há entre eles algumas diferenças. De entre essas diferenças, a mais
sonante é, na nossa perspectiva, a que se refere ao tipo de penas civis
admissíveis. Com base nesse critério, agrupamos esses modelos em
dois sistemas sancionatórios civis:
— o sistema sancionatório civil meramente patrimonial, em que
as infracções civis só são puníveis com sanções de carácter
patrimonial, nomeadamente pecuniário, excluindo-se as
penas privativas da liberdade (é o sistema existente no direito
francês, português e macaense);
— o sistema sancionatório civil patrimonial e prisional, em que
as infracções civis tanto podem ser punidas com sanções
patrimoniais como com penas privativas da liberdade (é o
sistema que vigora na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra,
nos Estados Unidos e na República Popular da China).
A prisão pelo incumprimento de obrigações civis era uma sanção
típica do capitalismo primitivo. Ela tinha vindo substituir a redução à
servidão, pena que, no modo de produção feudal, era
generalizadamente aplicada aos camponeses endividados.
O posterior desenvolvimento do movimento operário e da luta
pelos direitos do homem, adentro da sociedade capitalista, veio a
repercutir-se indelevelmente no seu direito sancionatório. Uma das
46
conquistas desse processo foi a adopção do princípio da máxima
restrição das penas e medidas de segurança como elemento basilar
dos sistemas sancionatórios contemporâneos.
A prisão por dívidas não podia deixar de estar na mira dos que
pugnavam por essa “deflação” do direito sancionatório, e o repúdio
que tal pena lhes merecia viria a reflectir-se, ainda que de forma
tortuosa e minimalista, no artigo 11.º do Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos:
“Ninguém pode ser aprisionado pela única razão de que não está
em situação de executar uma obrigação contratual.”
Dizemos que este artigo exprime aquele repúdio de uma forma
tortuosa, porque, em vez de dizer “por não executar”, diz “pela única
razão de que não está em situação de executar” (em inglês, “merely on
the ground of inability to fulfil”). Uma interpretação literal deste
preceito permitiria prender um devedor insolvente e inadimplente com
a alegação de que esse aprisionamento não seria motivado apenas pela
sua insolvência, mas pelo facto de, além de estar insolvente, não ter
pago a dívida. Ou seja, parece que a única preocupação daquela norma
é garantir que a aplicação da pena de prisão resulte de um facto - o
incumprimento - e não de uma mera situação – a incapacidade de
cumprir. Mas isso seria uma garantia tão caricatamente diminuta que
ousamos afirmar que tal interpretação seria absurda e contrária às
finalidades do Pacto. Pensamos que a norma deve ser lida como se
dissesse o seguinte:
“Ninguém pode ser aprisionado por não executar uma obrigação
contratual, se não estiver em situação de a cumprir.”
Esta solução é, ainda assim, minimalista, porque só contempla a
hipótese de o devedor não cumprir a obrigação por não poder. Isto
significa que a norma mantém a possibilidade de se aprisionarem os
devedores que, podendo cumprir, não cumpram.
Já sabemos que existem outros meios, menos sacrificantes para o
devedor, de se tutelar o direito do credor, com igual ou maior eficácia
ou, pelo menos, com a eficácia suficiente:
— meios não punitivos, como a indemnização, a excepção de
não-cumprimento do contrato e a resolução do contrato
(acompanhada da restituição do que já houver sido prestado
pelo credor); e
— meios punitivos de natureza patrimonial, como aqueles que
temos estado a analisar neste trabalho.
Por isso, julgamos que o artigo 11.º do Pacto ainda deixa muito a
desejar em termos de defesa da liberdade e da justiça.
47
Um perigo especial que oferece a prisão pelo incumprimento de
obrigações contratuais ou por delitos civis é o facto de eles
beneficiarem do regime do numerus apertus. Ou seja, nem as
obrigações contratuais nem os delitos civis estão sujeitos ao princípio
da tipicidade, ao contrário do que sucede com os delitos criminais,
incluindo os que são punidos apenas com multa. Isto significa que, em
termos de conjunto, as condutas puníveis com pena de prisão deixam
de estar sujeitas ao princípio da tipicidade.
Quanto à sanção pecuniária compulsória, embora seja, em
princípio, menos gravosa para o devedor, pode revelar-se, na prática,
uma pena tão agressiva como a prisão por dívidas. Na verdade, uma
sanção pecuniária compulsória cujo montante obrigue o devedor a
trabalhar como um autêntico escravo durante anos a fio acabará por
ter um efeito tão limitativo da sua liberdade pessoal como uma pena
de prisão.
4.1.4. A sanção pecuniária compulsória em Macau
4.1.4.1. Regime jurídico
4.1.4.1.1. Semelhanças com o regime do Código Civil
português
Conforme já foi referido, o Decreto-Lei n.º 262/83, de 16 de
Junho, que, através do aditamento do artigo 829.º-A, introduziu a
sanção pecuniária compulsória no Código Civil português, não foi
estendido a Macau, pelo que o texto do Código Civil português que
então vigorava em Macau, e que continuou a vigorar até 31 de
Outubro de 1999, nunca chegou a conter aquela figura.
No decurso dos trabalhos de reforma do direito civil de Macau,
encetados em 1997 e coordenados por Luís Miguel Urbano, o
Governo do Território ouviu dos chamados “sectores económicos” (já
fortemente representados na Assembleia Legislativa) a pretensão de
verem consagrados na lei meios mais eficazes de compulsão dos
devedores ao pagamento das dívidas. O Governo decidiu satisfazer
essa pretensão através da introdução, no Código Civil de Macau, da
figura da sanção pecuniária compulsória.
Essa sanção encontra-se regulada no artigo 333.º, que a seguir
reproduzimos. Para facilitar a sua comparação com a disposição
homóloga do Código Civil português, voltamos a reproduzir o artigo
48
829.º-A desse Código.
Código Civil português
Código Civil de Macau
Livro II, título I, capítulo I
(“Cumprimento
e
não
cumprimento das obrigações”),
secção III (“Realização coactiva
da prestação”), subsecção II
(“Execução específica”)
Livro I, título II, subtítulo
IV (“Do exercício e tutela dos
direitos”),
capítulo
I
(“Disposições gerais”)
Artigo 829.º-A
Artigo 333.º
(Sanção pecuniária
compulsória)
(Sanção pecuniária
compulsória)
1. Nas obrigações de
prestação de facto infungível,
positivo ou negativo, salvo nas
que exigem especiais qualidades
científicas ou artísticas do
obrigado, o tribunal deve, a
requerimento
do
credor,
condenar
o
devedor
ao
pagamento de uma quantia
pecuniária por cada dia de atraso
no cumprimento ou por cada
infracção, conforme for mais
conveniente às circunstâncias do
caso.
1.
O
tribunal,
em
acréscimo à condenação do
devedor no cumprimento da
prestação a que o credor tenha
contratualmente
direito,
à
cominação de pôr termo à
violação de direitos absolutos
ou à condenação na obrigação
de indemnizar, pode, a
requerimento do titular do
direito violado, condenar o
devedor a pagar ao ofendido
uma quantia pecuniária por
cada dia, semana ou mês de
atraso culposo no cumprimento
ou por cada infracção culposa,
conforme se mostre mais
conveniente às circunstâncias
do caso; a culpa no atraso do
cumprimento presume-se.
2. A sanção pecuniária
compulsória não pode ser
estabelecida para o período
anterior ao trânsito em julgado
da sentença que a ordene, nem
para o período anterior à
liquidação da indemnização,
49
salvo se o devedor for
condenado por ter interposto
recurso com fins meramente
dilatórios, caso em que a
aplicação da sanção é reportada
à data da notificação da decisão
que a tenha cominado.
2. A sanção pecuniária
compulsória prevista no número
anterior será fixada segundo
critérios de razoabilidade, sem
prejuízo da indemnização a que
houver lugar.
3. A sanção pecuniária
compulsória só será cominada
quando o tribunal a considere
justificada e será fixada
segundo a equidade, atendendo
à condição económica do
devedor, à gravidade da
infracção e à sua adequação às
finalidades de compulsão ao
cumprimento.
3. O montante da sanção
pecuniária compulsória destinase, em partes iguais, ao credor e
ao Estado.
4. (refere-se
matéria)
a
outra
4. Não é aplicável a
sanção pecuniária compulsória
nos casos em que tenha sido
estabelecida uma cláusula
penal compulsória com os
mesmos fins, ou nas decisões
em que se condene o devedor
no cumprimento de uma
prestação de facto infungível,
positivo ou negativo, que exija
especiais qualidades científicas
ou artísticas do obrigado, a que
o credor tenha contratualmente
direito.
O direito de Macau, à semelhança do direito português, só admite
a punição de infracções civis com sanções de natureza patrimonial, e
nunca com penas privativas da liberdade. Nisto se assemelha também
50
ao sistema francês, contrastando com os sistemas anglo-americano,
alemão e da República Popular da China.
Comparando a regulamentação da sanção pecuniária compulsória
em ambos os ordenamentos – português e macaense -, podemos
detectar, como é natural, semelhanças e diferenças. Comecemos pelas
semelhanças.
A primeira semelhança é a necessidade de requerimento do
credor. É o que se passa no direito inglês, americano, alemão e
austríaco.
A segunda semelhança radica no facto de não haver lugar à
aplicação da sanção, quando o devedor seja condenado no
cumprimento de uma prestação de facto infungível que exija especiais
qualidades científicas ou artísticas do obrigado.
Esta exclusão justifica-se, por um lado, pelo respeito devido à
liberdade de criação artística ou científica do obrigado (artigo 42.º da
Constituição da República Portuguesa, que vigorava em Macau
aquando da elaboração, aprovação e entrada em vigor do Código Civil
de Macau) e, por outro lado, pelo princípio da adequação, ao qual se
deve subordinar toda e qualquer restrição de direitos, liberdades e
garantias (artigo 18.º/2 da mesma Constituição) ou de direitos de
natureza análoga (artigo 17.º). Entre estes últimos conta-se o direito de
propriedade, que é agredido pela sanção pecuniária compulsória.
O princípio da adequação determina que as restrições consistam
unicamente no que for adequado à prossecução dos seus próprios
fins.65 Neste caso, o fim da restrição (ou seja, da sanção pecuniária
compulsória) é a protecção da posição jurídica do credor.
Consequentemente, a sanção não deve exceder aquilo que for
adequado a essa protecção. Ora, se a prestação exigir especiais
qualidades científicas ou artísticas do obrigado, a tentativa de o
compelir a realizá-la dificilmente resultará num trabalho onde essas
qualidades estejam realmente aproveitadas.
A terceira semelhança é a aplicabilidade da sanção a um conjunto
não tipificado de infracções. Não é a própria lei que define, de um
modo preciso e suficientemente delimitado, os pressupostos da
aplicação da pena. Basta ver o à-vontade com que o n.º 1 do artigo
333.º do Código Civil de Macau diz “prestação a que o credor tenha
contratualmente direito”. O Código permite que a conduta em que a
infracção se traduz tenha o seu conteúdo concreto determinado por um
65
Gomes Canotilho, obra e página citadas.
51
simples contrato. Ou seja, permite que seja um contrato a definir os
pressupostos da aplicação da sanção.
Como já vimos a propósito do artigo 829.º-A/1 do Código Civil
português, esta insuficiente delimitação legal do âmbito de aplicação
da sanção pecuniária compulsória traspassa o princípio da tipicidade
das infracções puníveis.
Vejamos as seguintes normas:
Constituição da República
Portuguesa
Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos
29.º/1: “Ninguém pode
ser sentenciado criminalmente
senão em virtude
de lei
anterior que declare punível a
acção ou omissão, nem sofrer
medida de segurança cujos
pressupostos
não
estejam
fixados em lei anterior.”
15.º/1,
1.º
período:
“Ninguém será condenado por
actos ou omissões que não
constituam um acto delituoso,
segundo o direito nacional ou
internacional, no momento em
que forem cometidos.”
29.º/3: “Não podem ser
aplicadas penas ou medidas de
segurança que não estejam
expressamente cominadas em
lei anterior.”
29.º/4: “Ninguém pode
sofrer pena ou medida de
segurança mais graves do que
as previstas no momento da
correspondente conduta ou da
verificação dos respectivos
pressupostos,
aplicando-se
retroactivamente as leis penais
de conteúdo mais favorável ao
arguido.”
15.º/1, 2.º e 3.º períodos:
“Do mesmo modo não será
aplicada nenhuma pena mais
grave do que era aplicável no
momento em que a infracção foi
cometida. Se posteriormente a
esta infracção a lei prevê a
aplicação de uma pena mais
ligeira, o delinquente deve
beneficiar da alteração.”
Já vimos que a letra do artigo 29.º da Constituição portuguesa
refere somente as penas criminais. Mas também já justificámos a
52
extensão do princípio nullum crimen sine lege às infracções não
criminais e, nomeadamente, às infracções puníveis com a sanção
pecuniária compulsória. Os argumentos então invocados foram estes:
— a ratio de todo o artigo 29.º da Constituição portuguesa,
incluindo o seu n.º 1, é a protecção dos direitos fundamentais
prejudicados pela aplicação de penas (liberdade ambulatória,
liberdade de escolha da profissão, direito de propriedade,
etc.); ora, esse prejuízo tanto pode ser causado por penas
criminais como por penas não criminais, podendo penas de
diversos ramos do direito afectar exactamente os mesmos
direitos fundamentais, do mesmo modo e na mesma medida
(por exemplo, a multa, que é uma sanção criminal, a coima,
que é uma sanção administrativa, e a sanção pecuniária
compulsória, que é uma sanção civil, atingem todas, de igual
modo, o direito de propriedade, e podem todas atingi-lo na
mesma medida);
— o princípio da legalidade é aplicável a todas as formas de
restrição de direitos, liberdades e garantias (artigo 18.º/3) ou
de direitos de natureza análoga (artigo 17.º), vinculando,
portanto, quer as punições criminais, quer as punições não
criminais, quer, ainda, as formas não punitivas de restrição de
direitos.
Com base nisto, podemos dizer que o artigo 333.º/1 está
inquinado de inconstitucionalidade material originária.
Porém, como a Constituição da República Portuguesa já não está
em vigor em Macau, temos de recorrer à Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau e ao Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos para aferirmos a validade jurídica daquela
disposição.
A Lei Básica dispõe, no primeiro parágrafo do artigo 29.º, o
seguinte:
“Nenhum residente de Macau pode ser punido criminalmente
senão em virtude de lei em vigor que, no momento da correspondente
conduta, declare expressamente criminosa e punível a sua acção.”
O Pacto contém uma norma de teor idêntico no 1.º período do n.º
1 do artigo 15.º, acima reproduzido.
Ambas as disposições enunciam o princípio da tipicidade das
infracções criminais, e em termos semelhantes aos do artigo 29.º/1 da
Constituição portuguesa.
Além de a redacção ser semelhante, a ratio é, segundo cremos, a
53
mesma. Por isso, aquilo que dissemos sobre a extensão do artigo
29.º/1 da Constituição portuguesa às infracções não criminais serve
também para aquelas duas disposições. Pensamos, por conseguinte,
que continua a vigorar na ordem jurídica de Macau um princípio
fundamental de tipicidade das infracções puníveis – um princípio que
não se circunscreve ao direito criminal.
Assim sendo, o artigo 333.º/1 do Código Civil de Macau, pelo
mesmo motivo que violava o artigo 29.º/1 da Constituição portuguesa,
viola igualmente o artigo 29.º da Lei Básica e o artigo 15.º/1 do Pacto.
A quarta semelhança é a ausência de uma moldura legal dentro
da qual o valor da sanção deva, em cada caso concreto, ser fixado.
Esta ausência ofende, como já dissemos a propósito do artigo 829.º-A
do Código Civil português, o princípio nulla poene sine lege.
Este princípio está expressamente enunciado no artigo 29.º/3 da
Constituição da República Portuguesa. Também decorre logicamente
do artigo 15.º/1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
Da desconformidade com o artigo 29.º/3 já falámos a propósito
do artigo 829.º-A do Código Civil português. O que então dissemos é
extensivo ao artigo 333.º do Código Civil de Macau e permite-nos
dizer que este artigo está ferido de inconstitucionalidade material
originária, na medida em que não fixa qualquer limite ao valor da
sanção pecuniária compulsória.
O problema é que a Constituição da República Portuguesa já não
está em vigor em Macau e a lei constitucional que lhe sucedeu no
território – a Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau – não contém, no seu próprio texto, nenhuma garantia
semelhante à do artigo 29º/3 da Constituição portuguesa.
No entanto, ela decorre logicamente do 2.º período do artigo
15.º/1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Com efeito,
dizer que não se pode aplicar uma pena mais grave que aquela que era
aplicável no momento em que foi cometida a infracção equivale a
dizer que não se pode ultrapassar o limite que estava anteriormente
estabelecido, em termos gerais e abstractos, para o valor dessa pena.
Isto pressupõe, obviamente, a existência de um limite máximo fixado
em termos gerais e abstractos. Pressupõe, por isso, a existência de
uma moldura penal fixada normativamente. Aliás, se olharmos para o
artigo 29.º da Constituição portuguesa, vemos que o preceito que nele
corresponde ao 2.º período do artigo 15.º/1 do Pacto – o n.º 4 - vem
imediatamente a seguir à disposição que enuncia o princípio nulla
poene sine lege, que é o n.º 3. Esta sequência não é fortuita, antes
54
traduz uma sequência lógica.
Podemos, pois, afirmar que o princípio nulla poene sine lege
continua a ser um princípio fundamental do direito de Macau,
prevalecendo sobre as leis ordinárias e tornando inválida qualquer
norma delas constante que o contrarie.
A versão portuguesa do artigo 15.º/1 do Pacto poderia dar-nos a
ideia de que ela se refere, não apenas a crimes e a sanções criminais,
mas a infracções em geral e a sanções em geral, pois utiliza
expressões como “acto delituoso” e “infracção” em vez da palavra
“crime”. Parece, portanto, que o seu teor literal seria mais abrangente
que o do artigo 29.º/3 da Constituição portuguesa. Isto tornaria
claríssima a desconformidade do artigo 333.º do Código Civil com o
artigo 15.º/1 do Pacto.
Contudo, a versão inglesa, que tem valor autêntico66, refere-se
especificamente, e apenas, a infracções criminais. No primeiro
período, ela diz: “No one shall be held guilty of any criminal offence
on account of any act or omission which did not constitute a criminal
offence (…)”. No segundo período, onde em português se diz “no
momento em que a infracção foi cometida”, em inglês diz-se “at the
time when the criminal offence was committed”. Curiosamente, na
última frase, onde a versão inglesa diz “offender”, a versão portuguesa
emprega o termo “delinquente”, que embora possa ter o sentido geral
de “transgressor” ou “infractor”, é mais correntemente utilizado para
designar autores de crimes.
Baseando-nos na versão inglesa, podemos, assim, dizer que a
disposição em análise tem, na sua letra, o mesmo âmbito que o artigo
29.º da Constituição portuguesa. Ela suscita, portanto, o mesmo
problema de interpretação.
Parece-nos que a ratio do artigo 15.º/1 do Pacto é, tal como a do
artigo 29.º da Constituição portuguesa, a defesa de direitos
fundamentais que possam ser afectados pela aplicação de determinada
sanção. Pouco importa que a infracção a sancionar seja qualificada
pelo direito interno de Macau como “crime”, “contra-ordenação”,
“infracção disciplinar”, “delito civil” ou “violação de contrato”. O que
interessa é saber se a consequência para ela imposta, por lei, acto
administrativo, sentença judicial ou negócio jurídico, viola ou não um
66
Tal como a versão chinesa, mas ao contrário da versão portuguesa (artigo 53.º/1 do próprio
Pacto).
55
direito fundamental. Desde que o faça, estará sob o âmbito de
protecção normativa do artigo 15.º/1 do Pacto.
O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prevalece,
como se sabe, sobre o Código Civil. Esta prevalência resulta, quer do
artigo 1.º/3 do próprio Código Civil, que diz que “as convenções
internacionais aplicáveis em Macau prevalecem sobre as leis
ordinárias”, quer do segundo parágrafo do artigo 40.º da Lei Básica,
que diz que as restrições aos direitos e liberdades não podem
contrariar o sobredito Pacto.67
Isto legitima-nos a dizer que o artigo 333.º do Código Civil de
Macau é materialmente ilegal, por violação do artigo 15.º/1 do Pacto.
Esta ilegalidade refere-se especificamente à parte em que esse
artigo não submete o valor da sanção pecuniária compulsória a
qualquer limite legal. Mas esse vício, como já dissemos em relação ao
artigo 829.º-A do Código Civil português, torna inoperante a própria
figura da sanção pecuniária compulsória, pois deve-se estender a esta
sanção o princípio nullum crimen sine poena legali.
A quinta semelhança é o facto de a sanção só ser aplicável
quando o obrigado esteja em mora no cumprimento, não podendo ser
aplicada quando já se esteja perante uma situação de incumprimento
definitivo. No artigo 333.º do Código Civil de Macau, podemos ver
esse intuito limitativo no seguinte:
— o n.º 1 só se refere ao atraso no cumprimento, nada dizendo
sobre o incumprimento;
— o n.º 3 diz que o tribunal só deverá cominar a sanção quando
a considerar justificada;
— o mesmo n.º 3 diz que o tribunal, ao aplicar a sanção, deverá
atender “à sua adequação às finalidades de compulsão ao
cumprimento” (princípio da adequação).
Isto significa que, a partir do momento em que a mora se
converta em incumprimento definitivo, ou a partir do momento em
que o cumprimento se torne impossível, o incumprimento deixa de ser
punível com a sanção pecuniária compulsória. Por isso, os dias que
tiverem decorrido depois daquele momento não poderão ser contados
para a determinação do valor total da sanção.
67
É esta a interpretação lógica que fazemos do confuso artigo 40.º da Lei Básica, tentando
fugir ao círculo vicioso em que a letra do preceito obriga o intérprete a embrenhar-se.
Sobre este preceito, ver ponto 5.2.2.
56
4.1.4.1.2. Diferenças em relação ao regime do Código Civil
português
Vejamos agora as diferenças.
A primeira diferença é a inserção sistemática: no Código
português, o artigo 829.º-A aparece no capítulo relativo ao
cumprimento das obrigações, ao passo que o artigo 333.º do Código
de Macau se situa no subtítulo referente ao exercício e tutela de
direitos.
O motivo desta diferente localização detecta-se logo na leitura do
n.º 1 de um e de outro artigos: no Código português, a sanção
pecuniária compulsória só é cominada para o caso de incumprimento
de uma obrigação, enquanto que no Código de Macau ela também é
prevista para o caso de violação de um direito absoluto (por exemplo,
um direito real ou um direito de personalidade). A diferente
localização é, pois, motivada, pela diferença de âmbito.
A segunda diferença é, precisamente, o âmbito de aplicação da
sanção.
No Código português, o âmbito de aplicação é objecto de uma
tripla delimitação:
— primeiro, a sanção só é aplicável no caso de incumprimento
de obrigações, não podendo, por isso, ser aplicada a outros
tipos de infracções civis;
— segundo, de entre as obrigações, a sanção só é aplicável às
obrigações de facto infungível, servindo, exactamente, para
compensar a impossibilidade de essas obrigações serem
cumpridas através de execução sub-rogatória;
— terceiro, de entre as obrigações de facto infungível, a sanção
só é aplicável às que não exijam do devedor especiais
qualidades científicas ou artísticas.
O âmbito de aplicação traçado no Código de Macau é diferente
nos seguintes aspectos:
— além do incumprimento de obrigações, abrange a violação de
direitos absolutos;
— em matéria de obrigações, não faz qualquer distinção em
função do tipo de prestação, abrangendo, além das obrigações
de prestação de facto infungível, as obrigações de prestação
de facto fungível, as obrigações de entrega de coisa certa e as
obrigações de entrega de quantia certa, só excluindo, como
vimos, as obrigações de prestação de facto infungível que
57
exijam especiais qualidades científicas ou artísticas do
obrigado;
— faz, contudo, uma distinção em função da fonte da obrigação,
uma vez que só contempla as obrigações emergentes de um
contrato ou de um facto originador de responsabilidade civil,
deixando de fora as obrigações resultantes de outras fontes,
nomeadamente os
negócios jurídicos unilaterais, o
enriquecimento sem causa e a gestão de negócios, sem
prejuízo de abranger as obrigações de indemnização que estas
fontes possam, indirectamente, originar.
A terceira diferença concerne ao momento da condenação na
sanção.
O artigo 829.º-A do Código Civil português não diz em que
momento é que pode ser feita essa condenação. É claro que, se ela
pressupõe a certeza jurídica de que o destinatário da sanção está
vinculado a cumprir determinada obrigação, ele não pode ser
condenado na sanção antes de ser condenado, em acção declarativa,
no cumprimento da própria obrigação. Há, portanto, um marco
temporal antes do qual a condenação na sanção não pode ser efectuada.
Mas, depois desse marco, a condenação pode ocorrer em qualquer
momento, desde que o obrigado ainda se encontre em mora no
cumprimento da obrigação.
No Código Civil de Macau, pelo contrário, o artigo 333.º/1 fixa
um momento para a condenação na sanção: é o momento em que o
destinatário da sanção é condenado, em acção declarativa, a adoptar a
conduta necessária para não sofrer aquela sanção. Essa conduta
consiste, consoante os casos, em cumprir a prestação a que o credor
tenha contratualmente direito, pôr termo à violação de um direito
absoluto do lesado ou indemnizar o credor.
O autor desta norma, Miguel Urbano, afirma claramente, na sua
nota justificativa, que “a sanção pecuniária compulsória (…) poderá
(…) ser arbitrada pelo tribunal na sentença condenatória (…)”.68
Se o credor não aproveitar a acção declarativa para requerer a
condenação do obrigado na sanção pecuniária compulsória, ou se a
requerer mas o tribunal não a cominar, não poderá vir a requerê-la
depois, em acção autónoma. O que então poderá fazer é intentar uma
acção executiva.
68
Luís Miguel Urbano, “Breve nota justificativa”, em Código Civil (versão portuguesa),
Imprensa Oficial de Macau, 1999, página XXIV.
58
Ou seja, a condenação na sanção pecuniária compulsória visa
tornar menos provável a necessidade de o credor propor uma segunda
acção judicial.
Se for mesmo necessária uma segunda acção judicial, mais vale
que esta seja a acção executiva, e isto por duas razões:
— por uma razão de tutela efectiva do interesse do credor, dado
que o interesse do credor (ou, pelo menos, o interesse digno
de tutela legal) não é a imposição de sanções ao devedor, mas
o cumprimento da obrigação em falta ou o respeito pelo
direito absoluto que estiver a ser violado;
— por uma razão de economia processual, visto que, se a
segunda acção for intentada com o pedido de cominação de
uma sanção pecuniária compulsória mas o juiz se recusar a
cominá-la, ou se esta for cominada mas não for suficiente
para convencer o obrigado a cumprir o disposto na sentença
da primeira acção, o credor ainda terá de propor uma terceira
acção judicial – a acção executiva – para, finalmente, obter a
satisfação da sua pretensão.
A quarta diferença prende-se com a questão da culpa.
O artigo 829.º-A do Código Civil português não indica
expressamente a culpa do devedor pelo atraso no cumprimento como
pressuposto da aplicação da sanção pecuniária compulsória, ao passo
que o artigo 333.º/1 do Código Civil de Macau indica-a
expressamente, através da expressão “atraso culposo”.
Mas esta maior exigência da lei de Macau é meramente aparente.
Com efeito, na aplicação do artigo 829.º-A do Código Civil
português, não pode deixar de ser observado o princípio nulla poena
sine culpa. Este princípio, embora não esteja expressamente
formulado na Constituição, “deduz-se da dignidade da pessoa humana
(artigo 1.º) e do direito à liberdade (artigo 27.º, n.º 1)”, como diz José
de Sousa e Brito.69 Este fundamento permite-nos dizer que aquele
princípio não é exclusivo do direito penal, onde está mais arraigado,
mas comum a todo o direito sancionatório. Por isso, também se aplica
à sanção pecuniária compulsória, apesar de o artigo 829.º-A não o
mencionar.
Em matéria de culpa, o Código Civil de Macau não só não é mais
exigente que o português, como o é menos, já que afirma, na parte
69
“A lei penal na Constituição”, em Estudos sobre a Constituição, 2.º volume, Livraria
Petrony, 1978, página 199.
59
final do n.º 1, que a culpa do obrigado se presume.
Esta presunção de culpa colide frontalmente com o princípio da
presunção da inocência, consignado nas seguintes normas:
— artigo 32.º/2 da Constituição da República Portuguesa: “Todo
o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da
sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto
prazo possível compatível com as garantias de defesa”;
— artigo 29.º, 2.º parágrafo, da Lei Básica: “Quando um
residente de Macau for acusado da prática de crime, tem o
direito de ser julgado no mais curto prazo possível pelo
tribunal judicial, devendo presumir-se inocente até ao trânsito
em julgado da sentença de condenação pelo tribunal”;
— artigo 14.º/2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos: “Qualquer pessoa acusada de infracção penal é de
direito presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha
sido legalmente estabelecida”.
Mais uma vez deparamos com o problema de o teor literal das
normas só compreender as infracções criminais. E, mais uma vez,
mergulhamos na sua ratio para as estendermos a todo o tipo de
infracções susceptíveis de acarretarem a aplicação de uma pena. A
ratio das normas acima reproduzidas é a defesa da dignidade da
pessoa humana e dos seus direitos fundamentais, que tanto podem ser
afectados pela presunção de culpa em infracções criminais como em
infracções não criminais.
Por isso, consideramos que o artigo 333.º/1, na parte em que diz
que a culpa no atraso se presume, contraria as três normas acima
transcritas.
A quinta diferença radica no facto de o artigo 829.º-A/1 do
Código Civil português dizer que o tribunal “deve” aplicar a sanção,
ao passo que o artigo 333.º/1 do Código Civil de Macau dizer que ele
“pode” aplicá-la. Isto significa que, mesmo estando reunidos todos os
pressupostos da aplicação da sanção, o tribunal pode decidir não
aplicá-la, e o credor não poderá acusá-lo de estar a violar a lei.
A sexta diferença consiste no facto de o artigo 333.º do Código
Civil de Macau, no seu n.º 4, dizer que “não é aplicável a sanção
pecuniária compulsória nos casos em que tenha sido estabelecida uma
cláusula penal compulsória com os mesmos fins”. Isto compreende-se:
a cláusula penal compulsória também é um tipo de sanção pecuniária
compulsória, só que, em vez de ser judicial, é contratual. Seria
excessivo cumularem-se contra uma mesma pessoa, e numa mesma
60
situação, duas sanções pecuniárias com o mesmo fim e com o mesmo
beneficiário.
A regra do n.º 4 não existe no Código Civil português, porque
este não contempla a figura da cláusula penal compulsória. Neste
Código, a cláusula penal tem por objecto a fixação do “montante da
indemnização exigível” (artigo 810.º/1). Ou seja, tem uma finalidade
meramente compensatória.
Além de estar excluída no caso de ter sido estipulada uma
cláusula penal compulsória, a sanção pecuniária compulsória também
não pode ser aplicada ao locatário por mora no pagamento da renda
(artigo 996.º/5) nem ao usufrutuário por mora no pagamento da
prestação anual (artigo 1379.º/4). Isto justifica-se pelo facto de lhes
ser cominada directamente pela lei uma outra sanção civil e com o
mesmo beneficiário: uma indemnização independente do dano, que já
analisámos no ponto 3.1.2.
A sétima diferença refere-se aos critérios a que o juiz deverá
obedecer na fixação do valor da sanção. O Código Civil português
alude apenas a “critérios de razoabilidade” (artigo 333.º/2), nada mais
dizendo sobre o assunto. O Código Civil de Macau é mais elaborado
neste aspecto, pois manda expressamente atender à condição
económica do devedor, à gravidade da infracção e à adequação da
sanção às finalidades de compulsão ao cumprimento (artigo 333.º/3).
Note-se bem que a existência de critérios para a fixação em
concreto do valor da sanção não afasta a necessidade de haver um
limite máximo legal para esse valor. No Código Penal também
existem critérios de fixação da pena e nem por isso deixam de existir
molduras penais. Aqueles critérios servem, precisamente, para o juiz,
dentro de uma moldura penal abstracta, determinar a pena a aplicar no
caso concreto.
Lembre-se, aliás, que o próprio autor da norma, Miguel Urbano,
se afirma consciente “dos riscos que podem resultar de uma utilização
abusiva deste mecanismo”.70 Este mecanismo é, obviamente, a sanção
pecuniária compulsória.
A oitava diferença tem a ver com o beneficiário do produto da
aplicação da sanção pecuniária compulsória. Enquanto que no direito
português essa receita é dividida, em partes iguais, entre o credor e o
Estado (artigo 829.º-A/3), no direito de Macau ela reverte
70
Obra citada, página XXIV.
61
integralmente para o ofendido (artigo 333.º/1, na parte em que diz
“pagar ao ofendido”). É, como já vimos, a solução do direito francês.
Isto significa que, enquanto que em Portugal a sanção pecuniária
compulsória é uma pena semi-pública, em Macau ela é uma pena
privada.
A atribuição do produto da sanção ao credor implica o
enriquecimento deste à custa do obrigado e, correlativamente, um
empobrecimento deste em benefício daquele. Traduz-se, por isso, num
enriquecimento sem causa, violando directamente os preceitos
alterum non laedere e suum cuique tribuere e o princípio da justiça
comutativa.71
4.1.4.2. Natureza jurídica
A sanção pecuniária compulsória do direito de Macau e do
direito português tem por fonte principal, como vimos, a astreinte do
direito francês. Vejamos como o civilista francês Jean Carbonnier
descreve o espírito desta figura:“O espírito da instituição não é
reparar o prejuízo causado pela falta de execução pontual; ela não se
confunde, em princípio, com as indemnizações moratórias. O seu fim
é levar o devedor a cumprir pelo receio de ser esmagado sob uma
condenação pecuniária indefinidamente crescente.”72
E vejamos agora como é que Miguel Urbano, coordenador do
projecto do Código Civil de Macau e autor do artigo 333.º desse
Código, descreve o espírito da sanção pecuniária compulsória aí
prevista:
“Trata-se pois de um mecanismo dirigido a vergar a resistência
oferecida pelos devedores ao cumprimento atempado das decisões
judiciais que os condenem a efectuar ou abster-se de certa conduta,
com o fito de, através do receio de um mal maior, os pressionar a
cumprirem o que devem ou de os pressionar a não praticarem de novo
certa infracção.”73
Estas duas citações revelam claramente a finalidade da figura que
71
Ver 3.1.1.3.
Jean Carbonnier, obra citada, página 582. A tradução e o sublinhado são nossos. A versão
original é: “L′esprit de l′institution n′est pas de réparer le préjudice causé par le défaut
d′éxecution ponctuelle; elle ne se confond pas, en principe, avec les dommages-intérêts
moratoires. Son but est d′amener le débiteur à s′éxecuter par crainte d′être écrasé sous une
condamnation indéfiniment croissante.”
73
Luís Miguel Urbano, obra citada, página XXV. Os sublinhados são nossos.
72
62
estamos a analisar: obrigar o devedor a cumprir por medo de ser
punido com “um mal maior”.
Em rigor, essa figura tem duas finalidades: uma finalidade
punitiva, na medida em que pretende punir o devedor pela infracção
praticada, e uma finalidade compulsória, pois também pretende
compelir psicologicamente o devedor a fazer aquilo que for necessário
para não ser castigado. A compulsão psicológica do devedor deriva,
evidentemente, da antevisão da consequência negativa que lhe
acarretará o incumprimento da decisão judicial.
Estas duas finalidades estão presentes em qualquer pena.
Correspondem àquilo que na doutrina penalista costuma ser
designado, respectivamente, por “fim retributivo” e “fim de prevenção
especial”. A sanção pecuniária compulsória é, portanto, uma pena.
Esta pena é, quanto à entidade que a fixa, uma pena pública, mais
precisamente uma pena judicial. Mas, atendendo ao beneficiário da
sua aplicação, ela é uma pena privada.
Dizemos, por isso, que a sanção pecuniária compulsória prevista
no artigo 333.º é uma pena privada judicial. É “uma”, mas não é a
única, como vamos ver já a seguir.
4.2. Indemnização agravada em relação ao dano
Olhemos agora para o artigo 1443.º:
Artigo 1443.º
(Encrave voluntário)
1. O proprietário que, sem justo motivo, provocar o encrave
absoluto ou relativo do prédio só pode constituir a servidão 74
mediante o pagamento de indemnização agravada.
2. A indemnização agravada é fixada, de harmonia com a culpa
do proprietário, até ao triplo da que normalmente seria devida.
No ponto 3.1. analisámos a figura da indemnização independente
do dano e vimos que se tratava de uma falsa indemnização. Agora
vemos aqui um outro tipo de falsa indemnização: a indemnização
74
Trata-se da servidão legal de passagem.
63
agravada em relação ao dano.
Neste segundo tipo de falsa indemnização, a obrigação de
indemnizar já não surge independentemente da ocorrência de um
dano, pois o n.º 2 estabelece como limite máximo do seu valor o triplo
da indemnização “que normalmente seria devida”. Ora, a
indemnização “que normalmente seria devida” é exactamente aquela
cujo montante corresponde ao valor do dano (artigos 556.º a 558.º).
Por isso, se o dano for zero, o limite da indemnização prevista no
artigo 1443.º também será zero. Mas se, pelo contrário, o valor do
dano for superior a zero, a indemnização poderá ultrapassá-lo,
podendo chegar até ao triplo dele. O valor do dano condiciona, neste
caso, o limite máximo da indemnização que o tribunal pode arbitrar,
mas não o montante concreto que ele vai fixar, uma vez que esse
montante é fixado de harmonia com a culpa do autor do encrave. Na
parte em que excede o dano, essa “indemnização” é, portanto, uma
pena. Note-se, aliás, que a graduação em função da culpa do infractor
é típica do direito penal.
Pires de Lima e Antunes Varela, em comentário à disposição
correspondente do Código Civil português – o artigo 1552.º 75 -,
utilizam mais uma vez o adjectivo “criterioso” para justificarem esta
solução. Explicam que ela, inspirada no artigo 561.º do Código Civil
brasileiro, representou uma forma de evitar a total desprotecção do
autor do encrave e de atender aos interesses gerais da economia, pois a
doutrina dominante defendia, para este caso, a negação pura e simples
do direito de constituição coerciva da servidão de passagem76.
Nós, pela nossa parte, embora reconheçamos que a
indemnização agravada é uma solução mais razoável que a
propugnada pela doutrina dominante em 1966, entendemos que ela
ainda contende com os ditames da justiça, porquanto provoca um
empobrecimento do dono do prédio dominante em benefício do dono
do prédio serviente e, correlativamente, um locupletamento deste em
detrimento do primeiro. Por outro lado, não é uma verdadeira
indemnização, mas uma pena, pois o seu valor excede o do dano.
Tal como a indemnização independente do dano, também a
indemnização agravada em relação ao dano pode ser considerada um
tipo de sanção pecuniária compulsória. E é uma sanção pecuniária
75
Correspondente, mas não igual, pois fixa como limite o dobro da indemnização que
normalmente seria devida, e não o triplo.
76
Obra citada, volume III, páginas 640 e 641.
64
compulsória ainda mais próxima da figura regulada no artigo 333.º,
porquanto o seu valor também é fixado pelo tribunal, e não pela lei.
Também é, por isso, uma sanção pecuniária compulsória judicial. Só
que há uma diferença: o valor da indemnização agravada está sujeito a
um limite legal, ao passo que o da sanção prevista no artigo 333.º não.
Podemos, assim, distinguir no Código Civil dois tipos de sanções
pecuniárias compulsórias judiciais: a indemnização agravada em
relação ao dano, de valor sujeito a limite legal, e a sanção regulada no
artigo 333.º, de valor não sujeito a limite legal.
5. As penas privadas e o direito de propriedade privada
5.1. Considerações gerais
Todas as penas privadas previstas no Código Civil implicam para
o devedor a perda de um determinado valor patrimonial e, por essa
via, a privação do seu direito de propriedade, ou de outro direito
patrimonial, sobre certo bem ou conjunto de bens.
Assim sendo, as disposições que instituem essas penas têm por
efeito a subtracção das situações nelas visadas ao âmbito da protecção
normativa conferida pelo direito de propriedade privada. Ou seja,
aquelas disposições são normas restritivas do direito de propriedade.
Importa, por isso, verificar se essas normas cumprem ou não as
condições juridicamente impostas à restrição do direito de
propriedade. O incumprimento destas condições determinaria a
invalidade jurídica daquelas normas.
Para fazermos essa verificação temos de saber, antes de mais,
quais são essas condições, ou seja, qual é o regime constitucional de
tutela do direito de propriedade privada vigente em Macau.
5.2. Tutela constitucional do direito de propriedade privada
5.2.1. O regime previsto na Constituição da República
Portuguesa
Vamos analisar este problema primeiro à luz da Constituição da
República Portuguesa, atendendo a que era a lei fundamental de
Macau aquando da elaboração, aprovação e entrada em vigor do
Código Civil.
65
O direito de propriedade privada está consignado no artigo 62.º/1
da Constituição, que diz o seguinte:
“A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua
transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição.”
Este artigo insere-se no capítulo I (“Direitos e deveres
económicos”) do título III (“Direitos e deveres económicos, sociais e
culturais”) da Constituição. Esta inserção pode levar a crer que o
direito de propriedade privada está sujeito ao regime constitucional
dos direitos económicos, sociais e culturais.
Este regime caracteriza-se fundamentalmente pelo facto de a
determinação da medida dos direitos e a efectivação destes
dependerem de legislação infraconstitucional, a qual é feita com base
nas possibilidades económicas do Estado e na vontade política dos
seus órgãos.
A outra grande categoria de direitos fundamentais – a dos
direitos, liberdades e garantias – beneficia de um regime mais
protector, o qual compreende, em especial, as seguintes regras:
Artigo 18.º
(Força jurídica)
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos,
liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as
entidades públicas e privadas.
2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos
casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições
limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou
interesses constitucionalmente protegidos.
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de
revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo
nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos
preceitos constitucionais.
Neste artigo podemos ver a consagração dos seguintes
princípios77:
— o princípio da aplicabilidade directa (artigo 18.º/1, 1ª parte);
— o princípio da vinculação das entidades públicas e privadas
77
Sobre estes princípios, v. Gomes Canotilho, obra citada, páginas 483 a 491.
66
(artigo 18.º/1, 2ª parte);
o princípio da exigência de autorização constitucional
expressa para a restrição (artigo 18.º/2, 1ª parte);
— o princípio da proibição do excesso na restrição (artigo
18.º/2, 2ª parte), o qual compreende os princípios da
necessidade, adequação e proporcionalidade;
— o princípio da legalidade das restrições (artigo 18.º/2 e 3);
— o princípio da generalidade e abstracção da lei restritiva
(artigo 18.º/3, 1ª parte);
— o princípio da não-retroactividade da lei restritiva (artigo
18.º/3, 2ª parte);
— o princípio da salvaguarda do núcleo essencial do direito
restringido (artigo 18.º/3, 3ª parte).
Este regime é aplicável, naturalmente, aos direitos enunciados no
título II da Constituição – que são, exactamente, os direitos, liberdades
e garantias. Mas, além disso, são também aplicáveis aos direitos que,
embora não estando enunciados no título II, possuam uma natureza
análoga àqueles que dele constam. É o que diz o artigo 17.º:
“O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos
enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza
análoga.”
E que direitos é que se podem considerar de natureza análoga aos
do título II?
A Constituição, recorde-se, foi elaborada entre Abril de 1975 e
Abril de 1976, durante um processo revolucionário em que as amplas
massas de trabalhadores e estudantes foram desmantelando as diversas
estruturas do regime fascista, derrubado no dia 25 de Abril de 1974,
derrotaram as tentativas de instauração de uma nova ditadura, fascista
ou estalinista, e impuseram como base da nova ordem político-jurídica
as ideias de democracia, liberdade e socialismo.
No espírito democrático e revolucionário que inspirou a
Constituição, todos os direitos deviam ser respeitados até ao mais
elevado grau possível. Aqueles que não custassem dinheiro e cujo
exercício fosse possível mesmo numa sociedade pobre deviam ser
garantidos desde o incício, só podendo ser restringidos na medida do
estritamente necessário à salvaguarda de outros direitos ou interesses
constitucionalmente protegidos. Aqueles que custassem dinheiro e
cujo exercício dependesse, por isso, do desenvolvimento económico
da sociedade deveriam ir sendo realizados progressivamente, de
acordo com as possibilidades económicas que a sociedade fosse tendo
em cada momento.
—
67
Neste contexto, atendendo ao princípio da máxima protecção
possível dos direitos fundamentais, deveremos considerar de natureza
análoga aos direitos enunciados no título II todos aqueles aos quais
seja possível, quer em termos lógico-jurídicos, quer em termos
económicos, aplicar o regime dos direitos, liberdades e garantias.
O traço essencial dos direitos, liberdades e garantias é o facto de
o seu exercício consistir numa actuação do próprio titular e não na
obtenção de uma prestação do Estado ou de terceiros. Muitos deles até
pressupõem a não-intervenção do Estado e de terceiros.
O traço essencial dos direitos económicos, sociais e culturais é,
pelo contrário, o facto de o seu exercício consistir na obtenção de uma
prestação do Estado ou de terceiro. O seu exercício pressupõe,
portanto, necessariamente, uma actuação do Estado ou de terceiro.
É a auto-suficiência do titular no exercício dos direitos,
liberdades e garantias que permite a aplicação a esses direitos de um
regime amplamente garantístico, composto pelos princípios acima
enumerados.
É a dependência económica em que se encontra o titular no
exercício dos direitos económicos, sociais e culturais, com o custo
económico que este exercício acarreta para o Estado ou para terceiros,
que justifica a aplicação a esses direitos de um regime menos
garantístico, onde estão ausentes, nomeadamente, o princípio da
aplicabilidade directa, o princípio da vinculação de todas as entidades
públicas e privadas e os princípios atinentes à restrição dos direitos.
Ora, o direito constitucional de propriedade privada, tutelando os
direitos subjectivos patrimoniais que o titular tenha adquirido por
modo legítimo, é, em princípio, exercitável independentemente de
qualquer prestação do Estado ou de terceiro. O que o exercício desse
direito constitucional pressupõe da parte do Estado e de terceiros é
que não expropriem a pessoa de nenhum dos direitos patrimoniais que
ela adquiriu legitimamente e que se abstenham de actos que lhe
possam impedir ou perturbar o exercício de tais direitos.
Por conseguinte, é possível, quer em termos lógico-jurídicos,
quer em termos económicos, aplicar ao direito de propriedade privada
o regime constitucional dos direitos, liberdades e garantias.
Assim sendo, podemos considerar o direito de propriedade
privada como um direito de natureza análoga aos direitos enunciados
no título II da Constituição e aplicar-lhe, nomeadamente, o artigo 18.º,
atrás reproduzido.
68
Mesmo que assim não fosse, o direito de propriedade privada
sempre beneficiaria de alguns dos princípios consignados nesse artigo,
e isto por força das seguintes disposições:
Artigo 16.º/2 da
Constituição
portuguesa
“Os preceitos constitucionais e legais relativos
aos direitos fundamentais devem ser interpretados e
integrados de harmonia com a Declaração Universal
dos Direitos do Homem”.
Artigo 17.º
da Declaração
Universal dos
Direitos do
Homem
1. Toda a pessoa, individual ou colectivamente,
tem direito à propriedade.
Artigo 29.º/2 da
Declaração
Universal dos
Direitos do
Homem
No exercício destes direitos e no gozo destas
liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos
e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas
exigências da moral, da ordem pública e do bemestar numa sociedade democrática.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da
sua propriedade.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem é parte
integrante da Constituição portuguesa, por força da recepção que dela
faz o artigo 16.º/2.
Consequentemente, também tem valor constitucional o artigo
29.º/2 da Declaração, o qual subordina a restrição de todos os direitos
nela consignados aos princípios da legalidade, necessidade, adequação
e proporcionalidade.
Ora, o conjunto de direitos fundamentais ao qual o artigo 29.º/2
se refere inclui o direito de propriedade privada, enunciado no artigo
17.º da mesma Declaração.
Por conseguinte, mesmo que não se lhe estendesse o artigo 18.º
da Constituição, as restrições a esse direito estariam, ainda assim,
subordinadas aos princípios da legalidade, necessidade, adequação e
proporcionalidade, por via do artigo 29.º/2 da Declaração.
Note-se, no entanto, que todas estas considerações se referem
apenas à propriedade privada como direito, e não à propriedade
privada como privilégio.
Os direitos regem-se pelos princípios da universalidade (artigo
69
12.º) e igualdade (artigo 13.º). Os privilégios são a própria negação
destes princípios.
Por isso, a propriedade privada como direito só pode abranger os
tipos de bens susceptíveis de serem objecto de apropriação privada
por todas as pessoas e em condições de igualdade.
Os tipos de bens que, em virtude de condições naturais,
tecnológicas, económicas ou jurídicas, só possam ser objecto de
apropriação privada por algumas pessoas não entram naquele âmbito,
pelo que a propriedade privada sobre tais bens é um privilégio, e não
um direito. Estão neste caso, em particular, os meios de produção de
média ou grande envergadura e os prédios de grande dimensão.
Se se pretendesse transformar a propriedade privada sobre esses
bens num autêntico direito, seria necessário atribuí-la em
contitularidade a todas as pessoas e em condições de absoluta
igualdade. Só que, nessa situação, o que se obteria já não seria uma
propriedade privada, mas uma propriedade colectiva. Isto demonstra
que, em relação àquele tipo de bens, a propriedade privada só pode
existir como privilégio; para passar de privilégio a direito, a
propriedade terá de passar de privada a colectiva.
Em suma, diremos o seguinte:
-o direito de propriedade privada, quando seja um verdadeiro
direito, e não um privilégio, beneficia do regime constitucional dos
direitos, liberdades e garantias;
-quando seja um privilégio, a propriedade privada não goza do
regime constitucional dos direitos, liberdades e garantias, nem tãopouco do regime dos direitos económicos, sociais e culturais, ou seja,
não goza de nenhum dos regimes constitucionais de direitos
fundamentais.
Neste nosso trabalho, só temos analisado a propriedade privada
como direito, e é o que continuaremos a fazer nos pontos seguintes.
5.2.2. O regime actualmente aplicável em Macau
Como já não vigora em Macau a Constituição da República
Portuguesa, temos de procurar na Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau e no direito internacional as
normas e princípios fundamentais aplicáveis ao direito de propriedade
privada.
Vejamos as seguintes normas da Lei Básica:
70
Artigo 6.º
O direito à propriedade privada é protegido por
lei na Região Administrativa Especial de Macau.
Artigo 40.º
As disposições, que sejam aplicáveis a Macau,
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos, do Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais, bem como das
convenções internacionais de trabalho, continuam a
vigorar e são aplicadas mediante leis da Região
Administrativa Especial de Macau.
Os direitos e as liberdades de que gozam os
residentes de Macau não podem ser restringidos
excepto nos casos previstos na lei. Tais restrições
não podem contrariar o disposto no parágrafo
anterior deste artigo.
A Lei Básica não é grandemente esclarecedora em relação ao
regime de protecção do direito de propriedade privada. Não precisava,
obviamente, de estabelecer para ele um regime específico, mas
deveria ter estabelecido um regime geral de protecção dos direitos
fundamentais que lhe fosse aplicável. Mas não o fez.
O artigo 6.º diz que o direito de propriedade privada é “protegido
por lei”. Ao dizer isto, parece ficar desprovido de aplicabilidade
directa, fazendo com que, em vez de ser a lei ordinária a ter de se
subordinar àquele direito, seja aquele direito a ficar subordinado à lei
ordinária.
E a que parâmetros deve obedecer a lei ordinária para não
restringir em excesso o direito de propriedade privada?
A disposição da Lei Básica que mais de perto toca no problema
da restrição dos direitos fundamentais é o artigo 40.º.
Esta disposição diz que os casos em que a restrição pode ser feita
têm de ser indicados em lei. É a formulação do princípio da
legalidade. Mas, comparando esta formulação com o conteúdo que o
princípio da legalidade tem na Constituição portuguesa, detectamos a
seguinte diferença: a Constituição portuguesa afirma que só podem ser
restringidos os direitos que a própria Constituição expressamente diz
que podem ser restringidos, e não quaisquer direitos, ao passo que a
Lei Básica não estabelece tal exigência.
71
Além de dizer ao legislador que só ele é que pode restringir os
direitos fundamentais e que, para fazer essa restrição, tem de utilizar a
forma jurídica de acto legislativo, a lei fundamental de um território
também lhe deve fornecer critérios materiais relativamente precisos
para o orientar na restrição de direitos fundamentais e para impedir
que ele cometa excessos nessa restrição.
Ora, o artigo 40.º da Lei Básica não fornece tais critérios. A 2ª
parte do 2.º parágrafo desse artigo diz que as restrições de direitos
fundamentais não podem contrariar o disposto no 1.º parágrafo do
mesmo artigo. Mas aquilo que esse 1.º parágrafo diz é que as
convenções internacionais aí referidas continuam a vigorar em Macau
e “são aplicadas mediante leis da Região Administrativa Especial de
Macau”. Literalmente, isto significa que é à própria lei ordinária de
Macau que cabe definir os parâmetros dentro dos quais ela mesma irá
restringir os direitos fundamentais. A exigência formulada na 2ª parte
do 2.º parágrafo do artigo 40.º parece-nos, portanto, totalmente oca.
Poderíamos, todavia, conceber uma outra interpretação do artigo
40.º. Vejamos o que sobre ele diz Eduardo Cabrita:
“(…) a previsão de que os direitos previstos nos Pactos sobre
Direitos Humanos ou nas Convenções da OIT são aplicadas mediante
leis da RAEM não representa uma condicionante à aplicação dos
Pactos, apenas uma obrigação para a RAEM de proceder à
regulamentação dos referidos direitos.”78
Poderíamos, realmente, admitir que o 1.º parágrafo, ao dizer que
as convenções internacionais nele referidas “se aplicam mediante leis
da Região Administrativa Especial de Macau”, não pretenderia privar
de aplicabilidade directa as normas daquelas convenções que fossem
exequíveis por si mesmas, mas sim impor aos órgãos legislativos de
Macau a obrigação de tornar exequíveis os direitos que constassem de
normas não exequíveis por si mesmas.
Interpretando o 1.º parágrafo deste modo, então deveríamos
concluir que a 2ª parte do 2.º parágrafo do artigo 40.º tem por efeito
obrigar o legislador de Macau a observar as ditas convenções como
limites ao seu poder de restrição de direitos fundamentais.
Com esta interpretação do artigo 40.º, algo divergente da letra do
78
Eduardo Cabrita, “Limites de natureza internacional e constitucional à autonomia da
RAEM”, em Perspectivas do Direito, volume III, n.º 5, Gabinete para a Tradução Jurídica,
Macau, 1998, páginas 106 (versão portuguesa) e 135 (versão chinesa).
72
preceito, já teríamos de reconhecer algum conteúdo útil à 2ª parte do
seu 2.º parágrafo. Isto significaria que o legislador, ao restringir
direitos fundamentais, não poderia nunca vir a fazer com que a
amplitude desses direitos fosse inferior à que é garantida pelas suprareferidas convenções internacionais.
Esta interpretação pouco nos ajuda na definição dos limites à
restrição legal do direito de propriedade privada, porquanto aquelas
convenções internacionais não tutelam com clareza este direito.
Também não nos parece minimamente útil, para a questão que
agora nos ocupa, a profissão de fé que a Lei Básica faz no modo de
produção capitalista e na economia de mercado (artigo 5.º). Como já
dissemos, a figura de que curamos é o direito de propriedade privada,
imbuído dos justos princípios da universalidade e da igualdade, não
são privilégios constituídos por uma pessoa através da expropriação
de outras.
Há, no entanto, um princípio muito importante da Lei Básica que
nos pode valer: o princípio da continuidade do sistema jurídico de
Macau, revelado nos artigos 5.º, 18.º, 138.º e 145.º.
Este princípio significa que os valores, princípios e regras
fundamentais que estruturavam o ordenamento jurídico de Macau
antes da Reunificação continuam a vigorar em Macau depois dessa
data, na medida em que não contrariem a Lei Básica. Eles foram
objecto de recepção material por parte da Lei Básica.
Com base neste princípio, podemos dizer que o direito
constitucional que deixou de vigorar em Macau é apenas aquele que
seja contrário à Lei Básica. O direito constitucional previamente
vigente que se encontre para além da Lei Básica, e que não colida com
ela, continua a vigorar, complementando-a e suprindo as suas
insuficiências.
Assim sendo, continuam a pertencer à ordem jurídica de Macau
as normas e os princípios constantes do artigo 18.º da Constituição da
República Portuguesa.
Também continua a vigorar em Macau a Declaração Universal
dos Direitos do Homem. E continua a vigorar a dois títulos:
— como parte integrante do direito constitucional previamente
vigente em Macau, atendendo à recepção que faz da dita
Declaração o artigo 16.º/2 da Constituição portuguesa;
— como expressão do direito internacional geral ou comum,
positivando um “mínimo ético” universal que todos devem
respeitar.
73
Como já vimos, esta Declaração contém um preceito – o artigo
29.º/2 – que subordina a restrição dos direitos nela elencados –
incluindo o direito de propriedade privada - aos princípios da
legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade.
De todo o exposto concluímos que os parâmetros jurídicos pelos
quais se deve reger hoje o legislador de Macau na edição de normas
que possam contender com o direito de propriedade privada são os
mesmos que vigoravam antes de 20 de Dezembro de 1999.
5.3. Princípios constitucionais relativos às penas
Como é óbvio, as disposições do Código Civil referentes às
penas privadas não precisam apenas de se conformar com as normas e
princípios constitucionais aplicáveis à generalidade das restrições do
direito de propriedade privada. Têm também de se conformar com as
normas e princípios constitucionais especificamente referentes às
penas.
Quando analisámos a figura da sanção pecuniária compulsória,
referimos vários princípios constitucionais relativos às penas.79 Vimos
então que os preceitos que os consignam só aludem expressamente às
infracções e penas de natureza criminal; mas também concluímos que
eles, em virtude da sua ratio, são extensivos às infracções e penas de
natureza não criminal.
Os princípios que então referimos são:
— o princípio da tipicidade das infracções puníveis (resultante
de uma interpretação extensiva dos artigos 29.º/1 da
Constituição portuguesa, 29.º da Lei Básica e 15.º/1 do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos);
— o princípio da legalidade das penas (resultante de uma
interpretação extensiva dos artigos 29.º/3 da Constituição
portuguesa e 15.º/1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos);
— o princípio da culpa (deduzido da dignidade da pessoa
humana e do direito à liberdade);
— o princípio da presunção da inocência (decorrente de uma
interpretação extensiva dos artigos 32.º/2 da Constituição
portuguesa, 29.º/2 da Lei Básica e 14.º/2 do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos).
79
V. supra, 4.1.2.
74
Os primeiros dois princípios são expressões particulares do
princípio geral da reserva de lei, ao qual estão submetidas todas as
restrições de direitos, liberdades e garantias ou de direitos de natureza
análoga.
A reserva de lei abrange, por um lado, a definição dos
pressupostos da restrição do direito e, por outro, a forma e a medida
da restrição desse direito.
A primeira componente do princípio geral da reserva de lei
reflecte-se na área das penas através do princípio da tipicidade das
infracções puníveis, pois estas infracções são os pressupostos da
aplicação das penas.
A segunda componente do mesmo princípio reflecte-se na área
das penas através do princípio da legalidade da pena, já que a pena é a
forma da restrição do direito e a medida da pena é a medida da
restrição do direito.
Isto significa que, mesmo que não fizéssemos uma interpretação
extensiva dos preceitos acima mencionados, teríamos fundamento
suficiente para aplicarmos a todas as penas o princípio da tipicidade
das infracções puníveis e o princípio da legalidade das penas.
Os princípios da culpa e da presunção da inocência, pelo
contrário, são específicos do direito sancionatório.
5.4. Os princípios constitucionais da justiça e da igualdade
Além de deverem obediência às normas e princípios
constitucionais concernentes à restrição do direito de propriedade
privada e às normas e princípios constitucionais relativos às penas, as
penas privadas também se devem conformar com os princípios
constitucionais mais gerais. Destes destacamos dois, de que já falámos
a propósito da obrigação de indemnizar 80 : a justiça (artigo 1.º da
Constituição portuguesa) e a igualdade (artigos 13.º da Constituição
portuguesa e 25.º da Lei Básica).
A ideia de justiça compreende, de acordo com a análise que
desse conceito fez Aristóteles, a justiça comutativa (igualdade
aritmética entre as prestações de ambas as partes numa relação
bilateral) e a justiça distributiva (repartição social dos bens em
proporção com o mérito de cada pessoa).
80
V. supra, 3.1.1.3.
75
Esta ideia recebeu depois outras formulações historicamente
importantes, de que já destacámos os praecepta juris de Ulpiano:
honeste vivere, alterum non laedere e suum cuique tribuere.
Da formulação aristotélica da justiça comutativa e dos preceitos
de Ulpiano brota imediatamente a proibição do enriquecimento sem
causa.
A ideia de igualdade filia-se na ideia de justiça. Aliás, ambas as
ideias quase se identificam. O próprio Aristóteles dizia: “O justo é o
igual.”
A justiça comutativa significa, exactamente, a igualdade absoluta
numa relação bilateral. Neste caso, e como também dizia Aristóteles,
não haverá que ponderar o mérito nem as qualidades de nenhuma das
partes na relação. A igualdade é puramente aritmética.
A justiça distributiva, por seu turno, consiste em tratar de modo
igual situações iguais e de modo diferente situações diferentes, de
acordo com a medida da diferença. Ela contém, portanto, uma ideia de
proporcionalidade, e é nesta ideia de proporcionalidade que radica a
diferença entre a igualdade e aquilo que Marx chamava de
“igualitarismo primitivo de quartel”.
Isto significa que uma pena privada que viole o princípio da
justiça estará a violar também, ipso facto, o princípio da igualdade.
5.5. Apreciação da constitucionalidade das penas privadas e
dos seus regimes jurídicos
Encontrados os princípios estruturantes do regime constitucional
de tutela do direito de propriedade privada vigente em Macau, vamos
agora ver se as penas privadas de que falámos estão ou não instituídas
e reguladas em conformidade com os ditos princípios.
Na verdade, a maior parte destas questões já foi tratada aquando
da análise de cada uma das penas. Por isso, bastar-nos-á agora
sistematizar e sintetizar as considerações então expendidas. Para tanto
apresentamos o seguinte quadro:
Tipicidade
das
infracções
puníveis
Indemnização
independente
do dano
Sim: as
infracções são
as condutas
tipificadas nos
artigos 996.º/1,
1027.º/1, 1044.
º/1 e 1379.º.
Juro legal
materialmente
usurário
Não
Sanção pecuniária
compulsória
Não
Indemnização
agravada em
relação ao dano
Sim: a infracção é
a conduta
tipificada no
artigo 1443.º/1.
76
Legalidade
das penas
Sim, porque a
fórmula de
cálculo está
fixada no
Código Civil,
que foi
aprovado por
decreto-lei.
Culpa
A culpa não é
exigida
expressamente,
mas também
não é afastado o
princípio geral
da exigência de
culpa.
Presunção
da inocência
Sim
Necessidade,
adequação e
proporciona
lidade
Não. Bastaria
aplicar as regras
gerais sobre
mora no
cumprimento.
Salvaguarda
do núcleo
essencial
Sim
Legalidade
material – sim,
porque a taxa de
juro está fixada em
acto normativo.
Legalidade formal –
não, porque o acto
normativo em que a
taxa está fixada é
uma ordem
executiva, que é um
acto regulamentar.
Se a obrigação de
pagar o juro for
devida a mora do
devedor, depende da
culpa deste (787.º).
Se a obrigação de
pagar o juro derivar
directamente de um
contrato de mútuo,
não depende da
culpa do mutuário
(artigo 1072.º).
No caso da mora no
cumprimento de
uma obrigação,
presume-se a culpa
do devedor (artigo
788.º/1).
Não. A taxa de juro
legal deveria ser
igual à taxa de
inflação, sem
prejuízo da
indemnização pelos
danos excedentes ou
da remuneração pelo
custos de
funcionamento das
instituições de
crédito.
Sim
Não, porque a lei
não fixa nem os
valores, nem a
fórmula de cálculo,
nem os limites.
Sim, porque o
Código fixa o
limite máximo.
Sim
Sim
Presume-se culposo
o atraso do devedor
(artigo 333.º/1, in
fine).
Sim
Necessidade: não,
pois os meios
anteriormente
existentes já
tutelavam
suficientemente o
credor.
Adequação: sim, na
medida em que o
valor da sanção deve
atender à adequação
desta às finalidades
de compulsão ao
cumprimento (artigo
333.º/3).
Proporcionalidade:
sim, na medida em
que o valor deve
atender à gravidade
da infracção (artigo
333.º/3).
Sim
Não. Bastaria
aplicar as regras
gerais sobre
responsabilidade
civil.
Sim
77
Justiça
comutativa e
proibição do
enriquecime
nto sem
causa
Justiça
distributiva
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim, na medida em
que o valor da
sanção deve atender
à condição
económica do
devedor e à
gravidade da
infracção (artigo
333.º/3).
Sim, mas apenas
na medida em que
o valor da sanção
deve atender à
culpa do infractor
(artigo 1443.º/2).
Da observação deste quadro podemos extrair duas conclusões.
A primeira conclusão é a de que todas as penas privadas
analisadas, sem excepção, estão inquinadas, nalgum ponto do seu
regime, por alguma inconstitucionalidade.
A segunda conclusão é a de que todas as penas privadas
analisadas violam os princípios constitucionais da necessidade e da
justiça comutativa. E esta conclusão é muito importante, porquanto a
violação destes dois princípios não resulta apenas do regime jurídico
que foi adoptado por este Código Civil. Ela resulta, sim, da própria
essência de cada uma das penas privadas quanto ao beneficiário.
Estas penas, exactamente por consistirem na atribuição de um
benefício ao credor em detrimento do devedor, não podem deixar de
provocar uma quebra na igualdade que deveria existir entre ambas as
partes. Ofendem, portanto, necessariamente, o princípio da justiça
comutativa. O que o regime jurídico adoptado pelo legislador pode
fazer variar são a frequência e o grau dessa violação, mas não a
violação em si.
Como a injustiça não é necessária para tutelar os direitos dos
credores, as penas privadas, sendo necessariamente injustas, também
são forçosamente desnecessárias.
Estas apreciações são extensivas às penas privadas que não
analisámos neste trabalho – as penas privadas convencionais.
Em conclusão, todas as penas privadas são inconstitucionais.
78