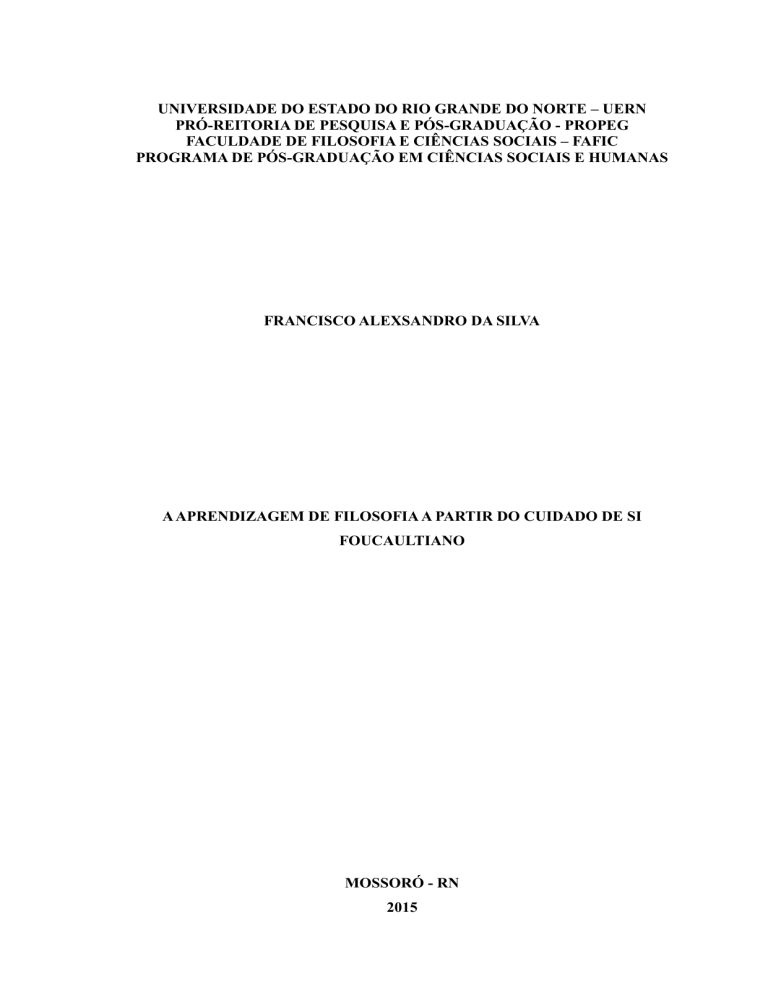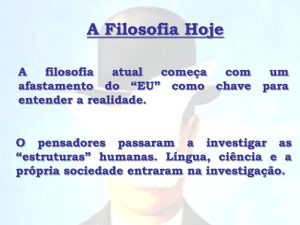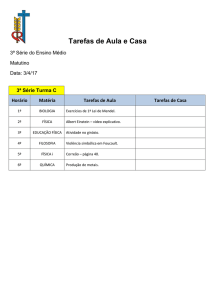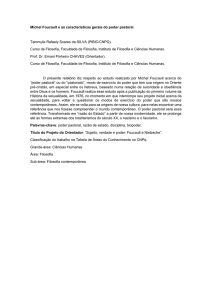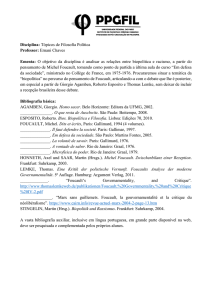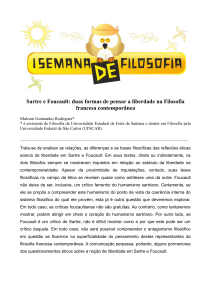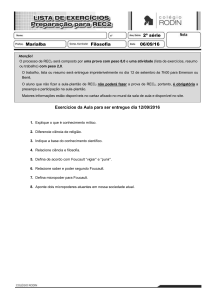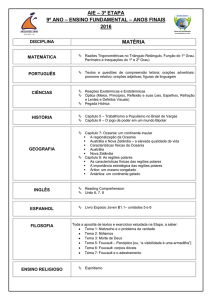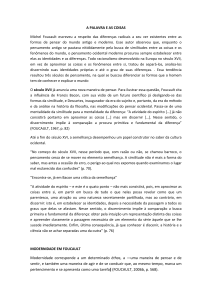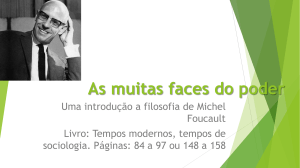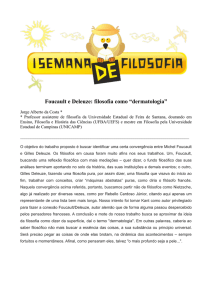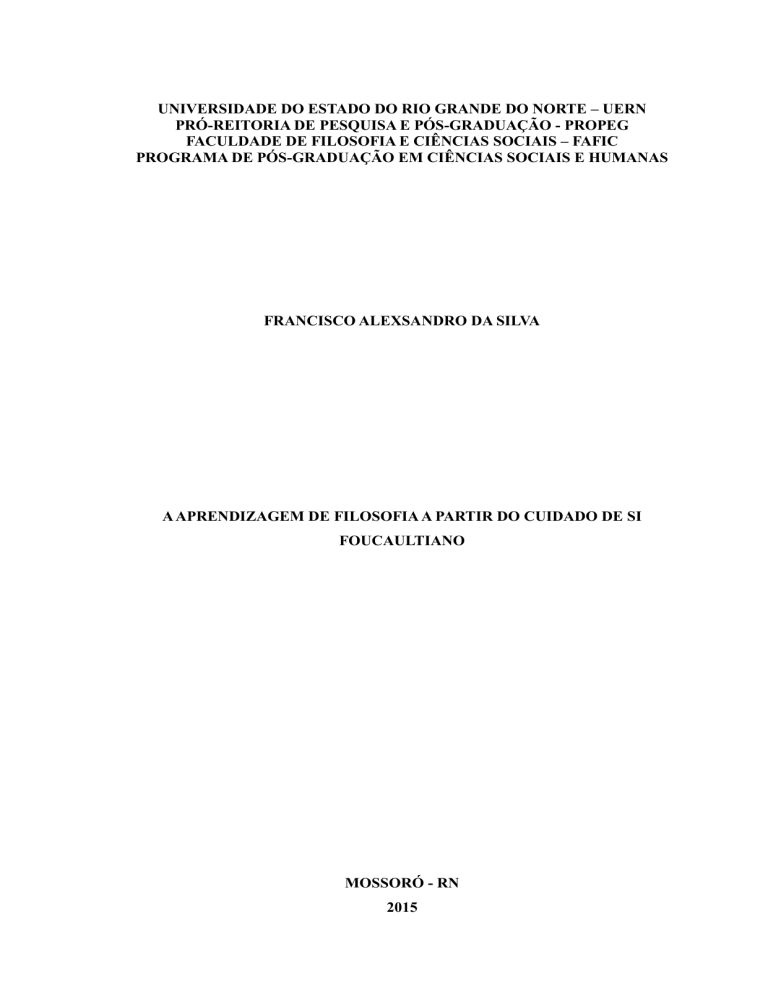
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – FAFIC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA
A APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA A PARTIR DO CUIDADO DE SI
FOUCAULTIANO
MOSSORÓ - RN
2015
FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA
A APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA A PARTIR DO CUIDADO DE SI
FOUCAULTIANO
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais
e
Humanas
–
PPGCISH,
da
Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – UERN, como requisito para a obtenção
do título de Mestre em Ciências Sociais e
Humanas, área de concentração: Sujeitos,
Saberes e Práticas Cotidianas, linha de
pesquisa:
Cotidiano,
Identidades
e
Subjetividades.
Orientador: Prof.º Dr. Marcos de Camargo Von
Zuben
MOSSORÓ - RN
2015
Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
V
S586a
Silva, Francisco Alexsandro da.
A aprendizagem de filosofia a partir do cuidado de si
foucaultiano. / Francisco Alexsandro da Silva.- Mossoró - RN,
2015.
87 p.
Orientador(a): Prof.º Dr. Marcos de Camargo Von Zuben
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais e Humanas).
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Programa de PósGraduação em Ciências Sociais e Humanas
1. Filosofia - Aprendizagem. 2. Experiências de si. 3. Cuidado
de si. I. Von Zuben, Marcos de Camargo. II. Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte. III.Título.
UERN/BC
CDD 107
Bibliotecária: Jocelania Marinho Maia de Oliveira CRB 15 / 319
À Severina Moura e José Lino (In Memoriam),
que sem nenhuma erudição e formação
pedagógica, como verdadeiros “mestres
ignorantes”, me ensinaram sobre o mais
importante conhecimento, qual seja, viver,
ajudando-me na construção da estética de
minha existência.
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, que mesmo não estando presentes no plano existencial humano se
encontram em minhas memórias, em minha força de vontade e em minha saudade;
Às minhas irmãs Ana Paula e Ana Queila, que acreditam em mim e estão sempre
prontas a me defenderem e me ajudarem diante das adversidades;
Em especial ao Prof. Dr. Marcos de Camargo Von Zuben, que não desistiu de mim, e
que neste tempo se tornou mais que um orientador, mas um amigo. Meus agradecimentos por
ter aberto várias vezes a porta de sua casa para riscarmos esse texto até melhorá-lo, chegando
ao esgotamento mental em tentar extrair algo mais e, finalmente, como terapia, relaxar a mente
e o corpo fazendo um carinho na cadela Branquinha. Obrigado pela orientação e pelos cafés;
Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH), da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o qual me possibilitou realizar esta
pesquisa;
Aos meus colegas de turma, que no riso e na lágrima me ajudaram, desde uma simples
palavra de apoio até as broncas mais sérias. Em especial a Eliene Cristina Fernandes, que
sempre se demonstrou solícita para dirimir minhas dúvidas e ajudar em meus artigos e
dissertação; a Demóstenes Dantas, que sempre me inspirou dando apoio espiritual; a Geilson
Fernandes, que me alertava sobre os prazos e o cuidado em concluir minha pesquisa; e a Ramon
Rebouças, que sempre intercedeu por mim em suas oblações;
À Maria Cristina da Rocha Barreto, que além de ser uma ótima professora e amiga se
tornou minha segunda orientadora, ensinando-me sobre os procedimentos da pesquisa em
campo. Obrigado por constituir parte fundamental deste trabalho e pela participação na Banca
Examinadora;
À Banca Examinadora desta dissertação, em especial à Prof.ª Dra. Cristiane Maria
Marinho, que a distância guiava-me para uma melhor escrita e fundamentação teórica. Obrigado
por me indicar “O Mestre Ignorante”, do Ranciere;
Quero agradecer, também, aqueles sem os quais não chegaria a esta escrita, aos meus
mestres por suas ricas contribuições, Prof.ª Dra. Karlla Christine Araújo Souza, Prof.º Dr. Jean
Henrique Costa e Prof.ª Dra. Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes. Obrigado por
contribuírem em minha formação;
Aos secretários do PPGCISH, Renato Figueiredo e Felipe Silva, desculpa por tê-los
perturbado tanto e obrigado por tornarem as papeladas burocráticas bem mais fáceis para nós;
Ao meu amigo Atson Paulo, que insistiu em dizer que eu deveria fazer a inscrição do
mestrado e que iria passar na seleção. Obrigado por me indicar a leitura do livro vermelho que
estava há anos empoeirado em minha estante e por me ajudar desde o projeto de pesquisa até a
entrada em sua aula e usar seus alunos como experiência científico-pedagógica;
A todos os meus amigos que entenderam meus momentos de “quarentena”, dissertando
ou estudando para o mestrado. Perdoem-me pelas vezes que não saí com vocês para tomar
cerveja ou não os recebi em minha casa para jogarmos futebol, em especial aos meus amigos
do Bar do Gato, que de alunos passaram a verdadeiros irmãos. Obrigado por acreditarem em
mim e me apoiarem em tudo;
Aos meus colegas de profissão, que nos intervalos ao falarem de educação e de
aprendizagem não imaginavam que estavam a me ajudar. Em especial aos meus amigos do
Colégio Mater Christi e da Escola Estadual Moreira Dias;
Quero agradecer, também, a Dona Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, por
todo apoio dado a minha prática filosófica em sua escola, pela abertura que tenho em tentar
trazer uma aprendizagem de Filosofia para o Colégio Mater Christi. Obrigado Ciro Tenório de
Azevedo pelo apoio, desde às xerox e impressões até as cobranças para concluir minha
pesquisa;
Quero agradecer a todos os meus alunos! Vocês me inspiram! Vocês me ensinam
muito! Obrigado às famílias CESA, Educandário, Moreira Dias, Motivação, Metta e Vírus
Cursinho, bem como a todas as Instituições de Ensino que já lecionei e aos alunos que passaram
por minha vida;
Aos meus amigos Rodolfo Brasil e João Batista (meu bolsista PIBID) pelas traduções
de meus resumos para a língua estrangeira. Como meta, prometo concluir meu curso de idiomas
próximo ano. Obrigado por tudo!
A Milene Lima e a Débora Praxedes, que em meio a tanta correria de encerramento de
semestre se dispuseram a corrigir os “erros do meu português ruim”. Muito obrigado!
Quero agradecer aos alunos das séries que participaram desta pesquisa, em especial
aos alunos das terceiras séries do Colégio Mater Christi e da Escola Estadual Abel Freire
Coelho. Sem a disposição de vocês eu não teria conseguido. Suas falas ficarão marcadas em
minha prática pedagógica.
Finalmente, quero agradecer a Matheus Vinícius, por suportar meus estresses e
defeitos durante esse último triênio. Obrigado por ter participado, nestes anos, de tantas vitórias
e conquistas.
“When we grew up and went to school
There were certain teachers who would
Hurt the children in any way they could
By pouring their derision
Upon anything we did
And exposing every weakness
However carefully hidden by the kids
But in the town it was well known
When they got home at night, their fat and
Psychopathic wives would thrash them
Within inches of their lives.
We don't need no education
We dont need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teachers! Leave them kids alone!
All in all it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.
"Wrong, Guess again!
If you don't eat yer meat, you can't have any pudding.
How can you have any pudding if you don't eat yer meat?
You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddie!"
Roger Waters
RESUMO
A disciplina Filosofia passou a constituir o quadro curricular do Ensino Médio no Brasil como
matéria obrigatória a partir do ano de 2008. Diante disto, questões são levantadas a respeito da
aprendizagem de Filosofia, dentre as quais o alcance e o significado dessa aprendizagem para
os alunos do Ensino Médio. Buscando contribuir para uma melhor compreensão sobre a
aprendizagem filosófica, a presente pesquisa busca investigar a dimensão dessa aprendizagem
no que toca à experiência de si, ou às experiências propiciadas pela Filosofia nas relações dos
sujeitos consigo mesmos. A noção de experiência de si é tomada com referência ao conceito
foucaultiano de Cuidado de Si e às contribuições de Larrosa (1994) para pensá-lo no campo
educacional. Investigou-se a aprendizagem filosófica entre alunos de duas escolas, uma pública
e outra privada (Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho e Colégio Mater Christi,
respectivamente), na cidade de Mossoró (RN), procurando observar em que medida a Filosofia
contribuiu para uma experiência de si diferenciada ou para novas experiências de si. Para o
desenvolvimento da pesquisa considerou-se como ponto de partida a escola, como um espaço
de exercício de uma tecnologia disciplinar e a experiência de si como um exercício de
resistência dentro desse espaço. Na tentativa de compreender de que modo a Filosofia pode
servir como linha de fuga e resistência aos mecanismos e ferramentas que sustentam o que
Foucault compreende como biopoder, fora feito um questionário e um roteiro de entrevistas
realizadas com os alunos das instituições supracitadas. Como resultado, observou-se duas
modalidades de experiência de si propiciadas pela Filosofia, relativas a novos modos de se auto
perceber e se auto julgar.
Palavras-Chave: Filosofia. Aprendizagem. Experiências de si. Cuidado de si.
ABSTRACT
Philosophy became a mandatory subject in Brazilian high school curriculums from 2008 on.
Taking this into account, some questions concerning the learning of philosophy arise, among
which are the scope and dimension of its teaching to high school students. Aiming at enhancing
a better comprehension of the learning of philosophy, this work seeks to investigate its role as
far as the experience of the self, or the ones provided by philosophy in one's relations with
oneself, are concerned. The notion of "Experience of the Self" is taken as a reference from the
foulcaultian concept of "Care of the Self" and from Larrosa's (1994) contributions to think it in
the educational realm. The philosophical learning of students of two schools, public and private
(Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho and Colégio Mater Christi, respectively), in the
city of Mossoró (RN), was examined, focusing on investigating the degree in which philosophy
had contributed to a distinctive experience of the self, or even new ones. For a starting point, in
order to develop this investigation, the school was taken as a space where a disciplinary
technology is exerted and experience of the self is a resource of resistance. In attempting to
comprehend how philosophy can serve as means of resistance and a vanishing point from the
mechanisms that sustain what Foucault understands as biopower, a questionnaire was made and
a series of interviews was carried out with the students of the aforementioned schools. Two
types of experience of the self, provided by philosophy, related to new ways of perceiving and
judging oneself, were obtained as a result.
Keywords: Philosophy. Learning. Experience of the self. Care of the self.
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ............................................................................................. 10
2.
CUIDADO DE SI E EDUCAÇÃO: ASPECTOS TEÓRICOS ................. 14
2.1.
O CUIDADO DE SI NA TRAJETÓRIA FILOSÓFICA DE UM
PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO............................................................... 14
2.2. UM INGRESSO ÁRDUO NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO ........... 18
2.3. PARA UMA ANÁLISE DA APRENDIZAGEM CONTEMPORÂNEA ....... 23
3.
DISCIPLINA,
CUIDADO
DE
SI,
RESISTÊNCIA
E
APRENDIZAGEM........................................................................................
28
QUESTIONAMENTOS PRELIMINARES SOBRE A NORMATIVIDADE
3.1. DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO E
SEUS OBJETIVOS ........................................................................................
28
3.2. MICHEL FOUCAULT, SABER, PODER E EDUCAÇÃO ............................ 31
3.3.
A DISCIPLINA (ESCOLAR): DISPOSITIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO
DO BIOPODER .............................................................................................. 34
3.4. O DESPERTAR FILOSÓFICO PARA O “CUIDADO DE SI” .....................
42
3.5. CUIDADO DE SI E RESISTÊNCIA .............................................................
45
4.
EXPERIÊNCIA DE SI E APRENDIZAGEM FILOSÓFICA .................. 49
4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA A ENTRADA EM CAMPO ........
49
4.2. A PESQUISA NA SALA DE AULA ..............................................................
53
4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS ....................................................................
58
5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 76
6.
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 78
ANEXOS ........................................................................................................ 82
ANEXO I – QUESTIONÁRIO
ANEXO II – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS
10
1. INTRODUÇÃO
Em virtude da obrigatoriedade do ensino de Filosofia na grade curricular do Ensino
Médio brasileiro, a partir de 2008, e com vistas aos objetivos determinados pela Lei de
Diretrizes e Bases (LBD) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) que regem a
educação básica nacional e almejam formar uma determinada concepção de sujeito, nos
deparamos com os seguintes problemas: 1º) De que forma a concepção de Filosofia exposta nas
normas legais pressupõe o cuidado com a formação e transformação da subjetividade do
estudante?; 2º) O que esse cuidado de si implica em termos de transformações nas relações do
sujeito consigo mesmo e com a alteridade a partir análise de Foucault sobre o assunto?; e 3º)
Se no decurso da relação de aprendizagem da Filosofia pelo aluno o mesmo observa em si
alguma transformação na sua relação com as dimensões constitutivas de si – sua corporeidade,
sexualidade, alteridade etc. – como este sujeito representa para si tais transformações
relacionais consigo e com outro?
Diante dessas indagações, delimitamos os seguintes objetivos de nossa pesquisa:
compreender as possíveis transformações no ser do sujeito/aluno propiciadas pela
aprendizagem da Filosofia; analisar se e como o cuidado com a subjetividade pode alterar as
relações do aluno com suas dimensões intelectuais, corporais e emocionais; observar se e como
o Cuidado de Si pode transformar as relações do sujeito/aluno com sua dimensão social, mais
especificamente a questão da alteridade; e investigar como os sujeitos/alunos representam para
si mesmos suas relações com a Filosofia e as possíveis mudanças ocasionadas desta relação.
Nesse viés, o desenvolvimento de uma dissertação exige o levantamento bibliográfico
do que já foi escrito sobre o tema a ser investigado. Ciente disto, nossa revisão de literatura
demonstrou que muito já fora escrito sobre o tema que envolve Foucault e o ensino de
Filosofia1. Encontramos, por exemplo, inúmeros artigos, dissertações e teses que versam sobre
o ensino de Filosofia com postulados e ênfase no pensamento de Foucault. Nesse material é
possível observar as seguintes abordagens: o ensino ministrado como instrumento de resistência
Estes estudos se voltam para investigações diversas sobre a abordagem foucaultiana na educação: abordando
diversas perspectivas, Kohan (2008) aborda a problemática cuidado de si, a partir da atitude socrática, e quando
discute a experiência de si como exercício espiritual texto escrito em coautoria com Wozniak (2011); outros textos
voltaram-se para a prática docente como possibilidade de um ensino de Filosofia diferenciado, como é o caso de
Gelamo (2009); ou, ainda, o ensino de Filosofia como experiência na atualidade Brocanelli, (2010); Gallo (2010)
e Veiga-Neto (2011) discutem a educação com base no pensamento de Foucault sob uma perspectiva das normas
que regulamentam o ensino de Filosofia no Brasil e sobre sua prática; Fischer (2001) trabalha a educação a partir
da análise do discurso; Ribeiro (2011) fala da (im)possibilidade do ensino de Filosofia na escola ante a crise da
modernidade; Cardoso (2011) trata do disciplinamento corporal e as relações de poder na escola; Valeirão (2009)
analisa e discute a práxis educacional no pensamento foucaltiano; e Alves (2009) traz uma discussão sobre
educação e formação do sujeito em Foucault.
1
11
ao conceito de biopoder; as ferramentas de disciplinamento na construção de certo padrão
normatizador de sujeito pós-moderno; críticas, das mais variadas, ao conceito de formação do
sujeito na modernidade; entre outros temas comuns. Contudo, mesmo nos valendo de alguns
destes temas para melhor compreensão de onde queremos chegar com o nosso trabalho, alguns
autores foram de importância singular nesta empreitada.
Entretanto, diferentemente dessas pesquisas, o presente trabalho busca dar progressão
a estas, na medida em que investiga o tema do cuidado de si em experiências de aprendizagens
filosóficas em aulas de Filosofia no Ensino Médio. De modo geral, alguns textos referenciados
fazem comparações entre o que é exigido pelos documentos que regem a educação brasileira e
seu alcance real, outros discutem teoricamente os conceitos de Foucault na educação e há,
ainda, aqueles que analisam metodologias do ensino de Filosofia, dentre outras abordagens.
Nossa pesquisa não teve como meta fazer uma comparação entre seus objetivos e os
documentos que norteiam a educação, e muito menos propor mais um modelo de prática
pedagógica a ser seguido no campo do ensino. A meta da presente pesquisa busca averiguar se
a aprendizagem de Filosofia altera as modalidades de experiências de si do sujeito de
aprendizagem. Aqui delimitamos nossa escrita.
A hipótese do presente trabalho consiste em investigar se a aprendizagem de Filosofia
que está sendo propiciada em algumas salas de aula do Ensino Médio em Mossoró (RN)
confirma a possibilidade de transformação do ser mesmo do sujeito/aluno, ou seja, se as
experiências que foram transformadas em currículo obrigatório têm como base um ensino que
impulsione o aluno a um cuidado de si e a construção de uma estética da sua própria existência.
Diversamente de estudos que focam no ensino, nos objetivos postos pelo ensino de
Filosofia ou sobre o melhor modo de ensinar, esta pesquisa se foca na aprendizagem e, em
especial, na experiência de si, buscando esclarecer se nas mais variadas possibilidades e/ou
impossibilidades daquela aprendizagem há alguma transformação nos alunos como sujeitos de
suas construções estético-existenciais, tendo como base algumas experiências de aprendizagens
em Filosofia.
O retorno da disciplina de Filosofia foi pensado de forma que ela pudesse suprir
possíveis fragilidades deixadas pelas demais Ciências Humanas para a constituição de um
sujeito ético e político. A priori, seus temas deveriam permear as outras áreas do saber
humanístico de forma transdisciplinar. Neste sentido – embora hoje a disciplina tenha ganhado
sua autonomia curricular – elegemos como referencial teórico os escritos do filósofo Michel
Foucault por considerá-lo um pensador interdisciplinar e/ou transdisciplinar por excelência.
12
Além do uso de suas obras escritas, resolvemos usar também os cursos ministrados no Còllege
de France, gravados em áudio e posteriormente transcritos.
Nossa principal fonte teórica corresponde a este curso que culminou na escrita d’A
Hermenêutica do Sujeito (1981-1982). O centro de interesse em Foucault será a análise do
conceito do Cuidado de Si e sua relação com a Filosofia e, ainda, a forma como este Cuidado
de Si põe em questão todas as dimensões do sujeito, inclusive enquanto ser social. No entanto,
não usamos Foucault de forma restrita a Hermenêutica. Outros textos foram utilizados, quais
sejam: História da Sexualidade 3: O Cuidado de Si, que tem como enfoque a relação do cuidado
de si com a corporeidade e a passionalidade; e nas obras O Governo de Si e dos Outros e A
Coragem da Verdade a análise se centrará nas relações do Cuidado de Si com o eu político.
Os textos Microfísica do Poder e Vigiar e Punir, também do autor supracitado, nos
deu um aparato para as críticas proferidas por ele sobre o conceito de biopoder em sua
modalidade disciplinar no espaço das instituições de sequestro como, por exemplo, a escola
permeando as relações pedagógicas contemporâneas.
Para uma melhor fundamentação da escrita, além dos textos do Michel Foucault, nos
valemos de outros autores que se utilizam desses conceitos para pensar a educação como, por
exemplos, Kohan (2003, 2010, 2011 e 2012), Gallo (2010), Veiga-Netto (2011) e Larrosa
(1994). Este autores foram úteis para pensar noções de disciplina, experiência de si e da
Filosofia como resistência no âmbito educacional. De Foucault tomamos como referência
principal as primeiras aulas do Collège de France, no início dos anos 1980, que resultaram na
obra Hermenêutica do Sujeito.
Um dos mais expoentes nomes no campo pedagógico do ensino de Filosofia no Brasil
é o professor Walter Omar Kohan. Ele também entrou em nosso referencial teórico devido a
sua contribuição para o problema da experiência do ensino-aprendizagem da Filosofia. Dentre
seus escritos nos valemos do texto Filosofia: o paradoxo ensinar e aprender (2009), e Sócrates
e a Filosofia (2011). Usou-se também os principais documentos normatizadores nomeadamente
LDB (1996) e PCN´s (1999), além do guia Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Vol.
3. Ciências Humanas e suas tecnologias (2006), do qual extraímos a concepção explicitada da
formação do sujeito pelo aparato normativo.
No que tange aos instrumentos que nos ensinou sobre pesquisar cientificamente em
campo merece destaque os nomes de M.M. Gergen e N.K. Gergen (2006), Roberto DaMatta
(1978) e Gilberto Velho (2004). O texto Tecnologias do Eu (1994), de Jorge Larrosa, foi de
extrema valia na nossa entrada em campo, utilizando-o como guia para uma análise e
construção do que realmente queríamos entender dos alunos, auxiliando-nos na elaboração das
13
perguntas para os questionários e entrevistas, bem como fundamentando uma melhor
compreensão do que foi expressado pelos estudantes. Foi um guia tanto em conteúdo quanto na
forma da pesquisa2.
Municiado com os respectivos referenciais, partimos para uma análise crítica do real
e atual cenário do ensino-aprendizagem nas nossas escolas antes de adentrarmos no capítulo
que apresenta o aporte teórico de nossa pesquisa. Esperamos ela venha provocar alguma forma
de inquietação no ser do sujeito dos atores que fazem a educação e a aprendizagem em nosso
país, e consiga, mesmo que de forma discreta ou singular, provocar algum movimento e reflexão
para pensarmos uma aprendizagem para a vida, a qual vá além do que já temos, que ouse e
provoque nos sujeitos um pensar sobre si mesmos.
2
Os aspectos metodológicos serão tratados detalhadamente no Capítulo 4.
14
2. CUIDADO DE SI E EDUCAÇÃO: APORTES TEÓRICOS
Neste capítulo partimos da experiência do ensino-aprendizagem do autor como
excurso que o levou à problemática desta pesquisa. Em seguida, apresentamos uma pequena
historiografia das entradas e saídas da Filosofia como disciplina obrigatória no currículo do
ensino brasileiro e os dilemas que nortearam sua última inclusão curricular. E finalmente
tecemos algumas críticas sobre a real situação do ensino e da aprendizagem na
contemporaneidade.
2.1. O CUIDADO DE SI NA TRAJETÓRIA FILOSÓFICA DE UM PROFESSOR DE
ENSINO MÉDIO
Nos últimos anos de vida o filósofo francês Michel Foucault dissertou e discutiu o
problema da subjetivação. O presente trabalho tem como foco entender a possibilidade do
resgate deste problema à luz da aprendizagem de Filosofia nas salas de aula do Ensino Médio.
Entendemos ser necessária uma apresentação pessoal sobre o processo de produção da escrita
desta dissertação, principalmente no que diz respeito ao elo entre a prática docente em sala de
aula na disciplina de Filosofia e a construção da subjetividade, assim como no desenvolvimento
de um cuidado de si a partir da descoberta deste conceito e de seu autor.
É do conhecimento de todo estudante da obra foucaultiana que o autor não via
necessidade de uma definição ou até mesmo de um formato sistemático de seus ditos e escritos.
Como bem entendemos seu aforismo “não me pergunte quem eu sou, não me peça para
continuar o mesmo” é relevante tamanha apresentação, haja vista que a temática abordada é
voltada para o autor em um processo de ruminação não apenas filosófica sobre o ato de lecionar,
como também para a construção de uma estética da existência. A partir daí inicia-se o percurso
da gênese desta pesquisa e a apresentação do autor que veio se tornar o escopo teórico.
No ano de 2006, ano de ingresso junto à Faculdade de Filosofia, demos início às
atividades enquanto docente. Desde o primeiro dia de sala de aula percebemos que a docência
era, de fato, o que queríamos. Na primeira aula uma questão começou a nos inquietar: qual seria
o real sentido de ensinar Filosofia no Ensino Médio e qual a metodologia ou didática adequada
para um ensino pleno no alcance do filosofar? Por todos os quatro anos de Curso e passando
por inúmeras metodologias e formas de ensino a questão continuava presente no fazer
pedagógico. No Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a monografia foi voltada para este
tema.
15
De um apego pela Filosofia clássica nos debruçamos sobre a maiêutica socrática,
acreditando ser ela a melhor e mais sublime proposta metodológico-didático-pedagógica que
trabalha a relação ensino/aprendizagem. Com a aprovação nas disciplinas constantes no quadro
curricular e no TCC o Diploma na graduação em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) fora obtido. Ao retornamos a rotina de sala de aula, embasados no
que pensávamos acreditar e municiados com as ferramentas e artimanhas da linguagem
socrática-platônica, percebíamos que algo continuava a inquietar. Era justamente essa pretensa
proposta de buscar ou de afirmar um método para se ensinar Filosofia.
Estudos e leituras foram retomados sobre a história do ensino da disciplina Filosofia,
os documentos legais que regulamentam a educação nacional e, principalmente, os ditames que
tornaram o ingresso obrigatório da disciplina a partir do ano de 2008. Foram observados os
objetivos presentes nas normas da LDBEN e dos PCN's, se os estudantes secundaristas se
sentiam tocados pelo ensino de Filosofia, se algo fazia sentido para eles e, ainda, se através
desses instrumentos seria possível uma transformação na vida daqueles.
Iniciávamos uma mudança no foco da questão. A casca de outorgador de métodos
eficazes para o ensino de Filosofia havia caído. Já não sabíamos mais quais métodos usar em
sala de aula, muito menos se eram eficazes. Houvera um deslocamento do ensino de Filosofia
para a aprendizagem de Filosofia. Não víamos mais necessidade de apresentar propostas
redentoras, humanísticas e salvacionistas para o referido ensino. O foco estava no ser do sujeito
do aluno, na sua aprendizagem. Logo, questionamentos emergiam: será que o contato com o
filosofar seria capaz de transformar o ser do sujeito dos estudantes? Será que os objetivos
postulados pelo Ministério da Educação encontram fundamentação teórica que consolidem uma
prática filosófica? Se sim, até que ponto esta ação poderia levar o sujeito da aprendizagem a
uma preocupação com a construção de sua existência e um cuidado de si?
Novas questões, novos problemas e novas inquietações para dilemas antigos, mas
dessa vez formulados sob outra perspectiva: a ausência de uma fundamentação teórica. Foi
quando nos sugeriram conferir os últimos escritos de Foucault. Não recordamos deste, se por
falta de trato com a disciplina ensinada na faculdade ou se pelo docente lecionador, mas que
Foucault era algo indigerível, cuja recordação partia de uma leitura intragável de A Ordem do
Discurso. Logo, nos fora indicado a leitura da obra A Hermenêutica do Sujeito, cujo livro
encontrava-se empoeirado na estante do nosso quarto e lá ficara por anos, desconsiderando-o
como objeto de leitura futura. Afinal, geralmente não valorizamos o que facilmente ganhamos,
e ele nos fora presenteado em um concurso de arte para um I Simpósio sobre o Ensino de
Filosofia da UERN. Quem diria, de “livro de fazer volume” ele se tornou o alicerce para a nossa
16
dissertação de mestrado. Estava tudo ali. Tudo o que nos inquietara há anos. Tudo o que
precisávamos para introduzir nossa incansável busca.
Como um iniciantes na obra de Foucault, lemos o máximo possível do referencial
teórico tentando não perder o rigor teórico que sustentaria a pesquisa, mas ao mesmo tempo
almejando inserir um foco prático na construção das ideias que afloravam. Dessa feita, o
encanto pela escrita foucaultiana tornou a caminhada mais prazerosa. E desse encontro de coisas
esperadas e até mesmo inesperadas nos deparamos com a interrogação de Foucault (2014, p.
13-14) quanto a proposta a respeito do exercício do filosofar. A saber:
Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica – senão o
trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Senão consistir em tentar
saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de
legitimar o que já se sabe?
A partir daí, sem a pretensão de legitimar nada, mas tentando pensar diferente do que
já se tinha como legitimado, e pensando foucaultianamente, atendemos a uma preocupação
maior: criar o entendimento sobre determinantes e condicionantes processos históricos que
acabam por delinear a construção do pensamento e da ação no cotidiano. Ou seja, o que
podemos entender como uma tarefa da Filosofia. Veyne (1985, p. 07) comenta isto ao dizer:
De modo algum, [Foucault] pretendeu apontar uma solução verdadeira ou definitiva;
posto que a humanidade se desloca sem parar, sendo também que alguma solução
atual revela logo que ela carrega seus perigos, toda solução é tão imperfeita, e isso
será sempre assim: um filósofo é aquele que, para cada nova atualidade, diagnostica
o novo perigo, e mostra uma nova saída.
Diello (2009, p. 19) segue o mesmo percurso que Veyne (1985), corroborando com o
pensamento ao destacar:
(...) vale sublinhar que a perspectiva de delinear o conjunto de pensamento do autor,
pode soar como a tentativa de outorgar-lhe uma unidade que o próprio Foucault, em
vida, não propôs e, certamente, não retrucaria esse feito, […] vale sublinhar aqui, que
a “dessacralização” da obra e do autor insere-se em sua concepção de que os
elementos de seu pensamento se constituem em “caixas de ferramentas” das quais
poderíamos disponibilizar na medida em que necessitarmos e quisermos, sem que ele
nos venha cobrar em que as usamos.
Percebemos com essa abertura uma forma de trabalhar mais livremente e manter um
diálogo construtivo com o referencial teórico. Como lembra Pol-Droit (2006, p. 33), “Foucault
conseguiu não ser o mestre de seus próprios livros, o guardião do sentido único de sua obra,
17
aquele que dita sua lei aos leitores dizendo-lhes: 'eis o que eu quis dizer, vocês não têm o direito
de compreender de outro modo’”. Não pretendemos, com isso, dar um significado além do que
o autor permitiu ou apresentou, mas mostrar positivamente a possibilidade de construção e
transformação das subjetividades a partir da aprendizagem do filosofar como prática do cuidado
de si.
Uma leitura acelerada de Foucault nos fará ter uma percepção equivocada de sua obra.
Alguns exegetas apressados reverberam que os escritos de Foucault têm como objeto principal
versar sobre o saber e o poder. Chegam até a dizer que ele só viera ter curiosidade e interesse
pelas questões do sujeito apenas nos seus últimos anos de vida, quando escreveu História da
Sexualidade, Volume I. Em algumas de suas falas, e entre essas na entrevista concedida a
Dreyfus e Rabinow (2013), ele explicita uma visão reducionista e mal interpretada, pois desde
muito tempo estudava e escrevia sobre a temática do sujeito, das técnicas de si, do cuidado de
si, do governo de si, entre outros subtemas que envolve a construção das subjetividades.
Deleuze (2006) é enfático e apologético ao tentar desconstruir essa má interpretação ao dizer,
na ordem cronológica, que o saber e o poder aparecem antes das questões sobre o sujeito, porque
a subjetividade apareceria em um dado momento do pensamento foucaultiano, e este momento
corresponde as duas bases postas: o saber e o poder.
Não é mais o domínio das regras codificadas do saber (relação entre formas) e muito
menos o das regras coercitivas do poder (relação da força com outras forças), são
regras de algum modo facultativas (relação a si): o melhor será aquele que exercer um
poder sobre si mesmo. […]. É isso a subjetivação: dar uma curvatura a linha, fazer
com que ela retorne sobre si mesma ou que a força afete a si mesma. Teremos, então,
os meios de viver o que de outra maneira séria invisível. O que Foucault diz é que
podemos evitar a morte e a loucura se fizermos da existência um modo, uma arte. É
idiota dizer que Foucault descobre ou reintroduz o sujeito oculto depois de o ter
negado. Não há sujeito, mas uma produção de subjetividade: a subjetividade deve ser
produzida, quando chega o momento, justamente por que não há sujeito. E o momento
chega quando transpomos as etapas do saber e do poder. São essas etapas que nos
forçam a colocar a nova questão, não se podia colocá-la antes. A subjetividade não é
de modo algum uma formação de saber ou uma função de poder que Foucault não
teria visto anteriormente; a subjetivação é uma operação artista que se distingue do
saber e do poder, e não tem lugar no interior deles (DELEUZE, 2006, p. 41).
Não se trata de uma locação ontológica para se determinar onde está o sujeito, uma
vez que não há sujeito, mas subjetivação. Não corresponde a uma busca por uma verdade
profunda a fim de se tornar um ensejo meramente ontológico. Trata-se, antes de tudo, de discutir
as possibilidades de construção das mais diversas formas de subjetividades, entendendo com
isso o filosofar como ferramenta das técnicas de si, ou, ante uma aproximação de Foucault com
Nietzsche, se tratar da estética da vida como um fazer artístico.
18
E nesse ato de filosofar como um fazer artístico vislumbramos a possibilidade de uma
dissertação que adentrasse junto à prática pedagógica, focando no conceito de Cuidado de Si
foucaultiano a partir de um ensino de Filosofia. Assim, resolvermos iniciar pelo retorno da
disciplina no Ensino Médio brasileiro, de forma obrigatória, e prosseguir até o contato em sala
de aula com os reais objetos desta pesquisa, qual seja, os alunos como sujeitos passíveis de
construção, formação e transformação deles mesmos com o auxílio do filosofar.
2.2. UM INGRESSO ÁRDUO NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO
Há tempos e por inúmeras tentativas cogitava-se o retorno da disciplina Filosofia ao
Ensino Médio como componente curricular obrigatório. Simultaneamente, os dilemas daqueles
que cursavam licenciatura em Filosofia no Brasil se expressavam em reuniões de associações
responsáveis pela discussão da introdução do ensino de Filosofia como, por exemplos, a
ANPOF (Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia), colóquios, congressos e tantos
outros eventos universitários. Os dilemas principais eram: para qual fim existiam cursos de
licenciatura em Filosofia, uma vez que a disciplina era vinculada ao currículo nacional apenas
como componente optativo? Quais as demandas, em números e estatísticas, do contingente de
formados em licenciatura em Filosofia e qual a necessidade de professores, caso a disciplina se
tornasse obrigatória? E depois de inclusa no corpo de matérias do Ensino Médio quais assuntos,
temas e conteúdos seriam abordados? Quais métodos, objetivos e didáticas valeriam para o
ensino de Filosofia? Essa questões ainda são dilemas e estão em aberto os diálogos apresentados
para a sua inclusão.
Em 2008 a Filosofia se tornou uma disciplina obrigatória nos currículos brasileiros do
Ensino Médio. De imediato, foram suscitadas velhas questões que antes transitavam apenas no
meio acadêmico, mas não nos espaços pedagógicos das escolas. A questão relativa quanto a
maneira de como aquela disciplina seria abordada indica que há múltiplas maneiras na sua
abordagem e no debate histórico acerca de seu ensino e é possível identificar duas posições
básicas, supostamente, antagônicas: a visão kantiana centrada no ensino de Filosofia como
atividade especulativa, não necessariamente submetida ao conhecimento historiográfico do
saber filosófico; e a concepção hegeliana da impossibilidade de ensinar Filosofia sem remeter
à história dos debates filosóficos.
Por um lado, um dos perigos de privilegiar a concepção do ensino de Filosofia centrada
na história da Filosofia é a curta distância para que aquele ensino seja transformado na simples
transmissão de informações sobre filósofos, pensamentos frequentemente descontextualizados
19
de seus respectivos debates, das obras e dos contextos de sua criação, reduzindo, desta maneira,
a Filosofia ao seu caráter meramente cognitivo e informativo. Por outro lado, há riscos inerentes
de uma visão estreita da concepção kantiana de ensino de Filosofia que ao tentar focar-se nos
problemas e temáticas pode incorrer em uma análise simplista galgada no senso comum por
parte dos atores do processo ensino-aprendizagem.
Além de uma mera possibilidade futura, há indícios de que a Filosofia na modernidade
foi reduzida a seus aspectos cognitivos, instrumentais e informacionais. Foucault nomeou essa
transformação histórica da concepção da Filosofia3 em suas relações com o sujeito de
“momento cartesiano” (2006, p. 18). Nele, a relação entre a Filosofia e a vida se desfaz, pois
não há mais a necessidade de viver uma vida filosófica para se alcançar a verdade, concebida
agora em termos puramente cognitivos e sem qualquer caráter ético, desaparecendo a existência
filosófica das preocupações da Filosofia. Já não é mais necessário integrar a teoria filosófica
com alguma prática de vida4. Em resumo, pode-se dizer que a sabedoria deixa de ser a finalidade
da Filosofia.
Desde a origem da Filosofia, e até hoje mesmo a despeito de tudo, o Ocidente sempre
admitiu que a Filosofia não é dissociável de uma existência filosófica. Que a prática
filosófica deve sempre ser mais ou menos uma espécie de exercício de vida. É nisso
que a Filosofia se distingue da ciência, ao mesmo tempo em que coloca com
estardalhaço, em seu princípio, que filosofar não é simplesmente uma forma de
discurso, mas uma modalidade de vida. A Filosofia ocidental – e essa foi sua história
e talvez seu destino – eliminou progressivamente, ou pelo menos negligenciou e
manteve sob tutela, cada vez mais estrita o problema da vida em seu vínculo essencial
com a prática do dizer-a-verdade. (FOUCAULT, 2011, p. 206).
Para Michel Foucault (2006), em contraposição ao “momento cartesiano”, a Filosofia
- em sua origem helênica, embora concebida como uma atividade intelectual - pressupunha para
seu exercício uma série de transformações em aspectos não intelectivos do sujeito, uma relação
de mudança com o ser do sujeito, isto é, com seus aspectos corporais, passionais e sociais.
Foucault nomeia esta dimensão ou pressuposto da Filosofia de espiritualidade, cujo princípio é
o cuidado de si (epiméleia heautoû). Segundo sua análise, a Filosofia teria como finalidade
verificar em que condições o sujeito pode ter acesso a verdade, e a espiritualidade constituiria
A filosofia é definida por Foucault em A Hermenêutica do Sujeito, como o estudo das condições do sujeito à
verdade (2006, p. 19). Trata-se de uma mudança nas relações do sujeito com a verdade, sendo a filosofia o elemento
mediador.
4
Para Foucault, a era moderna das relações do sujeito com a verdade transformou tanto a concepção dos termos
quanto a relação entre ambos: “o sujeito, antes incapaz de verdade sem antes realizar uma conversão, torna-se
capaz da verdade por si mesmo, mas a verdade perdeu seu poder eudemonístico e redentor e foi reduzido ao caráter
cognitivo-instrumental.” (2006, p. 24)
3
20
o conjunto de práticas de si e de transformações, ou conversões, que o sujeito precisaria realizar
para ser capaz de verdade (cf. FOUCAULT, 2006, p. 03 – 24). No “‘momento cartesiano’ o
‘Conhecimento de Si’ ganha centralidade, enquanto o ‘Cuidado de si’ é apagado e
marginalizado” (cf. FOUCAULT, 2006, p. 18-19).
A redução da Filosofia aos seus aspectos cognitivos não é apenas uma possibilidade
no ensino de Filosofia, mas um ponto de partida da situação histórica da Filosofia na
modernidade. No entanto, apesar desse ponto de partida histórico reducionista, a relação entre
o ensino de Filosofia e o ser do sujeito de aprendizagem (o aluno) é passível de problematização.
A Filosofia, assim como outras disciplinas, deve, segundo as normas legais da educação
brasileira, nomeadamente a LBD e PCNs (2002), não somente tornar o educando apto ao
mercado de trabalho, mas também auxiliar na formação do sujeito político ideal de uma
Democracia Constitucional. Em outros termos, a Filosofia é convocada de volta aos currículos
brasileiros com o objetivo fundamental de auxiliar na formação de determinado ideal de sujeito
político e, portanto, não pode ser ensinada de forma meramente informacional, mas
estabelecendo relação com o caráter sócio-político do aluno.
À luz dessas considerações, pensamos em uma problemática de aprendizagem de
Filosofia que possa abarcar conceitos além da simples preparação para o exercício da cidadania,
como preconizado nos PCN´s e outros dispositivos que pregam o ser cidadão como o baluarte
maior do filosofar. Destacamos as implicações que a referida proposta educativa tem na
construção, formação e transformação do ser do sujeito do aluno com ênfase em aspectos éticos
do ensino. Ora, o que se entende por cidadania no que diz respeito aos objetivos da disciplina
Filosofia, segundo os regimentos do MEC? Seria este conceito verdadeiramente filosófico ou
apenas uma adequação do indivíduo nos limites de normalidade, legado pela Modernidade? Os
documentos citados carregam ainda o conceito de que o ensino de Filosofia tem como objetivo
criar cidadãos críticos. Problematizamos também este conceito. O que se entende por crítica?
A que dimensões essa palavra nos remete? É preciso ver criticamente o que se entende por
crítica ou por formação de um sujeito crítico, pois é tênue a possibilidade de se estabelecer
padrões normatizantes de sujeitos críticos ou não críticos, sãos ou doentes, inteligentes ou
ignorantes. E o ensino de Filosofia não pode cair neste engodo.
Tendo em conta a necessidade de se esboçar alguma correlação entre conhecimento
de Filosofia e uma concepção de cidadania presente na legislação vigente, podemos
tomar como ponto de partida o explicitado como cidadania nos documentos das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Assim, o Artigo 2 da
Resolução CEB n° 3, de 26 de junho de 1998, reporta-nos aos valores apresentados
na Lei n° 9,394, a saber: I. os fundamentos ao interesse social, aos direitos e deveres
21
dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; II. os que fortaleçam
os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca
(SANTOS NETO, 2006, p. 24-25).
Aqui encontramos um problema concernente ao que os órgãos responsáveis pelo
ensino no Brasil compreendem por cidadão. Criam-se meta, objetivo e objeto de estudo da
Filosofia a partir de um viés humanista, sem ao menos questionar a validade ou até mesmo a
veracidade desse viés. Quem, depois de ter passado pelo Ensino Médio brasileiro, merece ser
reconhecido como cidadão? De forma resistente e não como um simples instrumento de uma
educação sequestradora, como a Filosofia poderia delimitar isso? O que é cidadão, segundo o
MEC? Como a Filosofia torna alguém mais ou menos cidadão? Onde está esse ideal de sujeito
político democrático?
Foucault, por exemplo, critica a noção historiográfica difundida acerca do interesse
pela subjetividade no mundo helênico, qual seja, a de que o interesse pelo sujeito surgiu,
forçosamente, com o esfacelamento da Polis grega no período helenístico. Se o cidadão grego
tinha um poder direto sobre o destino da Polis, no período helenístico ele foi confrontado com
um ambiente cosmopolita em que pouco podia atuar e modificar, que estava acima de seus
poderes da ação política, assim como o mundo contemporâneo em muito ultrapassa nossos
poderes de influência. Esse cidadão grego, agora politicamente impotente e deslocado em um
mundo cosmopolita, volta-se para dentro de si, introverte-se e enuncia que mais vale vencer a
si mesmo que ao mundo. O cuidado de si, como Foucault o pensa, não é introversão e não está
dissociado das relações sócio-políticas, pelo contrário, tem uma dimensão política fortíssima.
Implica, também, no cuidado do outro.
Interpreta-se, frequentemente, a importância assumida pelo tema do retorno a si ou da
atenção que é preciso prestar a si mesmo, no pensamento helenístico e romano, como
alternativa que propunha para a atividade cívica e para as responsabilidades políticas.
É verdade que se encontra em certas correntes filosóficas o conselho de afastar-se dos
negócios públicos, das perturbações e paixões que elas suscitam. Mas não é nessa
escolha entre participação e abstenção que reside a principal linha de demarcação; e
não é por oposição à vida ativa que a cultura do si propõe seus próprios valores e suas
práticas. Ela procura muito mais definir o princípio de uma relação consigo que
permitirá fixar as formas e as condições nas quais uma ação política, uma participação
nos encargos de poder, o exercício de uma função serão possíveis ou impossíveis,
aceitáveis ou necessários (FOUCAULT, 1985, p. 93).
Quando Foucault coloca a questão do cuidado de si ele não o separa da dimensão
política intrínseca, associando, portanto, ética e política. Nesse sentido, é possível pensar a
relação da aprendizagem de Filosofia como “cuidado de si”, o qual não se reduz ao caráter
instrumental do sujeito político que as normas legais almejam formar. O que não significa que
22
essa ênfase no caráter político que a lei estabelece deva excluir o cuidado com outras dimensões
do sujeito. Trata-se de um relacionamento entre a Filosofia e todas as dimensões do sujeito.
Vemos, claramente, que o ideal humanista do renascimento e do iluminismo perdura através
das normas que regem a educação brasileira, mas não é isso que encontramos em Foucault. Ele
propõe que o cuidado de si é algo que vai além. Vejamos como o papel da Filosofia se torna
restrito a um ideal de sujeito, preso a um conjunto de fatores que a educação almeja alcançar,
tornando-se um aparelho do Estado para a construção de determinados sujeitos:
Outro objetivo geral do Ensino Médio constante na legislação e de interesse para os
objetivos dessa disciplina é a proposição de “aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico” (Lei n° 9,394/96, Artigo 36. Inciso III). Embora
se trate de uma ideia vaga, o aprimoramento como pessoa humana indica a intenção
que não corresponda apenas à necessidade técnica voltada a atender interesses
imediatos, como por exemplo do mercado de trabalho. Tratar-se-ia antes de um tipo
de formação que incluía a constituição do sujeito como produto de um processo, e
esse processo como um instrumento para o aprimoramento do jovem aluno. (SANTOS
NETO, 2006, p. 28-29)
Torna-se curioso como parcialmente os documentos legais se contradizem. Ora
pregam um ensino de Filosofia livre, ora o aprisiona em conceitos técnico-instrumentais,
indicando-o como parte de um processo de aprimoramento do aluno, sem apontar em que
sentido está posto esse “aprimorar”. Este aprimorar diz respeito a quais aspectos do ser do
aluno? Está posto apenas em uma dimensão epistemológica ou devemos entender como um
aprimoramento nos campos da ética e da política? Esse processo de aprimoramento,
fundamentado em uma pretensa ideia da disciplina de Filosofia como redentora de um sujeito
específico indica alguma possibilidade de compreender o sujeito consigo mesmo ou até mesmo
na dimensão do seu corpo? Os questionamentos levantados, se compararmos aos objetivos
propostos nos documentos do MEC com o conceito foucaultiano de “cuidado de si” se torna
interessante, pois o próprio conceito de cuidado de si surge na obra foucaultiana no âmbito de
uma reflexão sobre a sexualidade, os prazeres e o corpo. Em outros termos, o cuidado de si,
além da dimensão política, envolve também uma dimensão corporal.
Dessa feita, abordaremos a seguir a forma como o ensino de Filosofia é pensado
institucionalmente (nos PCN´s, na LDB) em toda sua ideia de formação do cidadão democrático
e partícipe da vida política e no sentido abrangente de formação humana, com o cuidado de si
pensado em sua relação com o outro, tomando como base o conceito de cuidado de si exposto
nas obras do filósofo Michel Foucault, nomeadamente A História da sexualidade, Volume III:
23
O cuidado de Si”, “Hermenêutica do Sujeito”, “O Governo de Si e dos Outros” e “A Coragem
da Verdade”.
2.3. PARA UMA ANÁLISE DA APRENDIZAGEM CONTEMPORÂNEA
Inúmeros são os aparatos que fomentam a importância que tem a educação como, por
exemplos, os meios de comunicação, livros, discursos políticos, organizações governamentais
e não-governamentais, especialistas, educadores e, atualmente, plataformas digitais na internet.
Investimentos são feitos tanto na melhoria da infraestrutura quanto na qualificação dos atores
humanos que fazem o universo ensino-aprendizagem, bem como em recursos tecnológicos de
alta qualidade. Constroem-se modelos educacionais, imitam-se outros tantos projetos
pedagógicos objetivando tentar melhorar a educação, porém na maioria dos espaços
educacionais, desde a mais tenra idade até as paredes da academia, os inúmeros modelos e
propostas pedagógicas são tantos quanto são várias as realidades sociais: de escolas para pobres
a escolas para ricos; do ensino técnico-profissionalizante às escolas-fazendas; das escolas
públicas às escolas privadas. Nessa realidade, o objetivo maior é a quantificação do maior
número de estudantes possível.
Essa quantificação do processo educativo também está presente nos documentos legais
que regem a educação em nosso país, pois está prescrito que um dos objetivos da educação é
formar para o mercado de trabalho. A Resolução N.º 2, de 30 de janeiro de 2012, a respeito das
definições das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no Título I, Objeto e
Referencial, Capítulo 2, Referencial legal e conceitual, Artigo 4º, inciso II indica: a preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser
capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores5.
A partir daí é possível constatar que na maior parte das escolas que compõem a rede
particular de ensino os fins propostos com a alcunha de excelência em ensino-aprendizagem
esbarram no fator quantitativo, qual seja, a quantidade de egressos no ensino superior ou em
cursos reconhecidos. O sujeito-aluno transforma-se em um número, um outdoor para
marketing. Todavia, esbarramos em um questionamento importante: Até que ponto o ensino nas
escolas ajuda no desenvolvimento dos alunos enquanto indivíduo e também ser coletivo?
Esse paradigma quantitativo educativo se tornou possível com a ascensão do sistema
político-econômico que perdura no ocidente denominado capitalismo. Nele é proposta e
5
Resolução CNE/CEB 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de janeiro de 2012, Seção 1, p. 20.
24
vendida uma ideia de qualidade de vida, de objetivo existencial, de ser bem-sucedido, de ter
êxito diante da sociedade, de ser um vencedor, em modelos que devem servir para uma melhor
sociedade. Neste sentido, como fica o ensino e a aprendizagem da Filosofia? Existe
possibilidade para uma outra forma de aprender? É possível uma aprendizagem cujo objetivo é
a construção do ser do sujeito por ele mesmo? Será que o conjunto dos conteúdos que são
ensinados na escola são verdadeiramente importantes para os sujeitos que lá estão inseridos? O
que é ensinado, discutido nas aulas de Filosofia e o mais importante, aprendido, faz dela uma
matéria estática, inerte, ou provoca nos alunos um movimento que os leve a refletirem e
pensarem em suas vidas? Será que as aulas de Filosofia não deveria buscar outro
desenvolvimento no aluno além do desenvolvimento curricular? Será que ela se transformou
em uma mera reprodução de uma razão instrumental? Se assim for, seu valor cai na mera
reprodutibilidade técnica dos conhecimentos. Filosofar não pode cair na simples atividade de
decorar conceitos de filósofos clássicos e aplicá-los em um exame. É preciso uma aprendizagem
que provoque no aluno uma inquietação com o mundo, que sirva para a sua estética de vida,
dando-lhe a liberdade artística de pensar e criar seu próprio eu.
Com as repentinas mudanças dos paradigmas na atualidade o próprio conhecimento
está sofrendo transformações. Os sistemas educativos pouco têm apresentado mudanças
significativas. Reside aqui um problema apresentado por Foucault, na realidade um problema
bem profundo: a disciplina. Ela e todos os aparatos disciplinares corroboram com a
quantificação. As escolas normais tomaram como objetivo aquilo que é medível, quantificável
e passível de observação. Elas buscam a criação de um modelo disciplinar para se chegar aos
seus objetivos quantitativos, criam regras e a denominam de qualificações6, quer seja um valor
numérico ou um conceito, quer uma aprovação daqueles que são considerados melhores ou uma
reprovação
para
os
considerados
inferiores,
sempre
seguindo
uma
ótica
de
comparação/competição. Comparação de aprendizagem, logo, comparação de subjetividades,
de sujeitos, deixando-nos um dilema: se cada indivíduo é singular, único, então qual a régua
que deve ser usada para medi-los? Seria um número suficiente para definir o ser das pessoas?
A qualidade dos seres? O ser mesmo do sujeito alheio? Foucault (2012a, p. 164-165) diz:
O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o
olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que
lhe é específico, o exame. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue
pelo jogo do olhar: um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos
de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles
6
Abordaremos com mais detalhes e embasamento teórico a noção de disciplina em Foucault no terceiro capítulo.
25
sobre quem se aplicam. […] um saber novo sobre o homem, através de técnicas para
sujeitá-lo e processos para utilizá-lo.
Na mesma obra ele prossegue sua análise sobre o disciplinamento ao falar da escola,
dizendo:
Do mesmo modo, a escola se torna uma espécie de aparelho de exame ininterrupto
que acompanha em todo o seu comprimento a operação do ensino. Tratar-se-á cada
vez menos daquelas justas em que os alunos defrontavam forças e cada vez mais de
uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir
e sancionar. […] O exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação
de saber a uma certa forma de exercício de poder. O exame inverte a economia da
visibilidade no exercício de poder. […] O exame faz também a individualidade entrar
num campo documentário [...] O exame que coloca os indivíduos num campo de
vigilância os situa igualmente numa rede de anotações escritas. […] a constituição do
indivíduo como objeto descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços
'específicos', como fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para mantêlo em seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou
capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente. (FOUCAULT, 2012a,
p. 178, 179; 181, 182)
É perceptível a contradição posta nos objetos e objetivos da educação nacional, bem
como sua prática. Na teoria encontramos leis e parâmetros que pregam uma educação a partir
de um desenvolvimento humano, galgada em valores humanos como solidariedade, igualdade,
liberdade, cooperação, paz e felicidade. Entretanto, a realidade é bem diferente. Chega a ser
paradoxal, já que os espaços de aprendizagem trabalham como conteúdos ditos ideais, mas não
como princípio, uma vez que no sistema capitalista a competição é que separa os sujeitos entre
os normais e os anormais, entre os bem-sucedidos e os fracassados. Esses conteúdos são
trabalhados, batidos e vividos como sinônimo de vitória. A aprendizagem converte-se em
processo de reprodução simbólica, tornando a escola não como espaço de formação, mas
semelhante a uma prisão ou, como disse Foucault, um espaço onde se desenvolve uma nova
microfísica do poder:
A disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço. Para
isso, utiliza diversas técnicas. 1) A disciplina às vezes exige a cerca, a especificação
de um local heterogêneo a todos os outros e fechados em si mesmo. Local protegido
da monotonia disciplinar. Houve o grande 'encercamento' dos vagabundos e dos
miseráveis; houve outros mais discretos, mas insidiosos e eficientes. Colégios: o
modelo do convento se impõe pouco a pouco; o internato aparece como o regime de
educação senão o mais frequente, pelo menos o mais perfeito. (FOUCAULT, 2012a,
p. 137)
Com o advento da Revolução Científica do Século XVII e a Revolução Industrial a
crença na infalibilidade da ciência legará a essa relação ensino/aprendizagem um caráter
26
positivista e instrumental, em que a máxima principal será maiores resultados possíveis com o
menor esforço e investimento, com regras e postulados científicos bem definidos, com resposta
necessária para os trabalhadores e oportunidade ímpar para os industriais. Estes foram os
responsáveis pelo investimento inicial na educação pública, a fim de se ter mão de obra
qualificada e inteligente. E em que se transformaram as salas de aula? Em uma ferramenta útil
para formar sujeitos para o mercado de trabalho. Logo, um instrumento repetitivo de
subjetivação e produção cultural.
Pode-se comparar a metodologia do espaço escolar com uma linha de montagem
industrial, uma esteira de séries e módulos que precisam ser conquistados e ultrapassados sem
pular nenhuma etapa, e também a separação destes “produtos” por graus “qualitativos”. Nessa
realidade, os indivíduos são levados a buscar os louros, pois os prêmios prometidos são dados
aos melhores. Precisam ser os vencedores. Não se pode perder de modo algum ou fracassar. E
se a criança não alcança os objetivos que lhe são determinados um conjunto de punições lhe
espera. Foucault (2012a, p. 172-173) diz:
A disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um modelo
reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo
o que está inadequado à regra, tudo o que se afasta dela, os desvios. […] O castigo
disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve, portanto, ser essencialmente
corretivo. A punição disciplinar é, pelo menos por uma boa parte, isomorfa à própria
obrigação [...]. Castigar é exercitar. […] A punição, na disciplina, não passa de um
elemento de um sistema duplo: gratificação-sanção.
Uma crença medieval que ainda perpetua é a de que o aluno é um ser vazio a ser
preenchido, podendo-se, neste percurso, formá-lo, reformá-lo e moldá-lo conforme for
necessário, com medidas impostas por outrem de acordo com precisões externas. E assim,
semelhante a um rato de laboratório, socializamos os indivíduos a partir de um ideal de ser
humano que buscamos criar. E nessa perspectiva de disciplina a educação atual se propõe a
ensinar mais pelo medo do que por quaisquer outros métodos.
A relação ensino-aprendizagem é mais um mecanismo de controle e de manipulação
ética do que uma possibilidade de construção dos sujeitos por eles mesmos. Ensinamos por
condicionamentos, estímulo pergunta/resposta correta, logo, prêmios. Qual consequência
vemos de um percurso educacional que está fincado desde a modernidade na sociedade
ocidental? Uma educação meramente positivista, instrumental e normatizadora.
Os dilemas desta pesquisa aguçam-se ao se refletir sobre a educação e a aprendizagem
contemporânea. Resolvemos encerrar este primeiro diálogo com essa crítica sobre o
engessamento da aprendizagem contemporânea. De forma retórica nos questionamos: como
27
pode o aluno ser provocado por uma reflexão que o conduza a uma aprendizagem filosófica
estando ele inserido em um sistema normatizador e disciplinador? Seria a Filosofia capaz de
trazer resistência? É possível uma aprendizagem de Filosofia que se contraponha ao corpo
educacional instituído, ou seja, currículos, parâmetros, didáticas e metodologias? Algumas
dessas perguntas estão distribuídas no desenvolvimento deste trabalho e buscaremos apresentar
possíveis respostas.
No terceiro capítulo retomaremos a temática dos questionamentos sobre o ingresso da
Filosofia no currículo do Ensino Médio das escolas no Brasil e apresentaremos um
deslocamento da problemática saber/poder de Foucault para o campo educacional. Em seguida,
discutiremos a disciplina escolar como ferramenta político-pedagógica para a manutenção do
biopoder e a possibilidade da aprendizagem da Filosofia como resistência. Logo após falaremos
sobre o conceito foucaultiano do Cuidado de Si como possibilidade de construção e
transformação dos sujeitos por eles mesmos. E finalmente mostraremos os pontos de fuga e
resistência ao ensino normativo e a construção do sujeito a partir da experiência de si como
tecnologias do eu discutidas por Foucault e estudadas, questionadas e interpretadas por Larrosa
(1994) do ponto de vista da aprendizagem filosófica.
Na quarta parte do trabalho apresentaremos a metodologia proposta em nosso estudo,
bem como os resultados e análises do desempenho em campo realizado a partir de uma pesquisa
e um roteiro de entrevista para se averiguar em que medida a aprendizagem de Filosofia provoca
uma relação diferente no ser do sujeito-aluno, quer consigo mesmo, quer com o outro.
28
3. DISCIPLINA, CUIDADO DE SI, RESISTÊNCIA E APRENDIZAGEM
Neste capítulo tratar-se-á da aprendizagem de Filosofia a partir dos elementos legais
que regem a educação básica no Brasil, com a implantação da obrigatoriedade da matéria no
Ensino Médio a partir de 2008. Em seguida, apresentamos os conceitos de disciplina, cuidado
de si e resistência em Foucault transpostos para o campo educacional com o fim de melhor
entendermos a relação saber/poder e subjetividade. Mostramos a disciplina escolar como um
dispositivo de constituição do biopoder e a Filosofia como possibilidade de resistência a esse
poder a partir da noção de cuidado de si. Posteriormente, falar-se-á sobre o Cuidado de Si como
possibilidade de construção dos sujeitos por eles mesmos. E finalmente, retomamos a discussão
da Filosofia como linha de fuga e resistência ao ensino normativo, de acordo com as
experiências de si, respaldado na contribuição de Larrosa (1994) quando escreve sobre as
tecnologias do eu e a educação.
3.1. QUESTIONAMENTOS PRELIMINARES SOBRE A NORMATIVIDADE DA
DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO E SEUS OBJETIVOS.
A disciplina Filosofia tem sua história no ensino brasileiro marcada por inclusão e
exclusão nos currículos que regem a educação nacional. No início do Regime Republicano, a
disciplina saiu da exclusão e foi posta, por pouco tempo, como componente curricular. Passou
uma década sendo ministrada, mas novamente saiu dos componentes curriculares no ano de
1911. Outra medida educacional, chamada reforma Rivadávia Corrêa, excluiu-a dos currículos.
Quatro anos depois ela retorna em caráter optativo, e apenas em 1925 como matéria obrigatória.
No primeiro governo Vargas (1930 a 1945) a educação no Brasil passou por algumas
outras tantas reformas, entre elas medidas que mantinham a Filosofia no currículo escolar, mas
ministrada mais em caráter de caracterização histórica e enciclopedista do que propriamente
filosófica.
Durante a mais recente tentativa de retorno da Filosofia ao currículo do Ensino Médio,
inúmeras justificativas foram levantadas para mostrar o seu valor. As principais justificativas
foram: dita potência da Filosofia no auxílio do desenvolvimento de uma consciência crítica nos
alunos; e a filosofia como um elo de interdisciplinaridade entre as demais ciências. Gallo
(2012b) redarguida essas justificativas entendendo que elas trazem problemas passíveis de
discussão, como, por exemplo, o fato da Filosofia ser justificada por uma responsabilidade de
29
desenvolver nos estudantes, alheio a ela mesma, o que lhe confere um caráter instrumental. Por
outro lado, ele indaga:
Em ambos os casos, a justificação para o ensino de filosofia confere a esta disciplina
um papel que não é e não pode ser exclusivamente dela. Isto é, se desejamos uma
educação que forme a criticidade dos jovens, a filosofia pode ser um dos elementos
desta formação, mas certamente não é e não pode ser o único. A criticidade não é
exclusiva da filosofia e não pode ser creditada exclusivamente a ela. Ou as demais
disciplinas também são formadoras da consciência crítica ou esta formação é
impossível. E o mesmo raciocínio é válido para a interdisciplinaridade. (GALLO,
2010b, p. 160).
Com a Lei n° 5.692, a disciplina Filosofia é retirada das salas de aulas no Brasil por
mais de três décadas, decorrente do golpe militar de 1964, e sua total exclusão em 1971. O
ensino brasileiro, durante o regime de exceção, tornou-se técnico e instrumentalizado por
excelência. Diante de um regime totalitário, o melhor que os governantes podiam fazer era
inibir o povo de um pensamento crítico e politizado. A partir de 1985, com o fim do regime
ditatorial, mais uma vez a disciplina retorna aos currículos em caráter optativo. O governo
federal pleiteou uma obrigatoriedade para a Filosofia na grade curricular do Ensino Médio no
ano de 2006, segundo o Parecer n° 38/2006, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
aprovado em sete de julho e homologado pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad, no dia
onze de agosto do referido ano7.
Com o parecer da Lei 11.684 das Leis de Diretrizes e Bases que regem a educação
nacional, sancionadas em junho de 2008, a disciplina de Filosofia passou a ser componente
curricular obrigatório no Ensino Médio. Na realidade, há muito se pensava no retorno da
disciplina, com algumas propostas levantadas desde o governo de Fernando Henrique Cardoso
(1994-2002) e durante o governo Lula (2003-2010).
O que se conseguiu com esta última sanção foi uma considerável modificação na
LDBEN 9.394/96, em que a Lei 9424/96 propunha que disciplina citada fosse contemplada de
forma transversal, levando o educando apenas a adquirir “domínio dos conhecimentos
necessários ao exercício da cidadania”8. Aquela Lei já havia sofrido mudanças anteriormente,
Os conteúdos históricos e as datas sobre as entradas e saídas da disciplina Filosofia na grade curricular do ensino
brasileiro são baseadas nas pesquisas da professora MAAMARI, Adriana Mattar. De volta à Escola: A Filosofia
retorna ao currículo escolar do Ensino Médio como disciplina obrigatória. In: Discutindo Filosofia. São Paulo:
Escala Educacional, Ano 1, n° 05, ISSN 1808-8961-05, 2006. p. 23. E nos artigos publicados: RODRIGUES, Zita
Ana Lago. O ensino da Filosofia no Brasil no contexto das políticas educacionais contemporâneas em suas
determinações legais e paradigmáticas. In: Educar em Revista, nº 46. Curitiba: Editora UFPR, 2012. p. 69-82.
GALLO, Sílvio; ASPIS, Renata Lima. Ensino de filosofia e cidadania nas “sociedades de controle”: resistência e
linhas de fuga. In: Pro-Posições, v. 21. n. 1 (61), p. 89-105. Campinas: Edições Unicamp, 2010a.
8
BRASIL. MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96. Brasília, DF: MEC, 1996.
7
30
com o DCNEM, apresentado pela portaria do CNE/CEB de 1998, reiteradas as observações da
LDBEN, com as seguintes palavras sobre a necessidade do ensino de Filosofia: ser “coerente
com princípios estéticos, políticos e éticos [abrangendo] a Estética da Sensibilidade, a Política
da Igualdade e a Ética da Identidade”9.
Nos deparamos, aqui, com questões filosóficas sobre os próprios focos a que as
instituições legisladoras do ensino tentaram dar como objetivos do ensino de Filosofia. Os
referidos documentos apresentam essas três perspectivas, no entanto não aprofundam e muito
menos explicitam o que se quer dizer por Estética da Sensibilidade, Política da Igualdade e
Ética da Identidade. No nosso entender, a legislação responsável pela educação aposta em
conceitos sem ao menos estabelecer um sentido dessas mudanças na lei em aproximação aos
reais conceitos.
Essas questões podem ser acrescidas a outras tantas quando analisamos o Artigo 35,
inciso III, da mesma LDBEN 9.394/96, e encontramos algumas das tarefas da disciplina
Filosofia, qual seja: o “aprimoramento do educando como pessoa humana [...] a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, tarefas que certamente
a Filosofia facilitaria no aluno do Ensino Médio”10. Nesse sentido, em que medida este
aprimoramento do educando acontece a partir das aulas de Filosofia? Antes de tudo devemos
nos perguntar: tem a Filosofia a capacidade de transformar o ser do sujeito? Ou anteriormente
a todas essas indagações há espaço nos objetivos propostos pelo MEC para trabalhar filosofia
com respaldo na experiência de si?
Para fazer uso de mais um dos documentos legais que tentaram dar importância e
inclusão à Filosofia no Ensino Médio recorremos ao terceiro argumento apresentado pelo
deputado Roque Zimmermann na PL 3.178/97, quando fala da capacidade da filosofia como
auxílio no desenvolvimento humano:
O reconhecimento do status de disciplina à Filosofia e à Sociologia é o
reconhecimento de seu estatuto epistemológico, próprio a estas duas ciências –
Filosofia e Sociologia, importantes e fundamentais para o desenvolvimento humano.
Constituí-las como disciplinas na arquitetura curricular do Ensino Médio nas escolas
brasileiras significa muito mais do que reforçar compartimentações, mas reconhecer
seu status epistemológico e sua relevância histórica para a formação da capacidade
crítico-reflexiva e da ampliação da capacidade da construção da cidadania do alunado
que acessa esse nível de escolarização formal. (ZIMMERMANN, 2001).
______. MEC/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. DCNEM-CEB/CNE. Brasília, DF:
MEC, 1998a.
10
BRASIL. Op. cit. 1996.
9
31
Foucault, de algum modo, põe em questão esses objetivos humanistas e positivistas da
aprendizagem da filosofia, fazendo desse modo um deslocamento deles a partir da noção de
experiências de si. O que é colocado pelas normas que regem a Filosofia no Ensino Médio
encontra limitações e insuficiências na prática filosófica, notadamente aos aspectos que
correspondem a nossa pesquisa, ou seja, a experiência de si. Além disso, essas normas precisam
ser consideradas a partir de uma perspectiva disciplinar que atravessa as práticas pedagógicas
da escola.
3.2. MICHEL FOUCAULT, SABER, PODER E EDUCAÇÃO
Michel Foucault foi um pensador cuja obra filosófica perpassava por inúmeras áreas
do conhecimento humano de forma transversal. Além da Filosofia, seus escritos são usados e
abarcam temas relevantes à psicanálise e psicologia, à história, sociologia, ao estudo do direito
etc.. No entanto, é perceptível que o objetivo principal de seus estudos é o sujeito.
Foucault não escreveu propriamente sobre educação. No entanto, ele tangencia temas
educacionais como, por exemplo, em Vigiar e Punir (2012a), o qual fala da disciplina escolar
como agente de disciplinarização e domesticação, tema que abordaremos mais adiante na
possibilidade de um ensino de Filosofia como forma de resistência. Ele escreve ainda sobre
educação grega em seu curso de 1981-1982, que resultou na compilação gráfica de A
Hermenêutica do Sujeito (2006). Tendo o sujeito como conceito-chave de sua pesquisa,
podemos fazer um deslocamento conceitual, acreditando ser também o objeto central da
educação.
Entretanto, é necessário fazer algumas ressalvas. Enquanto na educação moderna o
sujeito é algo pronto, algo já dado que pode e precisa ser educado e lapidado, em Foucault o
sujeito se apresenta como parte de uma construção histórica. Ele critica esse conceito fechado
de sujeito nascido na modernidade, o qual fomos levados a crer que sempre existiu, da mesma
forma e com as mesmas características. Encontramos sua crítica a história linear com as
seguintes palavras:
A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a
garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que o tempo
nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a promessa de que o
sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência histórica –, se apropriar,
novamente, de todas essas coisas mantidas à distância pela diferença, restaurar seu
domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada. Fazer da análise
história o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de
todo o dever e de toda prática são as duas faces de um mesmo sistema de pensamento.
32
O tempo é aí concebido em termos de totalização, onde as revoluções jamais passam
de tomadas de consciência. (FOUCAULT, 1987, p. 14-15).
Foucault coloca em questão a ideia de sujeito compreendida pela modernidade e o
pensa como algo criado relativo a um dado momento histórico. Outras formas de sujeito são
criadas a cada momento, de variadas maneiras, diante dos inúmeros tipos de saberes. O sujeito
nada mais é que um ser na história que surge em um momento e que se constitui historicamente.
Portanto, o sujeito não é um ser fixo. É, antes de tudo, um ser passível de mudanças e
transformações. Logo, se existem diferentes formas históricas de sujeitos há diferentes formas
históricas da educação daqueles.
Por inferência, percebemos nessa construção do sujeito ou de sujeitos, de acordo com
o pensamento foucaultiano, o rompimento com toda e qualquer forma de dualismo escolástico,
onde outrora tínhamos o aluno passivo, ser cognoscente, assemelhado a um recipiente pronto a
receber todas as verdades de seus mestres, e o professor, dono da verdade e do saber, prestes a
exercer sua função: criar um tipo de sujeito pronto e regulado, disciplinado e dócil, segundo a
ótica do biopoder, conceito foucaultiano que será abordado posteriormente.
Para Foucault, não existe “o aluno” ou “o professor”. O que de fato existe é um
processo de subjetivação, construção e fabricação do sujeito. Para isto existem técnicas,
processos de criação e formação deste sujeito como, por exemplo, a educação. Essa construção
é histórica, e a educação não é o único elemento construtor ou formador do sujeito. Ele se
constrói a partir de outras inúmeras relações dentro de sua existência, e não com base em um
ideal de homem, pensador, autônomo legado pelo pensamento iluminista. Na realidade,
Foucault tece críticas a esse ideal de homem, de sujeito.
Para melhor entendermos essa construção, precisamos recorrer aos conceitos de Saber
e Poder na obra de Foucault. Uma de suas primeiras abordagens foi sobre o saber,
principalmente no que toca às mais variadas formas de produção dos saberes, e como os sujeitos
os produziriam e ainda produzem. Estas abordagens estão além da preocupação moderna sobre
o conhecimento. Enquanto na Modernidade o importante era o acúmulo de conhecimentos para
Foucault o mais importante é entender como o conhecimento pode interferir na construção dos
sujeitos. Em cada época, a cada momento histórico, determinados tipos de saberes são
construídos, são possíveis, como está escrito em As Palavras e as Coisas (1966). Logo, não
está em foco para Foucault a importância dada sobre os conhecimentos, mas a relação
saber/poder na construção das subjetividades.
33
Em Foucault, a relação saber/poder se insere nos estudos mais propriamente
genealógicos, ainda que também esteja presente a perspectiva arqueológica como uma
arqueologia das ciências e uma genealogia do saber/poder. Nesta genealogia, uma das questões
centrais pode ser apresentada do seguinte modo: de que forma ou quais elementos, em um dado
contexto histórico, são responsáveis para que pensemos de certa maneira e não de outra? Que
tipo de ciência é possível neste período histórico? Como esses elementos se modificam?
Ponderando sobre a ciência da educação e a concepção do saber questiona-se este como uma
construção a partir de determinados elementos, aos quais ele chama de elementos da verdade.
A verdade é apresentada por Foucault como construção histórica, uma invenção que
depende de todo um conjunto de forças, que não há relação de causalidade entre poder e saber,
mas uma relação em rede, um jogo em que ambos se constituem reciprocamente na história.
Cabe outro conceito importante no estudo do pensamento do referido filósofo, o conceito de
jogos da verdade, em que se inquire como a verdade é produzida e percebida. O poder produz
saber e saber produz ora mecanismos de manutenção ora novas relações de poder, como forma
de resistência ao poder instituído.
Quanto a este ponto cabe relembrar a influência que Nietzsche teve no que tange à
construção do sujeito no pensamento sobre subjetivação na obra foucaultiana. Nietzsche, autor
de Verdade e Mentira no Sentido Extramoral (2005), traz toda esta inquietação no que diz
respeito à capacidade humana de conhecer algo como verdade. Seu ceticismo não apenas faz
uma crítica, mas ironiza o engano humano de acreditar em uma verdade absoluta ou em um
conjunto de conhecimentos que foram tomados como verdade e perpassado de geração em
geração, de forma que não apenas acabou por criar uma modulação na construção dos sujeitos,
mas determinou um arcabouço ético-moral que rege a ferro a maioria dos homens. Nietzsche
(2005, p. 53) diz:
Não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que, com um pequeno sopro
daquela força do conhecimento, não transbordasse logo como um odre; e como todo
transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens,
o filósofo, pensa ver por todos os lados os olhos do universo telescopicamente em
mira sobre seu agir e pensar. É notável que o intelecto seja capaz disso, justamente
ele, que foi concedido apenas como meio auxiliar aos mais infelizes, delicados e
perecíveis dos seres, para afirmá-los um minuto de sua existência [...]. Aquela altivez
associada ao conhecer e sentir, nuvem de cegueira pousada sobre os olhos e
sentimentos dos homens, engana-os, pois, sobre o valor da existência, ao trazer em si
a mais lisonjeira das estimativas de valor sobre o próprio conhecer. Seu efeito mais
geral é engano – mas mesmo os efeitos mais particulares trazem em si algo do mesmo
caráter.
34
Ainda na mesma obra, encontramos o autor questionando o que é verdade e aludindo
a ideia de que a verdade, por ser construída, se torna apenas metáforas. Metáforas estas que
incorrem em um jogo de dados dos conceitos:
O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias,
antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas
poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um
povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se esqueceu
que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que
perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como
moeda. (NIETZSCHE, 2005, p. 57)
É difícil separar os efeitos de saber e os efeitos de poder. Quanto ao ensino de Filosofia,
torna-se ainda mais complicado tentar separar estes dois aspectos, uma vez que ela não é um
saber de conteúdo e muito menos um simples corpo de saber, ou um sistema. Não é apenas uma
lista de conteúdos sobre a história do conhecimento ou nomes de filósofos e escolas filosóficas.
De certo modo é pensar de outra maneira as possibilidades de sermos o que somos, pensarmos
sobre o que temos como verdade, questionar as próprias relações de poderes e de saberes. É
inquirir-se sobre si e sobre seu próprio pensamento. Pensa-se que através da resistência é
possível fazer uma prática da aprendizagem de Filosofia dentro da ótica disciplinar, que é o
alicerce da educação contemporânea.
Neste ponto, pensamos a instituição escolar como um padrão do que é educação,
ensino e aprendizagem na atualidade sob a ótica da disciplina apenas como uma ferramenta de
conformação do sujeito ou vê-la estratégia de resistência e de transformação do ser do sujeito.
Compreendemos como postura que mais se aproxima dos conceitos que defendemos a proposta
de entender a aprendizagem como uma tentativa de fuga de uma educação conteudística, cuja
educação é guiada por um simples acúmulo de conhecimentos sobre determinada temática.
Conteúdos estes que têm como objetivos a regulação dos sujeitos conforme o biopoder.
Sabendo que a escola é um espaço de atuação do saber/poder normatizador da
disciplina, o ponto seguinte deste capítulo detalha o conceito foucaultiano de disciplina e
apresenta a possibilidade da aprendizagem de Filosofia como atividade de resistência.
3.3. A DISCIPLINA (ESCOLAR): DISPOSITIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO
BIOPODER
Dentre as várias instituições sociais que têm como incumbência a formação do sujeito
na modernidade, à escola é atribuída a tarefa de esclarecer e emancipar o ser humano.
35
Entretanto, esta é apenas parte de um discurso humanista. A escola mostra-se muito mais como
um espaço de disciplinamento, cumpre a função de formação da subjetividade do aluno através
de mecanismos de normatização dos comportamentos e das práticas educacionais.
Para problematizar esta temática, nos valemos do pensamento de Foucault na terceira
parte do texto Vigiar e Punir (2012a), cujo título é Disciplina, mais precisamente os capítulos
I. Os corpos dóceis, e o capítulo II. Os recursos para o bom adestramento. Ainda recorremos a
algumas passagens do texto Microfísica do Poder (2012b), além de intercalar com outros
autores para fundamentar nossa discussão a respeito da escola como máquina disciplinar.
O sujeito nada mais é que uma simples invenção moderna, consequência das mais
variadas formas de produção dos saberes e das relações de poderes. Para esta análise
genealógica da constituição histórica em que se encontram as imbricações das relações de
Saber/Poder, a obra Vigiar e Punir se apresenta como fundamento introdutório para o
entendimento da formação das instituições disciplinares, principalmente na concepção
filosófica da Modernidade quanto à criação do sujeito, de forma histórica. As mais diversas
práticas e discursos usados pelas instituições sociais durante os séculos XVII a XIX, como, por
exemplos, as clínicas (hospital), os quartéis, a fábrica e as instituições de ensino (escola) são
alvos de análise e crítica de Foucault. Usando-o como deslocamento conceitual, nos interessa
apenas as instituições de ensino, qual seja: a escola. Buscamos entender o funcionamento desta
enquanto espaço disciplinar a partir das referências ao pensamento foucaultiano.
A educação não foi especificamente um campo de investigação para a pesquisa e
produção científica de Foucault. Suas análises das demais instituições sociais, principalmente
as clínicas, hospitais e os sistemas carcerários, permitem pensar o papel da escola na construção
dos sujeitos, na fabricação de subjetividades e na manutenção dos poderes. Semelhante à
clínica, aos hospitais e aos cárceres, a escola é vista por Foucault como um espaço de análise
onde se pode questionar até que ponto ela aparece como instituição de sequestro na produção
dos sujeitos e até mesmo na manutenção do poder.
Foucault (2012a) deixa claro que antes do século XIX o homem não existia enquanto
objeto de conhecimento, sendo ele apenas o resultado da configuração do saber da Idade
Moderna e, consequentemente, um efeito do poder disciplinador. É óbvio que essa ideia de
homem não seria possível de ser concebida sem o auxílio de mecanismos de disciplinarização,
entre eles a formação escolar, cujo local se articulam os poderes e saberes na formação do
indivíduo. Sobre a construção histórica do saber ou dos saberes, o pensamento de Foucault se
aproxima daquilo que Charaudeau (2006, p. 43) escreveu no que intitulou de Natureza do
Saber:
36
O saber não tem natureza, visto que é o resultado de uma construção humana através
do exercício da linguagem. A atividade de construção consiste em tornar o mundo
inteligível, categorizando-o segundo um certo número de parâmetros cuja combinação
é bastante complexa. A estruturação do saber depende da maneira como se orienta o
olhar do homem: voltado para o mundo, o olhar tende a descrever esse mundo em
categorias de conhecimento; (...). Simultaneamente, o saber se estrutura segundo a
escolha da atividade discursiva à qual se entrega o homem para dar conta do mundo:
ele pode decidir descrevê-lo, contá-lo ou explica-lo, e nisso tanto pode aderir a seu
dizer quanto a tomar distância para com o dizer.
Foucault pensa o poder diferentemente da concepção que a sociedade moderna
conceituou. Para o filósofo, o poder emana de uma determinada proposição e passa a ser
propriedade de alguns, ora representado pela figura do rei, ora pelo Estado. Sua análise não
centra o poder no Estado, mas o desloca ao atribuir uma série de relações de forças dispersas e
espalhadas em inúmeras dimensões sociais. Por não estar fixo em nenhum local específico da
estrutura da sociedade passa a funcionar como dispositivos de uma rede da qual ninguém
escapa. Ele mesmo afirma que o poder, em si, não existe:
O poder não existe. (...) A ideia de que existe, em um determinado lugar, ou emanado
de um determinado ponto, algo que é um poder, me parece baseada em uma análise
enganosa que, em todo caso, não dá conta de um número considerável de fenômenos.
Na realidade, o poder é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou
menos piramidalizado, mais ou menos coordenado. (FOUCAULT, 2012b, p. 369).
A escola, como um espaço no qual o poder disciplinador forma um tipo específico de
sujeito, é passível de problematização. Para Foucault o poder está permeado em toda e qualquer
relação social:
Não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um
indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras;
mas ter bem presente que o poder – desde que não seja considerado de muito longe –
não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente
e aqueles que não possuem e lhes são submetidos. O poder deve ser analisado como
algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está
localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, (...). O poder funciona e se
exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre
em uma posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte
ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. (FOUCAULT, 2012b, p.
284).
Podemos falar em possibilidade de resistência a um tipo específico de poder. Assim,
longe de nossa pretensão afirmar a possibilidade de aprendizagem de Filosofia como um escape
de todo o tipo de relação de poder, uma vez que ele está presente em todas as relações, circula
pelas relações, não está fora e muito menos se acrescenta às relações. Não existe algo intrínseco
37
ou substantivo que se chama poder ou que existe per si de forma independente. Por isso não se
trata de apresentar a Filosofia como libertadora das relações de poder. Sobre isso Foucault
(2008, p. 4) escreve:
O poder não se funda em si mesmo e não se dá a partir de si mesmo. Se preferirem,
simplificando, não haveria relações de produção mais – ao lado, acima, vindo a
posteriori modificá-las, torná-las mais consistentes, mais coerentes, mais estáveis –
mecanismos de poder. Não haveria, por exemplo, relações de tipo familiar que
tivessem, a mais, mecanismos de poder, não haveria relações sexuais que tivessem, a
mais, ao lado, acima, mecanismos de poder. Os mecanismos de poder são parte
intrínseca de todas essas relações, são circularmente o efeito e a causa delas.
Como as relações de poder estão estruturadas em um leque de possibilidades e
relacionamentos, atravessando vários aparelhos e instituições, os pontos de fuga e de resistência
também se configuram de forma diversa e espalhada, perfazendo as estruturas sociais e
conjunturas dos indivíduos. Aqui são postas duas dimensões das tecnologias do biopoder que
aparecem na modernidade: a disciplina, que incide sobre o indivíduo, corpo individual; e a
biopolítica, que incide sobre o corpo-espécie que Foucault (2008) nomeia de população.
Foucault nos apresenta o que chamou de poder pastoral, que foi o veículo pedagógico
para as primeiras práticas nas instituições de ensino, haja vista que as primeiras instituições de
ensino no Ocidente tiveram vínculos com a formação religiosa cristã, cujo poder, por sua vez,
acabou influenciando as diretrizes do poder disciplinador. Usando as palavras de Foucault sobre
este momento de transição vemos que muito do poder pastoral serviu de influência e será,
posteriormente, absorvido pela sociedade disciplinar:
(...) transpuseram à educação uma parte das técnicas espirituais – e não só à educação
dos clérigos, mas à dos magistrados e comerciantes: o tema da perfeição, em direção
à qual o mestre exemplar conduz, torna-se entre eles o de um aperfeiçoamento
autoritário dos alunos pelo professor; os exercícios cada vez mais rigorosos propostos
pela vida ascética tornam-se tarefas de complexidade crescente, que marcam a
aquisição progressiva do saber e do bom comportamento (...). Sob sua forma mística
e ascética, o exercício era uma maneira de ordenar o tempo aqui de baixo para a
conquista da salvação. Vai, pouco a pouco, na história do Ocidente, inverter o sentido,
guardando algumas características: serve para economizar o tempo da vida, para
acumulá-lo de uma maneira útil, e para exercer o poder sobre os homens por meio do
tempo assim arrumado. (FOUCAULT, 2012a., p. 155-156).
Na modernidade, muda-se a forma de atuação da força ou da violência nas ações,
embora sequer a força e a violência sejam totalmente suprimidas. Antes, o poder soberano
delimitava a vida dos súditos. A figura do rei decidia sobre as vidas dos servos. Agora, o
biopoder, através de toda a sua maquinaria, atua sobre os corpos de tal modo que utiliza a
38
disciplina para moldar e adestrar as pessoas, tornando-as seres dóceis. Outra característica diz
respeito as mais variadas maneiras de disciplinamentos as quais os corpos passam a ser
submetidos. Nesse sistema, a disciplina se torna um importante mecanismo para a ação do poder
e garante sua eficiência. Todo um conjunto de técnicas, formas de coerção e regras
institucionalizadas são empregadas a fim de se ter um controle sobre o indivíduo, o sujeito.
Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de
poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao
corpo — ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se
torna hábil ou cujas forças se multiplicam. O grande livro do Homem-máquina foi
escrito simultaneamente em dois registros: no anátomo-metafísico, cujas primeiras
páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos
continuaram; o outro, técnico-político, constituído por um conjunto de regulamentos
militares, escolares, hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar
ou corrigir as operações do corpo. Dois registros bem distintos, pois tratava-se ora de
submissão e utilização, ora de funcionamento e de explicação: corpo útil, corpo
inteligível. E, entretanto, de um ao outro, pontos de cruzamento. “O Homemmáquina” de La Mettrie é ao mesmo tempo uma redução materialista da alma e uma
teoria geral do adestramento, no centro dos quais reina a noção de “docilidade” que
une ao corpo analisável o corpo manipulável. É dócil um corpo que pode ser
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado.
(FOUCAULT, 2012a., p. 132.)
Este controle age de forma minuciosa sobre o corpo do sujeito por meio de inúmeros
exercícios de domínio dos seguintes campos: domínio do tempo, do espaço, dos gestos e das
demais ações do ser disciplinado. Nessa ótica, qual o objetivo de todo este aparato de
manutenção da disciplina? Segundo Foucault, estas práticas têm o objetivo de produzir corpos
submissos, dóceis, e por se tornarem dóceis por meio do exercício passam a ter utilidade.
No entanto, para que tal empreendimento fosse levado a sério, foi necessário o
surgimento do que conhecemos por instituições disciplinares, que durante a passagem do século
XVIII para o XIX assumiram a configuração de espaços nos quais se utilizam todos os métodos
de controle minucioso sobre o corpo dos indivíduos. Desse modo, a escola passa a ser um dos
veículos disciplinares de maior eficácia. Sobre os corpos, o tempo e os sujeitos. Nas palavras
de Moura, (2010, p. 57): “A escola disciplinar desenvolve, então, uma engrenagem e um
mecanismo constante de controle quase completo do tempo, no qual aos alunos mais velhos são
confiadas as tarefas de fiscalização, controle e, por último, ensino”. Esta engrenagem espalhase para os demais níveis da sociedade. Mecanicamente se trata de toda uma maquinaria de
moldar, adestrar o comportamento do aluno, enquadrar o ser de sujeito, do aprendiz, em
posturas tidas como corretas e louváveis. Este sucesso se fundamenta no que o filósofo francês
chamou de recursos para o bom adestramento, título do capítulo II da terceira parte da obra
39
Vigiar e Punir (2012a). Recursos estes configurados em apenas três importantes ferramentas: o
olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame.
Nas sociedades disciplinares, a punição ganha um status de efeito natural, da não
conformidade das ações dos indivíduos com o que é estabelecido como normal. Logo, aqueles
que não se enquadram nos padrões estabelecidos são tratados como desviantes, anormais.
Assim como são estabelecidos mecanismos de premiação para aqueles comportamentos
adequados às normas, ao mesmo tempo são estabelecidas punições para os que não se
conformam a ela. Deste modo, o poder disciplinar opera como um poder de mensurar,
diferenciar, medir as pessoas, os indivíduos. Este cânon permite qualificar, quantificar e
hierarquizar as capacidades dos sujeitos da aprendizagem. Criam-se padrões de conduta que
implicam em um postulado ético e moral nos quais os indivíduos são situados dentro de uma
normatividade, criando, por sua vez, um mecanismo de exclusão e diferenciação. Aquele que
não se enquadra no que se compreende como normal não receberá nenhuma forma de
congratulação, sendo submetido às punições, seja a repetência ou sua permanência em camadas
econômicas inferiores. Sobre a evolução do sistema disciplinar Moura (2010, p. 59) escreve:
Com a evolução do sistema disciplinar, seja na escola ou na prisão, a punição tornouse menos física e mais moral, elaborando sistemas comparativos entre aqueles que
obedecem à norma e os que dela se afastam, os anormais. No interior de uma
sociedade “normalizada”, o exame constitui-se em um mecanismo de controle que
permite qualificar, classificar e punir. É por meio dessa prática inédita na história das
estratégias de poder, que se torna possível uma visibilidade capaz de diferenciar e
sancionar os indivíduos.
Consequentemente, um fator criado a partir dessa noção de disciplinarização remete
ao que Foucault chamou de panopticon, a saber, o olhar da vigilância, o olhar do qual ninguém
consegue escapar. O olhar passa a ser o fiscalizador, o guia, o norteador do processo disciplinar.
O olhar do colega de sala, do professor, do coordenador, do diretor, enfim, o olhar disciplinar
da escola. Como mecanismo de controle, a escola tem a função de observar, contar e detalhar
todas as ações de seus alunos. Incorre em um método de documentação do indivíduo, fazendo
surgir novas práticas discursivas sobre o mesmo construídas a partir do conhecimento da
individualidade, da consciência e do comportamento dos alunos. Apenas mantendo o aluno sob
um olhar vigilante poderia-se contabilizar seus méritos, seu desenvolvimento e registrar suas
atividades e exercícios para classificá-lo, rotulá-lo e moldá-lo. O ensino passou a ser uma
constante prática de um processo de fiscalização e vigilância. Como o panopticon, o espaço
escolar coloca o sujeito em um estado de permanente vigilância.
Para a efetivação e o sucesso deste mecanismo de poder é preciso dividir os
40
conhecimentos em graus ou séries e classificar os alunos de acordo com a capacidade cognitiva
de cada um, de acordo com a normatividade apregoada pelos regimentos legais da educação.
Para que se possa concluir se o sujeito está ou não apto a “evoluir” para o próximo nível de
conhecimento, tendo em vista um conjunto de aparatos pedagógicos para se classificar os
normais, é possível, também, classificar os desviantes e anormais. Não mais serão empregados
os suplícios e castigos de outrora, mas uma nova forma de punição será ativada, pois o poder
normalizador tem de mostrar a esses desviantes que eles não podem fugir à regra, à
normalidade. As punições não têm como objetivo recuperar os desviantes e muito menos curálos, mas acentuar a diferença que existe entre eles e os demais.
Tendo em vista as proposições disciplinares, podemos relacionar a escola com a
política? Sem dúvida, pois as instituições de ensino acabam por se constituir em um grande
observatório político, um maquinário de poder que permite não apenas o conhecimento, mas
também o controle de seus adeptos por meio dos trâmites legais e institucionais que regem a
escola. Ela é uma das instituições mais fortes na formação do sujeito. Formando-os e tornandoos aptos para determinadas funções na sociedade.
E qual seria, então, o mais eficaz instrumento na disciplinarização do aluno? Segundo
Foucault, o sistema de exame constitui o principal instrumento disciplinar, regulamentando
quem está apto a avançar para os conhecimentos seguintes e quem ainda não está. Ligado à
formação de saber e ao exercício de poder, o exame ajuda no processo de comparação, descrição
de grupos, caracterização de fatos coletivos, estimativa de desvios dos indivíduos entre si.
O exame, segundo Foucault (2012a), tem uma abrangência maior do que apenas um
questionário avaliativo ou um sistema de notas classificatórias. Através dele as relações de
poder e saber se mesclam perfeitamente, instituindo o poder disciplinador. Parafraseando o
filósofo, as técnicas de exame combinam a hierarquia que vigia e as sanções que dão o caráter
normativo (FOUCAULT, 2012a). O exame é uma ferramenta muito forte, pois vai além de
sancionar. Ele também atesta a eficiência e o alcance das tecnologias que o poder pode atingir
em um campo específico do saber. Temos, como exemplo, algumas técnicas de registros criadas
no exército que foram ampliadas ou modificadas e usadas nos hospitais e estabelecimentos de
ensino, como bem escreve Foucault (2012a, p. 181):
O exame que coloca os indivíduos num campo de vigilância situa-os igualmente numa
rede de anotações escritas; (...). Um “poder de escrita” é constituído como uma peça
essencial nas engrenagens da disciplina. Em muitos pontos, modela-se pelos métodos
tradicionais da documentação administrativa. Mas com técnicas particulares e
inovações importantes. Umas se referem aos métodos de identificação, de
assimilação, ou de descrição. Era esse o problema do exército, onde urgia encontrar
41
os desertores, evitar as convocações repetidas, corrigir as listas fictícias apresentadas
pelos oficiais, conhecer os serviços e o valor de cada um, estabelecer com segurança
o balanço dos desaparecidos e mortos. Era esse o problema dos hospitais, onde era
preciso reconhecer os doentes, expulsar os simuladores, acompanhar a evolução das
doenças, verificar a eficácia dos tratamentos, descobrir os casos análogos e os
começos de epidemias. Era o problema dos estabelecimentos de ensino, onde era
forçoso caracterizar a aptidão de cada um, situar seu nível e capacidades, indicar a
utilização eventual que se pode fazer dele.
O resultado do exame na sociedade disciplinar se constitui em um arquivo minucioso
que classifica, numera, rege os dias e até mesmo os corpos dos indivíduos. Estes caem em um
mapeamento-registro de acúmulo documental, se transformam em um simples objeto passível
de descrição e análise na sociedade disciplinar. Em um número, em um outdoor, quer da
indústria, quer da política enquanto governo. E o aluno se transforma em estatística.
Como um medidor que regula o nível de sujeição, domínio, adestramento e
domesticação do indivíduo, o exame ultrapassa a sala de aula por meio de uma rotina de tarefas
para casa, com um contínuo processo avaliativo, regularizado e medido por trabalhos,
exercícios, deveres e diários que sustentam seu comportamento. Deste modo, este poder acaba
por se tornar ainda mais invisível, uma vez que está inerente à individualidade do sujeito, e
somente ele pode ou não dar conta de suas “obrigações” e ascender ou não no nível de saber
proposto pelos parâmetros educacionais. Neste campo de vigilância, todas as suas atividades
empregadas são fiscalizadas, mapeadas e registradas, visto como efeito e objeto de poder e
saber. E assim, todo esse aparelhamento das práticas disciplinares dessa tecnologia de
dominação se reproduz.
Sabemos do papel que instituições, chamadas por Foucault de instituições de sequestro
– a prisão, a escola, o hospital, a fábrica – têm no processo de disciplinarização da sociedade e
de atuação sobre os sujeitos. Conforme Foucault (2005, p. 115-116):
Estas instituições - pedagógicas, médicas, penais ou industriais tem a propriedade
muito curiosa de implicarem no controle, a responsabilidade sob a totalidade, ou a
quase totalidade do tempo dos indivíduos: são, portanto, instituições que, de certa, se
encarregam de toda a dimensão temporal da vida dos indivíduos.
Situada a escola como espaço disciplinar e a prática da Filosofia inserida nesse espaço,
trata-se agora de pensar em que medida a experiência de si pode se constituir como um espaço
de resistência a esse poder normatizador. No próximo tópico discutiremos a noção de cuidado
de si e, posteriormente, o papel da resistência que ele pode ocupar no âmbito das aulas de
Filosofia.
42
3.4. O DESPERTAR FILOSÓFICO PARA O “CUIDADO DE SI”
Para uma melhor compreensão do papel de resistência que pode caber ao cuidado de
si na aprendizagem filosófica é necessária uma discussão preliminar deste conceito no âmbito
do pensamento foucaultiano, haja vista partir de uma linha de tempo histórica. Desta feita,
volta-se para o pensamento clássico da Filosofia grega Antiga e em Sócrates o conceito de
“cuidado de si” explicado por ele, entendendo-o como o cultivo de si. Cultivo este que deveria
se dar tanto na mente e no espírito quanto no corpo. Depois desta apresentação, Foucault parte
para uma discussão do cuidado de si no que ele identificou como sendo o apogeu do papel deste
preceito, período que corresponde à Filosofia helenística e à Filosofia nos anos áureos da Roma
Imperial. Finalmente, ele explica a interpretação dada pelo cristianismo primitivo sobre o
conceito do cuidado de si. E após toda essa apresentação adentra na aula que marcará a última
fase de suas palestras e escritos.
Em sua aula ministrada no dia 06 de janeiro de 1982, no Collège de France, Foucault
abordou o tema do Cuidado de Si partindo de algumas interpretações e da relação entre esta
máxima e o conselho délfico do conhece-te a ti mesmo. Sócrates serve como auxiliar a Foucault
a pensar a estética da existência, visto que o pensador grego inverte a pedagogia tradicional de
Atenas, em que o conhecimento era apenas uma transmissão de saber, propondo nova
abordagem sobre o ensinar Filosofia.
Foucault se vale de sua interpretação sobre a obra Apologia de Sócrates,
especificamente em três passagens: na 29d, quando Sócrates está diante de sua condenação e é
questionado sobre ter ou não vergonha da pena a que se encontra, indagando que jamais haveria
de se envergonhar de uma tarefa à qual diz que lhe foi dada pelos deuses, qual seja, a de
despertar os atenienses para se ocuparem consigo mesmo; na passagem 30c, quando os próprios
atenienses perderam com a morte do pai da maiêutica, pois dificilmente se levantaria, naquela
sociedade, outro sábio que se preocupasse com esta função pedagógica, filosófica: de despertar
os outros para o cuidado de si; e a última passagem, 36b, na qual Sócrates fala de sua função
de mestre do cuidado de si como uma função sacrificial, porque ao despertar os outros para o
cuidado de si poderia algumas vezes incorrer no erro de se esquecer de cuidar de si.
O conceito de Cuidado de Si, infelizmente, perdeu espaço no decorrer da história e a
Filosofia ocidental foi lentamente substituída por um longo período pela noção de gnôthi
seautón, do conhece-te a ti mesmo. A Filosofia como experiência e transformação do sujeito foi
dando espaço ao conhecimento puro e simples, cedendo lugar ao acúmulo de conhecimentos
como dimensão do sujeito que sabe, do sujeito que conhece. No entanto, o princípio de
43
epimèleia heautou não se extinguiu. Continuou a operar em todos os instantes históricos, desde
a cultura grega, o ascetismo cristão e o desenvolvimento da Filosofia helênica e romana.
Foucault diz que o cuidado de si não é apenas uma condição para a Filosofia, mas um norte
para toda a virtude racional do ser humano, todo o imbricar ratio, onde ele:
Não é meramente como condição de acesso à vida filosófica, no sentido estrito e pleno
do termo, que é preciso cuidar de si mesmo. [...] este princípio de precisar ocupar-se
consigo mesmo tornou-se, de modo geral, o princípio de toda conduta racional, em
toda forma de vida ativa que pretendesse, efetivamente, obedecer ao princípio da
racionalidade moral. (FOUCAULT, 2006, p. 12).
Em que consiste esta noção de epimèleia heautou? Ao contrário do que alguns
erroneamente interpretam, esse cuidar de si não pode ser confundido com uma espécie de
narcisismo. Ele é uma atitude para consigo, ao mesmo tempo em que deve ser uma atitude para
com os outros e uma extensão ainda maior: uma atitude para com o mundo.
O cuidar de si é uma forma de atenção, de olhar convertido do exterior, dos outros, do
mundo, para um olhar íntimo e introspectivo, um olhar para si mesmo. Este olhar necessita de
exercícios e meditações que Foucault denominou de ações e práticas de áskesis. Este conceito
tem uma forte ligação com o conceito de verdade. Ao abordar a temática da verdade, Foucault
apresenta três características desta prática de espiritualidade, do conhecer a si mesmo para
cuidar de si mesmo: 1°) Ele postula que a verdade jamais é dada pelo pleno direito do sujeito,
mas adquirida a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito; 2°) A relação entre eros e
áskesis, cujas modalidades são as que o sujeito deve ser transformado para torna-se sujeito
capaz da verdade e; 3°) Aborda o retorno da verdade sobre o sujeito e pondera:
Em suma, na verdade e no acesso à verdade, há alguma coisa que completa o próprio
sujeito, que completa o ser mesmo do sujeito e que o transfigura. Resumindo, acho
que podemos dizer o seguinte: para a espiritualidade, um ato de conhecimento, em si
mesmo e por si mesmo, jamais conseguirá dar acesso à verdade se não fosse separado,
acompanhado, duplicado, consumado por certa transformação do sujeito, não do
indivíduo, mas do próprio sujeito no seu ser de sujeito. (FOUCAULT, 2006. p. 21).
Para se ter acesso a verdade é imprescindível a prática da espiritualidade. No entanto,
esta prática perdeu seu caráter de importância no que Foucault chamou de momento cartesiano.
Com o cartesianismo da modernidade, o método, a racionalidade científica se tornou única
condição para o conhecimento para a verdade. Neste momento foi requalificado, do ponto de
vista filosófico, o “conhece-te ti mesmo” e desqualificado o “cuida-te de ti mesmo”. A
indubitabilidade (século XVII) passou a ser entendida como evidência da existência própria do
44
sujeito no princípio do acesso ao ser (conhecimento de si mesmo).
O filósofo explana como o cuidado de si foi perdendo sua primazia, dando lugar ao
conhecer-se. Foucault analisa historicamente esse apagamento da epimèleia heautou
observando em que medida a teologia “aristotélico-tomista” fez prevalecer o caráter
cognoscente do sujeito, aderindo a uma fé universal na qual encontrava em um ser superior sua
ponte de realização existencial, seu modelo de perfeição. As velhas práticas de espiritualidade
e saberes foram se perdendo, dando lugar a outras práticas. O homem, através da áskesis, não
mais buscava em si essa experiência de conhecer-se e cuidar-se. Com esse ideal de perfeição
fixado na figura de um ser divino, o homem se submetia a um outro tipo de ascese, castigos,
disciplinas, flagelos sobre seu corpo, rituais envoltos a rezas, mantras e orações eram tidos
como instrumentos capazes de elevar a alma dos sujeitos.
Foucault trata sobre os três momentos áureos do Cuidado de Si. A saber: o momento
socrático-platônico, no qual deu surgimento a epimèleia heautou na reflexão filosófica; o
momento idade de ouro da cultura de si, correspondente aos dois primeiros séculos da nossa
era e; o momento arraigado à passagem do século IV ao V, período da ascese filosófica pagã
para o ascetismo cristão.
No primeiro momento, Foucault observa que o cuidado de si não era um preceito
filosófico no sentido restrito ou conceitual do termo, mas um princípio corriqueiro, cotidiano
da cultura helênica. Este princípio está a um contexto de privilégio político, econômico e social,
como ele descreve usando as palavras de Plutarco:
Plutarco retoma uma palavra que teria sido de Alexândrides, um lacedemônio, um
espartano, a quem um dia se teria perguntado: mas afinal, vós, espartanos, sóis um
tanto estranhos; tendes muitas terras e vossos territórios são imensos ou, pelo menos,
muito importantes; por que não os cultivas vós mesmos; por que os confiais a hilotas?
E Alexândrides teria respondido: simplesmente para podermos nos ocupar com nós
mesmos. Entendamos, quando o espartano diz – temos que nos ocupar com nós
mesmos e, por consequência, não temos que cultivar nossas terras –, é evidente que
não se trata, absolutamente, [de Filosofia]. Sendo pessoas para as quais a Filosofia, o
intelectualismo, etc., não eram valores muito positivos, tratava-se, para elas, da
afirmação de uma forma de existência ligada a um privilégio... (FOUCAULT, 2006.
p. 42).
A educação que o jovem Alcibíades recebeu é passível de crítica por parte de Sócrates,
pois nenhum mestre se aproximou do discípulo com o objetivo de apresentar-lhe o cuidado de
si. Todos os que se apresentaram como educador do belo jovem o fez por motivos interesseiros.
Nenhum se preocupou em mostrar-lhe que se o mesmo almejava um dia ocupar cargos políticos
se pretendia administrar a cidade. Era necessário, anteriormente, ter cuidado de si mesmo.
45
Sócrates apresenta ao jovem o conceito de noûn prósekhe, de aplicar seu espírito sobre si
mesmo, reiterando o conselho do gnôthi seautón (conhecer-se) com o fim de buscar a plenitude
da prática do epiméleia seautoû, do cuidado de si. Ou seja, mostra a Alcibíades que para ter
acesso a política precisava ele lançar-se sobre si mesmo, aplicar seu espírito a uma análise e
entendimento sobre si, buscar conhecer-se, e assim tomar cuidado de si para só então se ocupar
com a administração e cuidado da cidade e exercer o cuidado com o outro.
Essa sublime tarefa do mestre é apresentada e mediada por quatro observações sobre
o cuidado de si: 1°) O cuidar de si mantém um vínculo com o exercício de poder; 2°) No caso
específico de Alcibíades, o cuidado de si está apenas para mostrar-lhe a insuficiência da
educação que recebeu, voltada para o eros e sem ao menos introduzir neste o conceito de
conhece-te a ti mesmo, que dirá do “cuida de ti mesmo”; 3°) Alcibíades já se encontrava com
cinquenta anos e o tempo que lhe restava era apenas de tentar reparar o período perdido de sua
educação alheia ao cuidado de si e; 4°) Por esse motivo, o cuidado de si é uma atividade, e
como meio para a construção do ser do sujeito autônomo e crítico ela deve ser desempenhada
com afinco e urgência.
3.5. CUIDADO DE SI E RESISTÊNCIA
Sistematizar o pensamento de um filósofo pode incorrer no risco de reduzir suas ideias.
É conhecido, por parte daqueles que estudam o mínimo do pensamento foucaultiano, a célebre
divisão e sistematização, senão de seu pensamento, pelo menos o que tange aos seus escritos, a
saber, o Foucault Arqueológico, o Foucault Genealógico e o Foucault em sua última fase, qual
seja, a fase Ética. O professor Alfredo Veiga-Neto (2011) tangencia uma outra perspectiva
foucaultiana a partir da análise e das contribuições que podemos absorver dos escritos do
filósofo francês com base no sujeito da educação como: o Ser-Saber, o Ser-Poder e o SerConsigo. Dissecaremos aqui o que ele traz em seu livro Foucault e a Educação para melhor
elucidar nossa ideia de Filosofia como ensino resistente.
É do conhecimento de todos que não existe um método foucaultiano. No entanto,
contextualizando a noção de sujeito moderno, encontramos diretrizes que nos guiam em
entender as construções e desconstruções que Foucault fez sobre a educação. A priori, pode-se
dizer que a educação é uma das mais fortes ferramentas na construção dos sujeitos. Podemos
dizer, ainda, que o próprio Foucault fez uma longa exploração deste tema na relação entre
conformação, submissão dos sujeitos e transgressão, um ir além dos objetos constitutivos do
Saber/Poder, uma transcendência daquilo que lhes conforma, que lhes rouba sua subjetividade.
46
Entretanto, ele não deseja descrever uma proposta educativa. O que ele almeja é tentar entender
como, a partir do que se convencionou chamar de modernidade, as práticas de construção dos
sujeitos vêm operando.
Como dito anteriormente, não devemos ter a ousadia de engessar a Filosofia e o
cuidado de si a um molde, mas pensá-los como uma perspectiva, entendendo-os continuar a
enveredar na crítica foucaultiana à racionalidade moderna. Não como uma crítica
transcendente, mas uma crítica arqueológica e genealógica, uma crítica da crítica, ou como o
filósofo intitulava, uma hipercrítica. Nas palavras do professor Veiga-Neto (2011, p. 25), a
“hipercrítica está sempre em movimento; não em busca de um ponto de fuga que seria núcleo
da Verdade e com base no qual fosse possível traçar a perspectiva das perspectivas, mas que
simplesmente se desloca sem descanso, sobre ela mesma e sobre nós”.
Diferentemente dos postulados cartesianos e das contribuições iluministas, o racional
em Foucault não é compreendido como um a priori, ou uma atitude-limite, mas como um ethos,
ou uma postura filosófica galgada no cotidiano e que necessita sempre de uma reativação
permanente, objeto da reflexão e ao mesmo tempo da transgressão. Como objeto de auxílio em
nossa pesquisa, o trabalho de Veiga-Neto (2011) foi importante para o entendimento do que ele
chamou de domínios foucaultianos. Semelhante ao autor da Hermenêutica do Sujeito (1996),
não nos interessa em nossa busca o dilema kantiano do quem somos nós?, mas como chegamos
a ser o que somos?. Essa indagação é um dos nortes principais desta pesquisa.
Segundo os estudos de Veiga-Neto (2011), o primeiro domínio foucaultiano é o que
corresponde ao Ser-Saber, cujo conceito foi bem explorado como primeiro domínio da
ontologia foucaultina nas obras As Palavras e as Coisas e A Arqueologia do Saber. Neste
último, o enfoque se dá com base na percepção que gera diversos modos de saber, atrelado a
certos tipos de conhecimento, o qual se encontra muito aquém de um mero conhecimento
sistematizado. Levando em consideração que na Modernidade nos tornamos sujeitos de
conhecimento assujeitados ao conhecimento acabamos por perder a aura da Filosofia que nos
tornava produtores de saberes, construtores de nossa própria vida, do nosso existir. O sujeito
moderno se transformou em apenas um simples produto do conhecimento sistematizado. É
neste ponto que se insere a noção de arqueologia em Foucault, ou seja, um cavar vertical, um
descer até as regiões mais profundas da produção de conhecimento e saberes, das práticas
discursivas. Veiga-Neto (2011, pp 45, 47-48) escreve:
Uma arqueologia dos sistemas de procedimentos ordenados que têm por fim produzir,
distribuir, fazer circular e regular enunciados e 'se ocupa em isolar o nível das práticas
discursivas e formular as regras de produção e transformação dessas práticas' […]. a
47
arqueologia não 'trata de interpretar o discurso por fazer através dele uma história do
referente', senão que, entendendo o discurso como 'um conjunto de enunciados que
se apoia em um mesmo sistema de formação, o qual é entendido, sempre, como
contingente e, por isso, variável. […]. A análise arqueológica busca, também, as
articulações entre as práticas discursivas e toda a outra ordem de coisas que se pode
chamar de práticas não discursivas, tais como as condições econômicas, sociais,
políticas, culturais etc.
O segundo domínio foucaultiano é o Ser-Poder. O texto-chave do pensamento de
Foucault sobre este tema é que ele denominou de seu primeiro livro, cuja obra inaugura a
conhecida fase genealógica, referenciando-se a Vigiar e Punir. Nela, Michel Foucault tenta ir
em busca da compreensão correspondente aos processos nos quais os indivíduos são
submetidos a uma transformação de sujeitos, resultado direto dos mecanismos de objetivação
que capturam e classificam os indivíduos e que, por sua vez, ocorrem dentro do que conhecemos
por redes de poderes, como já descrito no tópico 3.2 desta dissertação. O poder em sua
característica mais peculiar e enquanto elemento que tem a capacidade de explicar como são
produzidos os diversos tipos de saberes. Em defesa da Sociedade, Foucault (1999, p. 14) se
preocupa com esse problema da relação saber/poder de forma que comenta sobre o que nomeou
de insurreição dos saberes:
Não tanto contra os conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência, mas de uma
insurreição sobretudo e acima de tudo contra os efeitos centralizadores de poder que
são vinculados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado
no interior de uma sociedade como a nossa. E se essa institucionalização do discurso
científico toma corpo numa universidade ou, de um modo geral, num aparelho
pedagógico, […]? No fundo pouco importa. É exatamente contra os efeitos de poder
próprios de um discurso considerado científico que a genealogia deve travar o combate.
Entendendo por poder uma ação sobre as mais diversas formas de ações, Foucault
descreve a estrutura arquitetônica mais proveitosa para a aquisição de um corpo dócil, da
formação
de
um
indivíduo
submisso,
sujeitado
aos
padrões
estabelecidos
de
normalidade/anormalidade, qual seja, o panópticon, que em sua posição central carrega cinco
princípios, como descreveu Veiga-Neto (20011, p 66-67):
(…) além de colocar em funcionamento aqueles dois princípios fundamentais da
vigilância – a sua posição central e a sua invisibilidade –, a máquina panóptica ativa
outros mais: o princípio da totalidade – pois ninguém deve escapar à sua ação –; o
princípio da minúcia – pois ela observa os mínimos detalhes –; o princípio da
saturação – pois, pelo menos virtual ou potencial, ela não descansa (e não dá
descanso...) –; o princípio da individualização – pois ela segmenta uma massa
humana, até então informe, em unidades individuais, alcançáveis, descritíveis e
controláveis; o princípio da economia – pois com pouco investimento obtém-se muito
resultado.
48
Todavia, no plano particular o poder caía sobre os indivíduos, e no plano coletivo
recaía sobre a sociedade estatal. Como o poder soberano carregava um déficit em relação ao
poder pastoral, a solução foi o surgimento do poder disciplinar, e a escola como uma das mais
brilhantes instituições de sequestro, com um papel bem desempenhado. Ainda tomando as
palavras de Veiga-Neto (2011, p. 70-71):
É mais do que óbvio o papel que a escola desempenhou nas transformações que
levaram a sociedade de soberania para a sociedade estatal. Não é demais insistir que,
mais do que qualquer outra instituição, a escola encarregou-se de operar as
individualizações disciplinares, engendrando novas subjetividades e, com isso,
cumpriu um papel decisivo na constituição da sociedade moderna. A escola “foi sendo
concebida e montada como a grande – e (mais recentemente) a mais ampla e universal
– máquina capaz de fazer, dos corpos, o objeto de poder disciplinar; e assim, tornálos dóceis”; além do mais, a escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes
dessa), a instituição de sequestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...) o
maior tempo de suas vidas, no período da infância e da juventude. Na medida em que
a permanência na escola é diária e se estende ao longo de vários anos, os efeitos desse
processo disciplinar de subjetivação são notáveis.
Afirmar que a disciplina forma, fabrica e constrói corpos dóceis não é o mesmo que
dizer que ela somente cria corpos obedientes. Há também no espaço disciplinar momentos de
resistências. É neste espaço de possibilidade de fuga que entendemos o espaço da Filosofia.
Uma aprendizagem resistente. Uma aprendizagem de contra disciplina.
O terceiro domínio foucaultiano, que corresponde ao Ser-Consigo, está posto no
cuidado de si, abordado neste capítulo. Apresentada a noção de cuidado de si, trata-se de
questionar em que medida essa experiência pode representar ou significar uma experiência de
resistência. Anteriormente falamos que a Filosofia está inserida em um espaço de poder
normatizador, o qual aparece de inúmeras maneiras. Logo, também são várias as possibilidades
de resistência. Se não a houvesse não haveria poder, pois para Foucault (1988) resistência e
poder são dois lados de uma mesma moeda. Resistir ao poder é uma ação que parte de dentro
do próprio dispositivo de poder. Assim, pretende-se observar de que maneira a aprendizagem
filosófica nos espaços aqui estudados pode se constituir, de algum modo, como espaço de
resistência dentro da estrutura disciplinar da escola.
49
4. EXPERIÊNCIA DE SI E A APRENDIZAGEM FILOSÓFICA
Neste capítulo abordaremos os aspectos metodológicos a partir das referências teóricas
e a apresentação e análise dos resultados da pesquisa. Tomaremos como referência, quanto aos
aspectos teóricos, Larrosa (1994), que descreve as principais modalidades de experiências de
si, as quais serão pensadas neste trabalho relacionando-as ao âmbito educacional.
4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA A ENTRADA EM CAMPO
A partir da leitura de Larrosa (1994) fundamentamos nosso estudo através de uma
pesquisa qualitativa. Ferramenta chave na antropologia e na sociologia, a pesquisa qualitativa
ganhou espaço nas Ciências Humanas a partir da segunda metade do século XX em uma
tentativa de superar a dicotomia antagônica entre o positivismo-lógico e o interpretativismo.
Nesse contexto, tentaremos ir além da forma tradicional de entender o fazer científico
que advoga a realidade como objetiva. Cismamos no paradigma de entendê-la como objeto de
uma subjetividade criada dentro de limites de tempo e espaço a partir de uma construção dada
de saberes e de sujeitos responsáveis por transmitir tais conhecimentos e fomentar a
possibilidade de outras subjetividades, haja vista ser Michel Foucault o nosso referencial teórico
maior.
Indo além da indução pregada pelo positivismo-lógico e também das possibilidades de
interpretação tidas como verdadeiras, defendidas pelo interpretativismo, sustentamos a pesquisa
qualitativa como instrumento nuclear, uma vez que ela nos permite manter um diálogo próximo
dos objetivos que traçamos na presente pesquisa, ou seja, a perspectiva qualitativa compreende
a realidade como subjetiva e múltipla, construída e modificada a partir das relações
interpessoais. Nesse ínterim, a figura do pesquisador interage com o objeto e com o sujeito
pesquisado, visando lhe dar voz e criar um entrelaçamento de ideias como uma rede de
significados.
Embora nossa visão de mundo e valores pessoais façam parte deste jogo, nosso esforço
maior será minimizar ao máximo nossa interferência na pesquisa para que não se desvirtue o
estudo. Entendemos por dar vozes a função de traduzir, interpretar, explanar o que for coletado
e transmitido por nosso objeto de pesquisa. Ao levar em conta que este processo se configura
como uma dialética indutiva é preciso ainda cuidar para não cair no erro da generalização,
podendo ela perder força para a descoberta e a linguagem padronizada libertar-se e evoluir para
novas possibilidades narrativas, buscando integrar em um esquema de múltiplas vozes
50
(GERGEN e GERGEN, 2006).
A pesquisa qualitativa presente em nosso trabalho está dividida em três fases: 1ª fase)
teórico-intelectual, em que os objetos e sujeitos da pesquisa são ainda diagramas, desenhos e
textos, dentro de uma perspectiva em perfeita simetria e equilíbrio, ordem e rigor do aparato
apenas no campo da teoria, das ideias. No que se propõem em nossa pesquisa são os conteúdos
e objetivos dos ditames legais da educação brasileira sobre o ensino de Filosofia dialogando
com os auxílios dados por Foucault em sua última fase, e em textos de outros filósofos e
comentaristas a respeito do ensino de Filosofia, da educação filosófica e da construção da
subjetividade. Conteúdo que está presente no primeiro capítulo desta dissertação; 2ª fase)
período prático, “trata-se daquela semana que todos cuja pesquisa implicou uma mudança
drástica (...), quando a nossa preocupação muda subitamente das teorias mais universais para
os problemas mais banalmente concretos” (DAMATTA, 1978, p. 24). Momento este que
correspondeu a nossa entrada em campo, no qual foram coletados dados, documentos,
entrevistas e observações; e 3ª fase) pessoal ou existencial, quando tivemos uma visão de
conjunto sobre tudo o que foi pesquisado e externamos as lições aprendidas, integrando e
sintetizando “a biografia com a teoria, a prática com o ofício”. (cf. DAMATTA, 1978, p. 25)11
As duas últimas fases correspondem as mais árduas, devido a complexidade que
envolve a pesquisa que trabalhe com a subjetividade, pois não é sempre que a teoria equivalerá
à realidade dos resultados colhidos em campo. Por se tratar de uma pesquisa cujo objeto é o ser
humano, os resultados se configurarão como os mais variados e variáveis possíveis. Ainda
citando DaMatta (1978, p. 27) sobre o seu olhar para a antropologia como uma ciência que
estabelece pontes encontramos as seguintes palavras:
Talvez mais do que qualquer outra matéria devotada ao estudo do Homem, a
Antropologia é aquela onde necessariamente se estabelece uma ponte entre dois
universos (ou subuniversos) de significação, e tal ponte ou mediação é realizada com
um mínimo de aparato institucional ou de instrumentos de mediação. Vale dizer, de
modo artesanal e paciente, dependendo essencialmente de humores, temperamentos,
fobias e todos os outros ingredientes das pessoas e do contato humano.
Nesse texto, o autor nos mostra como o etnólogo pode desenvolver um trabalho
profícuo dentro de seu mundo, ou de sua sociedade, encontrando-se imerso em um universo de
conteúdos e realidades muito próximas de sua vivência, podendo, ao mesmo tempo, manter
Conferir DAMATTA, Roberto. O Ofício do Etnólogo, ou como ter Anthropological Blues. Neste texto o autor
aborda a pesquisa qualitativa, fundamental na antropologia social com uma abordagem voltada para o cuidado que
se tem que tomar ao entrar em campo, pois estaremos diretamente confrontando dois mundos, o nosso como
pesquisador e o objeto a ser pesquisado.
11
51
uma relação de estranhamento face ao que nos apresenta tão familiar. O autor nos fala sobre o
transformar do exótico em familiar e o familiar em exótico.
Gilberto Velho (2004) foi outro antropólogo que nos auxiliou a entender o método da
pesquisa qualitativa e para o amadurecimento de nossa prática. Em “Observando o familiar”,
encontramos o alívio necessário para o que mais temíamos. Como fomos ensinados, a partir da
modernidade, em meio a uma educação cientificista, somos levados a entender como ciência
pura aquela com maior rigor quantitativo. Uma grande preocupação no decorrer da execução
do projeto e da pesquisa foi a possibilidade de criação de laços com os sujeitos/alunos que iriam
fazer parte dela. Este receio foi relativizado diante dos conceitos e conselhos dados pelos
etnólogos sobre o distanciamento com o fim de conferir maior objetividade aos resultados.
Velho (2004) nos fala sobre duas distâncias: a distância social e a distância psicológica.
De acordo com o autor, “o fato de dois indivíduos pertencerem a mesma sociedade não significa
que estejam mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes, porém aproximados por
preferências, gostos, idiossincrasias” (VELHO, 2004, p. 125). Disserta ainda sobre “o que vem
de fora” como “o estranho”. Este tema nos orientou sobre a própria possibilidade de
distanciamento dada em uma sociedade comum, ou igual, como é o caso de nossa pesquisa.
Outrossim, ele ainda argumenta que,
(...) o conhecimento de situações ou indivíduos é construído a partir de um sistema de
interações cultural e historicamente definido. Embora aceite a ideia de que os
repertórios humanos são limitados, suas combinações são suficientemente variáveis
para criar surpresas e abrir abismos, por mais familiares que indivíduos e situações
possam parecer. Nesse sentido, um certo ceticismo pode ser saudável. Parece-me que
Clifford Geertz ao enfatizar a natureza de interpretação do trabalho antropológico
chama atenção de que o processo de conhecimento da vida social sempre implica um
grau de subjetividade e que, portanto, tem um caráter aproximativo e não definitivo.
(VELHO, 2004, p. 129).
Como a pesquisa se desenvolveu no universo escolar, algumas precauções iniciais
foram tomadas para tentar manter este distanciamento mínimo necessário.
Duas escolas da cidade de Mossoró (RN) foram escolhidas para a realização da
pesquisa. Como nosso foco era o ensino de Filosofia como possibilidade do cuidado de si,
expresso em Foucault (2006) como elemento chave para o filosofar, e nossa questão imediata a
relação do aluno com a Filosofia e as consequências desta interação, buscamos por facilidade
de entrada em campo as seguintes escolas: o Colégio Mater Christi, escola da rede privada, e a
Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, escola da rede pública.
Alguns aspectos favoreceram a escolha destas escolas. A facilidade de entrada em
52
campo foi um deles. Primeiro por conhecer a realidade vivenciada em cada uma delas, tanto em
termos administrativos e docentes quanto em termos discentes. Como afirma DaMatta (1978),
buscamos transformar essa familiaridade em um estranhamento e apresentar esse exótico como
familiar. O segundo motivo está relacionado aos docentes. Os que lecionam a disciplina
Filosofia, em ambas as escolas, fizeram/fazem parte do nosso círculo de convívio acadêmico e
não restringiriam nossas observações nas suas aulas e sequer trariam algum empecilho no
decorrer da pesquisa, além de que também fomos docente-objeto de algumas turmas
pesquisadas.
O Colégio Mater Christi é uma escola tradicional da rede privada de Mossoró (RN)
com prática pedagógica contemporânea voltada para o mercado de trabalho e para o êxito
pessoal diante da realidade dos vestibulares e do ENEM, cujo público é constituído em sua
maior parte por pessoas das classes mais favorecidas da sociedade mossoroense. A instituição
é bem estruturada, com material didático diferenciado e recursos diversos. Seu alunado, fruto
das classes mais abastadas, frequenta as melhores formas de lazer da cidade. Alguns viajam em
férias para outras realidades culturalmente diferentes da nossa e fazem parte de um indicador
de leitura tido como bom, aprendendo a ler desde cedo.
Em contrapartida, a Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho é uma instituição
de ensino da rede pública, cujo alunado, em sua maioria, não pertence às classes mais
favorecidas. É uma escola típica da realidade que faz parte da esfera pública de ensino no Brasil.
Uma realidade que envolve inúmeros problemas como, por exemplos, falta de professores, de
aspectos estruturais, o que dificulta o ambiente de estudo, entre outros fatores. No entanto, ela
tem um aparato administrativo que faz com que seu ensino, embora deficiente, seja um dos
mais procurados do ensino público, haja vista a qualidade de seus professores e gestores e um
histórico em termos qualitativos na cidade. Embora sua estrutura careça de qualidade, a escola
dispõe de um espaço amplo, alguns recursos são repassados pelo governo, porém insuficientes
diante da demanda, livros didáticos de boa qualidade, das mais renomadas editoras e autores
brasileiros, ponto positivo. Estabelecer um diálogo entre estas duas realidades foi um motivador
para alicerçar a pesquisa.
Cortejando os objetivos inicialmente propostos em nossa pesquisa, indagamos quais
os impactos que o ensino de Filosofia poderia causar nos alunos de Ensino Médio.
Anteriormente, coube nos perguntar se este ensino teria de fato causado algum impacto na vida
dos alunos. Caso a resposta fosse positiva nos questionamos se haveria diferença dos impactos
causados na realidade da escola pública para a escola particular e, ainda, como esses impactos
atuaram no entendimento do aluno consigo mesmo.
53
Sendo essas indagações fruto de um dilema mais importante para nossa pesquisa,
busca-se entender até que ponto a Filosofia é ensinada como mera transmissão de conhecimento
ou se não, como ela tem sido trabalhada e desenvolvida nas escolas como elo norteador que une
o saber com a vida prática. Foram essas indagações que nortearam o eixo prático desta pesquisa.
O nosso referencial teórico esteve presente em todas as fases da pesquisa, desde os
primeiros momentos de reflexões estritamente teóricas até a entrada em campo. Percebe-se que
o pensamento de Foucault, como base teórica para esse estudo, esteve presente em todo o corpo
textual, enquanto outros autores ou estão alocados na parte teórica ou apenas na parte de campo.
Entre estes referenciais, tomamos Larrosa (1994) como fundamentação teórico-prática, uma
vez que em seu texto Tecnologias do Eu e Educação encontramos as modalidades de
experiências de si que podem ser percebidas na educação. Estas modalidades auxiliaram quanto
aos objetivos e interesses desta pesquisa. O texto nos auxiliou na coordenação e organização
das perguntas dos questionários e no roteiro das entrevistas para análise. A partir de Foucault,
Larrosa (1994, p. 36) analisou o conceito de tecnologias do eu considerando as práticas
pedagógicas, “aquelas nas quais se produz ou se transforma a experiência que as pessoas têm
de si mesmas”.
Segundo o autor, o cuidado de si na educação pode ser considerado a partir de cinco
“dimensões que constituem os dispositivos pedagógicos de produção e mediação da experiência
de si” (Idem, 1994, p. 21). A saber: 1) a estrutura ótica, o Ver-se, como o sujeito da educação se
vê, se compreende; 2) a estrutura da linguagem, o expressar-se, como esse mesmo sujeito
exterioriza os estados subjetivos de seu ser, como ele se expressa; 3) a estrutura da memória, o
Narrar-se, como o sujeito se narra; 4) a estrutura da moral ou da ética, o Julgar-se, como o
sujeito, depois de ter feito uma análise ótica de si, uma exteriorização do seu ser, está apto a
julgar-se, a emitir julgamentos do que constitui ou forma/transforma seu ser de sujeito e; 5) A
estrutura do poder, o dominar-se, que se refere as ações que o indivíduo efetua sobre si mesmo.
No âmbito desta pesquisa, essas modalidades de experiências são tomadas como as
dimensões a serem observadas na aprendizagem filosófica dos estudantes, tanto para a
orientação dos instrumentos de pesquisa quanto para a categoria de análises.
4.2. A PESQUISA NA SALA DE AULA
Foram estabelecidas três etapas fundamentais do trabalho. A primeira diz respeito ao
momento exploratório do ambiente da pesquisa, quando foram estabelecidos os contatos com
as escolas e com os alunos, e teve como objetivo preparar estes para as atividades da pesquisa
54
que iriam participar. A segunda etapa consistiu na aplicação de questionários aos alunos,
indicados a partir da percepção de seus professores quanto a uma experiência filosófica
significativa, com o intuito de aprofundar e detalhar as questões pertinentes à questão
pesquisada. A partir dos resultados obtidos fora realizado a terceira etapa: as entrevistas de
maior profundidade com os alunos selecionados, as quais foram gravadas para um registro mais
preciso das respostas.
A entrada em campo trouxe problemas relacionados ao número de turmas e alunos
participantes. Inicialmente, pensou-se em realizar a pesquisa com todos os alunos do Ensino
Médio do turno matutino de ambas as escolas. No entanto, devido ao grande contingente de
alunos, isto dificultaria a realização da pesquisa em tempo hábil para a execução de um trabalho
de mestrado, resolvendo-se restringir o número de pesquisados.
A Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, por exemplo, cumula nove turmas da
primeira série, cada uma com aproximadamente 35 alunos, além das cinco turmas da 2ª série e
as quatro turmas de 3ª série. O Colégio Mater Christi, por sua vez, conta com aproximadamente
35 alunos por turma, sendo um total de 12 turmas, quatro de cada série do Ensino Médio.
Percebendo a dimensão do universo da pesquisa (em torno de 1.000 alunos do Ensino
Médio nos dois Colégios), optamos para estabelecimento da amostra os alunos das turmas da
3ª série. Entendemos que estes possuem algum tempo de experiência com a aprendizagem
filosófica e poderiam apresentar mais e melhores condições de observar o aspecto que é objeto
principal desta pesquisa: a experiência de si na aprendizagem filosófica.
Coincidentemente, as duas escolas contavam com quatro turmas de terceira série no
turno da manhã, cada uma com número semelhante de alunos, variando de 20 a 35 alunos. Ao
todo a amostra contemplou 189 alunos, sendo 83 do Colégio Mater Christi e 106 da Escola
Estadual Professor Abel Freire Coelho.
O primeiro momento se deu como observação exploratória, visando estabelecer uma
interação com os alunos participantes com o fim a criar o ambiente propício para a sua
realização. Nossa entrada em campo se deu a convite pelo professor Atson Paulo, da Escola
Estadual Professor Abel Freire Coelho, para assistir algumas aulas nas quatro turmas. No
Colégio Mater Christi, essa fase não se fez necessária pois se tratavam de quatro turmas
acompanhadas pelo próprio pesquisador há três anos e atual professor da disciplina.
A observação já vinha sendo feita há algum tempo, a partir de um conjunto de
observações ao longo de nossa atuação enquanto docente e que ensejou o problema para a
construção desta dissertação. Tanto como docente quanto em aulas ministradas por outros
professores, era perceptível as provocações que a Filosofia despertava nos alunos. No entanto,
55
o que queríamos saber é se tais inquietações ficavam apenas restritas ao espaço do debate de
ideias, crenças e conhecimentos instrumentais ou se representavam algo mais na vida dos
alunos, levando-os a uma mudança mais significativa na relação que tinham consigo mesmos.
Após essa etapa inicial, partiu-se para o segundo momento: a aplicação de 189 (cento
e oitenta e nove) questionários que constou de 7 (sete) perguntas, sendo 6 (seis) de múltipla
escolha e uma dissertativa (ANEXO I). Na terceira fase da pesquisa foram realizadas as
entrevistas feitas com 14 (quatorze) alunos selecionados, sendo 8 (oito) do Colégio Mater
Christi e 6 (seis) da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho. Optou-se por selecionar dois
alunos das 4 (quatro) salas de cada escola, perfazendo um total de 16 (dezesseis) alunos
entrevistados. Não foram selecionados alunos de uma das turmas da escola da rede pública em
razão de distanciamento e desinteressados destes em relação a pesquisa.
As seis primeiras perguntas do questionário eram perguntas fechadas que visavam
obter informações sobre o grau e a qualidade do envolvimento desses alunos com a
aprendizagem filosófica. A sétima pergunta levava o aluno a considerar o aspecto principal
desta pesquisa: a experiência de si nas aulas de Filosofia. O questionário aplicado nos ajudou
na escolha dos alunos que seriam entrevistados, e esta última pergunta em especial.
As perguntas fechadas diziam respeito a quanto tempo eles estudavam Filosofia, onde
começaram a estudá-la, se a achavam importante para o currículo das escolas, se estudavam-na
além dos conteúdos trabalhados em sala de aula, e ainda se houve algum conteúdo que mais os
marcaram. Em caso afirmativo, sobre qual tema versava esse conteúdo. A última questão pedia
para dissertarem sobre a possibilidade da Filosofia como transformação das subjetividades.
Embora a dimensão quantitativa da pesquisa não seja a principal em nosso estudo, alguns
números nos serviram para algumas constatações no âmbito da pesquisa.
A pesquisa foi realizada com os alunos do Colégio Mater Christi nos dias 07 e 08 de
agosto de 2015, totalizando 83 questionários respondidos, e na Escola Estadual Professor Abel
Coelho respondidos nos dias 05 e 17 de agosto de 2015, totalizando 106 questionários. Por se
tratar de turmas de terceiras séries a totalidade dos alunos questionados afirmou ter contato com
a Filosofia há mais de três anos. Alguns, inclusive, tiveram contato com o filosofar há mais de
quatro anos.
Diversidade nas respostas e discrepâncias entre as duas realidades, a esfera pública do
ensino e a esfera privada marcaram nossa atenção no que toca aos dados quantitativos no
primeiro momento. Quarenta e cinco alunos do Colégio Mater Christi começaram a estudar
Filosofia ainda no ensino fundamental, enquanto que apenas 8 alunos da Escola Estadual
Professor Abel Coelho tiveram essa oportunidade.
56
A desarmonia atingiu um percentual de 54,21% dos alunos da escola privada que
tiveram acesso ao filosofar já no ensino fundamental, enquanto que na escola pública esse
número foi de 7,54%. Observou-se que esse grupo de alunos, diferentemente dos demais,
demonstraram maior habilidade de expressão na questão dissertativa, coordenando melhor suas
ideias. Percebeu-se que o tempo de atividade filosófica constituiu um importante diferencial no
modo como eles lidam e relatam suas experiências com a Filosofia. Os que tiveram mais tempo
com a prática filosófica demonstraram mais possibilidade de fazer uma relação entre a Filosofia
e a vida.
Em outros alunos percebemos dificuldades de expressão e comunicação ou até mesmo
desinteresse pela pesquisa. É interessante notar que em suas respostas eles afirmaram que
tiveram contato tardio com o filosofar, e alguns outros entendem a Filosofia como algo que não
faz muito sentido e não lhes desperta o interesse.
A Filosofia enquanto disciplina não é de caráter obrigatório no Ensino Fundamental.
Muitos alunos acabam por ter como primeiro contato as aulas ministradas no Ensino Médio.
Diferentemente no Colégio Mater Christi, a matéria é desenvolvida desde o primeiro ano do
Ensino Fundamental I. Quando perguntamos, na segunda questão, sobre como se deu esse
primeiro contato com a Filosofia, muitos responderam que no Ensino Fundamental, outros no
Ensino Médio. Ainda que em pequeno número, seis alunos, no total dos questionários, nos
surpreenderam ao afirmar que obtiveram esses conhecimentos de cunho filosófico fora do
ambiente escolar, quer por meio da internet e canais virtuais, quer por intermédio da família e
incentivo à leitura de alguma obra de cunho filosófico.
O terceiro questionamento foi sobre a importância da Filosofia no currículo do Ensino
Médio brasileiro. Novamente dados discrepantes acentuaram a diferença do ensino público para
o ensino privado. Enquanto 78 alunos (73,58%), provenientes de escola pública, percebiam a
importância da disciplina na construção dos sujeitos, 28 alunos (26,42%) consideraram a
disciplina sem importância ou tratavam-na como um conhecimento indiferente para as suas
formações enquanto sujeitos. Apresentando de forma mais detalhada, 10 alunos percebem a
Filosofia como sem importância e 18 a consideram indiferente. Já no tocante aos alunos
inerentes à escola privada apenas três alunos disseram que para eles era indiferente a presença
da disciplina no currículo da educação brasileira. Os demais acreditam que a Filosofia é
importante para o currículo como auxílio na formação do indivíduo.
Questionou-se, ainda, sobre a frequência em que eles buscavam estudar e ler sobre
Filosofia, além dos conteúdos ministrados em sala de aula, assuntos filosóficos além daqueles
que estavam inseridos na grade curricular da escola. Um cumulativo de 7 (8,43%) alunos do
57
Colégio Mater Christi disseram que sempre buscavam estudar outros conteúdos além dos que
estavam no currículo, 22 (26,50%) geralmente leem além dos conteúdos das aulas, 38 (45,78%)
busca, as vezes, transcender o conteúdo escolar, 10 (12,04%) raramente ler algo fora dos
conteúdos da disciplina, e finalmente 6 alunos (7,22%) nunca buscam estudá-la além do espaço
educacional institucional.
Na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho os dados são os seguintes: 5 (4,7%)
alunos sempre leem e estudam a Filosofia além do ambiente escolar, 13 (12,26%) geralmente
buscam aprender mais de Filosofia muros além-escola, 37 alunos (34,90%) afirmaram buscar,
as vezes, algo mais além das aulas ministradas, 35 (33,01%) raramente estudam Filosofia em
casa ou em ambientes fora da escola, e 15 (14,15%) nunca buscam de forma alguma estudar
conteúdos e temáticas filosóficas além das aulas da escola. Um aluno não respondeu a essa
pergunta.
O quinto questionamento indagava se algum conteúdo apresentado nas aulas de
Filosofia teria marcado a vida dos alunos. Em ambas as instituições as respostas foram
afirmativas, sendo 79 (95,18%) alunos do Colégio Mater Christi e 81 (76,61%) alunos da Escola
Estadual Professor Abel Freire Coelho. Em contrapartida, as respostas negativas foram
expressas em um contingente pequeno, sendo apenas 4 alunos (4,82%) da rede privada. Na rede
pública o número de alunos que não se sentiram impulsionados por nenhum conteúdo de cunho
filosófico chegou a um total de 25 indivíduos, perfazendo 23, 59% dos questionados.
A sexta questão remetia sobre qual tema de Filosofia mais chamou a atenção dos
jovens, no qual foram indicadas cinco áreas do conhecimento filosófico: Metafísica/Ontologia,
Ética, Filosofia da Ciência ou Teoria do Conhecimento; Política e Estética ou Filosofia da Arte.
Nessa questão foi dada ao aluno a possibilidade de marcar mais de uma temática. Dos temas
indicados, o mais citado pelos alunos do Colégio Mater Christi foi Ética (57 pessoas), seguido
Metafísica/Ontologia e Política, com 54 e 41 citações, respectivamente. A área de Filosofia da
Ciência ou Teoria do Conhecimento ficou em 4º lugar, com 34 aparições, e finalmente Estética,
com apenas 6 citações. Dentre todos os alunos participantes da pesquisa, diante dos temas e,
ainda, da possibilidade de escolher mais de um, 14 vezes apareceu marcado a opção “Outro”,
que incluímos para que os alunos respondessem caso o tema que mais tenha interessado em sua
aprendizagem não fosse contemplado nas áreas que escolhemos.
Na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho os temas ficaram dispostos da
seguinte forma: semelhante ao colégio particular, os alunos da escola pública também optaram
pela Ética como a mais interessante e que contribui para suas vidas, aparecendo em primeiro
lugar com 66 citações. O segundo foi o mesmo escolhido pelos estudantes do Colégio Mater
58
Christi, qual seja, Metafísica/Ontologia, com 33 votos. Em terceiro lugar a Filosofia da Ciência
ou Teoria do Conhecimento, com 26 escolhas, destoando, assim, as escolas, haja vista que os
alunos da rede privada preferiam como terceiro o tema Política. Escolhida como quarta opção
aparece Estética, com 22 escolhas, bem próximo do tema Política, com 21 predileções. O
mesmo número ao do colégio particular esteve presente no quesito sugerido pelos respondentes
como “Outro”.
Consideramos a última pergunta do questionário a mais importante, pois ela ultrapassa
esses dados iniciais que coletamos, dados os quais tinham um enfoque quantitativo. A referida
questão se destaca por ter sido a única pergunta aberta. Escolhemos trabalhá-la de forma
dissertativa porque nela o aluno poderia desenvolver seu pensamento sobre a experiência
filosófica relacionada diretamente com a sua vida e com os outros. Tanto que ela foi o
questionamento base para a triagem daqueles escolhidos para a terceira fase da pesquisa. Pela
sua importância ela será comentada no tópico a seguir, que trata da análise das entrevistas.
Do total dos questionários, 138 alunos efetivamente responderam a sétima questão,
possibilitando-nos a realização de alguma análise no que tange aos objetivos desta pesquisa. Os
51 (cinquenta e um) alunos restantes não responderam, ou quando responderam o fizeram de
modo muito restrito, por razões diversas, sem trazer elemento algum para análise.
4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A terceira etapa de nossa pesquisa consistiu em entrevistas com os 14 alunos
selecionados a partir da triagem dos questionários. Foram escolhidos para a entrevista dois
alunos de cada sala, de ambas as escolas, com perguntas abertas baseadas em um roteiro
construído sobre os temas abordados no questionário da segunda fase da pesquisa. E
selecionados os alunos que demonstraram proximidade com a aprendizagem da Filosofia e
externaram em suas respostas um papel significativo da disciplina em suas vidas, contribuindo
mais significativamente para a pesquisa.
Como ressaltamos no início deste capítulo, a fundamentação teórica teve como base
Larrosa (1994), resgatando seu pensamento precisamente teórico, não no contexto acadêmico,
mas “um gênero de pensamento e de escrita que pretende questionar e reorientar as formas
dominantes de pensar e de escrever em um campo determinado” (LARROSA, 1994, p. 35).
Suas análises sobre a Filosofia e a educação contribuem para pensar os problemas desta
pesquisa, quando seu pensamento é relacionado como um jogo de dois baralhos, como um
“baralho da estratégia analítica, aqui a obra de Foucault, e com o baralho das convenções, dos
59
interesses e das possibilidades de um campo de estudo, a educação, neste caso.” (LARROSA,
1994, p. 35-36)
Suas considerações apresentam uma aproximação entre Filosofia e educação a partir
da noção de cuidado de si, aquilo que ele vai destacar, seguindo Foucault, como experiências
de si no campo educacional. Larrosa (1994, p. 36) descreve seu trabalho como uma tentativa de
“(...) mostrar a lógica geral dos dispositivos pedagógicos que constroem e medeiam a relação
do sujeito consigo mesmo, como se fosse uma gramática suscetível de múltiplas realizações”.
Essa aproximação entre experiência de si e educação é o ponto principal de nossa investigação,
na qual a noção dos dispositivos pedagógicos nos permite pensar essa relação, acreditando que
o fazer pedagógico se encontrava preso a uma crença fortemente alicerçada em um conceito e
em uma ideia de homem e, consequentemente, em uma vaga noção de realização humana, uma
realização pessoal, em um estereótipo de sujeitos a serem formados, construídos segundo um
padrão. E tudo isso ocultado pela própria prática pedagógica quanto a sua operação constitutiva
como produtora de pessoas.
A primeira e a segunda perguntas questionavam há quanto tempo os alunos estudavam
Filosofia e como teria sido esse primeiro contato com esta forma de saber. Quanto ao primeiro
contato com a Filosofia, merece destaque a fala de alguns alunos, como no caso de S.N. (aluno
da 3ª série A, Colégio Mater Christi), o qual relatou que seu primeiro contato com a disciplina
foi nas aulas do 6º ano do Ensino Fundamental II, em uma escola católica, com um professor
seminarista. Ele destacou a importância desse mestre ao dizer que este explorava aspectos
reflexivos dos alunos e mesmo em questões de cunho religioso buscava sempre se manter
neutro, respeitando os diversos credos dos demais. Outros entrevistados falaram em seus
primeiros contatos com o filosofar, resgatando aspectos religiosos, como no caso de M.L. (aluna
da 3ª série C, do Colégio Mater Christi), que iniciou seus estudos na disciplina de Filosofia
ainda na alfabetização, o que corresponde a doze anos de contato com essa forma de
conhecimento. Ela disse que as aulas nas séries menores tinham características religiosas, pois
ensinavam princípios, valores e regras de convivências com o próximo. Por sua vez, M.M.
(aluno da 3ª série Órion, Colégio Mater Christi) disse que na escola onde antes estudava a
Filosofia estava vinculada à religião, o que em sua percepção não se aproximava do ensino de
valores, ética ou cidadania, mas correspondia a uma aprendizagem alienante, considerando uma
forma de catequização.
Ainda sobre esse tema, o primeiro contato com a Filosofia e sua relação com o ensino
religioso merecem destaques as contribuições de dois alunos cristãos católicos, R,L e S.L.
(alunos da 3ª série B, E.E. Prof.º Abel Freire Coelho), quando exporam, a princípio, que temiam
60
as aulas de Filosofia, preconceituando a matéria, e acreditando que o objetivo dos
professores/filósofos era pregar a não existência de Deus. Para S.L. foi um choque a primeira
aula, ao discutir a existência ou não de Deus, já que anteriormente não tinha contato com a
Filosofia, mas com o ensino religioso, onde aprendeu que Deus era uma verdade inquestionável.
Com o tempo, os dois perceberam que existiam vários filósofos cristãos, outros tantos ateus, e
que aquele não era o objeto da Filosofia. R.L. disse que passou a gostar das abordagens das
aulas de Filosofia, pois mesmo que não queira, ela mexe com a cabeça do aluno, sendo
complatado por S.L., ao afirmar que é uma matéria que sempre planta a semente da dúvida.
Alguns alunos que tiveram contato com a Filosofia apenas no Ensino Médio ressaltam
predisposição a gostar das aulas, pois os conteúdos, por serem de Ciências Humanas, se
assemelham aos conteúdos de História. Este foi o caso de L.G. (aluno da 3ª série B, Colégio
Mater Christi), que disse: achei que era uma matéria nova, não era uma matéria de você
precisar decorar... era uma matéria que mais poderia te ajudar, que você poderia viver ela. Do
mesmo modo G.S. (aluno da 3ª série A, da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho)
passou a gostar da disciplina, pois já gostava das Ciências Humanas. A aluna A.B (aluna da 3ª
série C, Colégio Mater Christi) disse que veio de uma escola religiosa, onde não havia Filosofia.
Depois do primeiro contato com as aulas se apaixonaram por essa forma de saber. Em suas
palavras: Pra mim foi uma matéria que estudo, que fiquei logo apaixonada. Gostei muito de
tudo. Pronto, eu passei a ler livros que continham algum contexto filosófico. Sempre fiquei
buscando assistir alguma série, qualquer coisa que tivesse um pouco mais do pensar, que
fizesse questionar, me chamava a atenção.
Outra aluna do Colégio Mater Christi, G.L. (da 3ª série Órion), disse que a partir da
Filosofia minha mente se abriu realmente para o mundo, além do aluno M.L., da E. E. Prof.º
Abel Freire Coelho, que disse ter se despertado para a Filosofia a partir de canais e páginas
da internet. Outros dois alunos nos chamaram a atenção por terem seus primeiros contatos com
a Filosofia fora da sala de aula. L.G. (da 3ª série A, da E.E. Prof. Abel Freire Coelho) nos relatou
que foi convidado a uma palestra, cujo tema era Ética, proferida por uma professora formada
em Filosofia. Ao perceber a importância naquele diálogo, principalmente por suscitar o
questionamento das coisas, amadureceu seu interesse pelo filosofar. Já R.B. (aluno da 3ª série
A, Colégio Mater Christi) nos surpreendeu ao dizer que através de um jogo virtual,
nomeadamente Assassin's Creed, que se passa em um contexto Iluminista, o levou a estudar o
pensamento moderno para solucionar alguns problemas no jogo, o que levou até o pensamento
do filósofo Jean-Jacques Rousseau e o despertou para a leitura. Criado em um lar cristão,
começou a estudar religiões, buscou entender a sua espiritualidade tanto em livros quanto em
61
canais na internet que fomentavam a reflexão e o debate, conhecendo as obras de Nietzsche.
Em sua fala, ele diz: Comecei a me orientar mais sobre religião. Eu não tinha problema nenhum
em ser ateu. Mas eu queria achar um respaldo para poder seguir. Aí eu decidi ser budista...
sigo as ideias budistas por que eu acho interessante. Eu quero levar isso para minha vida. Tem
mantras, faço meditação... isso me ajudou melhorar muito como pessoa. A ser mais sensível,
conversar com as pessoas, dialogar... a Filosofia me ajudou muito, eu cresci muito com a
Filosofia.
As perguntas seguintes diziam respeito ao que eles achavam das aulas de Filosofia, se
a consideravam importante para o currículo do Ensino Médio, sendo solicitados a justificarem
suas respostas. Todos os alunos entrevistados afirmaram que a Filosofia era uma matéria
importante para o Ensino Médio. A contribuição do aluno S.N. (3ª série A, do Colégio Mater
Christi) evocou sua importância, com a seguintes palavras: Acho importante para o Ensino
Médio, por que nele nos preparamos para o vestibular e em meio a tantas aulas de exatas, e
conteúdos, conteúdos e conteúdos, a gente consegue, a partir da Filosofia dar um 'break' nisso
tudo. E ser um momento até para relaxar. Por que você discutir sobre algo é o que todo mundo
quer. Você está em uma aula de matemática, aí quando chega a aula de Filosofia, todo mundo
diz: 'ah, que massa! Agora a gente vai discutir sobre uma coisa que a gente, realmente, está
vivendo; sobre alguma coisa que a gente realmente se identifica. Algo que faz parte da nossa
vida'. As vezes a gente estuda um assunto em matemática que não é colocado em prática em
nossas vidas, mas a Filosofia é! Qualquer assunto de Filosofia que você estude é colocado em
prática.
É interessante perceber na fala do aluno uma aproximação do que Foucault explicita
nas primeiras aulas no Collège de France, como abordado no capítulo Disciplina, Cuidado de
si, Resistência e Aprendizagem desta dissertação. Não faz sentido um contato com a Filosofia
sem que esta provoque alguma reflexão e prática (ação) na vida das pessoas. E o aluno, em
questão, não percebe somente isso, como também tece uma crítica das demais disciplinas
ensinadas de maneira instrumental. Por sua vez, R.B. (aluno da 3ª série A, Colégio Mater
Christi), da mesma sala que o aluno anterior, expôs o que entendia como importância na
Filosofia, ao dizer: a Filosofia é muito importante para desenvolver a questão da sensibilidade
nas pessoas. As pessoas, elas são muito ignorantes... devem procurar esse sentimento de
filosofar mesmo. E apresentou o que considera como falha e indicou o que entende como
solução: Acho que ela, no currículo, seria muito mais rentável se ela fosse aliada a outras
matérias que motivassem cultura, tipo, música e arte. Se ela fosse junta com essas áreas, ela
seria muito mais enriquecedora para o próprio aluno, em relação a chamar a atenção dele.
62
(R.B., aluno da 3ª série A, Colégio Mater Christi)
Por mais distante que o pesquisador tente ficar de seu objeto de estudo é impossível
não ficar contente com certos resultados. Sobre a importância da Filosofia, foi um resultado que
nos trouxe orgulho ouvir o porquê dos alunos pensarem assim. Este resultado é interessante
porque alguns dos entrevistados perceberam que estão inseridos em um contexto que inverte a
ordem das coisas, dos valores, dos sentimentos, como é o caso do sistema capitalista, que
privilegia a razão instrumental em detrimento de qualquer Filosofia e sabedoria para vida. A
esse respeito D.V. (aluno da 3ª série B, do Colégio Mater Christi) afirma: Eu acho importante,
embora a pressão que a família exerce sobre a gente, de fazer um vestibular para medicina,
direito, engenharia, etc., acabe por não vê importância na Filosofia, e tem aluno que, por esse
motivo, também não a acha importante. Mas, por mais que eles não achem necessária a
Filosofia para eles, em questão de currículo, mas é uma coisa essencial, é preciso para
aprendermos a viver em sociedade.
Essa frase final do aluno nos trouxe um resultado passível de uma reflexão mais atenta.
Tanto os alunos das entrevistas quanto a maioria dos demais alunos que passaram pelo
questionário perceberam a importância da Filosofia como base para uma aprendizagem de uma
construção social coletiva. Muitos afirmaram serem os conteúdos discutidos em sala de aula
fundamentais na formação de sujeitos mais humanos, éticos e cooperativos, e menos
preconceituosos, individualistas e isolados. Vemos, assim, a questão da alteridade, do pensar no
outro e como o outro.
No Brasil, atualmente as aulas de Filosofia são ministradas uma vez por semana,
correspondendo a 1 hora/aula semanal (45 a 50 minutos). A maioria dos alunos percebe ser
pouco o tempo destinado ao ensino do filosofar para um melhor desempenho e desenrolar das
aulas. L.G. (da 3ª série A, da E.E. Prof. Abel Freire Coelho) disse: deveriam aumentar as aulas
de Filosofia, e ser ministradas desde a primeira série do ensino fundamental. Já a aluna G.L.
(3ª série Órion, do Colégio Mater Christi) afirmou: acho importante para o currículo do Ensino
Médio e deveria ser muito mais valorizada por nos fazer questionar o cotidiano. A aluna M.L.
(3ª série C, do Colégio Mater Christi) disse gostar de Filosofia por provocar a reflexão sobre
diversas coisas, concordando que o tempo destinado a disciplina é muito reduzido. Em suas
palavras, e em tom crítico, ela disse: eu não gosto dessa coisa de priorizar uma área do
conhecimento em detrimento de outra área. Eu tenho seis aulas de Matemática por semana, e
só uma de Filosofia?!”.
Da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho o aluno L.G. reiterou: Filosofia é muito importante
para o currículo. Mas acho muito pouco só uma aula de Filosofia. É muito conteúdo só para
63
uma aula. As aulas sempre ficam pela metade. Vai passando o bimestre e o professor não tem
nem tempo de concluir os assuntos”. Por sua vez, seu colega de sala, G.S. (aluno da 3ª série A,
da Escola Estadual Abel Freire Coelho), concordando com sua opinião, falou: Uma aula por
semana é muito pouco, acho que deveriam ser ao menos duas aulas por semana. É uma das
poucas aulas que o aluno para e presta a atenção, e fica vendo se aquilo é realmente. O
professor de história fala um fato e você arquiva aquilo. Já o professor de Filosofia não, você
pensa: nossa! Interessante! Eu posso levar isso para minha vida.
O aluno R.L. (da 3ª série B, da E.E. Prof. Abel Freire Coelho) disse que para a turma
dele apenas uma aula de Filosofia por semana até poderia ser interessante, mas algo tornava
essa única aula um problema em relação às demais salas. A explicação decorreu da seguinte
forma: Para gente é embaçado. É apenas uma aula por semana, dia de segunda-feira e é a
última aula. Não falo nem em ter mais aulas, mas deveria ser em outro horário. Pois além de
ser uma segunda-feira, passamos por quatro aulas que nos deixam exaustos mentalmente, aí
quando chega a aula de Filosofia não dá para pensar direito.
Outros alunos opinaram sobre essas questões, externando de forma enfática o porquê,
não apenas por acharem Filosofia importante, mas também por gostarem dela. A.B. (aluna da
3ª série C do Colégio Mater Christi) disse: Eu adoro as aulas de Filosofia, acho muito
interessante. Por que acho necessária para a formação de uma boa sociedade, para que a
pessoa desenvolva seu próprio pensamento crítico, desenvolva discussões. Acho que ela deve
permanecer eternamente no currículo do Ensino Médio brasileiro, e deve começar desde
pequeno. É muito importante para a formação das pessoas, pelo fato de fazer você questionar.
É interessante perceber que os alunos, de um modo geral, compreendem que a
Filosofia é, por excelência, a “ciência dos porquês”, e não estuda somente conceitos, mas tem
como base questionar a realidade a nossa volta.
A aluna G.L. por sua vez, acha a disciplina legal e seu argumento para isto é que a
partir da Filosofia a gente abrange o pensar. Ele expressou ser alguém de “mente fechada”,
mas que a partir do contato com a Filosofia passou a questionar o seu cotidiano. É importante
ressaltar que a construção dos sujeitos, entre outros fatores, está intimamente ligada ao contexto
social, cultural e econômico do indivíduo. Sobre esta perspectiva, o aluno D.V. (da 3ª série B
do Colégio Mater Christi) argumentou: Você tem muita coisa formada em você por causa da
família, mas quando você começa a estudar os pensamentos filosóficos, aí você vê que nem
tudo é do jeito que você sempre pensou. Você começa a embaralhar sua mente, pensar diferente
dos outros. Isso é bom para você, mas ao mesmo tempo vai te trazer problemas, pois não é todo
mundo que quer pensar igual a você, e para piorar, querem que você pense igual a todo mundo.
64
Podemos perceber na fala do aluno uma luta entre o que é coercitivo na formação do
sujeito, valores, crenças, ideias, principalmente por parte da família e a resistência a essa forma
de coerção a partir do filosofar. É claro que não são todos os alunos participantes da pesquisa
que enxergam dessa forma, com uma relação mais estreita com a Filosofia para a construção de
suas subjetividades. A maioria dos alunos que negaram a importância da Filosofia em suas vidas
demonstraram ter uma percepção de mundo limitada, com respostas sem nexo ou, na maioria
das vezes, nada conseguia dissertar, seja contra ou a favor das aulas de Filosofia.
Diferentemente daqueles que demonstraram ter uma relação mais próxima a Filosofia, com
visão de mundo mais elaborada, autônoma e expressiva.
Ainda sobre a importância da Filosofia e sua presença no currículo nacional, o aluno
M.M (da 3ª série Órion, Mater Christi) disse: Acho muito legal, é a única matéria que você
pensa sobre as outras matérias, você pensa sobre a vida, você pensa em coisas bem simples
que você tem como verdade, mas pode não ser. Discute questões que são bem básicas, mas que
devem ser discutidas para se descobri a verdade. É uma coisa bem profunda. Acho importante
e interessante, embora muita gente não leve a sério. Ajuda as pessoas a pensarem de forma
mais racional. As pessoas pensam que é viagem, mas é uma coisa que faz parte da vida delas.
Pensar faz parte da vida delas. E Filosofia é a arte de pensar sobre as coisas. Tem Filosofia
em tudo, na matemática, na física, em tudo.
Já o aluno L.G. (da 3ª série A, da E.E. Prof. Abel Freire Coelho) diz que as discussões
em sala não cessam quando a aula termina. Geralmente elas continuam até em casa, ao estudar
e buscar mais conhecimento de outros modos, como expresso em suas palavras: As aulas de
Filosofia são muito interessantes, por que elas instigam a pessoa, eu chego em casa e fico me
questionando se aquele meu ponto de vista está certo ou errado. Geralmente eu não assisto só
as aulas daqui, da grade curricular, chego em casa e busco me atualizar sobre os conteúdos,
pensando sobre a aula.
Cada entrevistado apresentou a importância da Filosofia a seu modo. Uns remetiam a
construção de conceitos, como foi o caso do aluno M.L., da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho, ao
proferir: quando se trata de conceitos, Filosofia em geral, seja política, seja de ciência ou
economia, as pessoas geralmente não têm nenhuma noção desses conceitos. E com a Filosofia
ajuda a ter uma ideia. Outros a fomentação do debate, e ainda outros a construção do sujeito e
ao desenvolvimento do pensamento crítico. O aluno R.L. (3ª série B da E. E. Prof.º Abel Freire
Coelho) disse: É importante! … é interessante, pois uma dúvida que você tem leva a outra e
depois a outra, e assim vai. Você sai de sua zona de conforto. A Filosofia te puxa como se
65
quisesse dizer: 'venha aqui, vamos saber como outras pessoas pensam'. E o estudante G.S. (da
3ª série B, da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho) argumentou: Filosofia é aquela aula que você
para, respira e diz: agora eu vou estudar Filosofia. É diferente das outras. Por que é uma aula
de tudo. Você não sabe o que o professor vai falar. Ele pode chegar e falar sobre qualquer
assunto e meter a Filosofia no meio. Não tem aquele currículo certo da biologia e das outras
matérias.
S.L. (aluno da 3ª série B, da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho) valoriza o fato da Filosofia
trabalhar com o questionamento das coisas e acha interessante essa postura crítica. Segundo
ele: Se um cara fala alguma coisa na TV, se você tem algum embasamento na Filosofia, você
vai procurar saber se aquilo é verdade. Se algum cientista te falar alguma coisa, você vai lá e
questiona, se algum religioso te fala uma coisa, você vai lá e questiona. Você procurar saber
se o que estão de falando é a verdade mesmo, você procurar a verdade mesmo. Não viver num
mundo ilusório, tipo Matrix.
Percebeu-se que quando a Filosofia se apresenta como uma ponte ao universo do
aluno, o que é discutido nas aulas pode ser transposto para o seu cotidiano, mas o aluno se
debruça e se interessa sobre ela. M.L. (aluno da E.E. Prof.º Abel Freire Coelho) tem uma
predileção por Filosofia política e diz: também faz com que os alunos pensem, reflitam sobre o
que foi dado em sala de aula. E, de certa forma, ele coloca Filosofia no dia a dia. Por sua vez,
um aspecto interessante sobre a figura do mestre foi externado pelo aluno L.W. (aluno da 3ª
série, da Escola Abel Coelho) ao falar: Gosto do fato do professor ser neutro, ele se apresenta
como neutro para que a gente possa pensar e chegue a nossas próprias conclusões. Ele faz a
gente refletir e pensar sobre aquilo”. E reitera o que acredita ser a principal ação da Filosofia:
Ela ajuda, principalmente, o estudante a pensar. As outras matérias, você aprende uma coisa,
e é aquilo. Em Filosofia não. Você pensa, e você mesmo tira sua conclusão sobre aquilo, até
você achar algo que entende como certo. Ajuda a compreender as outras pessoas, o mundo que
você vive, e aceitar outras pessoas que tem ideias diferentes.
Com a obrigatoriedade do ensino de Filosofia a partir de 2008 ampliou-se o mercado
editorial, principalmente com a inclusão da Filosofia no PNLD, a partir de 2010. Além disso,
surgiram também revistas, séries, canais em redes sociais, matérias, reportagens e quadros
jornalísticos que versam sobre temas filosóficos, bem como a presença de filósofos em
programas de televisão participando de conversas sobre temas polêmicos e de interesse público.
Assim, vários jovens puderam ter acesso a conteúdos filosóficos diversos.
Quando questionados sobre o estudo da Filosofia além dos conteúdos discutidos em
sala de aula e se eles liam Filosofia além dos materiais didáticos da escola, e ainda se liam,
66
quais seriam esses materiais. As respostas foram divididas em três categorias: os que
responderam com taxativos “não!”, os que leem artigos e conteúdos filosóficos na internet, e
os que costumam ler livros de filósofos clássicos e/ou contemporâneos.
Os que disseram não ler se expressaram com os exemplos: Não costumo ler além do
que é cobrado na escola. Só leio o conteúdo da escola mesmo. (D.V., aluno da 3ª série B, do
Colégio Mater Christi); Não costumo ler os conteúdos além dos conteúdos do livro da escola
(L.G., aluno da 3ª série B, do Colégio Mater Christi); Não muito, na realidade não costumo ler
além dos conteúdos cobrados para as provas. (G.L., aluno da 3ª série Órion, do Colégio Mater
Christi); Não leio nada fora da escola. Leio sobre mitologia, mas não busco textos filosóficos,
(S.L., aluno da 3ª série B, da Escola Abel Freire Coelho).
Aqueles que costumam ler artigos na internet expressaram: Eu leio, assim, não livros,
mas leio textos na internet com trechos e explicações filosóficas. (G.S., aluno da 3ª série A, da
Escola Abel Freire Coelho); outro aluno da mesma escola disse: Eu leio mais artigos do
Universo Racionalista e de outros sites na internet. (L.W., aluno da 3ª série C, da Escola Abel
Freire Coelho); e o aluno R.L. (3ª série B, E. E. Prof.º Abel Freire Coelho) explicou mais sobre
sua leitura através das redes sociais, dizendo: Eu não procuro ler. A gente acaba lendo através
das redes sociais. Quando tem alguma coisa que me chama a atenção, eu vou lá e leio. Do ano
passado até esse ano, eu pensava em estudar Filosofia, fazer a Faculdade de Filosofia, só que
eu percebi que sou muito ruim para ler. Tenho uma preguiça demais para ler. Eu gosto de
buscar na internet frases de filósofos e busco entender, mesmo que você não entenda
perfeitamente o que significa, mas você sempre tira algo de proveitoso daquilo.
Os demais alunos que afirmaram ler além dos conteúdos cobrados em sala, e que
demonstraram uma leitura mais acadêmica, apresentaram seus autores e conteúdos preferidos,
ou ainda, passaram a ver de maneira mais aguçada e crítica o mundo a sua volta. R.B, do
Colégio Mater Christi, disse que gostava de ler Nietzsche e Freud. Citou alguns títulos, como
“Admirável Mundo Novo”, “O Mundo de Sofia”, “A Revolução dos Bichos” e “1984”. Disse,
ainda, gostar de ler sobre regimes totalitários, além das próprias Filosofias do budismo, para
enriquecer a sua alma. A aluna M.L. (3 série C, do Colégio Mater Christi) disse: Eu gosto. Eu
tenho uma coleção chamada “Filosofia para leigos”, eu gosto muito, aí vem falando várias
coisas, como 'A Guerra', 'O Amor', 'A Felicidade', essas coisas assim. Como meu irmão faz
ciências sociais, ele me indica vários livros. Aí as vezes os livros que ele indica, que é da
faculdade dele, eu acabo lendo antes dele. Tipo, ele lê o capítulo para prova e eu leio para me
divertir.
Dois alunos da Escola Estadual Prof.º Abel Freire Coelho relataram: Leio. Comecei a
67
ler, mas ainda não terminei o livro 'Breve História da Filosofia', não lembro agora o nome do
autor, (L.G., aluno da 3ª série A); “Sim, eu leio! Eu tinha até baixado um livro no computador,
chamado Filosofia Política, de um filósofo argentino, chamado Mario Bunger. Que é
considerado um dos maiores filósofos da atualidade”(M.L., aluno da 3ª série C). No decorrer
da entrevista, este aluno demonstrou uma sensibilidade com causas e lutas sociais, por ter uma
afinidade com conteúdo de Filosofia Política. De fato, ele marcou no questionário esta área
como sendo aquela que ele mais gosta de ler. M.M. (3ª série A, do Colégio Mater Christi) disse
que sua leitura não estava apenas condicionada aos livros, mas: na verdade as coisas que eu
gosto mais de ler são revistas em quadrinhos e revistas científicas. Eu leio a Superinteressante,
eu sou assinante, e uma vez veio uma edição que trouxe uma matéria “onze segredos do
universo”, em formato de livro. E esse livrinho é muito bom. Ele traz questões como: se Deus
existe; de onde nós viemos e para onde vamos? E são onze questões como essas. Então eu leio
sobre Filosofia, às vezes, eu acho muito legal. Também eu vejo em filmes, filmes bem filosóficos,
como Matrix, Interestelar, esses filmes que trazem questões além de científicas, filosóficas. Eu
gosto. Acho legal.
Percebemos um déficit de leitura que acreditamos não ser algo particular da área da
Filosofia, mas um legado histórico-cultural da falta de leitura por parte dos brasileiros. Não
vivemos em um país com indicadores alto de um povo que ler, que possui uma cultura livresca.
Resgatamos a pergunta “Houve algum conteúdo de Filosofia que mais te marcou? Se
sim, qual e por quê?”, que permeou quase toda a entrevista, quer de forma direta, quer de forma
indireta, e acrescentamos outras duas: “Você já teve alguma aula de Filosofia que fizesse com
que você se identificasse com o conteúdo/ideia? Se sim, qual era o assunto da aula e por quê
você se identificou?”, e, “Você acha que as ideias de algum filósofo ou até mesmo as aulas de
Filosofia, no geral, mudou alguma coisa na forma que você encara a vida ou sua relação com
as pessoas? Se sim, o que e como?” para tentar entender em que medida os alunos percebiam
alguma forma de mudança no ser do sujeito, a partir do contato com a Filosofia.
Consideramos esse momento como central na pesquisa, já que se trata da análise da
resposta dissertativa do questionário e o item final do roteiro das entrevistas, os quais abordam
diretamente o problema da experiência de si na aprendizagem filosófica. O aluno S.N. (3ª série
A do Colégio Mater Christi) disse que a aula mais marcante foi de lógica. Segundo ele, a
Filosofia ajudava a gente a pensar de forma organizada. E relatou uma analogia proferida por
um dos seus professores: […] E também teve uma historinha, que eu gosto muito, que é: o
mundo ele tem um guarda-chuva, e esse guarda-chuva tem vários furinhos, e o sol não penetra
completamente... e a partir da Filosofia, a gente consegue ir abrindo esses furos e pensar além
68
do que o mundo tampa e além do que o mundo encobre da gente. A gente consegue ir muito
mais além. E uma das coisas que eu acho interessante, é a gente poder ir além daquilo que a
gente vive. É como se você tivesse um horizonte bem amplo, e você pudesse ir além do
horizonte. Você pudesse pensar além do que você está vendo e do que você imagina, e do que
você acha que existe. A Filosofia leva pra esse lado e é aí que ela trabalha na amplitude do seu
conhecimento, na amplitude do seu pensamento. Ele ainda relatou que mudou sua forma de
encarar o mundo a partir da reflexão sobre uma frase atribuída a Sócrates, e que a Filosofia
ajudou na questão da alteridade: Acho que todo mundo conhece essa frase, que é aquela 'só sei
que nada sei', de Sócrates. Sempre eu fui muito estudioso. Desde pequeno era tido como
'inteligentezinho', eu achava que eu era o centro do mundo, eu achava que eu sabia de tudo, eu
era até meio arrogante. Quando você se acha muito inteligente, você passa a ter arrogância.
Aí quando você estuda Filosofia e vê uma frase como essa, de um cara tão esplendoroso como
o Sócrates, [...] mexeu comigo, pois me fez ver que eu também não sei de tudo. Eu também
tenho que aprender muito ainda. Eu sei, mas também sei que tenho o que aprender. Acho que
mudou a minha forma de me ver, em relação a sociedade, por que eu pensava que eu sabia de
tudo, que eu tinha conhecimento de tudo [...] Eu tinha que aprender a não deixar a minha
inteligência barrar a inteligência das pessoas. Muitas vezes acontecia isso [...] Mesmo que
uma pessoa não tenha cultura, mesmo que ela não tenha nada, você consegue tirar alguma
coisa boa daquela pessoa. Nem que seja uma lição a partir dos erros. A partir do conhecimento
filosófico que você tenha da vida, do que é viver, do que é viver em conjunto, do que é viver em
sociedade com as pessoas.
Alguns alunos afirmaram a possibilidade de mudança no ser do sujeito a partir da
Filosofia, embora não todos conseguissem identificar, precisamente, um filósofo ou uma
ideia/conceito específico que lhes tenha possibilitado uma mudança na relação consigo mesmo.
No entanto, outros apontam qual filósofo, ideia, frase ou texto lhes ajudaram a entender o
mundo de uma outra maneira, com um outro olhar, como foi o caso de R.B., ao dizer: Nietzsche
me ajudou, na própria teoria do eterno retorno, a ser uma pessoa mais tranquila. E o próprio
budismo também. Nessa questão da vida ser complicada, eu tenho que fazer algo, mas eu não
posso mais me conformar e querer mudar aquilo. O aluno disse ainda que percebia uma estreita
relação entre o pensamento do filósofo Nietzsche e a religião/Filosofia budista, e que por
influência dessas suas leituras afirmou: Eu posso aceitar as coisas como são. […] Eu procuro
manter um equilíbrio. Eu não vou me estressar por causa dos problemas corriqueiros da vida.
Finalmente ele nos apresentou uma de suas reflexões filosóficas sobre a liberdade: Certa vez eu
estava lendo sobre o marco civil, da internet, aí fiquei filosofando sobre a frase 'quem vigia os
69
vigilantes?'. E me questionei sobre liberdade e totalitarismo. Certa vez vi uma imagem que
remetia a Michel Foucault. Era tipo um farol cercado de várias celas. E o farol estava apontado
para um canto, como se fosse girar. A ideia era de um Estado vigilante. Mas quem vigiaria a
pessoa que está lá em cima? (R.B., aluno da 3ª série A, do Colégio Mater Christi).
Percebeu-se, através do diálogo com os alunos, que os temas que estavam mais em
evidência carregam um teor polêmico. Assuntos relacionados a Ética e Metafísica/Ontologia
aparecerem como principais escolhas dos jovens. Subtemas como aborto, união homoafetiva,
eutanásia, pena de morte, Deus, religião e liberdade foram eixos motivadores para o debate em
ambas as escolas. Observa-se que são temas com viés existencial, e que de algum modo
implicam uma possibilidade de transformação de suas subjetividades, ressaltando a importância
da ética para os alunos, na experiência de si e seu papel na aprendizagem filosófica.
Nos questionários, percebemos que os assuntos das aulas de Filosofia que os alunos
mais gostavam correspondiam às seguintes áreas: Ética, Política, Metafísica e Ciência. Nas
entrevistas, momento em que eles podiam explanar melhor qual assunto ou conteúdo mais os
mobilizavam, algumas falas nos chamaram a atenção e por isso foram classificadas por assuntos
que tiveram maior incidência, quais sejam: filósofos que mais se repetiram nas falas dos alunos;
a questão da relação Filosofia e Religião; a questão da alteridade, tanto em relação a própria
questão religiosa quanto sobre o tema da sexualidade.
No que tange a Ética, o nome de Jean-Paul Sartre e o existencialismo se apresentaram
repetidas vezes. Citamos dois depoimentos que falaram de Sartre e o Existencialismo e que
levaram os alunos a uma reflexão sobre suas atitudes e responsabilidades éticas. O primeiro
aluno disse: O assunto que eu achei melhor foi sobre o humanismo no existencialismo de Sartre.
Foi ali que eu comecei a mudar minhas “convicções” sobre religião, família, essas coisas. E
pensar mais sobre o que eu posso fazer por mim mesmo e pelos outros, e como passei a me
preocupar com as responsabilidades que eu tenho, tanto sobre minhas atitudes boas, quanto
por minhas atitudes ruins. Não colocar sobre ninguém as responsabilidades de meus atos. Ela
é apenas minha. (D.V., aluno da 3ª série B, do Colégio Mater Christi). Quanto ao segundo aluno
ele expressa: Esse ano eu tive uma aula que me marcou. Foi a aula sobre o existencialismo de
Jean-Paul Sartre. Muitos assuntos discutidos nas aulas de Filosofia têm haver com coisas que
acontecem na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa de bater de frente com as ideias das
pessoas. Nunca fui uma adolescente “rebelde”. No entanto, eu comecei a olhar diferente para
sociedade. Principalmente a religião. (A.B., aluno da 3ª série C, do Colégio Mater Christi)
Dando prosseguimento aos relatos de experiências dos alunos com a Filosofia,
percebemos, ainda, uma aproximação tênue entre Filosofia e Religião. Tênue porque esta
70
relação se apresenta, em primeiro momento, como um estranhamento por parte dos alunos e
tem por base o preconceito, associando-se o filosofar com a perda da crença religiosa, ou que
esse seria seu objetivo. Alguns alunos relataram que tinham essa ideia preconcebida, mas que
com o tempo mudaram suas opiniões, não suas crenças. Outros, no entanto, mudaram de
opinião, pois não passaram a ver a possibilidade da Filosofia indagar sobre as crenças, quer
cotidianas, quer religiosas, como algo negativo. E, consequentemente, mudaram de fé.
Separamos quatro respostas dos alunos que colaboraram para melhor entendermos o que se
passou com suas espiritualidades depois que passaram a estudar Filosofia.
Alguns depoimentos sobre o que se discutira ou apresentara acima são apresentados:
Uma aula onde descobri que nem todos os filósofos eram ateus. Aí eu percebi: poxa, eu tinha
uma ideia errada sobre isso. Lógico que tem filósofo que é ateu, mas tem outros que acreditam
na existência de um certo Deus. Mas, em geral, todas as aulas de Filosofia marcam por que
você sai com um pensamento diferente. […] Quando se estuda Filosofia a pessoa passa a ter
um pensamento diferente do mundo, do meio em que você vive. Antes eu não queria nem ouvir
falar em Filosofia. Pois a Filosofia vai me dizer coisas que eu não vou aceitar, mas não, depois
eu percebi que era preconceito meu. Filosofia e religião andam lado a lado. Tudo tem Filosofia.
Eu era dogmático. Religioso. E não queria acreditar em nada além de minha religião. Depois
da Filosofia não, eu mudei. Passei a questionar as coisas. (R.L., aluno da 3ª série B, da Escola
Abel Freire Coelho). O aluno S.L. (3ª série B, da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho) relata: Me
ensinou a questionar tudo o que é imposto. Antes, eu só aceitava o que era da minha crença.
Eu não conseguia olhar para o lado. Eu não aceitava. Era minha opinião e pronto. Aí veio a
Filosofia, que me ensinou a ouvir. A ouvir as opiniões das pessoas. Que alguém pode ter uma
opinião e até te convença. Na opinião de M.L. aluno da 3ª série C, do Colégio Mater Christi):
A aula de Filosofia que mais me marcou foi no nono (9ºano), quando eu entrei para o grupo
católico Shalom, a gente estava discutindo gênero, sexualidade, essas coisas assim. E batia de
frente com o que eu pensava e aprendia no grupo. Na escola teve um caso de duas garotas que
estavam ficando e foram proibidas de ficarem, e até de andarem de mãos dadas. Isso ficou
batendo muito na minha cabeças, aí eu fui procurar a respeito. Eu acreditava em Deus, mas
nunca tinha pesquisado a respeito. Ai quando eu comecei a pesquisar, vinha gente martelando
contra. E eu queria estar forte para defender o que eu acreditava. Sendo que no dia seguinte,
nas aulas, eu já não acreditava mais do mesmo jeito. (risos). Diziam: a igreja fez as cruzadas,
a inquisição. E aí eu dizia: não, a igreja não fez só coisas ruins não. Ela criou os bancos, as
universidades, tinha lá o “negócio” das freiras que criou os hospitais, etc. Ai depois você vai
ver assim as coisas, ai meu Deus do céu, aquelas torturas, etc... A Filosofia mudou muita coisa
71
na minha forma de enxergar o mundo. […] A Filosofia muda nossas vidas por que a gente
começa a perguntar: será que isso é verdade? Começa se questionar a respeito das coisas, e
não só isso, a gente pensa: como eu posso aplicar isso na minha vida? (). Já G.S. (aluno da 3ª
série da E. E. Prof.º Abel Freire Coelho) aborda o papel do professor quanto ao ensino de
Filosoai, ao dizer: Uma aula onde o professor expôs como a Filosofia superou muitas crenças
da religião. A questão do heliocentrismo, que foi como um golpe na Igreja. A Filosofia
influencia muito em nossas vidas a Filosofia. Por que a todo momento você está pensando,
você está instigando seu conhecimento. Cada vez mais você quer saber, você quer se informar.
É perceptível que a Filosofia serve de base para o questionamento do cotidiano,
fazendo com que os alunos reflitam sobre o mundo ao seu redor, resgatando questões polêmicas,
ou até mesmo questões simples, porém sob uma perspectiva filosófica. Isso acarreta em um
pensar que os tira do lugar comum, da zona de conforto e que mexa com o seu ser de sujeito.
Suas falas atentaram para essa conclusão.
A aluna M.L., do Colégio Mater Christi, expõe suas questões sobre religião e Filosofia
e também sobre a questão da alteridade, a partir de uma análise sobre a sexualidade. Mesmo
não questionados de forma direta sobre o tema da sexualidade, os demais alunos também se
pronunciaram a respeito dele, a partir da alteridade, do respeito pelo outro enquanto ser
diferente. Vejamos a fala do aluno D.V. (3ª série B do Colégio Mater Cristi), no qual deixa claro
que essa foi uma das principais mudanças no seu ser de sujeito, acarretada pela reflexão
filosófica: A Filosofia me ajudou a mudar, principalmente em relação ao preconceito com
pessoas de sexualidades diferente da minha. A gente tem preconceitos que a gente acha que
não tem. E com o tempo, alguns pensamentos filosóficos foram me ensinando que eu não
preciso ter isso. Que não é algo necessário, e que eu posso não ter. E eu faço o que posso para
não ter esse preconceito. Por isso foi mudado meu modo de olhar as outras pessoas.
A fala da aluna A.B. (3ª série C do Colégio Mater Christi) enfoca a questão do
relativismo da verdade. Segundo ela, após o contato com o filosofar passou a questionar os seus
pensamentos, crenças e ideias como sendo únicos e exclusivamente verdadeiros, expresso em:
A Filosofia mudou muito a minha vida. A questão de tolerância, de respeitar o gosto das
pessoas. Entre elas, a tolerância sexual. Me ajudou a pensar que nem todo mundo pensa da
minha forma. E também, que a minha forma de pensar seja a única correta. Foi a partir das
aulas de Filosofia que eu passei a me questionar sobre isso. Quem eu penso que sou para achar
que as minhas ideias e crenças são as corretas? Passei a aguçar isso depois das aulas de
Filosofia. Antes eu não pensava assim. Até pensei em cursar Filosofia, mas minha mãe disse
que eu não iria fazer, senão eu iria ficar doida.
72
Por sua vez, o aluno M.M. (aluno da 3ª série Órion, do Colégio Mater Christi) fez uma
comparação entre o pensamento que ele tinha sobre as pessoas, provenientes de preconceitos
herdados pela coercitividade, a partir das opiniões de outrem, em especial, da família, e como
a Filosofia lhe ensinou a perceber as pessoas de maneira diferente, na busca de extinguir esses
adestramentos do olhar o outro: Sim, eu acho que ajudou, assim, não só entender a vida melhor,
de um jeito mais justo, como também desmistificou mais as imagens das pessoas. Não é aquela
coisa, você cresceu e sua mãe disse: “ah, é isso!”; e seu pai disse: “ah, é isso também!”. Então
você passa a ver o mundo daquele jeito. Mas ao estudar Filosofia, você começa a ver as coisas
de uma forma mais aberta, da forma que ela realmente é. E não pela visão das outras pessoas.
E sim, pela sua própria visão. Então, isso para mim, mudou muito. Tipo, aquela pessoa não é
aquilo por que minha mãe falou, e sim por que eu conclui que ela é aquilo. Por que eu pensei,
eu raciocinei para chegar aquela visão.
Filosofia da Ciência, Teoria do Conhecimento e questões existenciais também
marcaram as entrevistas. Filmes e séries de ficção científica, teorias, e/ou até mesmo revistas
científicas foram apontadas pelos entrevistados como aparatos para um olhar diferenciado sobre
a vida. Entre produções cinematográficas, o filme Matrix é um dos primeiros que vem à mente
dos alunos, os quais rememoram o conceito platônico do mundo das ideias, ou até mesmo
relembram as contribuições filosóficas do cartesianismo. Vejamos alguns depoimentos: Não
teve, assim, um filósofo que me marcou. Mas ideias sim. Como por exemplo aquela aula sobre
a realidade, que o professor explicou sobre o filme Matrix. Eu sempre gostei daquele filme,
quando eu era pequeno sempre gostava dos filmes de ação, mais das partes de ação. Mas a
Filosofia me fez ver um outro contexto no filme, tanto que assisti os três filmes de novo. Gostei
muito da metafísica de Platão. (L.G., aluno da 3ª série B, do Colégio Mater Christi); Um
assunto que me marcou nas aulas de Filosofia foi quando o professor questionou nossa própria
existência. “Será que tudo o que estamos vivendo não é apenas um sonho?” Até hoje isso me
marca muito. A Filosofia me tirou do lugar comum. Depois dela eu passei a questionar o meu
cotidiano. (G.L., aluno da 3ª série Órion, do Colégio Mater Christi); Aulas que me marcaram:
existencialismo e o mito da caverna, de Platão. Eu gosto muito desse tema, em específico, eu
gosto de pensar sobre o que é a realidade. Meus filmes preferidos são sobre isso, tipo, Matrix,
A Origem, etc. Eu gosto muito desse tema. Também vários outros temas me marcam, mas eu
acho que esse, assim, me marcou bem. A questão do René Descartes, da questão dos sentidos.
Eu acho muito legal. (M.M., aluno da 3ª série A, do Colégio Mater Christi).
Torna-se instigante ver a empolgação deles quando descrevem as aulas e os conteúdos
que mais lhes marcaram. Alguns relataram como não conseguiam parar de falar, durante dias,
73
sobre temas abordados em sala de aula, como apresentavam os temas a outras pessoas, à família,
e alguns descreveram a reação proveniente desse tocar filosófico em suas vidas: Eu me
identifico mais com os conteúdos de Filosofia das Ciência e Teoria do Conhecimento. Teve uma
aula sobre o cosmos que eu me identifiquei muito com a visão daquilo tudo. Foi muito marcante
para mim. Eu cheguei em casa, comecei a comentar com minha mãe. Na escola não parava de
falar sobre esse tema, falei por umas duas semanas. O que acho mais interessante é que a
maioria das pessoas estavam com a mente fechada, por terem uma visão religiosa. E a Filosofia
chegou assim como um tsunami, envolveu todo mundo, e que as pessoas podiam pensar
diferente da Igreja. (L.G., aluno da 3ª série A, da Escola Abel Freire Coelho)
Outro aluno disse: Eu saí meio louco de uma aula, nem sei como consegui chegar em
casa. Vimos um vídeo, acho que era do filme Efeito Borboleta, onde uma coisa pode determinar
várias outras. Fiquei falando comigo mesmo: e se eu não subisse nessa moto agora? E se eu
subir, o que pode acontecer? Tipo a história de Édipo. Essa questão do destino. Meu pai me
deu até uma bronca, ele disse: ‘tá bom já! Vamos voltar para realidade?!’. (S.L., aluno da 3ª
série B, da Escola Abel Freire Coelho)
O aluno L.W. (da 3ª série C, Escola Estadual Prof.º Abel Freire Coelho) disse que
Metafísica era a área da Filosofia que mais o cativava. O mais interessante é que embora vários
alunos demonstrem suas preferências de conteúdos e ideias filosóficas percebemos que
independente do conteúdo em si a questão do ser consigo e a questão da alteridade o ser com o
outro esteve presente em todas as falas, sobre as mais variadas discussões temáticas. Alguns
pensaram a religião do outro a partir do conhecimento de ética; outros pensaram a questão do
corpo, da sexualidade, a partir de discussões políticas; outros pensaram o outro a partir de
discussões estéticas; e o L.W. pensou a alteridade a partir da metafísica. Em suas palavras: Uma
aula que me marcou, foi no primeiro ano, quando o professor falou sobre metafísica. Eu aprendi
que no mundo não havia apenas a minha visão, o meu ponto de vista. Mas existiam muitas
ideias, muitas crenças, teorias. A metafísica me fez ver o mundo diferente. Eu mudei algumas
ideias. Pois antes eu não aceitava a visão das pessoas. Eu me fechava para as opiniões das
pessoas. Como por exemplo na política. Eu sou de direita. E eu tinha vários preconceitos com
a esquerda, achava a esquerda carregada de ideias sombrias. Mas quando comecei a estudar
Filosofia, eu percebi que estava me fundamentando em preconceitos.
Larrosa (1994) coloca que a experiência de si contemporânea se dá como referência às
normas. Buscamos ver se era possível uma ativação de uma experiência filosófica diferenciada
nas aulas de Filosofia e quais das modalidades de experiência de si se destacavam. Dentre as
modalidades da tecnologia do eu percebemos, na fala dos alunos, que duas se destacaram: o
74
ver-se e o julgar-se. Na questão da experiência de si, na questão do ser do sujeito, a maneira
como os alunos se veem e se julgam apareceu com mais evidência na aprendizagem filosófica.
Lógico que essas modalidades estão conectadas, a maneira como a percebemos,
consequentemente, se relaciona como nos julgamos.
A questão da alteridade que citamos no tópico anterior permeia, também, esta
experiência do ver e do julgar. Ela teve um papel importante que deslocou o aluno nessa
experiência de si. Notadamente, isso se reveste de uma importância maior pelo fato de serem
adolescentes, pois a alteridade faz com que eles quebrem um elemento muito comum na
adolescência, que é o egocentrismo presente nessa fase da vida. Percebemos em suas falas que
eles se relativizam e alteram o modo de se ver e se julgar. Em algumas falas percebemos
claramente essa relativização como, por exemplo, nas falas dos alunos M.M., e R.L., quando
dizem: Sim, eu acho que ajudou, assim, não só entender a vida melhor, de um jeito mais justo,
como também desmistificou mais as imagens das pessoas. Não é aquela coisa, você cresceu e
sua mãe disse: “ah, é isso!”; e seu pai disse: “ah, é isso também!”. Então você passa a ver o
mundo daquele jeito. Mas ao estudar Filosofia, você começa a ver as coisas de uma forma mais
aberta, da forma que ela realmente é. E não pela visão das outras pessoas. E sim, pela sua
própria visão. Então, isso para mim, mudou muito. (M.M., aluno da 3ª série Órion, do Colégio
Mater Christi) e; É importante! … é interessante, pois uma dúvida que você tem leva a outra e
depois a outra, e assim vai. Você sai de sua zona de conforto. A Filosofia te puxa como se
quisesse dizer: 'venha aqui, vamos saber como outras pessoas pensam. (R.L., aluno da 3ª série
B, da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho).
Por sua vez, o aluno S.N. (3ª série Órion do Colégio Mater Christi) falou algo referente
a mudança na forma como ele se via, a partir da prática filosófica, quando refletiu sobre a
máxima socrática “Só sei que nada sei”. Ele disse: Sempre eu fui muito estudioso. Desde
pequeno era tido como 'inteligentezinho', eu achava que eu era o centro do mundo, eu achava
que eu sabia de tudo, eu era até meio arrogante. Quando você se acha muito inteligente, você
passa a ter arrogância. Aí quando você estuda Filosofia e vê uma frase como essa, de um cara
tão esplendoroso como o Sócrates, [...] mexeu comigo, pois me fez ver que eu também não sei
de tudo. Eu também tenho que aprender muito ainda. Eu sei, mas também sei que tenho o que
aprender. Acho que mudou a minha forma de me ver, em relação a sociedade, por que eu
pensava que eu sabia de tudo, que eu tinha conhecimento de tudo.
Houve um deslocamento do ver-se, o qual estava ligado a certa estrutura de
saber/poder de um modo de vida, a algumas coisas que estavam ligadas a certo aparato da
própria estrutura disciplinar. É neste quesito que está focada nossa pesquisa, verificar a
75
possibilidade de uma experiência de si diferenciada. Como a alteridade perpassa tanto a questão
do ver-se como do julgar-se ela provocou uma mudança na forma como eles se viam e como
eles julgavam. O ver-se e o julgar-se convergem e se dão em um campo de problema que tem a
ver com experiências dos jovens como, por exemplos, a família, a religião, a sexualidade, a
verdade. Escolhemos uma fala específica para cada exemplo desses, anteriormente citados:
Você tem muita coisa formada em você por causa da família, mas quando você começa a
estudar os pensamentos filosóficos, aí você vê que nem tudo é do jeito que você sempre pensou.
Você começa a embaralhar sua mente, pensar diferente dos outros. Isso é bom para você, mas
ao mesmo tempo vai te trazer problemas, pois não é todo mundo que quer pensar igual a você,
e para piorar, querem que você pense igual a todo mundo. (D.V. aluno da 3ª série B, do Colégio
Mater Christi); A Filosofia mudou, principalmente, a minha visão religiosa. Essa questão da
coerção. Você ser influenciado pelos país a fazer tudo em sua vida. E a partir disto eu fui
questionando até mesmo a minha própria religião. Tanto que eu mudei de uns tempos para cá.
A partir desse conhecimento da Filosofia, de eu me tornar mais questionadora quanto a isso,
eu mudei. Minha fé é a mesma, o que mudou foi a minha forma de questionar, como: sobre o
que eu estava fazendo ali dentro? (da igreja), será que é isso mesmo o que quero para a minha
vida? (G.L., aluno da 3ª série Órion, do Colégio Mater Christi) e; Sem dúvida alguma, eu penso
que a Filosofia pode transformar a vida das pessoas. Principalmente na parte de religião. Eu
vi que muita gente na sala passou a ter uma visão mais crítica da religião. Começou a pensar
mais, e não deixar que tudo o que as pessoas falavam fossem verdade para elas. Aquela questão
da verdade pela autoridade, eles começaram a questionar sobre a verdade. (L.G., aluno da 3ª
série A, da Escola Abel Freire Coelho).
Observa-se que a mudança na maneira que os alunos se viam implicou em um certo
julgamento diferenciado de si mesmos, reforçando a ligação entre ver-se e o julgar-se. As
demais modalidades de experiências de si descritas por Larrosa (1994), o expressar-se, o narrarse e o dominar-se não apareceram de modo a propiciar alguma análise significativa a respeito.
Ficou evidente que as escolhas metodológicas e os próprios instrumentos da pesquisa
favoreceram a observação das dimensões do ver-se e do julgar-se.
As análises empreendidas até aqui nos indicaram, no que toca a questão principal da
pesquisa, que a aprendizagem de Filosofia realizada nas turmas estudadas apresentou a ativação
de mudanças na relação dos alunos com eles mesmos, notadamente no modo de ver-se e julgarse. Percebemos, também, que essas mudanças se deram, por um lado, mediadas por uma maior
percepção da alteridade, e por outro, pelo interesse em temáticas com forte apelo existencial.
76
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco da presente pesquisa foi analisar em que medida o cuidado de si, como
conceituado por Foucault, aparece como possibilidade na aprendizagem de Filosofia no Ensino
Médio brasileiro. Buscamos entender como o fazer filosófico pode ocorrer dentro de um espaço
de construção das subjetividades, espaço este de disciplina, qual seja, o espaço escolar, o qual
medeia as relações dos sujeitos consigo mesmos e passível de críticas pelo fato de servir como
manutenção do biopoder.
Consoante às explanações ora citadas, esta pesquisa apontou a aprendizagem filosófica
como uma possibilidade de resistência, e não como ferramenta político-pedagógica para uma
transmissão de conhecimentos galgados em uma razão instrumental.
Com o ingresso da Filosofia no Ensino Médio em 2008, o órgão responsável pela
regimentação legal do ensino nacional, nomeadamente Ministério da Educação, tratou de criar
documentos contendo justificativas e objetivos para o fazer filosófico na educação básica. A
grosso modo, as justificativas apontadas e os objetivos levantados conferem àquela disciplina
o papel de tornar críticos os alunos e prepará-los para a cidadania, embora outros objetivos
estejam colocados.
A pesquisa evidenciou que os documentos da educação nacional que regem o ensino
de Filosofia situam-se no âmbito da normatividade e não contemplam a dimensão da
experiência de si, quando, por exemplo, é preconizado o caráter crítico da Filosofia em relação
ao mundo, cuja noção de criticidade parece girar em torno de um senso comum acadêmico,
didático e pedagógico. Fala-se que a ela cabe o papel de despertar a criticidade do aluno, mas
na prática parece que não se sabe explicitar o que vem a ser esse caráter crítico da Filosofia.
Pensa-se que a disciplina desenvolve esse caráter. No entanto, esse fazer crítico integra o que
Foucault chamou de momento cartesiano da filosofia, em que prevalece a dimensão cognitiva
da filosofia, deixando obscurecida a dimensão da experiência de si. Neste sentido, a presente
investigação contribuiu para mostrar a possibilidade da experiência de si na aprendizagem
filosófica, e ao mesmo tempo destacar a sua importância para a constituição do ser do sujeito.
Dentre os estudos que se dedicam ao ensino e a aprendizagem de filosofia, este
trabalho contribuiu para investigar a relação entre a experiência de si e a educação não apenas
no plano teórico, mas também como investigação empírica de uma experiência efetiva do fazer
filosófico no Ensino Médio.
A ausência de estudos da mesma natureza e também as dificuldades inerentes ao
próprio objeto de pesquisa, como a difícil investigação da experiência de si, estabeleceram
77
limites a este trabalho. Entretanto, permitiu observar a presença dessa importante dimensão do
sujeito na aprendizagem filosófica a partir do qual novos e aprofundados estudos precisarão ser
realizados para uma melhor compreensão da temática abordada.
No que concerne mais especificamente a análise das cinco modalidades de experiência
de si, observou-se uma limitação decorrente das circunstâncias da pesquisa e pelos instrumentos
utilizados na coleta de informações. Para a investigação das dimensões do expressar-se, do
narrar-se e do dominar-se exigir-se-ia um outro tempo e outros instrumentos para uma melhor
análise e compreensão dessas dimensões. Os resultados se limitaram a colocar em evidência na
aprendizagem de Filosofia as modalidades do ver-se e do julgar-se, que não dão conta, per si,
da complexidade do tema em razão de que aquelas modalidades devem ser pensadas em suas
relações, compondo um conjunto constitutivo da experiência de si. Não obstante, todas essas
limitações foram constatadas ao final desta pesquisa, observando-se que o fazer filosófico nas
aulas possibilitou mudanças no modo como os alunos se viam e se julgavam, realçando o
potencial da aprendizagem filosófica enquanto possibilidade de resistência aos dispositivos
normativos do espaço disciplinar da escola.
Ante às considerações expressas, no início da dissertação procurou-se mostrar as
motivações desta pesquisa na experiência de ensino do autor deste trabalho, tornadas objetos
de pesquisa. Neste final, cabe mencionar que não apenas o ver-se e julgar-se, por parte dos
alunos, constituem domínios da experiência de si, pois a relação experiência de si e educação
também possibilitou uma ressignificação na forma como nos vemos e nos julgamos. Cada vez
que a normatividade era posta a prática pedagógica nos inquietava para que não fosse dado
espaço com fim a colocar em evidência à cognitividade cartesiana em detrimento do cuidado
de si. Novos elementos pedagógicos e novas questões surgem como reflexão do fazer filosófico
enquanto caráter docente. Quem sabe estas questões continuarão a nos inquietar, propiciando
outras pesquisas?
78
6. REFERÊNCIAS
ALVES, Luzia Aparecida. Michel Foucault, educação e formação do sujeito. 2009. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de Goiás, Goiás-GO, 2009.
Disponível em: http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=648. Acesso
em: 02 de maio de 2015.
BRASIL. MEC. Resolução CNE/CEB 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de
janeiro de 2012.
_____________. MEC. MEC/CNE. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
PCN-EM. Brasília, DF, 1999.
_____________. MEC/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
DCNEM-CEB/CNE. Brasília, DF: MEC, 1998a.
_____________. MEC/CNE. Resolução CEB nº 3. Brasília, DF, 26 de junho, 1998b.
_____________. MEC/CNE. Parecer CEB nº 15/98. Brasília, DF, 1 julho, 1998c.
_____________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96. Brasília,
DF: MEC, 1996.
BROCANELLI, Cláudio Roberto. O Ensino de Filosofia e o filosofar e a possibilidade de
uma experiência filosófica na atualidade. 2010. 128f. Tese (Doutorado em Educação) –
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010. Disponível
em: http://repositorio.unesp.br/handle/11449/104800. Acesso em: 02 de maio de 2015.
CARDOSO, José Tiago. Disciplinamento corporal: as relações de poder nas práticas escolares
cotidianas. 2011. 117 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Filosofia e
Ciências,
Universidade
Estadual
Paulista,
Marília,
2011.
Disponível
em:
http://repositorio.unesp.br/handle/11449/96327. Acesso em: 12 de maio de 2015.
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das Mídias. Tradução de Ângela M. S. Corrêa. São Paulo:
Contexto, 2006.
DAMATTA, Roberto. O Ofício do Etnólogo, ou como ter “Anthropological Blues”. In
NUNES, Edison de O. A Aventura Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 23-35.
DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Ed. 34. 2006.
DIELLO, Maria Luiza. Michel Foucault e a problematização da subjetivação: para o
cultivo e a transformação de si. 2009. 147f. Dissertação (Mestrado Interinstitucional em
Filosofia) – Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria,
2009.
Disponível
em:
http://posugf.com.br/biblioteca/?word=Foucault&publisher=Universidade%20Federal%20de
%20Santa%20Maria. Acesso em: 01 de jun. de 2015.
DREYFUS, Hubert. RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica – para
além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.
79
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em Educação. Cadernos de
Pesquisa, n. 114, pp. 197-223, novembro/ 2001.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade, vol. II: O Uso dos Prazeres. Tradução de
Maria Thereza da Costa Albuquerque. São Paulo: Paz e Terra, 2014.
_____________. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Raquel
Ramalhete. 40ª edição. PetróPolis, RJ: Vozes, 2012a.
_____________. Microfísica do Poder. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto
de Machado. 25ª edição. São Paulo: Graal, 2012b.
_____________. A Coragem da Verdade: O governo de si e dos Outro II. (Curso no Collège
de France (1983-1984). [Tradução de Eduardo Brandão]. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2011.
_____________. O Governo de Si e dos Outros: curso no collège de France (1982-1983).
[Tradução de Eduardo Brandão]. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
_____________. Segurança, território, população, [1977-1978]. São Paulo: Martins Fontes,
2008.
_____________. A Hermenêutica do Sujeito (Curso no collège de France em 1981-1982).
[Tradução de Márcio Alves da Fonsesa e Salma Tannus Muchail]. São Paulo: Martins Fontes,
2006.
_____________. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: editora nau, 2005.
_____________. As palavras e as coisas: uma arqueologia das Ciências Humanas. Tradução
Salma Tannus Muchail. (Coleção tópicos), 8a ed. — São Paulo : Martins Fontes, 1999.
_____________. História da Sexualidade, vol. I: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1988.
_____________. A Arqueologia do Saber. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.
Col. Campo Teórico. Tradução Luiz Felipe Baeta Neves.
_____________. História da Sexualidade, vol. III: O Cuidado de Si. [Tradução de Maria
Thereza da Costa Albuquerque]. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
GALLO, Sílvio; ASPIS, Renata Lima. Ensino de Filosofia e cidadania nas “sociedades de
controle”: resistência e linhas de fuga. Revista Pro-Posições, v. 21, nº 1 (61), p. 89-105.
Campinas: edições Unicamp, 2010a.
GALLO, Sílvio. Ensino de Filosofia: avaliação e materiais didáticos. In. CORNELLI, Gabriele;
CARVALHO, Marcelo; DANELON, Márcio. Filosofia: Ensino Médio. (Coleção Explorando o
Ensino; v. 14), 212 p. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010b.
GELAMO, Rodrigo Pelloso. O ensino da Filosofia no limiar da contemporaneidade: o que
faz o filósofo quando seu ofício é ser professor de Filosofia?. 2009. 138f. Tese (Doutorado em
80
Educação). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília. Disponível em:
https://marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Educacao/Dissertacoes/gelamo_rp_dr_mar.pdf.
Acesso em: 04 de junho de 2015.
GERGEN, M. M; GERGEN, N. K. Investigação qualitativa: tensões e transformações, in
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Org.). Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e
abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 367-388.
KOHAN, Walter Omar. A Filosofia e seu ensino como phármakon. Educar em Revista,
Curitiba, Brasil, nº 46, pp. 37 – 51, out – dez, Editora UFPR, 2012.
_____________. Sócrates & a Filosofia: o enigma da Filosofia. Coleção Pensadores &
Educação. Tradução Ingrid Müller Xavier. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
_____________. O ensino de Filosofia e a questão da emancipação, In. CORNELLI, Gabriele;
CARVALHO, Marcelo; DANELON, Márcio. Filosofia: Ensino Médio. (Coleção Explorando o
Ensino ; v. 14), 212 p. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010.
_____________. Filosofia: Caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008a.
____________. Saber, cuidado de sí y formación. El último Sócrates en el último Foucault.
Revista Ensayo y Error, año XVII. Nº 34, pp. 93-118, 2008b.
____________. Três Lições de Filosofia da Educação. Educ. Soc., Campinas, vol. 24, nº 82,
pp. 221 – 228, abril, 2003.
KOHAN; Walter. O.; WOZNIAK, Jason. Filosofia como exercício espiritual na educação de
jovens e adultos. Educação em Revista, Marília, V. 12, Nº 1, pp. 191 – 206, jan-jun, 2011.
LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu e Educação. In: SILVA, Tomaz Tadeu. O Sujeito da
Educação. PetróPolis: Vozes, 1994, p. 35 – 86.
MAAMARI, Adriana Mattar. De volta à Escola: A Filosofia retorna ao currículo escolar do
Ensino Médio como disciplina obrigatória. In: Discutindo Filosofia. Ano 1, n° 05, ISSN 18088961-05. São Paulo: Escala Educacional, 2006.
MOURA, Thelma Maria de. Foucault e a escola [manuscrito]: disciplinar, examinar, fabricar.
Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás
UFG,
Goiás-GO,
2010.
Disponível
em:
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/1985?locale=pt_BR. Acesso em: 28 de maio de
2015.
SANTOS NETO, Alípio dos. et al. Orientações curriculares para o Ensino Médio; volume
3. Ciências Humanas e suas tecnologias/Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006.
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral. In: textos
selecionados, Coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2005.
81
PEREIRA, Avelino Romero Simões et al. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio: Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Brasília: MEC, 1997.
POL-DROIT, Roger. Michel Foucault – Entrevistas. São Paulo: Graal, 2006.
RIBEIRO, Saulo Eduardo. Ensino de Filosofia na Escola: (im) possibilidades ante a crise da
modernidade. Impulso, Piracicaba 21(51), 73-83, jan.-jun. 2011.
RODRIGUES, Zita Ana Lago. O ensino da Filosofia no Brasil no contexto das políticas
educacionais contemporâneas em suas determinações legais e paradigmáticas. In: Educar
em Revista, nº 46, pp. 69 – 82. Curitiba: Editora UFPR, 2012.
VALEIRÃO, Kelin. Foucault na educação: ferramentas analíticas para a práxis educacional
hoje. 2009. 93f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade
Federal
de
Pelotas,
Pelotas-RS,
2009.
Disponível
em:
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=604. Acesso em: 09 de
maio de 2015.
VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade
contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. Coleção Pensadores & Educação. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2011.
VEYNE, Paul. O último Foucault e sua moral. Critique, Paris, Vol. XLIL, no 471-472, p. 933941,
1985,
Tradução
de
Wanderson
Flor
do
Nascimento.
Disponível:
http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/art11.html. Acesso: 23 de maio de 2014.
ZIMMERMANN, Roque. A nova LDB e o ensino de Filosofia: considerações sobre a
legislação e o PL 3178/97. Mimeo, 2001.
82
ANEXOS
83
ANEXO I – QUESTIONÁRIO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEG
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas - PPGCISH
BR 110, Km 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva
CEP: 59-625-620 – Mossoró (RN) - Fone: (84) 3312-2128
Home Page: http://propeg.uern.br/ppgcish E-mail: [email protected]
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA: O que almejamos em nossa pesquisa é buscar entender
se o ensino de Filosofia que está sendo ministrado em algumas salas de aula do Ensino Médio
em nossa cidade confirma a possibilidade de transformação do ser mesmo do sujeito/aluno. Se
as referidas experiências têm como base um ensino que impulsione o alunado a um cuidado de
si, à construção de uma estética de sua própria existência. Nossos objetivos são: compreender
as possíveis transformações no ser do sujeito/aluno propiciadas pela aprendizagem da disciplina
Filosofia; analisar se e como o cuidado consigo pode alterar as relações do sujeito/aluno com
suas dimensões intelectuais, corporais e emocionais e; observar se e como essa aprendizagem
da Filosofia pode transformar as relações do sujeito/aluno com sua dimensão político-social.
QUESTIONÁRIO PROPOSTO SOBRE EXPERIÊNCIA DE SI E APRENDIZAGEM
FILOSÓFICA
ESCOLA: ______________________________________________ SÉRIE: ____________
NOME: __________________________________________________________________
1. Há quanto tempo você estuda Filosofia?
(
) 1 ano
(
) 2 anos
(
) 3 anos
(
) 4 anos ou mais
2. Onde você começou a estudar Filosofia?
(
) Na escola, no Ensino Fundamental
(
) Na escola, no Ensino Médio
(
) Fora do ambiente escolar, antes mesmo de estudá-la como matéria
3. Você acha importante a Filosofia no currículo do Ensino Médio brasileiro?
(
) Sim
(
) Não
(
) Indiferente
4. Você estuda Filosofia além dos conteúdos discutidos em sala de aula?
(
) Sempre
(
) Geralmente
(
) As vezes
(
) Raramente
(
) Nunca
84
5. Houve algum conteúdo de Filosofia que mais te marcou?
(
) Sim
(
) Não
6. Sobre qual tema foi o conteúdo de Filosofia que chamou sua atenção?
(
) Metafísica/Ontologia
(
) Ética
(
) Filosofia da Ciência ou Teoria do Conhecimento
(
) Política
(
) Estética ou Filosofia da Arte
(
) Outro
7. Você acha que as ideias de algum filósofo ou até mesmo as aulas de Filosofia no geral mudou
alguma coisa na forma que você encara a vida ou sua relação com as pessoas? Se sim, explique
como e porque isso ocorreu?
(
(
) SIM
) NÃO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
85
ANEXO II – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEG
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas - PPGCISH
BR 110, Km 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva
CEP: 59-625-620 – Mossoró (RN) - Fone: (84) 3312-2128
Home Page: http://propeg.uern.br/ppgcish E-mail: [email protected]
ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE EXPERIÊNCIA DE SI E APRENDIZAGEM
FILOSÓFICA
1. Por favor, poderia dizer seu nome, escola e série que estuda?
___________________________________________________________________________
2. Como foi o seu primeiro contato com a Filosofia?
___________________________________________________________________________
3. Há quanto tempo você estuda Filosofia?
___________________________________________________________________________
4. Você já teve alguma aula de Filosofia que lhe marcou, que fizesse com que você se
identificasse com o conteúdo/ideia? O que por exemplo?
__________________________________________________________________________
5. O que você acha das aulas de Filosofia?
___________________________________________________________________________
6. Você acha importante a Filosofia no currículo do Ensino Médio brasileiro? Por que?
__________________________________________________________________________
7. Você lê coisas de Filosofia além daquilo que é discutido em sala de aula? Lê o que, por
exemplo?
___________________________________________________________________________
8. Você acha que as ideias de algum filósofo ou até mesmo coisas discutidas nas aulas de
Filosofia no geral mudou a forma que você encara a vida ou sua relação com as pessoas? Se
sim, explique como isso ocorreu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________