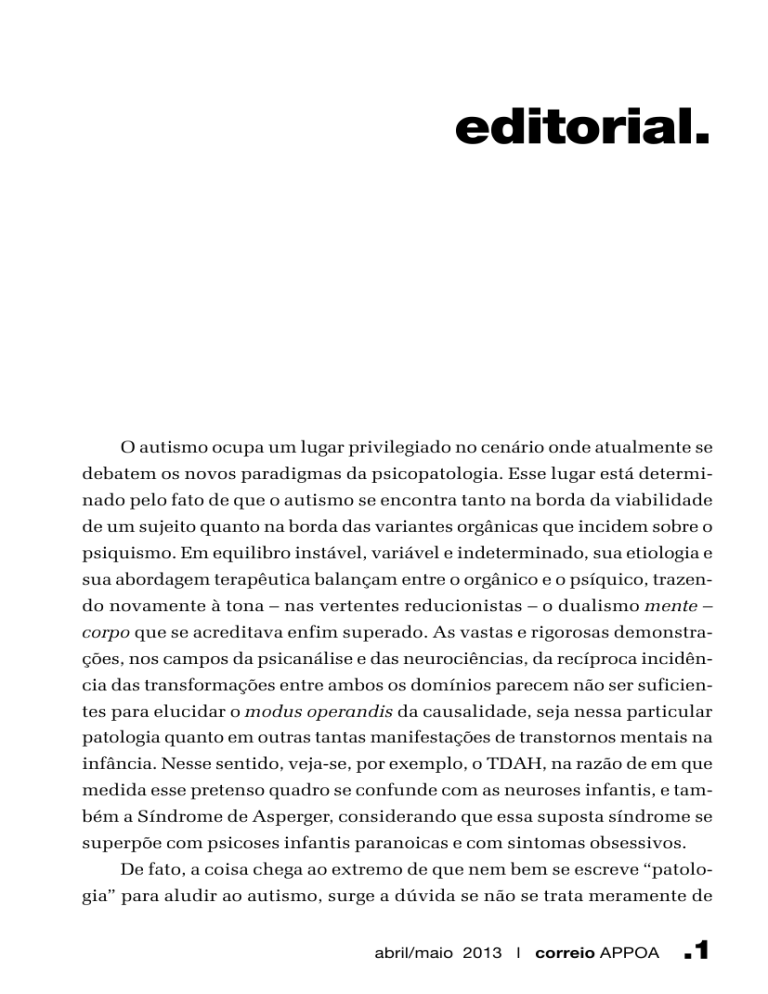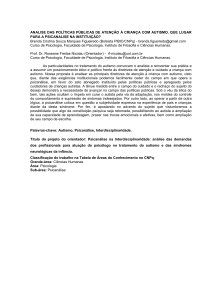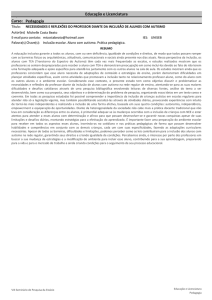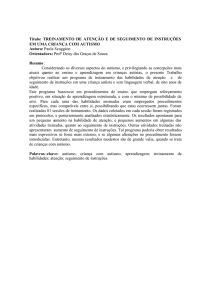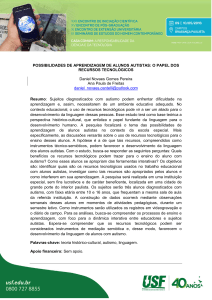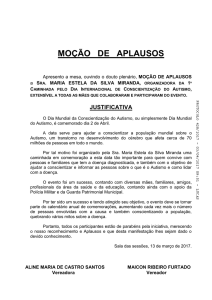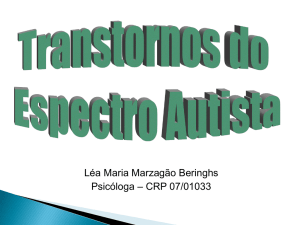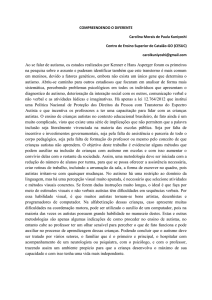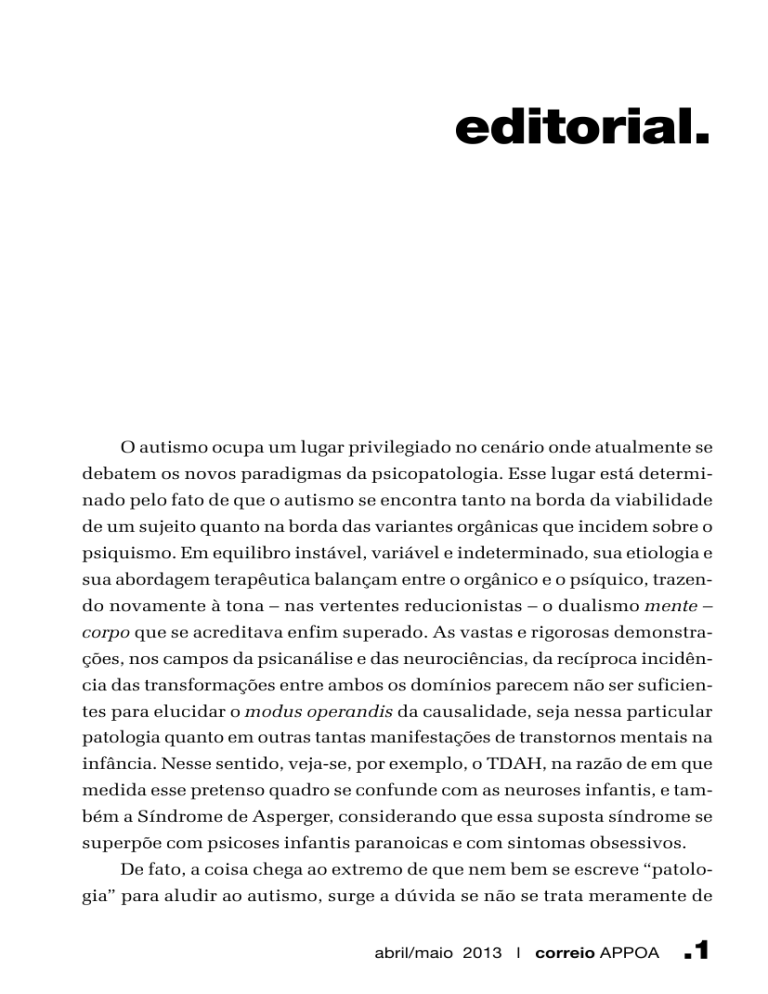
editorial.
O autismo ocupa um lugar privilegiado no cenário onde atualmente se
debatem os novos paradigmas da psicopatologia. Esse lugar está determinado pelo fato de que o autismo se encontra tanto na borda da viabilidade
de um sujeito quanto na borda das variantes orgânicas que incidem sobre o
psiquismo. Em equilibro instável, variável e indeterminado, sua etiologia e
sua abordagem terapêutica balançam entre o orgânico e o psíquico, trazendo novamente à tona – nas vertentes reducionistas – o dualismo mente –
corpo que se acreditava enfim superado. As vastas e rigorosas demonstrações, nos campos da psicanálise e das neurociências, da recíproca incidência das transformações entre ambos os domínios parecem não ser suficientes para elucidar o modus operandis da causalidade, seja nessa particular
patologia quanto em outras tantas manifestações de transtornos mentais na
infância. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o TDAH, na razão de em que
medida esse pretenso quadro se confunde com as neuroses infantis, e também a Síndrome de Asperger, considerando que essa suposta síndrome se
superpõe com psicoses infantis paranoicas e com sintomas obsessivos.
De fato, a coisa chega ao extremo de que nem bem se escreve “patologia” para aludir ao autismo, surge a dúvida se não se trata meramente de
abril/maio 2013 l correio APPOA
.1
editorial.
uma “condição”, ou apenas uma particularidade nos processos de maturação e/ou de constituição do sujeito.
Lamentavelmente, o interessante e frutífero debate que deveria acontecer
fica obscurecido por uma luta de prevalência que tem como fundo a angústia
dos pais e sua ansiedade para encontrar uma resposta e solução definitiva.
Esse debate também fica enuviado pelos gestos de reserva de mercado esgrimidos por práticas médicas, psicanalíticas e psicológicas pouco responsáveis que fraca ou nenhuma relação mantêm com o corpus teórico, clínico e
científico que fundamenta as respectivas práticas dessas disciplinas.
Se, por um lado, a urgência e a emergência dos pais se encontram altamente justificadas pelo sofrimento que os assola, por outro, os ataques
contra a psicanálise efetuados pelos setores positivistas e reducionistas da
psiquiatria e da psicologia, constituem uma grave falha ética na comunidade científica internacional e uma astuciosa tentativa de desviar o foco da
questão para elidir o reconhecimento dos limites de seus próprios conhecimentos. Tanto mais grave se torna o evento quando, como ora está a
acontecer, se atacam instituições que levaram décadas de árduo trabalho
para se estabelecer (como CRIA e o CAPS de Itapeva, e todos os CAPSi do
Estado de São Paulo) e que transformaram significativamente o triste panorama anterior da saúde mental em nosso país.
Perante essa desenfreada avalanche de falácias proferidas contra a psicanálise, perante o descarado desconhecimento ativo da magna obra que a
psicanálise tem produzido nos últimos 120 anos no campo da saúde pública e mental e das falsificações com que se atacam seus fundamentos científicos, nos vemos obrigados a romper nosso silêncio e tomar posição. Apoiamos, então, o Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública que, recentemente constituído, se ocupa da problemática que acabamos de referir.
É por isso que dedicamos este número de nosso Correio para difundir
o Manifesto desse Movimento e diversos textos1 produzidos em forma
1 Outros artigos sobre a temática estão disponíveis no site da Appoa www.appoa.com.br
2.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
coletiva pelos grupos de trabalho, e apresentados na assembleia realizada
em São Paulo (USP) no dia 23 de março de 2013.
Os episódios políticos que nesta edição são relatados demonstram até
que ponto “quando uma prática não logra se sustentar pelos princípios de
sua ética, acaba se degradando no exercício de um poder” (Lacan).
Alfredo Jerusalinsky
abril/maio 2013 l correio APPOA
.3
notícias.
III Jornada do Instituto APPOA
Psicanálise e Intervenções Sociais
Desamparo e Vulnerabilidades
23 e 24 de agosto de 2013
Hotel Continental – Porto Alegre
O Instituto APPOA, através de suas Linhas de Trabalho, está realizando uma série de encontros preparatórios, abertos aos interessados, para a
III Jornada do Instituto APPOA. Segue abaixo o argumento da Jornada e as
próximas reuniões programadas. A agenda das atividades preparatórias e
outras informações podem ser acessadas no site www.appoa.com.br, clicando
em Instituto APPOA.
O desamparo é uma experiência fundamental da condição humana e é
em torno dela que se constitui a posição do sujeito no laço social. Freud faz
do estado de desamparo (Hilflosigkeit) um conceito de referência em sua
obra, enfatizando-o como o protótipo das situações traumáticas, geradoras
de angústia no adulto, pois o confronta, no tempo presente, com a impo-
abril/maio 2013 l correio APPOA
.5
notícias.
tência de seu estado de desamparo infantil originário. Segundo ele, o malestar, a infelicidade e as situações traumáticas nos chegam de três direções:
do sofrimento de nosso próprio corpo, do mundo externo e das insatisfações ou da violência desencadeadas pelas relações com os outros. O sofrimento proveniente desta última talvez seja o mais penoso de todos eles.
A cultura com que procuramos fazer frente à condição humana e seu
inevitável mal-estar nos defronta com inúmeras situações de vulnerabilidade
em seu movimento permanente de conflito entre civilização e barbárie. Em
todas estas situações, o sujeito está diretamente implicado. Quando somos
atingidos, o catastrófico se articula com o desamparo estrutural e somos
confrontados com o trauma do real irrepresentável.
O desamparo e as diferentes vulnerabilidades colocam um desafio para
a clínica da psicanálise em extensão. Propomos com esta III Jornada do
Instituto APPOA abrirmos o debate sobre nossas intervenções fundadas no
desejo do analista e na ética da Psicanálise.
Atividades preparatórias:
Entrada franca
·
Linha de Trabalho Psicanálise, Politicas Públicas e Saúde Mental –
reunião sábado 20/04 às 10h.
·
·
·
Linha de Trabalho O Desejo do Analista nas Práticas Institucionais
– reunião quarta-feira 24/04 às 20h30
Linha de Trabalho Psicanálise e Educação – reunião sábado dia 27/
04, às 10h.
Linha de Trabalho Incidências Subjetivas e Sociais das Mudanças
de Língua, País e Cultura – reunião quarta-feira, dia 30/04 às 20h45.
·
·
Grupo de Trabalho Vulnerabilidades – encontros em Santa Maria
(mais informações no site da Appoa).
Linha de Trabalho Psicanálise, Politicas Públicas e Saúde Mental e
Núcleo da Infância e Adolescência – reunião sábado 11/05 às 10h.
6.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Nota sobre o I CONCAPSI
Nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2013 ocorreu no Rio de Janeiro o I
Congresso Nacional dos CAPSis, que teve como mote a discussão do caráter
estratégico destes serviços na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para
crianças e adolescentes. Foi um evento de grande magnitude, não só numérica ( já que contou com a presença de mais de 1500 pessoas oriundas de
23 estados da federação), mas também pela qualidade da discussão clinica
e política em torno de questões da saúde mental infanto-juvenil. Além das
mesas plenárias que aconteceram pela manhã e na conclusão do evento,
houveram diversas modalidades de participação como rodas de conversas,
mesas redondas simultâneas, temas livres, fóruns temáticos, uma tribuna
para livre manifestação, culminando com um “Passeato”. Este último constituiu momento de grande engajamento dos participantes do Congresso,
contra as medidas de internação compulsória e em protesto ao lançamento
unilateral e sem consulta pública, de um manual em relação aos usuários
autistas e seus familiares no dia internacional do autismo (em detrimento
do documento de linhas de cuidado em relação aos usuários e familiares,
lançado posteriormente e construído a partir de amplo diálogo e consulta
pública). Várias questões se desdobraram ao longo dos diferentes espaços
de discussão e apresentação de trabalhos, tais como: Qual o lugar da atenção psicossocial no SUS? Os CAPS têm cumprido seu mandato clínicoterritorial? Como é possível garantir investimentos financeiros, de recursos
humanos, formativos e de supervisão para que, efetivamente, possamos
consolidar a implementação do paradigma de atenção psicossocial no SUS?
Qual a implicação dos profissionais na construção da rede intersetorial
para a efetivação de uma atenção que seja realmente inclusiva em relação às
diferentes modalidades de sofrimento psíquico de crianças, adolescentes e
seus familiares? Estas e outras questões, esperamos, trarão desdobramentos e efeitos nos serviços, redes de atenção, profissionais e usuários que lá
estiveram, e serão relançadas à discussão no próximo ano, quando aconte-
abril/maio 2013 l correio APPOA
.7
notícias.
cerá o II Congresso Nacional dos CAPSIs, que ocorrerá em Porto Alegre,
conforme decisão da Plenária do CONCAPSI.
Tatiane Vianna e Ieda Prates
Tesouraria
A Associação Psicanalítica de Porto Alegre informa que, a partir do
mês de maio, haverá um acréscimo nas mensalidades de Associados, Percursos, Grupos e Seminários, em função da inflação acumulada no último
ano. Seguem, abaixo, os novos valores:
CAT E G O R I A
VALOR
Membros
R$ 254,00
Membros residentes fora do RS
R$ 385,00 *
Participantes
R$ 195,00
Participantes residentes fora do RS
R$ 292,00 *
Percurso de Escola XII
R$ 390,00
Percurso de Crianças e Adolescentes
R$ 390,00
Grupos e Seminários:
Semanais
Quinzenais
R$ 90,00
Mensais
R$ 45,00
* Semestralidades
Correio março 2013 – Errata
1. Contra-capa: Resenhas
O instinto matemático.
Autora: Tamara Pelizzari
A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos.
Autor: Fernando Sangoi Isaia
8.
R$ 180,00
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
2. Pág. 40, linha 20: “sensações mau-agourentas”...
3. Pág. 41, linha 16: “a tradição judaico-cristã”...
4. Pág. 92, linha 18: “um novo número entre dois outros números”...
5. Pág. 93, linha 19: “o termo prole – Folge – para falar
da sequência”...
6. Pág. 106, última linha: “Fernando Sangoi Isaia”
Mudança de telefones
Heloisa Marcon comunica a alteração de seus contatos telefônicos que
passam a ser os seguintes: (47) 9684-3098 e (47) 3209-0710.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.9
temática.
Manifesto do Movimento Psicanálise,
Autismo e Saúde Pública1
Diante de tentativas recentes de excluir as práticas psicanalíticas de
políticas públicas para o atendimento da pessoa com autismo, os profissionais de Saúde Mental associados ao Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde
Pública vêm a público para afirmar seus princípios de ação e sua posição
ética frente ao atendimento de pessoas com autismo e suas famílias.
1. O Movimento considera que as famílias das pessoas com autismo
devem ter o direito de escolher as abordagens de tratamento para
seus filhos (em consonância com a portaria nº 1.820 do Ministério
da Saúde, de 13 de agosto de 2009).
2. O Movimento considera fundamental acompanhar e acolher a família, considerando-a como parceira fundamental no tratamento.
3. O Movimento apoia e recomenda vivamente a pluralidade, a diversidade e o debate, científico e metodológico, das abordagens de tra1
Disponível em http://psicanaliseautismoesaudepublica.wordpress.com/2013/04/02/no-dia-mundial-da-conscientizacao-sobre-o-autismo-o-movimento-psicanalise-autismo-e-saude-publica-lanca-o-seu-manifesto/. Acesso em abril 2013.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.11
temática.
tamento da pessoa com autismo e também dos critérios diagnósticos
empregados em suas avaliações.
4. O Movimento considera fundamental que o tratamento e a educação
de pessoas com autismo leve em conta a singularidade do sofrimento da pessoa com autismo e de sua família.
5. O Movimento considera que o principal objetivo do tratamento da
pessoa com autismo é o estabelecimento de seu vínculo com os
outros, ponto sobre o qual há consenso entre todas as abordagens
de tratamento.
6. O Movimento sustenta a inclusão de crianças com autismo em escolas regulares sempre que possível (e como opção prioritária), contando com uma rede de apoio interdisciplinar e intersetorial; a
estruturação dessa rede implica a construção de um projeto educacional visando à aprendizagem da criança na medida de suas possibilidades, bem como sua integração às atividades escolares.
Diante da importância de tratar e educar crianças e adultos com autismo
de uma perspectiva que leve em conta a singularidade de seu sofrimento e
de sua família, o Movimento propõe a adoção, em políticas públicas, das
seguintes medidas:
1. Ampliação do campo da detecção e da intervenção precoces diante
de sinais de risco para o desenvolvimento infantil nos equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social.
2. Investimento na formação e capacitação de profissionais e na disseminação de conhecimentos, instrumentos e estratégias clínicas de
detecção e intervenção precoce, com ênfase na atenção primária de
saúde.
3. Fortalecimento, nos serviços de saúde e educação, de perspectivas
de atendimento que levem em conta a singularidade, ou a subjetividade, da pessoa com autismo, por meio da atenção a suas manifestações próprias.
12.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
4. Fortalecimento, nos serviços de saúde e educação, de perspectivas
de atendimento que levem em conta a importância do estabelecimento do vínculo da pessoa com autismo com os outros.
5. Disseminação dos conhecimentos a respeito da multicausalidade
do autismo e ampliação do debate sobre a prevalência do diagnóstico em exames laboratoriais e de seu tratamento medicamentoso,
denunciando a criação de falsas epidemias (como a multiplicação
do diagnóstico de autismo na atualidade).
6. Preservação, sem exclusão de nenhuma delas, das quatro dimensões que devem estar igualmente presentes no atendimento da pessoa com autismo: física (orgânica), mental (psíquica), social (relativa
à cidadania) e temporal (a perspectiva do desenvolvimento).
7. Adoção de projetos terapêuticos singulares (PTS), bem como o acolhimento e o acompanhamento implicados (formulados pelo Ministério da Saúde em 2005).
8. Apoio à implementação efetiva da Linha de Cuidado para Atenção
às Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo na Rede de
Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde.
9. Sustentação e ampliação de redes intersetoriais e interdisciplinares
de tratamento (com a presença dos setores da Saúde, da Educação,
da Assistência Social, do Direito e da Justiça) que considerem as
diferenças territoriais e locais, bem como a sustentação de projetos
particulares e inovadores que vêm surgindo a partir delas.
O objetivo principal deste Movimento é o de tornar mais presente a
Psicanálise, dadas as evidências de que suas práticas podem contribuir
para a promoção da melhora da qualidade de vida da pessoa com autismo e
de seus familiares.
O Movimento considera que a presença da Psicanálise nas instituições
públicas de saúde e educação, nas instituições não governamentais, no
setor privado, nas universidades, a acolhida da população em geral bem
abril/maio 2013 l correio APPOA
.13
temática.
como o apoio dado a ela pelos órgãos de fomento nacionais e internacionais
de pesquisa há mais de 70 anos são manifestações de seu reconhecimento
pela comunidade científica e pela sociedade em geral.
Instituições participantes
Universidades
FEUSP (professores: Leny Mrech, Rinaldo Voltolini, Leda Bernardino)
FMUSP (professor Wagner Ranna)
Grupo de estudo sobre a criança (e sua linguagem) na clínica psicanalítica – GECLIPS/UFUMG
IPUSP (professores Cristina Kupfer, Christian Dunker, Rogerio Lerner)
PUC /RJ (professora Beatriz Souza Lyma)
Psicologia PUC /SP (professores (Silvana Rabello, Isabel Khan)
Fono PUC/SP (professores Claudia Cunha, Luiz Augusto P. Souza,
Regina Freire)
UERJ (professor Luciano Elia)
UFBA – ambulatório infanto-juvenil da Residência em Psicologia Clínica e Saúde Mental do Hospital Juliano Moreira/UFBA-SESAB (professora
Andréa Fernandes)
UFMG (professora Ângela Vorcaro)
Laboratório de Estudos Clínicos da PUC Minas (professor Suzana
Faleiro Barroso).
UFPE (professora Joana Bandeira de Melo)
UFRJ (professora Ana Beatriz Freire)
UFSM (professora Ana Paula Ramos)
UnB (professores Izabel Tafuri, Marilucia Picanço)
Unesp Bauru (professores Edson Casto, Erico B. Viana, Cristiane Carrijo)
UNICAMP (Nina Leite)
Univ. Católica de Brasília (professora Sandra Francesca)
Setor de Saúde Mental do Departamento de Pediatria da UNIFESP
Centro de Referência da Infância e da Adolescência – CRIA/UNIFESP
14.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
DERDIC/PUCSP (professores Sandra Pavone, Yone Rafaele, Lucia
Arantes e Carina Faria)
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) (professora
Paula Pimenta)
Instituições de Psicanálise
ALEPH – Escola de Psicanálise
Associação Psicanalítica de Curitiba- APC
Circulo Psicanalítico MG – CPMG
Círculo Psicanalítico de Pernambuco – CPP
EBP/SP (Escola brasileira de psicanálise)
EBP/MG (Escola brasileira de psicanálise)
EBP/RJ (Escola brasileira de psicanálise)
Escola Letra Freudiana
Espaço Moebus/BA
Laço Analítico
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil (EPFCLBrasil)
Fórum do Campo Lacaniano – São Paulo (FCL-SP)
Rede de Pesquisa sobre as Psicoses do FCL-São Paulo
Rede Brasil Psicanálise Infância/ FCL
IEPSI
Associação Psicanalítica de Porto Alegre – APPOA
Instituto APPOA
IPB (Instituto de psicanálise brasileiro)
Intersecção Psicanalítica do Brasil/NEPP
Grupo que estuda a clinica com bebês e as intervenções precoces da
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
Grupo de Estudos e Investigação dos TGD da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae (SEDES)
abril/maio 2013 l correio APPOA
.15
temática.
Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES
Departamento de Psicanálise de Crianças do Instituto SEDES
Espaço Potencial Winnicott do Depto. Psicanalise de Crianças do Instituto SEDES
Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto SEDES
Núcleo de Investigação Clínica Hans da Escola Letra Freudiana
Sigmund Freud Associação Psicanalítica/RS
GEP/Campinas
NEPPC/SP
Instituto da Família – IFA/SP
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo
Centros de atendimentos não governamentais
Ateliê Espaço Terapêutico/RJ
Attenda/SP
Centro de Atendimento e Inclusão Social CAIS/MG
Carretel – Clínica Interdisciplinar do Laço/SP
Carrossel/BA
Centro da Infância e Adolescência Maud Mannoni - CIAMM
CERSAMI de Betim
Centro de Estudos, Pesquisa e Atendimento Global da Infância e Adolescência – CEPAGIA/Brasília/DF
Clínica Mauro Spinelli/SP
Clube/SP
CPPL – Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem
Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem de Recife – CPPL
Escola Trilha
ENFF
Espaço Escuta de Londrina
Espaço Palavra/SP
GEP-Campinas
Grupo Laço/SP
16.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Grupo de Pesquisa CURUMIM do Instituto de Clínica Psicanalítica/RJ
Incere
Instituto de Estudo da Familia INEF
Instituto Langage
Instituto Viva Infância
LEPH/MG
Lugar de Vida
Centro Lydia Coriat de Porto Alegre
NIIPI/BA
NINAR – Núcleo de Estudos Psicanalíticos
NÓS – Equipe de Acompanhamento Terapêutico.
Projetos Terapêuticos/SP
Trapézio/SP
Associação Espaço Vivo/RJ
Centros de atendimentos do governo
CAPS Pequeno Hans/RJ
CAPS Guarulhos/SP
CAPS Ipiranga/SP
CAPS Lapa/SP
CAPS Mauricio de Sousa/Pinel-RJ
CAPSI Mooca/SP
CAPSI Taboão/SP
CAPSI de Vitória
CARM/UFRJ
NASF Brasilândia/SP
NASF Guarani/SP
UBS Humberto Pasquale/SP
Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica – COMPP/SES-DF
CAPSI COMPP/SES-DF
CAPS Campina Brande/PB
abril/maio 2013 l correio APPOA
.17
temática.
Associações
ABEBÊ – Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê.
ABENEPI/Maceió
ABENEPI/RJ
ABENEPI/BSB
Associação Metroviária do Excepcional AME
Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
CRP/SP (Conselho regional de psicologia)
Hospitais
Centro Psíquico da Adolescência e Infância da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais (CePAI/FHEMIG)
CISAM/UPE – Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros – Universidade de Pernambuco
HCB (Hospital da Criança de Brasília)
Serviço de psicossomática e saúde mental do Hospital Barão de Lucena
-HBL/ Recife
Hospital Einstein
IEP/HSC Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Santa Catarina
Hospital Pinel
Hospital das Clínicas – Universidade de Pernambuco
Revista
Revista Mente e Cérebro
Grupo de pesquisa
PREAUT BRASIL
Grupo de pesquisa IRDI nas creches
18.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
Acerca da tentativa de fechamento
do Instituto Centro de Referência
da Infância e Adolescência de São Paulo
“Prezados colegas e especialmente àqueles da instituição CRIA de
São Paulo:
O discurso reducionista finalmente mostra seu verdadeiro espírito:
todas as pessoas que padecerem de qualquer tipo ou modo de sofrimento
psíquico, se pretenderem tratamento, deverão adaptar se às categorias
classificatórias e aos métodos estabelecidos por ele. Tal adaptação passa a
ser obrigatória na medida em que quem não obedecer (seja profissional ou
paciente) ficará automaticamente excluído dos circuitos terapêuticos estabelecidos pelos sistemas de proteção social. Bastaria isto para demonstrar
o quanto eles – os comportamentalistas que comungam com a evitação do
debate epistemológico e clínico – estão muito mais interessados numa reserva de mercado do que na saúde pública, apesar de seu pretenso fundamento científico.
Pretenso porque, por exemplo, na comunicação da SES de SP, que
acaba de se dar a público dispondo o fechamento de CRIA, em lugar de – a
abril/maio 2013 l correio APPOA
.19
temática.
corrente positivista oficialmente defendida - oferecer como prova de seu
trabalho os resultados obtidos, sustenta sua suposta eficácia mediante a
acusação à psicanálise de não demonstrar seus efeitos. A leviandade de tais
afirmações demonstra o alto grau de má fé ou, no melhor dos casos, a
ignorância suprema daqueles que sustentam tal absurda afirmação:
1) Porque nenhuma disciplina terapêutica tem publicado tal quantidade de casos clínicos com tal abundância de detalhes demonstrativos
dos efeitos produzidos pelas suas intervenções como tem feito a
psicanálise;
2) Porque nenhuma disciplina terapêutica tem se dedicado a analisar
suas referências teóricas em relação a sua prática clínica com tão
alto grau de rigor autocrítico como o campo psicanalítico;
3) Porque a entrada da psicanálise no campo da saúde pública trouxe,
conforme foi verificado, consequências não somente na humanização
no tratamento dos doentes mentais, como nunca tinha acontecido
na história, mas também proporções de recuperação e reintegração à
vida cultural e social como nunca antes tinha se logrado alcançar;
4) Porque as descobertas psicanalíticas – especialmente as relativas ao
inconsciente e à estrutura do sujeito humano – têm demonstrado
fartamente seu alto grau de validade e sua consistência no fato de ter
permeado profunda e extensamente todas as manifestações da cultura sem contar com qualquer aparato de poder ou propaganda, mas
somente apoiadas nos efeitos de suas intervenções;
5) Porque as mais recentes descobertas no campo da genética (nos referimos especialmente à epigenética) e das neurociências demonstram
que o enlace entre o organismo e os processos mentais não é redutível
a nenhum desses domínios, mas que o fenômeno psíquico é a manifestação duma relação dialética de determinação recíproca e de
prevalência variável entre eles. A psicanálise não somente vem afirmando como vem contribuindo para essa pesquisa durante os últi-
20.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
mos 120 anos (veja-se Projeto de uma Psicologia para Neurologistas
de S. Freud, 1895);
6) Porque existem estudos científicos sobre os resultados das intervenções psicanalíticas que, evidentemente, os promotores do fechamento de CRIA ignoram (não sabemos se por simples descuido ou
por falseamento intencional), a começar, e já que se trata especificamente do assunto, pela pesquisa feita por Bruno Bettelheim sobre
os resultados das intervenções em psicoterapia psicanalítica feitas
com crianças autistas na Sophie Shankman Orthogenic School,
publicada em 1953 no seu livro Fugitivos da Vida (onde, dito seja de
passo, ele se autocritica de ter considerado como possível causa do
autismo a frieza das mães, manifestando que o que ele tomou como
causa bem pode ser a angustiosa consequência da falta de resposta
do filho perante a insistente tentativa materna de tomar contato afetivo
com ele).
7) Porque a resolução de fechamento de CRIA está claramente e explicitamente enlaçada à medida legislativa anterior (veja-se o documento que contêm as diretrizes para a substituição dos CAPSi no
Estado de SP) sobre a prescrição de determinados métodos (todos
comportamentalistas criados e gerenciados por instituições norteamericanas). Dita substituição elimina a referência Psico-Social dos
CAPSi – que reconhece a singularidade psíquica e a situação social
de cada paciente – focalizando o condicionamento adaptativo mediante a aplicação de programas terapêuticos fixos com objetivos
uniformes para todos os pacientes, já que determina a instalação de
centros de reabilitação. Trata-se, em suma, do desconhecimento da
problemática mental colocando no seu lugar um programa fixo de
aquisição de comportamentos considerados – a priori – normais.
Retrotrai o atendimento da saúde mental aos conceitos anteriores à
Reforma Psiquiátrica de 1994.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.21
temática.
Essa resolução da SES de SP e sua argumentação são da ordem da
irresponsabilidade clínica e da desconsideração humana ao interromper
abruptamente os tratamentos de centenas de afetados e suas famílias, além
de evidenciar uma severa ignorância da clínica específica de que se trata,
por parte dos promotores dessa medida. Resulta claro que os que promovem que os atendimentos sejam somente ministrados a autistas, por um
lado desconhecem por completo o campo clínico em que se inclui essa
população, característica que implica diagnósticos diferenciais que deixam
fora dessa qualificação psicopatológica um número muito maior de crianças e jovens que, embora não apresentem essa patologia, padecem perturbações e transtornos psíquicos graves, além de um vasto contingente com
formações psicopatológicas relacionadas, intermediárias e/ou vizinhas de
tais afecções que seriam difíceis de situar dentro ou fora de tais categorias,
até mesmo porque suas manifestações podem – e costumam – se mostrar
flutuantes, inconstantes e intermitentes. Por outro lado, tal seleção discriminatória nos atendimentos demonstra uma estranha pretensão de ignorar
e menosprezar outros tipos de sofrimentos psíquicos diferentes daqueles
assinalados pela disposição da SES, certamente induzida por disposições
impulsionadas por aqueles que sofrem especialmente desses males.
Solidarizamo-nos totalmente com os colegas do CRIA que estão lutando para manter suas portas abertas e a continuidade dos tratamentos.”
Porto Alegre, 27 de novembro de 2012.
Alfredo Jerusalinsky e Julieta Jerusalinsky
22.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.23
temática.
24.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
Autismos e seus tratamentos:
contribuições da metodologia psicanalítica
nesse campo (G7)1
O autismo foi descrito por Leo Kanner, em 1943, como um “distúrbio
afetivo do contato” caracterizado por um “isolamento extremo” a partir do
qual o paciente persevera em atividades repetitivas2.
Desde lá até hoje em dia, seu diagnóstico é feito clinicamente a partir
do modo pelo qual o paciente tem de se relacionar com os demais e não por
exames laboratoriais orgânicos.
1
Este texto foi produzido pelo G7 “Metodologia da psicanálise na clínica com o autismo” no Movimento Autismo, psicanálise e
políticas públicas. Participaram na produção do texto: Julieta Jerusalinsky na função de coordenação (NEPPC/SP; Associação
Psicanalítica de Porto Alegre/RS; Centro Lydia Coriat – clínica interdisciplinar da infância e adolescência/RS; Clinica interdisciplinar
Mauro Spinelli/SP); Alicia Lisondo (GEP Campinas/ SBPSP); Ana Beatriz Freire (UFRJ); Alfredo Jerusalinsky (APPOA/RS; Centro
Lydia Coriat – clínica interdisciplinar da infância e da adolescência/RS e BsAs); Claudia Mascarenhas (Espaço Moebius; Instituto
Viva Infância/BA); Daniela Teperman (NEPPC –SP); Heloisa Prado Telles (EBP-SP); Ilana Katz (NEPPC – SP); Luciana Pires (IPUSP)
Maria Prisce Cleto Telles Chaves (ABENEPI – RJ); Mariangela Mendes de Almeida (SBPSP/UNIFESP); Patricia Cardoso de Mello
(SBPSP e IFA/ SP); Paula Pimenta (EBP/MG).
2
Ainda que esse autor não tenha sido o primeiro a utilizar essa nomenclatura ou a tratar de pacientes com autismo, seu estudo,
realizado a partir do atendimento de vários pacientes, é um marco que configura a especificidade desse quadro.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.25
temática.
Isto porque tal quadro se apresenta na dificuldade da pessoa autista
em se relacionar com os outros, inclusive com aqueles que estão mais implicados nos seus cuidados (em seus casos mais extremos, não endereçando seu olhar, voz ou postura corporal, assim como não respondendo a seus
chamados).
No comparecimento inicial desse quadro é possível verificar clinicamente que o bebê ou a pequena criança apresentam uma exclusão ativa das
pessoas implicadas nos cuidados de seu circuito de satisfação. Geralmente,
a mesma é precedida por uma baixa responsividade aos outros3. Posteriormente começam a comparecer dificuldades na aquisição da linguagem e na
produção simbólica, tais como brincar de faz de conta e participar dos hábitos da cultura. Em lugar dessas produções, e pela ausência das mesmas,
surgem estereotipias que privilegiam uma auto-estimulação sensorial.
Em relação ao autismo existiram e coexistem diferentes critérios
classificatórios dentro da psicopatologia - psiquiátrica e/ou psicanalítica4,
mas todos esses critérios concordam que se trata de um quadro no qual há
dificuldades no reconhecimento entre a pessoa com autismo e seu semelhante, a partir do qual o autismo aparece em suas expressões mais típicas,
tais como as descritas por Kanner, e, de modo extenso, em configurações
que convergem com outros quadros, configurando o que atualmente se denomina como “espectro do autismo”.
Ao longo desses 70 anos, a complexidade desse quadro exigiu que as
pesquisas e intervenções nesse campo não pudessem ser reduzidas a uma
única área do conhecimento, tornando-se necessária sua articulação.
3
Não é assim em todos os casos. Em alguns há bruscas perdas do já adquirido que podem ocorrer por patologias orgânicas (como
síndrome de Rett) ou por afastamentos traumáticos das pessoas que sustentavam os seus cuidados.
4
Inclusive dentro da psicanálise comparecem diferenças quanto à concepção de autismo, relacionadas a um campo conceitual
relativamente amplo e diverso. Há, por exemplo, autores que consideram que o autismo seria um estágio da constituição psíquica
pela qual todos passariam, os que consideram o autismo como uma manifestação clínica dentro da estrutura da psicose ou os que
consideram o autismo como uma estrutura clínica específica (diferente de neurose, perversão e psicose). Somente para citar
algumas correntes do pensamento
26.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Nas diversas pesquisas médicas realizadas por geneticistas, neurologistas e psiquiatras encontram-se correlações entre a incidência de autismo
e algumas patologias orgânicas, mas não uma única causa que possibilite
centrar seu diagnóstico em exames orgânicos ou seu tratamento em uma
solução medicamentosa.
Se desde o aspecto orgânico esse é o atual estado das coisas, apesar de
todos os esforços e descobertas feitas até então, também há consenso sobre
o benefício produzido por tratamentos que intervenham na relação da pessoa com autismo com os outros, possibilitando que suas produções possam ocorrer em uma circulação familiar, social e cultural. Nesse sentido, a
psicanálise produz sua contribuição ao intervir seguindo passo a passo o
caminho que torna possível a constituição psíquica, e assim também procede com pacientes que nele tropeçam devido a patologias orgânicas5.
Dessa articulação do conhecimento decorre que algumas das principais descobertas das neurociências e da psicanálise sejam confluentes: na
falta de um saber instintivo da espécie, dependemos radicalmente de um
saber transmitido pela linguagem para a nossa constituição. A linguagem
incide decisivamente em nossa constituição e a possibilidade de representar na linguagem o que nos afeta no corpo é o que nos tira de produções
puramente reflexas e automáticas.
Por isso é central que possamos interrogar: o que afeta, o que comove
singularmente esse paciente? Para onde se dirige seu olhar? Qual som se
repete em sua vocalização? O que o detém ou o lança em seu movimento?
Uma vez localizadas essas preferências, o clínico busca possibilitar a passagem entre esse fragmento perceptivo no qual a pessoa com autismo se fixa
(por um automatismo repetitivo em que exclui os demais de seu campo), a
uma possibilidade de extensão dessa produção que lhe permita compartilhar com os outros.
5
Veja-se a esse respeito todo o amplo trabalho da psicanálise com crianças que apresentam quadros genéticos, deficiências
sensoriais ou lesões cerebrais.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.27
temática.
Isto é fundamental, pois sabemos que as conquistas que fazem parte do
desenvolvimento não são automáticas e sim atreladas à constituição psíquica, desde aquelas próprias do início da vida (como o estabelecimento da
preferência pelo rosto humano, o sorriso social, o estranhamento diante de
pessoas desconhecidas, as vocalizações dirigidas aos outros, as primeiras
palavras, as brincadeiras compartilhadas, a marcha voluntária reconhecendo a legalidade do espaço), até aquelas que permitem uma ampla circulação
na cultura (como o brincar simbólico, o desenho, a escrita, o reconhecimento dos hábitos).
Interdisciplina na metodologia psicanalítica
para a intervenção junto a pessoas com autismo
Considerando o levantado, a intervenção com o autismo torna imprescindível uma prática interdisciplinar na qual uma equipe de profissionais
possa desdobrar, de modo conjunto, os impasses colocados pelo seu tratamento – quanto à etiologia, diagnóstico, detecção precoce e decisões que,
ao longo da direção do tratamento, tornam possível a evolução clínica de
cada paciente, estabelecendo prioridades na intervenção e não a aplicação
de um tratamento técnico padrão.
É partindo de tal complexidade que a psicanálise, desde o início do
estabelecimento desse quadro, vem produzindo conhecimentos sobre o tratamento do autismo em um trabalho que excede em muito a intervenção em
consultórios particulares, desdobrando-se em instituições públicas de saúde como UBS, CAPS, clínicas de atendimento ambulatorial universitárias,
ONGS, hospitais, instituições terapêuticas, creches, escolas e abrigos, nos
quais diversos profissionais intervêm com um referencial psicanalítico no
atendimento daqueles que se apresentam no chamado “espectro autístico”.
Assim, a psicanálise não intervém nem avança no conhecimento sobre
o autismo de modo isolado e, portanto, a interdisciplinaridade é um dos
princípios que fazem parte da metodologia dos psicanalistas ao tratar de
pacientes com quadros de autismo. Isto é necessário desde o atendimento,
28.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
pesquisa e transmissão de conhecimento, dado que, com grande frequência, o autismo aparece associado a outros problemas que tornam imprescindível uma intervenção conjunta (tais como síndromes genéticas, deficiências sensoriais ou quadros neurológicos). Assim, a interlocução com pedagogos
e psicopedagogos em relação à aprendizagem e inclusão escolar; com
fonoaudiólogos, foniatras e linguistas acerca da linguagem; com fisioterapeutas e psicomotricistas acerca do corpo em movimento; com pediatras,
neurologistas, geneticistas e psiquiatras acerca da implicação orgânica e
medicação, entre outros profissionais (nas funções de acompanhantes
terapêuticos, terapeutas ocupacionais ou assistentes sociais), torna-se decisiva e tem sido prática corrente dos psicanalistas nesse campo, possibilitando avanços que não poderiam ocorrer por intervenções isoladas.
Isso não equivale a cair em um ecletismo ou sincretismo. Pelo contrário, a prática interdisciplinar na intervenção com os pacientes e na formação dos clínicos possibilita elaborar critérios clínicos comuns que atravessam as diferentes disciplinas implicadas na intervenção acerca de como se
produz um sintoma; o que ele representa; como ocorre a constituição psíquica ou como se dão as diferentes aquisições de linguagem, aprendizagem, psicomotricidade e hábitos de vida diária. Sem compartilhar essas
concepções não há como estabelecer a direção de um tratamento em equipe
interdisciplinar.
Isso precisa ser advertido, pois, na atualidade, encontramos diferentes
concepções de tratamento presentes na sociedade que partem de lógicas
diferentes acerca do que é sofrimento, sintoma e constituição psíquica. Por
sua vez, na comunidade científica mantém-se aberto o debate acerca da
metodologia utilizada por cada uma dessas abordagens, não se considerando que apenas uma seja eficaz. Por isso desde as políticas públicas não
pode haver uma única metodologia padronizada, mas sim equipes que trabalhem com diferentes abordagens (sustentando internamente uma concepção compartilhada que possibilite a articulação da direção do tratamento
interdisciplinar). Ao mesmo tempo isso permite que a pessoa com autismo
abril/maio 2013 l correio APPOA
.29
temática.
e seus familiares possam ter acesso a essas diferentes metodologias de tratamento, podendo realizar uma escolha a depender de como entendem o
que ocorre com o seu filho e de como consideram melhor tratá-lo.
O lugar do diagnóstico e o devir no tratamento
Para aqueles que compartilham de uma concepção psicanalítica6, o
sintoma não é uma falha a ser suprimida e sim uma resposta do paciente,
por isso partimos deste sintoma para a intervenção. Ao mesmo tempo, se
essa é a resposta que ele pôde formular, o tratamento consiste em propiciar
um contexto em que novas respostas possam vir a se produzir. Ou seja, os
sintomas, ao mesmo tempo em que são reconhecidos e respeitados como
uma produção do paciente, podem assumir um caráter transitório, não
enclausurando necessariamente alguém a um quadro psicopatológico, fixando nele a sua identidade.
Desde a perspectiva psicanalítica, realizar o diagnóstico consiste em
decifrar a estrutura que conduz o paciente a dar significação a seus atos na
vida, tolerando nisso as incertezas e enigmas. Certamente isso implica verificar a incidência de certos sintomas (problemas/transtornos) não por meio
de questionários ou aplicação de testes, mas pelo modo em que os mesmos
comparecem na produção espontânea do paciente ao situar-se na relação
com o clínico.
Se bem saibamos reconhecer os signos correspondentes a um quadro
psicopatológico, como clínicos, não nos detemos neles: para além deles,
consideramos central na intervenção buscar, recolher, encontrar os traços
singulares de cada paciente, o que para ele conta, o que importa em seu
prazer e desprazer, pois é na extensão desses traços que se torna possível
6
Com isso denotamos que, além da intervenção do psicanalista em si, é preciso considerar a concepção psicanalítica como um
paradigma de sujeito psíquico que é tomado, em extensão, como uma referência por outras áreas de intervenção em sua práxis,
tais como pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional. Ao fazê-lo essas áreas passam a
considerar em sua intervenção interdisciplinar a transferência, a direção da cura, a constituição do sujeito e o brincar como
operadores fundamentais do tratamento. Sublinha-se aí o paradigma psicanalítico como um corte epistemológico de referência
para a intervenção em outras áreas e não só a intervenção do psicanalista.
30.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
produzir transformações ao longo do tratamento na produção de respostas
subjetivas singulares que vão estabelecendo saídas para seu sofrimento.
Embora se verifique uma relativa uniformidade dos automatismos originários presentes no autismo, não são todas iguais as preferências ou pequenos interesses despertados para cada pessoa com autismo. Reconhecer
essas preferências como aberturas da subjetivação é central para que possamos entendê-las. Portanto o tratamento não é padrão, mas artesanal.
Um paciente não pode ficar reduzido a “ser” (autista, bipolar, TDAH) o
seu diagnóstico, como tantas vezes se diz pelo efeito no social das classificações nosográficas, pois senão só se esperará dele a confirmação desses
signos patológicos anônimos sublinhados em sua produção. Diagnóstico
não é identidade e tampouco é destino, por isso apostamos em um devir,
em uma abertura a inscrições, fundamentalmente na infância. Mesmo quando
este diagnóstico se confirma, apostamos na singularidade, pois as pessoas
não “são autistas” todas do mesmo modo.
Ao apostar clinicamente na extensão dos pequenos traços singulares
nos quais o paciente apresenta uma abertura (e não o fechamento das
estereotipias), a intervenção psicanalítica tem possibilitado que alguns dos
bebês e pequenas crianças que chegam em estados autísticos, deixem de
está-lo; em vários outros casos, ainda que permaneçam com esse modo de
resposta fundamental, ao longo do tratamento vai se tornando possível que
encontrem uma maior extensão em suas realizações do que as que apresentavam inicialmente em seus automatismos.
Detecção e intervenção precoce: a metodologia
psicanalítica revela que o momento de vida
em que a intervenção ocorre conta
Detectar sofrimento psíquico em um bebê ou pequena criança não exige que o quadro esteja fechado em correspondência a todos os sintomas
descritos em uma classificação psicopatológica. Esperar essa correspon-
abril/maio 2013 l correio APPOA
.31
temática.
dência diagnóstica, esperar a configuração de um quadro fechado, faz com
que se perca um tempo precioso para a intervenção – tempo em que, com
os efeitos da intervenção clínica, as dificuldades presentes podem ser tanto
mais reversíveis, devido à plasticidade neuronal e permeabilidade às inscrições próprias do psiquismo e organismo de um bebê e pequena criança.
Por isso, a detecção precoce parte do princípio de considerar como
critério de risco o fato de que um bebê ou pequena criança não realize certas
produções que seriam de se esperar em determinado momento da vida, tais
como as conhecidas conquistas do desenvolvimento e algumas outras mais
sutis e específicas que dão a ver como está ocorrendo a constituição psíquica na primeira infância.
Isso permite intervir a partir da detecção de um sofrimento (inicialmente apresentado como um empobrecimento ou ausência de conquistas
próprias da infância), antes que este se configure como um quadro patológico (já com a apresentação de signos específicos de algumas patologias tais
como autismo, depressão precoce, psicose simbiótica, graves casos de
psicossomática – entre outras que podem incidir nos primeiros meses e
anos de vida).
Freud, a partir das pesquisas clínicas, já afirmava que temos bons
motivos para acreditar que a capacidade de receber e reproduzir impressões nunca é maior do que na infância7. Aí, mais uma vez, as descobertas
da clínica psicanalítica coincidem com as das neurociências, que apontam,
por meio do conceito de plasticidade neuronal8, que nem tudo está decidido em nosso organismo quando nascemos e que as experiências de vida
têm nisso um papel decisivo.
Por isso, a idade em que uma intervenção ocorre conta e é preciso
intervir a tempo quando “algo não vai bem”, em lugar de esperar que seja
7
Freud, S. (1905). Os três ensaios, Obras Completas, Rio de Janeiro, Imago.
8
Kandel, E.R., Shuartz, J.H., Jessell, T.M. (1995).Essentials of Neural Science and Behavior, Appeton & Lange, Prentice Hall
International (UK) Limited, London.
32.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
possível enquadrar o sofrimento de um bebê em um diagnóstico psicopatológico plenamente configurado e, portanto, tanto mais fixado e menos
permeável à intervenção.
Conhecer os passos da constituição psíquica permite detectar dificuldades nesse caminho. Este é um conhecimento produzido por psicanalistas que trabalham, há várias décadas, na clínica interdisciplinar com bebês
e pequenas crianças. Compartilhar e transmitir esses critérios de detecção
precoce de sofrimento psíquico com profissionais que intervêm com toda e
qualquer criança (tais como pediatras, agentes de saúde e educadores), tem
possibilitado ao longo das últimas décadas que pacientes que apresentam
dificuldades cheguem com menor idade a tratamento e, portanto, em um
tempo em que tais dificuldades estão menos fixadas e mais permeáveis à
intervenção.
Assim, intervir precocemente implica considerar o sofrimento que comparece cedo na vida e não estabelecer um caráter antecipatório ou preditivo
de um quadro psicopatológico. Caso contrário, incorrer-se-ia no mecanismo de profecia auto-realizável, em que se introduziria precocemente na
vida de um bebê ou pequena criança a patologia que estaria por vir. Ao
intervir a partir da detecção de dificuldades que se apresentam cedo na
vida e que podem mudar de rumo devido à plasticidade e permeabilidade
própria da infância, intervimos para um devir que não precisa necessariamente realizar-se de modo patológico. Isso implica considerar, antes de
qualquer diagnóstico, a dimensão própria do sujeito na infância.
A metodologia psicanalítica e a especificidade da criança
como anterior à especificidade do autismo
Bebês, crianças e adolescentes estão em um momento da vida caracterizado pelo crescimento, maturação, desenvolvimento e constituição psíquica – sendo que cada um desses aspectos difere do outro e diz respeito a
diferentes registros.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.33
temática.
A infância, desde o ponto de vista da maturação, se caracteriza pela
extrema plasticidade neuronal, descoberta da neurobiologia reveladora de
que a formação da rede neuronal depende da experiência de vida e que sua
plasticidade é suscetível a inscrições dessas experiências9. Desde o ponto
de vista da constituição psíquica, a infância é um momento de abertura a
inscrições e que se caracteriza pela permeabilidade a inscrições significantes
e pelo polimorfismo das vicissitudes pulsionais10.
Ao nascer, todos contam com os elementos de uma história familiar e
com uma herança genética já estabelecidas. Porém, ainda não está dado
como um sujeito vai se posicionar a partir dessas estruturas orgânicas e
simbólicas. Diante disso, algumas vertentes da psicanálise sublinham que,
na infância, a estrutura psíquica do sujeito não está decidida11, testemunhando experiências clínicas com crianças e bebês que chegam com quadros de autismo ou outros quadros diagnosticados e que, ao longo do tratamento e por efeito deste, apresentam mudanças de rumo nessa constituição
em andamento, não realizando um desfecho patológico. Outras vertentes
da psicanálise sublinham que, em função do tratamento, o que se realiza é
uma importante modulação no modo de o paciente colocar-se na vida.
É preciso, nesse sentido, advertir que as classificações psicopatológicas
partem de um princípio adultomorfo, do já constituído, que nem sempre
é aplicável à infância e menos ainda ao tempo dos bebês. Realizar uma
aposta na constituição do sujeito é central na metodologia psicanalítica,
pois ela permite, em vários casos, essa mobilidade amplamente testemunhada na clínica e descrita na publicação de casos. Por isso, em lugar de
por em primeiro lugar o diagnóstico, é preciso destacar a condição de
9
Ansermet, F. e Magistretti, A. A cada uno su cerebro: plasticidad neuronal e inconsciente - 1a ed. - Buenos Aires : Katz, 2006.
10
Freud, S. (1905).
11
Bernardino, L.M.F. As psicoses não decididas da infância: um estudo psicanalítico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004; Psicose
e autismo na infância: uma questão de linguagem. In: Psicose– Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, n. 9. Porto
Alegre: Artes e Ofícios, novembro de 1993, p. 62-73.
34.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
bebê, criança ou adolescente de um paciente e, portanto, de extrema abertura a inscrições.
Na metodologia psicanalítica com crianças, utilizamos em nossas avaliações alguns eixos centrais12:
1- Brincar e estatuto da fantasia
2- Corpo e imagem corporal
3- Fala e posição na linguagem
4- Reconhecimento das regras e posição diante da lei
Há produções que são próprias do sujeito na infância e, portanto, centrais na intervenção e avaliação psicanalítica.
Quanto ao brincar, no que diz respeito a crianças com autismo, encontramos, no momento de seu diagnóstico e também ao longo da intervenção
clínica e por efeitos transformadores da mesma, uma amplitude de produção que vai de um absoluto desinteresse pela função do brinquedo que é
tomado na estereotipia (por exemplo, em lugar de empurrar o carrinho,
perseverar em apenas girar a sua roda) a um brincar que algumas vezes
responde a critérios lógicos (classificação de formas, cor, montagem de quebra-cabeças) e que reconhece a função dos objetos. A possibilidade da produção de um brincar simbólico com cenas que representam um faz-de-conta, ainda que breve, já se apresenta na direção da cura na borda desse
quadro e não como forma típica do mesmo.
Antes disso, a produção de pequenas brincadeiras em que se compartilhe prazer com os outros é central no tratamento, como veremos a seguir.
Quanto ao corpo e imagem corporal, encontramos inicialmente um
não reconhecimento da própria imagem, fazendo com que a criança busque atrás do espelho ou permaneça indiferente ao seu reflexo. Uma não
12
A partir da pesquisa IRDI e da pesquisa AP3, na qual se realizou posterior avaliação das crianças que fizeram parte da pesquisa
de IRDI -indicadores precoces de risco para o desenvolvimento infantil- esses tradicionais eixos de avaliação da clínica psicanalítica com crianças foram formalizados e validados como pesquisa acadêmica, considerando como nessas produções comparecem operações centrais da constituição psíquica: suposição de sujeito, estabelecimento da demanda, alternância presençaausência e função paterna. (Kupfer, A. Jerusalinsky, Rocha, Infante ET ali, 2009).
abril/maio 2013 l correio APPOA
.35
temática.
apropriação de sensações corporais (como a dor, cócegas, calor, frio). Um
encontro com o corpo do outro em que não o reconhece subjetivamente,
tomando-o como instrumento para realizar uma ação (tal como pegar a
mão de outro para que pegue algo, sem pedir-lhe). Isso se traduz em alguns casos em um fracasso do estabelecimento de esquemas corporais
(como controle esfincteriano); em outros há esquemas extremamente eficazes, que ficam a serviço de não precisar recorrer aos outros, mas que
fracassam no estabelecimento da legalidade simbólica do espaço (onde
pode-se entrar e onde não, onde há riscos, ou ao vacilar ao dar um passo
entre o tapete e o chão de diferente cor).
Quanto à fala e posição na linguagem, encontramos quadros de extremo mutismo, de produções vocálicas desarticuladas ou de surgimento de
pequenas palavras utilizadas em situações de necessidade. Ao longo do
tratamento, torna-se decisivo o surgimento da palavra que diz de um prazer, desprazer ou anseio experimentado e compartilhado com o outro através da palavra.
Quanto ao reconhecimento de regras, encontramos nas pessoas com
autismo uma oscilação que vai de um total desconhecimento até uma fixação rígida em alguns procedimentos de modo estereotipado. Por isso, ao
longo do tratamento, a possibilidade de modulação das permissões e proibições de modo mais flexível às circunstâncias, e não fixada de modo estereotipado, é uma importante conquista que pode advir.
Dada à desorganização intensa que algumas crianças apresentam diante da menor interferência em suas rotinas, muitas vezes os pais sentem-se
impelidos a tentar cuidar para que essas interferências não ocorram. A introdução da modulação (nas normas, assim como na rotina que muitas
vezes se estabelece durante as sessões, na entrada ou na saída) pode ter
importantes desdobramentos, não só para a criança, mas também para os
pais. Daí a importância não só da escuta e da implicação dos pais no tratamento, mas de sua presença na cena analítica, possibilitando-lhes construir, conjuntamente com o psicanalista, mediações entre as demandas
36.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
necessárias à vida da criança e a angústia avassaladora que muitas vezes
esta apresenta diante da frustração.
Desde a concepção psicanalítica, é fundamental na formação do clínico
conhecer os diferentes momentos lógicos que fazem parte da constituição
de uma criança/bebê e o modo como eles comparecem em suas diferentes
produções de linguagem, psicomotricidade e aprendizagem.
É por conhecer os diferentes momentos lógicos que fazem parte dessa
constituição que o psicanalista intervém podendo ir buscar a criança/bebê
onde ele está, sem que seja preciso para tratá-lo introduzir um artificialismo
técnico descontextualizado da sua vida ou preferências.
A especificidade da intervenção psicanalítica é a de que estas transformações possam ocorrer fazendo sentido para a criança na medida em
que sustentem sua possibilidade de escolha e implicação psíquica nessas
realizações produzidas dentro do contexto familiar e cultural.
O lugar dos pais no tratamento na metodologia
psicanalítica
Na medida em que uma criança está em constituição, seus pais têm um
lugar central no tratamento, pois a sua condição de pais implica que eles
são os primeiros que contam na transmissão que se realiza com a criança e,
portanto, na resposta que esta possa chegar a formular quanto ao seu modo
de estar no mundo (a partir das condições orgânicas com que conta).
Portanto, na clínica psicanalítica consideramos e intervimos com:
– o lugar da criança no discurso parental;
– como esse discurso é posto em ato nos cuidados dirigidos à criança;
– como o bebê, criança e adolescente responde a esse lugar com sua
produção dada a ver, no brincar, corpo, fala e posição diante da lei.
Um bebê nasce com uma carga genética herdada, mas hoje em dia se
sabe que grande parte de sua constituição depende de processos epigenéticos.
Nesses processos, a transmissão simbólica ocupa um lugar decisivo e os
pais são protagonistas dessa transmissão, pois eles detêm um saber cons-
abril/maio 2013 l correio APPOA
.37
temática.
ciente e inconsciente sobre o filho, no qual se sustenta a singularidade do
mesmo, mais além de qualquer patologia. A possibilidade de, junto ao psicanalista que atende o filho, desdobrar este saber em questões, reflexões,
preocupações produzidas a partir das experiências cotidianas vividas com
o filho é decisivo para as transformações que podem advir no tratamento.
Há problemas orgânicos de base que podem fazer com que um bebê
apresente no início da vida uma menor responsividade às convocatórias
dos outros; em outros casos há acontecimentos de vida que dificultam o
estabelecimento da relação primordial dos pais com o bebê. O fato é que a
psicanálise não centra a sua intervenção em decorrência desses fatores
etiológicos (em uma falsa questão de divisão orgânico-psíquica). Ao tratarmos de um bebê/criança com comprovados problemas orgânicos de base,
ou sem patologias orgânicas detectadas, a aposta do clínico é a mesma:
supomos que há ali um sujeito e buscamos seus traços de interesse, pois
tratamos do que pode vir a fazer com o organismo que tem.
Os pais fazem parte dessa aposta ao levar o filho ao tratamento. E,
portanto, a intervenção não consiste nem em culpá-los, nem em desculpabilizá-los pelas dificuldades que comparecem. Acima de tudo eles estão
implicados nos cuidados do filho pela sua condição de pais e, por isso,
podem contar com a interlocução do psicanalista, ora fazendo parte das
sessões da criança (testemunhando o trabalho que vai sendo realizado e
participando dele) ora em sessões em que elaboram situações em relação ao
filho com o psicanalista que o atende, a fim de, junto com este, poderem ir
reconhecendo limites e possibilidades que a criança coloca em sua produção e em seu modo de situar-se com os outros.
Passos chaves na direção do tratamento psicanalítico
de pacientes com autismo
A práxis da clínica psicanalítica permitiu, ao longo do tempo, a elaboração de certos critérios metodológicos para o tratamento de bebês e crianças que apresentam uma exclusão dos outros de seu campo.
38.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Iremos referir-nos aqui à intervenção junto ao autismo em sua manifestação mais específica de exclusão dos outros de seu campo com o estabelecimento de estereotipias e forte empobrecimento da linguagem, pois se
bem o conceito de “espectro autístico” tenha criado uma categoria vasta em
sua abrangência, tornou-a, em certa medida, inespecífica, o que faz com
que seja impossível unificar todos os critérios terapêuticos relativos aos
diferentes quadros que o “espectro autístico” passou a comportar, já que
cada um deles apresenta pontos de intervenção específicos (no que se refere aos nomeados como “autismo de alta performance”, “Síndrome de
Asperger”, “autismos depressivos”, “autismos com hiperatividade”, entre outras formas).
Ao longo da direção do tratamento há alguns passos a considerar:
1- reconhecer os automatismos da criança: consiste na possibilidade
de fazer parte dos automatismos produzidos pelo paciente, ou seja, partimos do seu sintoma respeitando isso que o paciente pôde produzir. Não
nos opomos a isso, não buscamos suprimi-lo. Em primeiro lugar buscamos
começar a fazer parte desse automatismo, para que o paciente nos permita
aí entrar (buscamos o que desperta seu interesse, em seu gesto, olhar, voz,
endereçamento corporal).
2- reconhecer e sustentar as aberturas apresentadas pelo paciente as
quais se oferecem como permeabilidade à relação com os outros em meio às
estereotipias. Trata-se de ir em busca daquilo que desperta o interesse do
paciente estendendo, alargando, a partir de tais interesses, as aberturas13
nas quais o paciente não realiza uma exclusão dos outros de seu campo.
Por serem reconhecidas, localizadas e nomeadas na relação com o clínico, essas vivências de prazer e desprazer passam a poder ser minimamente representadas e compartilhadas com os demais em lugar de ficarem
achatadas na auto-estimulação do fragmento sensorial da estereotipia. É aí
que comparecem singularidades que buscamos estender.
13
Essas aberturas são denominadas por alguns autores como Janelas Pulsionais.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.39
temática.
3- por meio desses dois primeiros aspectos busca-se um efeito de identificação. É preciso dar lugar a uma identificação do outro com a criança
(rompendo o estranhamento que as estereotipias costumam causar, ou a
desistência dos investimentos diante da resposta de exclusão do outro de
seu circuito) a fim de possibilitar um campo em que a criança possa entrar
nessa identificação. Ou seja, trata-se de ir buscá-la onde ela está procurando fazer parte de sua produção.
Não se trata de aplicar um método na criança ou submetê-la a um
artificialismo adaptativo, trata-se de possibilitar que, na medida em que ela
possa servir-se da linguagem posta em cena na relação espontânea com o
outro, ela possa produzir de forma endereçada aos demais e convocandoos a compartilhar com ela a cena.
Isto porque a exclusão do outro que a criança faz não é um problema
superficial de comportamento a ser corrigido. É uma profunda resposta
que se produziu, é uma forma de estar no mundo. Por isso não se pode
suprimir essa resposta antes que se constituam para ela, em tratamento,
outras formas possíveis de estar com os demais.
Esses efeitos de identificação são claros quando a criança, em lugar de
prestar atenção no automatismo, passa a interessar-se mais pela
descontinuidade que o clínico introduziu ali, por exemplo, uma alteração
de ritmo na brincadeira. Isso revela que se abriu a brecha para que o outro
faça parte de seu circuito.
4- possibilitar, a partir de tais aberturas, a produção de jogos constituintes do sujeito para que seja possível compartilhar com o outro pequenas
cenas de brincar em que há um endereçamento e convocatória entre outrocriança, com o olhar, voz, ritmicidade corporal e jogos gestuais.
A partir dessas pequenas brincadeiras primordiais, que inicialmente
comparecem de modo fragmentário, a criança poderá estender seu percurso
de satisfação do movimento estereotipado a cenas um pouco mais extensas
em que compartilhará com o outro a expectativa e a satisfação lúdica, começando não só a se sentir convocada, mas também a demandar, solicitar,
propor a retomada desses jogos àqueles com os quais os compartilha.
40.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
5- O estabelecimento desses jogos permite introduzir alternâncias presença-ausência, dentro-fora, aqui-lá. Esses jogos comportam a matriz fundamental da linguagem e da representação pela qual pode se falar do que
está ausente e festejar o seu retorno (como no jogo de “Cadê? Achou!”). Por
meio dessa alternância em que o espaço deixa de ser contínuo, a presença
e a ausência dos objetos passa a ser representada, e o tempo se experimenta
em uma tensão temporal entre a expectativa e a precipitação (como no jogo
de um, dois, três e já!). A criança passa a sustentar-se em uma série simbólica que lhe possibilita representar-se mesmo diante da ruptura de uma
continuidade, não precisando fixar-se no continuum das estereotipias sem
fim. A partir desses jogos trata-se de produzir cenas um pouco mais extensas de um brincar que passa a desdobrar-se em uma sequência, em lugar de
apresentar-se como a repetição fragmentária da estereotipia.
Os jogos de litoral, os jogos de borda, os jogos de superfície, os jogos
de lançar para que outro recupere, os jogos de temporalidade intersubjetiva14
são formas de brincar que uma criança não realiza sozinha (diferentemente
do jogo simbólico). Esses são jogos que, para se produzirem, precisam ser
sustentados na relação com o outro, não ocorrem primeiramente com brinquedos e sim com a voz, olhar, gesto, corpo do outro e da criança, implicando um prazer compartilhado. Mesmo que ali apareçam esses objetosbrinquedos, eles não são o central da cena, e sim, o compartilhar.
Esses jogos são fundamentais para toda e qualquer criança, pois possibilitam inscrições constituintes ao convocarem primeiramente a criança a
compartilhar com o outro algo que a afeta em seu corpo e, a partir disso,
oferecerem a passagem desse afeto a uma representação na linguagem. Por
isso eles se tornam decisivos na metodologia de intervenção com bebês e
crianças que apresentam quadros de autismo na aposta de sua constituição.
14
Esses jogos, assim denominados por diferentes autores da clínica psicanalítica com crianças, são todos jogos anteriores à
possibilidade de que a criança sustente por conta própria um brincar simbólico. Esse brincar simbólico atinge seu auge no fazde-conta e tem o seu início no jogo do fort-da descrito por Freud, em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer . Esses jogos
constituintes do sujeito são anteriores e precursores do jogo do Fort-da descrito por Freud e logicamente necessários para que
o Fort-da se produza
abril/maio 2013 l correio APPOA
.41
temática.
Possibilitar essa passagem de uma exclusão a uma possibilidade de
compartilhar com o outro exige uma extrema delicadeza do clínico para não
ser invasivo (o que só faz a pessoa com autismo recuar e excluir ainda mais)
e, ao mesmo tempo, ser bastante atento, disponível e preciso em sua intervenção para localizar, sustentar e produzir as pequenas brechas iniciais que
se apresentam à relação. Por isso a intervenção não consiste em um silêncio
que espera e tampouco numa massa de palavras dirigidas à criança, mas de
possibilitar-lhe dispor da linguagem para representar o vivenciado, nas cenas em que ela se encontra afetada (daí a importância de oferecer nesses
momentos, pequenas palavras, até mesmo interjeições como “opa!”, “cadê?”,
“achou!”, “caiu”, “pumba!” que possibilitam para todos, nos primórdios da
entrada na linguagem, compartilhar o afeto experimentado).
Compreende-se que, diante de manifestações bastante avançadas do
quadro, e em idades mais tardias, se levante a necessidade de lançar mão
de métodos que permitam, ao menos, uma adaptação – oferecendo códigos
de referência para o paciente, estabelecendo-lhes rotinas organizadoras para
defender-se de angústias avassaladoras, emprestando-lhe signos que lhes
permitam minimamente posicionar-se diante dos demais. Mas partir desse
princípio terapêutico em épocas precoces da vida quando a construção
psíquica ainda está ocorrendo ou está em seus tenros primórdios é não dar
ao menos uma chance a essa constituição. Ainda que nem sempre ela venha a ser possível não há porque, de início, descartar essa aposta.
Esperamos que esse texto esclareça que aqueles que acusam a psicanálise de culpar os pais pelas dificuldades do filho, servindo-se de chavões, tais
como os de “mãe geladeira”, que há muito caíram em desuso, estão em um
discurso anacrônico que ignora os resultados de uma prática psicanalítica
realizada no âmbito de intervenção interdisciplinar há muitas décadas15.
15
O próprio autor desse termo, Bruno Bettelheim, em 1953, no livro “Fugitivos da Vida”, retratou-se dizendo que o que até então
ele tinha formulado como hipótese de causa podia muito bem ser consequência: considera a possibilidade das mães se retraírem
devido à constante frustração produzida pela não resposta de seu filho embora sua disposição e insistência. Comenta que os
próprios terapeutas experimentam essa frustração quando, apesar de suas tentativas de comunicação com a criança autista,
42.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Cabe lembrar que, há muito menos do que os 70 anos da existência
desse conceito, investigava-se se a causa genética do autismo estaria no
cromossomo 21, devido ao grande número de pessoas com Síndrome de
Down que apresentavam esse quadro. Nós que fizemos parte dessa grande
experiência clínica e sociológica – a modificação do lugar social das pessoas com Síndrome de Down – pudemos testemunhar como a suposição de
suas possibilidades como sujeitos foi inversamente proporcional à incidência de autismo entre eles. Nem por isso se acusou a pesquisa genética
de falta de seriedade, em lugar disso, como é digno no campo da ciência,
apostamos em seus avanços. A psicanálise também fez os seus. Ignorá-los é
cultivar o obscurantismo. Conhecê-los favorece o tratamento de todos.
Colegas inscritos no Grupo de trabalho 7: Ana Beatriz Freire (UFRJ)
[email protected]; Claudia Mascarenhas (Espaço Moebius; Instituto
Viva Infância/BA) [email protected]; Cristiane
Palmeira (ABEBE/SP) [email protected]; Mariangela Mendes de
Almeida (SBPSP/UNIFESP) [email protected]; Daniela Teperman
(NEPPC) [email protected]; Ilana Katz (NEPPC) [email protected]; Maria
Clara Batista (CPPL/ PE) www.cppl.com.br; Maria do Rosário Collier
(CURUMIM e EBP/RJ) [email protected]; Alfredo Jerusalinky
(APPOA/RS/ALI/Centro Lydia Coriat – Clínica Interdisciplinar da infância e adolescência) [email protected]; Vera Zimmermann (CRIA/
SEDES) [email protected]; Paula Borsoi (EBP/RJ) –
[email protected];
Sonia
Motta
(ABENEPI/RJ)
[email protected]; Alicia Lisondo (GEP Campinas/ SBPSP)
[email protected]; Suzana Faleiro Barroso(EBP; Núcleo de Pesquisa em Psicanálise com crianças do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental
recebem uma negativa, um rechaço, ou simplesmente uma total indiferença. Também ele, a partir de então, deixou de usar o chavão
de “mãe geladeira. Nesse sentido, utilizar esse chavão como argumento de uma suposta culpabilização dos pais é incorrer em
uma banalização e superficialismo diante do complexo debate que exige intervir com pessoas autistas, não contribuindo em nada
para que os pais possam construir possibilidades diante das dificuldades que comparecem na vida do filho e na relação com este.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.43
temática.
de Minas Gerais) [email protected]; Paula Pimenta (EBP/
MG) [email protected]; Patricia Cardoso de Mello
(SBPSP; IFA/SP) [email protected]; Marilucia
Picanço (UNB) [email protected]; Heloisa Prado Telles (EBP-SP)
[email protected]; [email protected]; Willian Amorim (CIAMM)
[email protected]; Maria Prisce Cleto Telles Chaves (ABENEPI
–RJ) [email protected]; Julieta Jerusalinsky (NEPPC –SP;
APPOA –RS; Centro Lydia Coriat – clinica interdisciplinar da infância e
adolescência –RS; Clinica interdisciplinar Mauro Spinelli-SP)
[email protected];
Luciana
Pires
(IPUSP)
[email protected]; Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
(núcleo de pesquisa CURUMIM/ICP-RJ e EBP/RJ)
Referências bibliográficas
Atuais sobre o método clínico psicanalítico no tratamento de pacientes autistas no âmbito interdisciplinar levantadas pelo Grupo
de Trabalho 7:
BARROS, Maria do Rosário R. A questão do autismo. In: Murta, A (org). Autismo(s) e atualidade: uma leitura lacaniana. Escola
Brasileira de Psicanálise. Belo Horizonte: Scriptum Editora, 2012.
BERNARDINO, L. M.F. Mais Além do Autismo: a psicose infantil e seu não lugar na nosografia psiquiátrica. Psicologia Argumento.
Curitiba V.28, n.61: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, jun.2010.
BERNARDINO, L. M.F. A questão da psicose na infância, seu diagnóstico e tratamento diante do seu “desaparecimento” da atual
nosografia. In: Jerusalinsky, A., Fendrick, S. O livro negro da psicopatologia contemporânea. São Paulo: Via Lettera, 2011.
FENDRICK, S. O livro negro da psicopatologia contemporânea. São Paulo: Via Lettera, 2011.
FERNANDES, C. M. O analista e o autista. In: Revista da APC, n.22, Curitiba, 2011.
JERUSALINSKY, Alfredo. Considerações preliminares a todo tratamento possível do autismo. Psicologia Argumento. Curitiba V.28,
n.61: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, jun.2010.
__________. Autismo como exclusão do campo significante. In: Revista da APC, n.22, Curitiba, 2011.
__________. Psicanálise do Autismo. 2 ed. São Paulo: Instituto Langage, 2012.
JERUSALINSKY, Julieta. Jogos de litoral na direção do tratamento de crianças em estados autísticos. In: Revista da APC, n.22,
Curitiba, 2011.
LAURENT, É. La bataille de l’autisme – de la clinique à la politique. Paris: Navarin/Le Champ freudien. Paris: 2012.
LAURENT, É. O que os autistas nos ensinam. In: Murta, A (org). Autismo(s) e atualidade: uma leitura lacaniana. Escola Brasileira
de Psicanálise. Belo Horizonte: Scriptum Editora, 2012.
LAZNIK, M. C. e Jerusalinsky, A. Uma discussão com as neurociências. In: Jerusalinsky, A.,
44.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
MALEVAL, J-C. Língua verbosa, língua factual e frases espontâneas nos autistas. In: Murta, A (org). Autismo(s) e atualidade: uma
leitura lacaniana. Escola Brasileira de Psicanálise. Belo Horizonte: Scriptum Editora, 2012.
MOTTA, S. Porque “preferir” o diagnóstico de TGD: quando detectar sinais de risco psíquico na clínica dos primórdios. In: Revista
da APC, n.22, Curitiba, 2011.
SIBEMBERG, Nilson. Autismo e psicose infantil. O diagnóstico em debate. In: Jerusalinsky, A.,
STAVY, Y-C. Autismo generalizado e invenções singulares. In: Murta, A (org). Autismo(s) e atualidade: uma leitura lacaniana. Escola
Brasileira de Psicanálise. Belo Horizonte: Scriptum Editora, 2012.
TERZAGHI, Marila. Neurologia e autismo: breve resenha de contribuições e perguntas. In:
TENDLARZ, E. B. Una clinica posible del autismo. Buenos Aires: Gramma Ediciones, 2012.
VORCARO. A. Interrogações sobre o estatuto do outro e do Outro nos autismos. In: Revista da APC, n.22, Curitiba, 2011.
WANDERLEY, D. Silêncio, pare de falar – O desafio do analista frente a uma criança autista. In: Revista da APC, n.22, Curitiba, 2011.
www.autismos.es [no site há uma vasta compilação bibliográfica, tanto dos autores clássicos quanto das publicações mais
recentes].
abril/maio 2013 l correio APPOA
.45
temática.
Bebês em risco de autismo e os recursos
do psicanalista para ajudá-los (G10)1
Atualmente muito se fala sobre a origem do autismo, os métodos de
tratamento e seus resultados. Entretanto, muitas pessoas desconhecem as
possibilidades de detecção de sinais de sofrimento psíquico em momentos
iniciais da vida, e sua relação com o autismo. Muitos também desconhecem
o alcance da intervenção precoce nesses casos e o quanto o trabalho do
psicanalista, muitas vezes associado ao trabalho de outros profissionais, é
capaz de mudar de forma significativa os efeitos desses riscos.
Os psicanalistas que se ocupam de bebês e de crianças pequenas têm
muito a dizer sobre a detecção precoce do sofrimento desses bebês e dessas
crianças e, também, sobre as mudanças positivas decorrentes de suas intervenções e manejos clínicos. Essas possibilidades se devem ao fato da teoria
psicanalítica, que descobriu o inconsciente e se dedica ao seu estudo, também ter possibilitado compreender como o psiquismo nascente do bebê se
1
Texto apresentado na Jornada do Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública em 23 de março de 2013 na USP, SP.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.47
temática.
organiza a partir da relação dele com os outros e, prioritariamente e antes
de tudo, com seus pais que são suas referências principais.
A relação do bebê com os pais tem certas características importantíssimas para o seu desenvolvimento bio-psíquico-social, e é por isso que sempre que pensamos no bebê, nos debruçamos sobre as funções do pai e da
mãe (ou de quem os represente para o bebê), porque sabemos que o bebê,
sem os cuidados de um adulto, não sobrevive nem fisicamente nem psiquicamente. Mais do que isso: não se estruturará como um sujeito como um
ser singular que sabe quem é, e com capacidade de interpretar os significados pessoais e sociais das diferentes situações da vida cotidiana. Com base
em muitas investigações clínicas sobre a organização do psiquismo, sabemos que essa capacidade não é inata, mas depende da ajuda dos responsáveis pela criança, e será nas trocas relacionais precoces com os adultos
importantes que o bebê inscreverá memórias em seu psiquismo ainda em
formação. Essas primeiras experiências relacionais serão a base da construção da sua história.
Diante disso, é importante lembrar que os bebês podem ser muito diferentes entre si, em suas reações e nos tempos que marcam os seus ciclos
vitais como sono, alimentação, recolhimento e ritmos que pautam a interação
com os adultos de sua referência. Alguns podem ser sossegados e tranquilos, podendo passar um bom tempo na presença do adulto sem solicitar
sua atenção em demasia. Outros, no entanto, podem se mostrar previsíveis
em suas atitudes e ritmos. Outros ainda, muito ativos, podem exigir bastante atenção do adulto, por serem bebês mais excitáveis, que estabelecem
um forte ritmo interativo com seu cuidador.
Em nosso trabalho de psicanalistas, deparamos com toda sorte de encontros e desencontros possíveis que um bebê terá no primeiro ano de
vida: estes constituirão a sua história e sua maneira de estar no mundo, sua
maneira de se relacionar com os outros.
Em alguns casos, os esperados encontros podem não ocorrer de forma
satisfatória para o bebê, ou para os pais, ou para ambos. Existem bebês, por
48.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
exemplo, que não conseguem se alimentar, dormir ou estabelecer uma comunicação com seu entorno. Nesse desencontro, que pode envolver aspectos constitucionais, biológicos, históricos e culturais, podem ocorrer dificuldades tanto por parte do bebê como dos pais.
Portanto, se um bebê ou criança pequena está se ligando a objetos,
vivendo em um mundo de sensações em detrimento das interações, evitando as emoções ou sucumbindo a elas, temos que pensar que mudar [ou
treinar] o comportamento, ainda que isso possa trazer atitudes momentaneamente mais aceitáveis, não é suficiente para reformular a estrutura mental
em risco de enrijecimento autístico. Há que se investir maciçamente na
criação de oportunidades de relação que ajudem a criança a regular e reconhecer seus estados emocionais, não por meio da pura cognição, mas
exatamente por meio de experiências afetivas significativas com o outro.
Esta é a tarefa da Psicanálise: buscar reconhecer os estados mentais tomando por base a observação detalhada e sintonizada do comportamento não
verbal do bebê/criança e seus pais, convocando para o contato a partir do
que a criança é, e ampliando o movimento da criança em direção ao contato
com o outro.
Nos bebês que apresentam riscos de desenvolver distúrbios de tipo
autístico há muita dificuldade no estabelecimento das interações do bebê
com os outros. Então, os parceiros – bebês e pais – como que se fecham em
si mesmos, cada um em circuito fechado, ocasionando um processo diferente, em que, no lugar dessa construção comum, teremos duas construções que se confrontam. Na primeira, do lado do bebê, pode ocorrer uma
dificuldade, ou até mesmo uma impossibilidade de interação, de modo que
as aquisições da maturação neuromotora não são utilizadas para a relação
com o outro; na segunda, do lado dos pais, pode ocorrer uma grande perturbação em que todas as suas competências relacionais e a sua capacidade
de comunicação ficam suspensas na relação com seu bebê, embora fiquem
intactas suas capacidades de linguagem e de comunicação.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.49
temática.
Pesquisas com filmes familiares demonstraram que o autismo não se
apresenta desde o nascimento, e que, no primeiro ano de vida, os bebês
podem apresentar sinais de fechamento às interações ao mesmo tempo em
que têm aberturas para momentos de trocas com seus pais. Essas pesquisas
nos alertam para o processo que pode levar à instauração do quadro autístico
propriamente dito: o círculo vicioso que pode se instalar quando essas
dificuldades do lado do bebê e do lado dos pais, reativas, não são percebidas como tais, resultando em falhas graves na interação entre pais e bebê.
O papel dessa intensa interação pais/bebê é fundamental, pois é ela
que organiza o corpo do bebê e seu funcionamento, seu comportamento e
suas representações, ou seja, sua entrada no mundo simbólico e relacional.
Por isso, a abordagem psicanalítica procura restaurar a interação pais/bebê,
para recolocar em marcha o "motor relacional", para que o bebê possa começar a se organizar, se construir e se enriquecer pela identificação e pela
imitação.
Por isso nós, psicanalistas, estamos, sobretudo, preocupados em intervir logo, antes que essas dificuldades relacionais se fixem como padrões de
relação para o bebê. Por quê? Porque sabemos que nesse período o bebê
possui uma maior maleabilidade em seus aspectos orgânicos e em sua constituição psíquica. Com base em resultados de pesquisas, sabemos também
que os fatores herdados geneticamente podem ter sua expressão alterada de
acordo com o ambiente, com as vivências subjetivas e a qualidade de vida
de cada um. É isto que possibilita tanta riqueza no desenvolvimento do
bebê e em suas trocas interativas com o meio. Principalmente no início da
vida, quando a natureza das experiências e as vivências relacionais, com
seus correlatos neuroquímicos, têm uma capacidade de influir na formação
das redes de funcionamento dos neurônios.
É essa maleabilidade que propicia que intervenções nesse momento
oportuno sejam muito mais eficazes e duradouras, podendo evitar que essas dificuldades se potencializem, como bola de neve, instalando-se como
quadros cujo tratamento será mais difícil após a primeira infância.
50.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
A avaliação e as intervenções do psicanalista sempre levam em consideração a constituição subjetiva do bebê, ou seja, estamos atentos aos
processos particulares e aos sinais que indicam falhas, dificuldades, impedimentos nesse processo de constituição. É importante destacar esse ponto
porque a avaliação ou a intervenção psicanalítica sempre é feita considerando que um sinal sozinho não indica nada, ele precisa estar associado a
uma série de outros sinais, compondo um sentido ou tendo assim uma
significação. Diante disso, é necessário considerar que os fenômenos
subjetivos precisam de uma sucessão de observações ao longo do tempo.
Dessa forma, não há uma avaliação momentânea e pontual, assim como os
efeitos de uma intervenção só são verificados num momento posterior.
Vale lembrar que, muitas vezes, um bebê ou uma criança pequena pode
dar mostras de uma diversidade de distúrbios, geralmente leves ou até
moderados, quando está respondendo a questões relacionadas a algum conflito passageiro que está enfrentando em algum momento de sua vida ou da
vida de sua família. Nessas situações, é importante a família contar com
uma rede de sustentação formada por pessoas de referência para os pais.
Na condição de psicanalistas, ficamos alertas quando um bebê se mostra impossibilitado de exercer suas competências, tanto no contexto das
interações quanto na organização de sua funcionalidade, ao longo de seu
desenvolvimento físico, que lhe permita prosseguir nas etapas do crescimento neuro-sensório-motor (rolar, andar, sentar, pegar usando as mãos,
olhar direcionado, atenção a sons, mastigar) até a organização dos seus
ritmos de sono/vigília, fome/saciedade, brincadeiras/descanso. Pode aparecer, assim, pouco interesse na interação, comunicação e contato afetivo/
lúdico, dificuldade de aceitar e apreciar o contato físico e de se aconchegar
ao colo, ausência de pedido de aproximação, apatia, pobreza de troca de
olhares e poucas vocalizações em resposta à convocação dos pais, dificuldade de se deixar consolar pelo adulto, com isso arranjando um jeito próprio de se consolar, tendo preferência pela manipulação de objetos. Vulnerabilidade e desarmonia também podem se manifestar no contexto de
abril/maio 2013 l correio APPOA
.51
temática.
recusas alimentares, doenças somáticas de repetição, refluxos gastresofágicos,
doenças respiratórias, irritabilidade excessiva chegando até ao impedimento do sono, flacidez ou outras alterações do tônus muscular. Reconhecemos nessas demonstrações do bebê que ele não está bem, e chamamos a
essas dificuldades, que se expressam em maior ou menor grau, de sinais de
sofrimento precoce ou indicadores de risco (risco para o desenvolvimento,
e risco psíquico).
Geralmente, quando os pais chegam para o trabalho com o psicanalista, muitos desses sinais podem já estar presentes, embora tenham sido
pouco valorizados como algo que mereça atenção de um profissional. Muitos pais já se inquietam, têm dúvidas e sensações de estranheza no contato
com o filho que pode ser pouco responsivo e pouco se comunicar. Ao
acolher tais inquietações dos pais desde cedo, o psicanalista pode traduzir
e amplificar os apelos do bebê, legitimando as percepções dos pais e favorecendo a relação entre eles.
Nesse momento da intervenção, o psicanalista entende que o atendimento conjunto dos pais com o bebê é fundamental para a compreensão
do que acontece entre eles. Durante os encontros, o trabalho do psicanalista é o de fazer a leitura dos apelos que o bebê faz, do modo pelo qual ele
convoca ou evita o encontro com os pais e de ajudar aos pais a dar novos
sentidos à movimentação do bebê. É a isso que chamamos de "leitura das
situações relacionais" dos pais com o bebê, que englobam tanto a movimentação do bebê na direção de seus pais quanto a movimentação dos pais na
direção do bebê que, ao se mostrarem durante as sessões, serão nomeadas
pelo psicanalista.
O trabalho do psicanalista é o de dar lugar às palavras, não quaisquer
palavras, mas aquelas que servem àquela família porque têm a ver com a
história singular daquele nascimento, somada à história de vida daquele
casal.
Por tudo isso que se passa nesses encontros, dizemos que o psicanalista "se empresta" como mediador e tradutor durante os atendimentos,
52.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
nomeando o sofrimento de ambos (pais e bebê), desculpabilizando os pais
e legitimando a força e o potencial do bebê.
Geralmente cabe ao psicanalista estender essas palavras e sua compreensão da dinâmica relacional da família, a partir de sua percepção e leitura
dos fatos clínicos, aos outros profissionais que estão em contato com a
família e o bebê. Em nossa prática, na troca com outros profissionais, fica
evidente o quanto é organizador para a equipe a compreensão do psicanalista que os ajuda a ver com igual importância as dificuldades do bebê e as
dos seus pais.
As dificuldades encontradas por essas famílias, em tempos tão iniciais
do desenvolvimento de seus pequenos filhos, geralmente causam um grau
de desorganização intensa, que inclui desde as mudanças nos ciclos de
sono e vigília, alimentação, até as várias situações de adoecimentos do bebê
e cansaço extremo dos pais. Nesse contexto de alterações na rotina da casa,
e desafios para a convivência do casal e família, damos muita importância à
rotina dos atendimentos, que pode marcar a constância das trocas interativas
entre o psicanalista, os pais e o bebê, e favorecer a regularização dos ritmos
interativos dos pais com seu bebê no ambiente familiar.
Há duas operações fundamentais no trabalho do psicanalista: a primeira operação é a detecção precoce, e a segunda operação é a intervenção
precoce. Mas, situamos aí uma sutileza clínica que tem enormes consequências, porque a detecção precoce refere-se ao risco psíquico para o
desenvolvimento em geral, e não somente ao risco de autismo.
Atualmente, o fato de a categoria TEA (Transtorno de Espectro Autista)
englobar quase todos os transtornos especificamente psíquicos tem tido as
seguintes consequências: 1) uma falsa epidemia do autismo; 2) uma supressão de categorias causando confusão e diagnósticos inespecíficos e; 3)
significativos atrasos para o tempo de início das intervenções precoces,
porque os profissionais ficam induzidos, paradoxalmente, a esperar a definição do autismo para indicar intervenção. E isso faz grande diferença em
relação aos resultados que se obtêm quando as intervenções são tardias.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.53
temática.
Diante de tudo o que foi exposto, é importante estarmos atentos para a
forma como está se estabelecendo a relação pais/bebê, pois, ao localizarmos
sinais de risco e sofrimento precoce, estes podem nos alertar sobre as dificuldades de desenvolvimento dos bebês. Nossa experiência clínica com
inúmeras famílias cujos bebês foram acompanhados por uma rede de cuidados iniciais, incluindo o psicanalista, demonstra como é possível mudar
significativamente os rumos do desenvolvimento de um bebê em risco de
autismo, e favorecer vias alternativas para sua construção psíquica.
Participantes e colaboradores diretos do texto: Alfredo N. Jerusalinsky
(Centro Lydia Coriat, APPOA), Leda M. F. Bernardino (APC, FEUSP), Eloisa
Lacerda (SEDES, Carretel), Mira Wajntal (SEDES), Inês Catão (COMPP (SESDF), HCB, PREAUT BRASIL, Escola Letra Freudiana), Sonia Mota (ABENEP/
RJ), Maria Eugênia Pesaro (Lugar de Vida – Centro de Educação Terapêutica), Augusta Mara Fadel (Lugar de Vida – Centro de Educação Terapêutica),
Cristina Hoyer (Associação Projeto Espaço Vivo), Mariangela Mendes de
Almeida (SEDES, SBPSP, Unifesp), Vera Zimmermann (SEDES, CRIA/
Unifesp), Mayra Castro (Equipe Nós), Mariana Garcez (Grupo Laço), Maria
Eduarda Lyrio Searsonn, Nathália Campana (pós graduanda IPUSP), Maria
Cecília Pereira da Silva (SEDES), Vera Regina Fonseca (SBPSP), João Luiz
Paravidini (GECLIPS), Cirlana Rodrigues de Souza (GECLISPS), Aline Sieiro
(GECLISPS), Regina Orth Aragão (ABEBE), Rafaela Duque (CPPL).
54.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
Panorama das questões envolvendo
psicanálise e autismo na França (G5)1
Gabriela de Araujo2, Leny Magalhães Mrech3, Camila Saboia4,
Thais Siqueira5, Monica Nezan6, Rosana Alves Costa7, Erika
Parlato-Oliveira8, Maria Lacombe Pires9 e Maria Bernadete Soares10
Resumo: Este texto apresenta uma revisão do material francês sobre
psicanálise e autismo. Ele foi realizado por um grupo de trabalho pertencente ao Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Em função da
pluralidade de autores, o texto apresenta uma leitura singular sobre os
1 Texto preparado pelo Grupo de Trabalho: "Levantamento do material francês em relação à psicanálise e autismo", do Movimento
Psicanálise, Autismo e Saúde Pública e apresentado na Jornada deste movimento.
2 Psicanalista, doutoranda da Université Paris VII em cotutela com o Instituto de Psicologia da USP. Membro do Preaut-Brasil.
[email protected]
3 Professora Livre Docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), Psicóloga, psicanalista e socióloga.
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Educação da FEUSP, Coordenadora da área de Pós-Graduação de Psicologia
e Educação da FEUSP e Vice-chefe do Departamento de Metodologia e Educação Comparada da FEUSP, membro do Conselho da
Escola Brasileira de Psicanálise
4 Psicóloga, psicanalista, Doutora pela Université Paris VII, Pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Lugar
de Vida- Centro de Educação Terapêutica.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.55
temática.
fatos, que fala sobre as relações de transferência de trabalho que os autores
apresentam com os interlocutores franceses. Uma visão mais ampliada será
feita em um trabalho futuro.
O objetivo deste grupo de trabalho é refletir as polêmicas envolvendo
psicanálise e autismo na França. Para isso, começaremos por uma breve
revisão sobre a suposta crise da psicanálise na França, para chegar aos
diversos fatos políticos e sociais que marcaram as discussões sobre autismo
nos últimos anos.
Um primeiro indicador de que tinha havido uma mudança neste novo
século em relação à Psicanálise ocorreu já nos seus primórdios. Em 8 de
outubro de 2003, na França, foi proposta a Emenda Accoyer, visando à
regulamentação do exercício das psicoterapias.
Graças à ação incisiva de Jacques-Alain Miller, Bernard-Henri Lévy e
outros, um amplo debate teve início e a Emenda, ao passar no Senado,
levou os olhares a se voltarem para o que estava acontecendo com o Instituto Nacional de Saúde e da Pesquisa Médica (INSERM) que se tornou alvo
da ira pública, por ter tomado partido contra a Psicanálise, identificando
novas tentativas de cerceamento de suas práticas.
Paralelamente, o mercado das psicoterapias foi se tornando cada vez
maior, levando o fenômeno psi a ganhar outros contornos sob as influên-
5
Psicóloga do PECP (Programa Einstein na Comunidade Paraisópolis) do HIAE (Hospital Israelita Albert Einstein) e Acompanhante
Terapêutica da Equipe HIATO de Acompanhamento Terapêutico
6
Psicanalista, com Master Profissional de Psicologia e Psicopatologia Clinica na Universidade René Descartes – Sorbonne, Paris;
especialista em "Tratamento e Escolarização de Crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimento" pela Pré- Escola Terapêutica Lugar de Vida do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – IPUSP (2000); membro do Lugar de Vida- Centro
de Educação Terapêutica.
7
Doutora em psicologia clínica pela Université Paris Descartes, Psicóloga do CRIA - Centro de Referência da Infância e Adolescência e
Professora de psicologia médica do departamento de psiquiatria da UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo.
8
Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Ciências Cognitivas e Psicolinguística
pelo LSCP-Paris. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Pós-doutoranda no Departamento de Psiquiatria Infantil do
Groupe Hopitalier Pitié-Salpetrière-Université Pierre et Marie Curie – Paris. Co-coordenadora Nacional do PREAUT-Brasil.
9
Psicanalista, mestre pela Université Paris VII.
10
Psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Membro da CLIPP – Clínica Lacaniana de Atendimento
e Pesquisas em Psicanálise, Mestre em Filosofia – Epistemologia da Psicologia e da Psicanálise pela Universidade Federal de São
Carlos, UFSCAR.
56.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
cias do discurso da ciência e do discurso do capitalista, com especial ênfase dada às TCCs, a partir de parâmetros pretensamente científicos.
Aflalo (2012, p. 19) destaca que essas ações, sob a aparência de uma
proteção aos cidadãos, destinavam-se a permitir que o Estado tomasse o
poder e deliberasse em seu lugar, confiscando a liberdade dos sujeitos.
Em 2 de outubro de 2003, o Ministério da Saúde francês anunciou a
elaboração de um Plano Global de Saúde Mental, com base no Plano de
Ações do doutor Cléry-Melin. Nas reuniões para a sua construção, foram
excluídos os representantes da psicanálise, da psicologia clínica e das
psicoterapias. O Plano complementava a Emenda Accoyer e, no bojo de
ambos, encontrava-se a proposta de submissão dos psicoterapeutas e psicanalistas aos médicos.
A mobilização dos psicanalistas foi bastante intensa: até fevereiro de
2004, inúmeros fóruns psis ocorreram quinzenalmente e grande parte dos
intelectuais franceses participou dessas sessões, aprofundando cada vez
mais essas discussões.
Em novembro de 2003, surgiu um Manifesto Psi reunindo psis de todas
as linhas e tendências: psicanalistas, psicoterapeutas, psicólogos clínicos e
psiquiatras em torno da petição para que fossem suprimidos o Comunicado de 2 de Outubro e o bloqueio da Emenda Accoyer. A base desse documento se assentava no atentado às liberdades individuais e à intimidade da
vida privada. Nele, dois princípios foram propostos: o direito da pessoa
em sofrimento de escolher seu psi sem a interferência do Estado e o dever
dos psis de apresentarem publicamente suas garantias, por meio de suas
associações e escolas (Aflalo, 2012, p. 20).
Em meados de dezembro de 2003, Bernard Accoyer reconheceu que
muitos pontos precisavam ser revistos e Laurent Fabius pediu ao PrimeiroMinistro francês, Jean-Pierre Raffarin, a retirada da Emenda e a discussão
de um acordo. Mas o Ministério da Saúde solicitou que fossem entregues a
eles os registros das instituições psicanalíticas.
A Escola da Causa Freudiana não concordou desde o início com essa
proposta, que acabou tendo o aval da Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP),
abril/maio 2013 l correio APPOA
.57
temática.
a Associação Psicanalítica da França (APA), ambas filiadas a Associação
Internacional de Psicanálise (IPA), fundada por Sigmund Freud em 1910.
Outras instituições se incorporaram a elas também, como a Organização
Psicanalítica de Língua Francesa (OLP), a Associação Lacaniana Internacional (ALI) e a Sociedade de Psicanálise Francesa (SPF).
Como destaca Aflalo (2012), foi a primeira vez que, na França, "o Estado, sem ter competência para isso, decidira imiscuir-se num debate entre
sociedades eruditas" (p. 21).
Em fevereiro de 2004, houve a publicação de uma avaliação do INSERM
de três psicoterapias, das quais, a psicanálise foi desqualificada e as psicoterapias cognitivo-comportamentais ganharam lugar de destaque.
Em fevereiro de 2005, Philippe Douste-Blazy, Ministro da Saúde, compareceu ao Fórum Psi e se mostrou favorável à Psicanálise de Freud e Lacan.
Nesse mesmo ano, foi publicado O livro negro da Psicanálise, ao qual
Bernard-Henry Levy e Jacques-Alain Miller deram uma resposta, publicando um dossiê especial em La régle du jeu.
Em fevereiro de 2006, foi publicado pela Editora Seuil O antilivro negro da psicanálise, composto por textos breves apresentados nos Fóruns
Psis, no qual se fazia crítica documentada ao acontecia na França.
Em junho de 2005 o Ministro Philippe Douste-Blazy foi substituído,
mas foram mantidos os encaminhamentos previstos pela Emenda Accoyer.
No fim de 2006, houve uma nova ofensiva no Parlamento por parte de
Bernard Accoyer. Em seu documento que discutia uma lei que regulamentava medicamentos, ele propôs dois novos artigos para regulamentarem a
formação de psicoterapeuta, os quais foram contestados posteriormente.
No outono de 2007, o Instituto Nacional de Prevenção e Educação para
a Saúde (INPES) lançou uma campanha de informação sobre a depressão
do adulto, com grande foco nas mídias.
No fim de junho de 2008, foi retirada a minuta do decreto da Emenda
Accoyer, fazendo recrudescer a batalha. Para Aflalo (2012) um novo eixo se
estabeleceu: "[...] a nova profissão de psicoterapeuta inventada pela minuta
58.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
do decreto emanava de uma vontade obstinada de regulamentar a fala entre
duas pessoas, a fim de, mediante o poder de Estado, impor o silêncio aos
que sofrem" (p. 27).
No dia 5 de março de 2009, uma nova Emenda substituiu a Accoyer. A
ministra da Saúde da época, Roselyne Bachelot, foi defendê-la na Assembleia
e ela foi aprovada por unanimidade. Nessa proposta, estava expresso que:
"O acesso a essa formação é reservado aos titulares de um diploma no nível
de doutorado, dando o direito de exercer a medicina na França, ou de um
diploma no nível de mestrado, cuja especialização ou a menção é a psicologia ou psicanálise" (Aflalo, 2012, p. 154).
Havia também um item mais específico relacionado aos psicanalistas,
que seria "[...] regularmente registrados nos anuários de suas associações
(que) podem se beneficiar de dispensa total ou parcial da formação em
psicopatologia clínica" (Aflalo, 2012, p. 154). Como se pode notar, havia
evidente encaminhamento da lei na direção de um enquadre universitário e
das instituições psicanalíticas. Sem mencionar os embates no interior da
própria psicanálise, tais como as propostas espúrias de Daniel Widlöcher,
que tenta estabelecer uma leitura psicanalítica nos moldes de uma ciência
cognitivista comportamental.
Como destaca Aflalo (2012), para ele, "[...] o inconsciente se torna um
pensamento; o desejo também se torna um pensamento; e ocorre o mesmo
com a pulsão, a angústia, os afetos, a transferência, a interpretação. Com
ele, tudo isso se torna pensamento" (p. 39).
Partindo desse panorama, que lança questões à prática do psicanalista
de um modo geral, passaremos agora a discutir alguns pontos que fizeram
questão à prática da psicanálise no campo do autismo.
O autismo como deficiência
Diante de diversas contestações e queixas de associações de pais, em
1996, um deputado da região do Loire, Jean François Chossy, consegue
aprovar, na Assembleia Nacional, a lei que estabelece o autismo como uma
abril/maio 2013 l correio APPOA
.59
temática.
deficiência (handicap), Lei Chossy (Loi 96, 1076). Essa promulgação vem
na esteira da mesma definição proposta pelo Congresso Norte-americano,
ou seja, a partir de então, não se trata mais uma questão de saúde mental,
mas sim, de deficiência. Desse modo, o autismo é considerado como um
handicap especifico e necessita da construção de estruturas especificas para
o tratamento, fornecidas pelo Estado.
Essa discussão parte do argumento de que se nasce e se morre com
autismo (autiste un jour, autiste toujours) e que o autismo não pode ser
considerado uma doença da qual alguém pode se curar. Diversas associações familiares consideram pejorativo e depreciativo o termo doença mental, próximo à noção de loucura, e preferem a ideia mais neutra de handicap.
Essa questão revela uma discussão importante da psiquiatria, dado
que essa assume um campo especial do saber médico. As doenças mentais,
contrariamente aos demais campos médicos, não se determinam pela ação
de um agente que cria um sintoma e pode ser eliminado.
Uma doença, por definição, é um processo evolutivo, ligado a um ou
mais agentes patológicos, conhecidos ou desconhecidos, que mesmo podendo ser em determinado momento considerado como incurável, pode, de fato, ter uma suposta cura em um momento onde
se encontrará um remédio. Ela tem a vocação de ser tratada. Uma
deficiência é um desvio fixo a uma norma, composto de um déficit
e de uma incapacidade mais ou menos definidas, que deixam o
sujeito em desvantagem, atrapalhando sua adaptação ao meio e podem somente ser compensadas. Ela convoca uma reabilitação, quer
dizer, um reforço da utilização das capacidades restantes, o desenvolvimento de novas capacidades e uma adaptação do entorno
(Hochmann, 2009, p. 415).
A modificação de estatuto do autismo, entretanto, para além dessa discussão sobre o saber psiquiátrico, delibera novas diretrizes para o tratamento
do autismo, que não é mais de responsabilidade do campo psi, e sim, do
campo educativo. No momento da promulgação da lei (e talvez ainda hoje), a
60.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
maioria dos estudos demonstrando eficácia no tratamento do autismo tinham
suas origens em tratamentos educativos (como o método ABA).
Em nova lei, de 2005, se estabelece da seguinte forma a deficiência:
"[...] Toda a limitação de atividade ou restrição de participação à vida social
por uma pessoa em razão de uma alteração substancial, durável ou definitiva de uma ou mais funções psíquicas, sensoriais, mentais, cognitivas ou
psíquicas, de uma deficiência múltipla ou de um transtorno de saúde
invalidante.".
A discussão a respeito de doença mental versus deficiência reacende o
antigo e obtuso debate sobre a etiologia do autismo, psicogênica ou genética. Golse (2008) lembra que, ainda que ninguém conteste que o autismo
representa uma deficiência existencial, é preciso pensar que "[...] em francês, o termo handicap assume, de forma mais ou menos implícita, a ideia
de uma lesão neurológica e de um entrave ao exercício de tal ou tal função,
entrave que é preciso inicialmente constatar antes de tentar remediar por
abordagens educativas ou de reabilitação" (Golse; Delion, 2008).
Partindo desse pressuposto, diversos psicanalistas e psiquiatras infantis se manifestaram contra esse novo estatuto: Laznik (1996) aponta que
a deficiência deve ser tomada como a consequência do que não se instala
no autismo; Hochmann (2009) destaca que, mais do que a discussão acerca
do sentido do termo, é preciso atentar para o sentido político e filosófico
que carrega esse novo estatuto, "[...] que visa impor uma visão única, politicamente correta, sobre o autismo e seu modo de tratamento."
Essa modificação de estatuto de doença mental para deficiência pode
ser localizada e compreendida como um marco, que inaugura uma nova
fase de diretrizes em relação ao tratamento do autismo e que colocam muitas questões para a psicanálise.
Na sequência deste novo estatuto, surge também do Estado, articulado
com órgãos científicos e com grupos de pais, o pedido para elaboração de um
documento de estabelecimento de diretrizes para o tratamento de autismo. A
seguir iremos analisar mais detidamente alguns dos seus aspectos.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.61
temática.
Leitura crítica do documento da HAS
"Recomendações para a boa prática no tratamento
de crianças e adolescentes com autismo"
Em março de 2012, a Haute Autorité de Santé (HAS), órgão científico
criado em 2004 com o objetivo de garantir o controle da boa qualidade do
sistema francês de saúde pública, em parceria com a Agência Nacional de
avaliação e da qualidade dos estabelecimentos e serviços sociais e médicosociais (Anesm), publicou um documento, no qual descrevia em detalhes
as condutas a serem seguidas pelos profissionais de saúde que atuavam na
clínica do autismo. Esse documento foi intitulado "Recomendações para a
boa prática. Autismo e outros transtornos do desenvolvimento: Intervenções educativas e terapêuticas dirigidas a crianças e adolescentes".
Esse documento foi elaborado no decorrer de 2010 e se configura como
um dos pontos estratégicos de trabalho da Secretaria dos Deficientes, chamado Plano de autismo 2008-2011, o qual visava lançar novas medidas de
tratamento do autismo.
A psicanalista Geneviève Haag, membro fundadora da Coordination
internationale de psichothérapeutes e psychanalyste s´occupant de personnes
avec autisme (CIPPA), foi convidada para integrar a equipe responsável
pela elaboração do documento. Contudo, constatou-se posteriormente que
suas sugestões relativas ao tratamento do autismo e fundamentavam-se na
prática psicanalítica e psicomotora foram desconsideradas na elaboração
final do documento. O documento deixava clara a prioridade de condutas
cognitivas e comportamentais em detrimento de aspectos psicopatológicos,
fato que levou um grupo de psicanalistas, coordenados pela própria Geneviève Haag, a propor uma releitura crítica desse material, com o objetivo de
evidenciar os aspectos psicodinâmicos da patologia do autismo que haviam
sido ignorados ou desconsiderados no documento.
Passamos a indicar agora alguns pontos em relação às condutas de
tratamento e intervenções propostas no documento do governo francês,
contrapondo-as à leitura psicanalítica proposta pela psicanalista Geneviève
Haag, respeitada na França como uma das maiores especialistas em autismo.
62.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Primeiramente, quanto à definição de autismo, o documento parte das
três grandes classificações oficiais: O CID-10, o DSM-IV e a CFTMEA-R,
segundo a Classificação Francesa de Transtornos Mentais da Infância e da
Adolescência (revisada em 2000). A respeito dessa última, Haag chama a
atenção por eles não considerarem sua versão mais atualizada, feita em
2010, na qual se distinguem as psicoses precoces dos TID.
Sobre os dados epistemológicos, é interessante observar, no subitem
"patologias/transtornos associados", que o documento da HAS tende a considerar como o único transtorno importante associado à síndrome autística
o distúrbio de sono, com uma prevalência que varia entre 45 a 86%.
Geniéve Haag propõe uma leitura inversa e original, ao enfatizar que
muitas patologias psiquiátricas têm, na realidade, pontos em comuns com
os traços específicos do funcionamento da patologia autística, o que, por
consequência, abrangeria o leque de transtornos associados ao autismo.
Como exemplo, ela enfatiza que os distúrbios de ansiedade, a fobia e os
distúrbios da atenção, bem como, a síndrome autística apresentam falha no
processo de constituição da imagem corporal em decorrência da existência
de um eu cindido.
E Haag enfatiza também a importância de se discutir de que maneira o
termo psicose é tomado na categoria da nova classificação do espectro autístico, já que ele tende a ser compreendido como uma simples classificação
de um autismo atípico, ao passo que, para o referencial psicopatológico,
são quadros distintos. A mesma autora destaca as dificuldades de se detectarem distúrbios somáticos nos pacientes autistas, dada a sua incapacidade
de manifestarem seus sentimentos em relação à dor por uma via que não
seja a da agressividade ou de um fechamento autístico.
Quanto ao futuro do paciente autista, Haag destaca a importância de se
acompanhar a pessoa com autismo na passagem da adolescência para a
vida adulta, Ela lembra que o agravamento do quadro autístico – muito
comum nesse período – deve-se à força do impacto da puberdade sob os
aspectos associados a uma imagem corporal fragilizada e comprometida.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.63
temática.
E além disso, Haag enfatiza que neste período do desenvolvimento, se
torna mais evidente a dificuldade da evolução dos aspectos associados à
reciprocidade social dado a um comprometimento das construções identitárias. Nesse sentido, parece pertinente observar qual seria o impacto do
tratamento psicanalítico na evolução deste aspecto na pessoa com autismo,
uma vez que constatamos que apesar de haver uma leve evolução no quadro da socialização das emoções, os processos em que a sintomatologia das
interações sociais restam pouco desenvolvidas.
Quanto ao "ao funcionamento dos pacientes com TID", Haag sublinha a
importância de se acrescentar o testemunho de crianças e adolescentes em
seus tratamentos psicoterápicos de cunho psicanalítico, uma vez que serviriam como dados importantes sobre transformações e evoluções das vivências
subjetivas desses pacientes.
Ainda sobre o funcionamento sensorial, o documento relata que pacientes com autismo apresentam particularidades no que diz respeito à
percepção, comprometendo sua capacidade de associar a parte ao todo.
Acrescenta ainda que, graças à análise retrospectiva de vídeos de bebês
que se tornaram autistas, é possível constatar precocemente traços da patologia do autismo manifestado por um comprometimento anormal da
psicomotricidade (hipotonia, distúrbios de expressão facial, posturas de
hipoatividade em geral).
A respeito dessas constatações, Haag sublinha a falta de referências
bibliográficas de trabalhos de cunho psicanalítico que enfatizam o impacto
do transtorno da imagem corporal no desencadeamento de certas anomalias. Ela lembra a importância de considerar as expressões motoras como
uma representação do eu corporal, sendo este um ponto em comum para o
estabelecimento de um diálogo entre as ciências cognitivas, a neurofisiologia
e as observações psicodinâmicas.
O manual de recomendações cita que o déficit da atenção compartilhada é predominante em crianças com autismo, uma vez que elas não teriam
a capacidade de associar a palavra ao objeto e interpretar os gestos de co-
64.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
municação. No entanto, relatos de tratamento analítico de crianças autistas
demonstram que essas têm plena capacidade de desenvolver sua atenção
compartilhada quando vivenciam um sentimento de continuidade e de continência como efeito do tratamento analítico.
Ainda em relação à função de comunicação, o documento afirma que
as crianças autistas teriam uma dificuldade de imitar, o que iria de encontro às novas pesquisas sobre o assunto realizadas por J. Nadel nas quais
ele comprova que as imitações espontâneas do tipo precoce não estariam
comprometidas nas pessoas com autismo, mas sim, a imitação quando
solicitada.
Quanto às funções emocionais, é importante ressaltar que o manual
apresenta uma leitura simplista e organicista, ao afirmar que distúrbios
sociocognitivos de aprendizagem da pessoa com autismo ocorrem graças à
hipoativação de zonas cerebrais, associadas à percepção das emoções, as
quais estariam comprometidas desde o início da vida e impossibilitam a
compreensão das emoções e a capacidade de dividir e harmonizar a percepção emocional do sujeito.
Em contrapartida aos trabalhos de abordagem psicodinâmica, como os
de Trevarthen (1989) "[...] as relações entre autismo e desenvolvimento sociocultural normal: argumentos em favor de um transtorno primário de uma
regulação do desenvolvimento cognitivo pela emoção.", sublinham que a
desregulação emocional seria própria do funcionamento autístico, o que
implica associar o autismo "[...] a uma dificuldade de regulação primária, e
não, propriamente, a um déficit.".
Trabalhos neurofisiológicos que mostram efetivamente uma hipoativação na relação da troca do olhar e uma hiperativação quanto aos mecanismos de evitação, revelam uma diferença do funcionamento dos circuitos neu-rológicos entre o sujeito normal e o sujeito autista, reforçando,
desse modo, a necessidade de promover um espaço de diálogo entre clínicos de abordagem psicodinâmica, pesquisas cognitivistas e pesquisas em
neurofisiologia.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.65
temática.
Quanto ao processo da avaliação do diagnóstico precoce do autismo, o
manual toma em consideração apenas sinais gerais, tais como: ausência ou
raridade do sorriso, recusa do olhar, ausência de brincadeiras. Essas observações já estão presentes na caderneta de saúde da criança do sistema de
saúde público francês.
No entanto nenhuma observação sobre a pesquisa Preaut (Laznik et al.
1998) é feita. Essa pesquisa de abordagem psicanalítica foi realizada em
diversas regiões da França e toma como um dos sinais importantes do autismo
precoce a ausência de trocas jubilatórias entre mãe-bebê dada uma falha no
fechamento do circuito pulsional da criança.
Ainda sobre a avaliação diagnóstica, o manual enfatiza que o diagnostico dos TID e do autismo permanece ainda de caráter clínico, mas
seria importante contar também com o auxílio de certos instrumentos internacionais, por meio dos quais se pode chegar a uma precisão diagnóstica da patologia do autismo, tais como o ADI e o ADOS.
Embora o documento cite o teste psicomotor de Bullinger, que leva
em conta o desenvolvimento psicomotor da criança segundo um viés
psicodinâmico, não se menciona a grade de avaliação clínica das etapas da
evolução do autismo (HAAG, 1995), nem tampouco, testes projetivos
psicodinâmicos, tais como o Rorschach e o Scenotest.
Quanto ao programa de inclusão escolar de pessoas com autismo, o
manual faz referência à igualdade de direitos quanto ao acesso à saúde, a
educação e a vida social e ao campo do trabalho, tal como explicita a lei de
11 de fevereiro de 2005, na qual as crianças autistas, na condição de deficiente, podem usufruir de todos os direitos dos cidadãos comuns.
No que concerne às propostas de intervenções, tanto individuais quanto
institucionais com pessoas com autismo, o documento faz referência ao
trabalho psicanalítico, embora se constate uma preferência a uma leitura
orgânica e educativa. Nesse sentido, percebe-se uma grande incoerência
quanto à elaboração do documento final e a sua proposta inicial, pois,
segundo a HAS, o objetivo principal da elaboração desse documento era
66.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
fundamentar diretrizes de base para o tratamento do autismo, independentemente das posições teóricas e ideológicas. E, assim sendo, como explicar que o resultado desse documento científico seja marcado por uma
forte inspiração biológica, na qual se explicita claramente a preferência por
intervenções de caráter educativo e cognitivo, ao mesmo tempo em que se
consideram outras práticas de tratamento como obsoletas?
Como enfatiza o psicanalista Claude Bernard (2010), da Universidade
de Lyon, esse documento que compõe o Plano do autismo 2008-2011, nada
mais é do que o reflexo da psiquiatria atual, sustentada por indústrias
farmacêuticas e regida pela lógica econômica dos planos de assistência de
saúde, dos quais, se esperam resultados rápidos e eficazes.
Bernard acrescenta ainda que esse documento denuncia a maneira como
a psicanálise tem sido transmitida à nova geração de profissionais, isto é,
como uma ciência ultrapassada e com poucas produções cientificas capazes de demonstrar sua eficácia no tratamento do autismo.
E Bernard denuncia que a comissão científica do Plano Autismo
priorizou, arbitrariamente, bibliografias psiquiátricas recentes (a partir do
ano 2000) e apenas aquelas de origem anglo-saxônica, as quais se caracterizam, particularmente, por excluírem psiquiatras de orientação psicanalista
de seus comitês de leitura, além de rejeitarem publicações de trabalhos
atravessados por uma leitura psicanalítica e psicodinâmica. Nesse sentido,
todas as observações clínicas profundas, as teorizações e os resultados acumulados durante meio século por psicanalistas de inúmeros países são,
indiretamente, ignorados pelos profissionais que fundamentarão seu trabalho segundo as normas sugeridas pelo manual.
Enfim, como enfatiza o psicanalista P. Delion, esse documento da HAS
responde mais aos interesses políticos e econômicos dos lobistas farmacêuticos do que efetivamente ao interesse das pessoas com autismo.
Assim, paralelamente às Recomendações da HAS, o campo do autismo
foi palco de novos embates políticos.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.67
temática.
Lei do deputado Fasquelle
Em janeiro de 2012, foi entregue à presidência da Assembleia Nacional
Francesa o projeto de lei11 elaborado pelo deputado Daniel Fasquelle. Este
projeto visa ao "[..] impedimento das práticas psicanalíticas no acompanhamento das pessoas autistas, a generalização dos métodos educativos e
comportamentais e a realocação de todos os financiamentos existentes para
esses métodos.". Envolvido com a causa do autismo, esse deputado solicitava a assembleia, desde 2008, que o autismo se tornasse causa nacional.
Esse pedido foi aprovado pelo Primeiro-Ministro em 2012.
Como sustentação dessa proposição, o deputado Fasquelle destaca que
a psicanálise já foi abandonada como método de tratamento para o autismo
em diversos países anglo-saxões e que é muito pouco referida na grande
maioria dos estudos científicos. Em seu texto, ele apresenta uma leitura
particular da proposição da HAS, destacando que ali se leria um
aconselhamento ao abandono desse método.
No texto do projeto de lei, o deputado apresenta sua indignação, ao
constatar que, na França, as práticas psicanalíticas são frequentemente encontradas nos estabelecimento hospitalares e médico-sociais e que esses
serviços são financiados pela segurança social. Aponta o profeto que esse
método, além de ser muito custoso para o Estado, não apresenta resultados
significativos que justificassem o dispêndio de seu elevado custo.
O político Thierry Sibieude, assim como Daniel Fasquelle, também é
pai de uma criança com autismo, respondeu com veemência a esse projeto
de lei. Sibieude é vice-presidente do Conselho Geral responsável por pessoas com deficiência e aponta, em carta aberta, que muitas das discussões
atuais escondem um grande lobby de interesses bem diversos do que aqueles dedicados ao atendimento e ao alívio do sofrimento de crianças com
autismo e de suas famílias.
11
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4211.asp
68.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Nesta carta12, Sibieude destaca que, para aumentar as chances de melhora, é desejável que se favoreçam os trabalhos pluridisciplinares, e lembra ainda que o dever dos atores públicos deve ser a vigilância, a pluralidade
e a diversidade. "[...] Certamente não é a lei que deve se pronunciar sobre a
pertinência ou não de um método, mas sim os experts e cientistas de tal
domínio." Concluindo a carta, o deputado afirma que "[...] ouso afirmar que
a exigência dos pais de crianças autistas, seu desejo mais caro, é o poder
escolher a melhor solução para seu filho, de compreender o que lhe é proposto para atingir a felicidade de seus filhos.". Esse projeto de lei não foi
aprovado até o momento.
Hochmann, em artigo13 publicado no jornal Le Monde, questiona a legitimidade de um projeto de lei interditar um método de investigação. Ele
destaca que, de fato, certas linhas da psicanálise têm "[...] atribuído a patologia da criança a um disfuncionamento inconsciente da mãe". Entretanto
aponta que essa ideia já foi corrigida graças a recomendações da HAS e,
nesse sentido, não seria mais necessário um projeto de lei.
O filme Le mur ou la psychanalyse à l’épreuve de
l’autisme (O muro ou a psicanálise à prova do autismo)14
O filme realizado por Sophie Robert, em parceria com a Associação de
pais Autisme sans frontières, foi projetado pela primeira vez em Paris, em 7
de setembro de 2011. O filme, que se pretende um documentário, contém
diversas entrevistas com psicanalistas franceses renomados, tais como:
Bernard Golse, Pierre Delion, Danon Boileau, Alexandre Stevens e Genevieve
Loison, dentre outros, em relação a pesquisas e tratamentos do autismo.
12
http://www.thierry-sibieude.com/article-lettre-au-depute-daniel-fasquelle-a-l-issue-des-journees-parlementaires-de-l-autismele-12-janvier-99321232.html.
13
http://www.lemonde.fr/m_helene_hochmann.
14
http://www.youtube.com/watch?v=-yXGnPL39IA.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.69
temática.
No filme, as entrevistas são entremeadas por depoimentos de pais e de
crianças autistas que descrevem e legitimam a ineficácia da psicanálise em
comparação aos resultados tangíveis e rápidos dos métodos cognitivocomportamentais. Os discursos dos entrevistados são cortados, e misturados com narrativas de Sophie Robert que interpreta, segundo seu ponto de
vista, o que escolhe apresentar de cada depoimento. A ênfase é atribuir a
culpa aos pais e ao necessário distanciamento desses, para que o tratamento se efetive. Desse modo, a edição do filme demonstra claramente um
posicionamento militante da realizadora, que pretende comprovar a ineficácia do método psicanalítico e o perigo que a França estaria correndo, já
que 80% dos psiquiatras da infância são psicanalistas.
As repercussões foram imediatas e de grande impacto. Associações de
pais se reuniram e juntaram esforços para divulgar amplamente o filme,
não apenas na França, mas também, no exterior. Os psicanalistas entrevistados, por sua vez, entraram na justiça contra Sophie Robert, alegando que
seus depoimentos haviam sido deturpados em seu propósito após os cortes e exigindo que o material fosse confiscado. Após meses de tramitação,
Sophie Robert é condenada e a exibição do filme é proibida em território
francês.
Além dessa posição legal, alguns dos psicanalistas entrevistados apresentaram respostas em um dossiê da CIPPA, intitulado Alerte aux
méconnaissances concernant la psychanalyse et l’autisme15."(Alerta aos malentendidos referentes à psicanálise e ao autismo). Golse, Delion e DannonBoileau (2011) relatam como a edição do documentário e os corte realizados
pela realizadora nas entrevistas de aproximadamente duas horas que eles
realizaram modificaram radicalmente o conteúdo de seus depoimentos, tendo
como resultado um filme incompreensível e ridicularizador da psicanálise.
Todos referem terem sido cortadas partes dos depoimentos em que eles
declaravam a importância da multidisciplinaridade no trato do autismo,
15
http://old.psynem.org/Cippa/Ressources/cippa.pdf
70.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
enfatizando ser fundamental a integração de métodos educativos, pedagógicos e terapêuticos para que um tratamento seja realmente efetivo.
A respeito desse episódio, Golse alerta para um fenômeno que ele nomeia contaminação do autismo. Segundo ele, é como se os profissionais
passassem a funcionar de modo autístico, fechando-se para outras abordagens do fenômeno, o que pode levá-los ao fracasso, pois para o autor, qualquer método único para a abordagem do autismo é ineficiente. As crianças
com autismo têm dificuldades em generalizar os aprendizados, em fazer
sínteses das diversas percepções sensoriais e, diante desse quadro, tal
clivagem de conhecimentos só pode prejudicar.
Respostas dos psicanalistas aos ataques
Diante das deliberações do governo francês e do ataque constante da
mídia à psicanálise e a seu método aplicado no tratamento do autismo,
psicanalistas começam a expor seus posicionamentos. Dentre esses, está
Jacques Hochmann, que publica cartas nas quais dialoga com a interdição
proposta e faz um levantamento de possíveis razões para essa onda sistemática de ataques.
Partindo da concepção de que o diagnóstico do autismo caracteriza-se
como um consenso internacional que agrupa sintomas – como isolamento
social, particularidades da comunicação e interesses restritos e estereotipados –, Hochmann discute a importância e a influência de cada método de
investigação na construção de tal diagnóstico. A amplidão dessa categoria
nosológica torna difícil detectá-lo e permite que o diagnóstico varie muito a
depender do profissional envolvido. Portanto, a assistência à pessoa com
autismo é fortemente atravessada por diversos fatores e influências.
Nesse contexto, assistimos ao crescimento da rivalidade entre abordagens teóricas e métodos que, partindo de visões bastante distintas do
fenômeno sobre o qual se debruçam, tentam revogar para si a detenção da
verdade. O aumento da valorização popular das técnicas cognitivo-comporta-mentais na França e os consequentes ataques à psicanálise devem ser
abril/maio 2013 l correio APPOA
.71
temática.
analisados, segundo Hochmann, levando em conta fatores econômicos e
sociais.
Dentre os fatores econômicos, ele destaca o fortalecimento do poder
das indústrias farmacêuticas e a mudança da política de seguros de saúde.
Tais setores têm grande poder político na sociedade francesa e valorizam
resultados rápidos e visíveis, o que vai ao encontro dos valores da cultura
contemporânea. Assim, a consequência é o favorecimento de tratamentos
educativos que promovem modificações no comportamento em curto prazo. Além disso, Hochmann destaca que a angústia vivida pelas famílias é
amenizada no momento em que o diagnóstico é dado. A partir de então, a
família sente-se reconhecida em seu sofrimento e, de certa forma, compensada pela classificação do autismo como uma deficiência.
Vale também salientar que as técnicas cognitivo-comportamentais incluem uma participação ativa dos pais, que admitem uma função fundamental no tratamento. Eles aprendem métodos educativos a serem aplicados com seus filhos com o intuito de reforçar comportamentos desejáveis e
eliminar os indesejáveis. Dessa maneira, os critérios diagnósticos foram
crescendo e o número de casos aumentou consideravelmente.
Conforme Hochmann (2009), "[...] os primeiros estudos epidemiológicos
estimavam a prevalência do autismo infantil puro, tal como Kanner descrevera, em menos de 5 casos em 10 mil (0,0005%). Atualmente, a associação
americana coloca perto de 10 casos por 1000 (0,01%) (ou seja uma multiplicação por vinte).". O autor propõe que tal inflação do número de crianças
com diagnóstico de autismo seja analisada criticamente.
Tendo em vista a fragilidade da construção de um diagnóstico de autismo
por parte dos profissionais envolvidos na assistência, não seria mais eficaz
incentivar a pluralidade de teorias, métodos de investigação, pesquisas e
tratamentos? Não seria esse o momento de incentivar a troca e o diálogo
entre os saberes com o intuito de aprimorá-los? "[...] Como desde já impor
um pedestal de conhecimentos único para compreensão de um fenômeno
cuja frequência varia de um a dez, a depender do observador?" (Hochmann,
2010).
72.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Em resposta a diversos desses acontecimentos, em 2005, é criada a
Coordenação internacional de psicoterapeutas e psicanalistas que se ocupam de pessoas com autismo16 (CIPPA) por Genevieve Haag e Dominque
Amy. Em 2010, essa associação se abre para que outros membros – como
médicos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros – que se ocupam de autismo possam se tornar membros associados.
Em suas diretrizes, têm-se como objetivos a partilha e a troca entre
seus membros em relação às pesquisas sobre suas práticas e avaliações
dessas; articulação entre psicanalistas e outros profissionais implicados
nos cuidados das pessoas autistas; reflexão sobre as melhores maneiras de
ajudar as famílias das crianças com autismo, instalando entre elas e os
profissionais uma parceria; e ligações com os outros domínios científicos
relacionados ao autismo.
Roudinesco, em artigo publicado no jornal Liberation17, levanta alguns
pontos sobre essa grande discussão em torno do autismo e da psicanálise,
lembrando que, enquanto cada grupo se pensar como sendo o único a ter
uma solução milagrosa para o autismo, não haverá discussão possível.
Entretanto, ao invés de colocar a psicanálise como vítima dessa história,
Roudinesco destaca que, de tanto se fechar sobre si mesmos, os psicanalistas viraram os principais inimigos da psicanálise.
Acreditamos que os acontecimentos na França servem para levantar
diversas questões. Para além de nós, os psicanalistas, nos considerarmos
como vítimas, não seria interessante refletirmos um pouco sobre a nossa
história? Não seria o momento de pensarmos nas aberturas necessárias? O
que o autista, com seu fechamento, pode nos ensinar sobre o caminho que
devemos seguir?
As polêmicas que ocorreram nestes últimos anos na França e que convoca um novo posicionamento dos psicanalistas se assemelham muito a
16
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa.
17
http://www.liberation.fr/societe/01012386622-autisme-la-psychanalyse-en-proces.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.73
temática.
diversos acontecimentos aqui do Brasil. A ideia deste texto, é que assim
como fizeram os nossos colegas do velho mundo, possamos não só nos
colocarmos de modo defensivo à esses ataques, e tampouco de modo ofensivo, mas que possamos questionar a nossa prática.
Referências bibliográficas
AFLALO, A. O assassinato frustrado da psicanálise. Rio de Janeiro: Contracapa, 2012. Opção Lacaniana. Nº. 9.
GOLSE, B. ; DELION, P. (Dir.) Autisme: État des lieux et horizons. Paris : Ed. Érès, 2005.
HAGG, G. Autisme: Trois psys répondent aux accusations du film Le Mur. Disponível em <http://www.rue89.com/2011/12/08/
autisme-des-psys-alertent-sur-les-meconnaissances-227345>. Acessos em 17 de março de 2013.
HAAG, G. ; TORDJMAN, S. ; DUPRAT, A. ; CUKIERMAN, A. ; DRUON, C. ; JARDIN, F. ; MAUFRAS DU CHÂTELIER, A. ; TRICAUD, J. ;
URWAND, S. Grille de repérage clinique des étapes évolutives de l’autisme infantile traité. Psychiatrie de l’enfant, 1995, 38, 2, 495527.
HOCHMANN, J. Histoire de l’autisme. Paris : Ed. Odile Jacob, 2009.
______. Le socle de connaissances de l’autisme en débat. Disponível em: www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/03/11/lesocle-de-connaissances-de-l-autismle-en-debat_1316882_3232.html>. Acessos em 17 de março de 2013.
LAZNIK, M. C. "Pourrait-on penser à une prévention du syndrome autistique." In: Autismes. Revue Contraste, Revue de l’ANECAMSP.
Nº 5, 2e. semestre 1996, p. 69-85.
Lectrure Critique du Rapport de La HAS "Autisme et autres troubles envahissants du développement; Etat des connaissances hors
mécanismes physiopathologiques, psychopatologiques et recherche fundamentales" (G. HAAG, 2012), Disponível online em:
www.psynem.org/ herbergement/CIPPA/informations et debats/ lecture critique. Acesso em 15/12/12.
Le socle de connaissance de l´autisme en débat. Chronique d´abonnés (C. BERNARD, 2010), Disponível on line em: www.lemonde.fr/
archives/ croniques. Acesso em 15/12/12.
Recommandations de bonne pratique. Autisme et autres troubles envahissants du développement: Interventios éducatives et
thérapeutiques coordonnées chez l enfant et l adolescente. Méthode recommandations par consensus fomalisés. Disponível em:
www.has-sante.fr. Acesso em 15/12/12.
74.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
DSM IV1
Isidoro Vegh2
Sou muito grato por estar neste espaço com colegas e amigos, com
quem partilhamos há muitos anos – não digo quantos por vaidade – nosso
gosto pela prática, por sua reflexão teórica e pelo que, lamentavelmente,
com seu uso parece uma palavra gasta, mas não é, também por compartilhar uma ética. Isso que acabo de dizer – vocês verão, e tratarei de demonstrar – é algo mais que uma fórmula de cortesia, é inerente às palavras que
vou lhes propor.
É evidente que esta sala é uma sala religiosa, em princípio todos votariam contra o DSM III, IV ou V. Não me parece certo votar sem outorgar a ele
a palavra – e assim já o fez Alfredo Jerusalinsky – a quem sustenta a necessidade e a vigência do DSM, seja III, IV ou V.
1
Trabalho apresentando no congresso de Convergencia em Porto Alegre/2012.
2
Psicanalista, Membro fundador da Escola Freudiana de Buenos Aires, é autor de diversos livros, entre eles, Estructura y transferencia
en la serie de las neurosis. (Letra Viva, 2008). E-mail: [email protected]
abril/maio 2013 l correio APPOA
.75
temática.
O DSM IV das edições espanhola, francesa e italiana tem por coordenador Pierre Pichot, Professeur de Clinique des Maladies Mentales et de
l’Encéphale, Paris; Ancien Président de l’Association Mondiale de Psychiatrie.3
Na introdução do DSM IV diz textualmente, leio: "Um dos objetivos
mais importantes do DSM IV é proporcionar critérios e diagnósticos para
aumentar a fiabilidade dos juízos diagnósticos". Já aqui temos uma distinção, há critérios que determinam juízos.
Diz na advertência desta edição em espanhol: "Os critérios diagnósticos específicos de cada transtorno mental são diretrizes para estabelecer o
diagnóstico". Há um critério que dirige o juízo diagnóstico. Como se constitui esse critério? Pensem no que é uma pesquisa, por exemplo, nas ciências puras. Há um laboratório importante, suponhamos na França, outro
importante em Londres. Trabalham por consenso ou cada um avança em
suas investigações? É verdade, influenciados pelo paradigma da época. Diz
assim: "Estes critérios diagnósticos e a classificação dos transtornos mentais refletem um consenso […] E esclarece: mas não inclui todas as situações que podem ser objeto de tratamento de investigação". É evidente que
se não incluem todas e há um critério, aí há algo que antecede a decisão, há
um pensamento que antecede o resultado. Diz, sigo lendo: "O propósito do
DSM IV é proporcionar descrições claras das categorias diagnósticas"
Avancemos mais um pouco. Vou citar em breve parágrafo de um trabalho de Pierre Pichot, coordenador da edição espanhola, italiana e francesa
do DSM IV, do ano 84. Está citado em um texto Sur le pragmatisme de
Peirce à l’usage des psychistes4, muito oportuno, de Michel Balat onde é
citado, e que diz o fundamento, porque há um fundamento para criar o
DSM IV – outro do que meus colegas vêm denunciar, o que tem a ver com
a indústria farmacêutica, com o que pode servir às empresas de medicina,
3
Professor de Clínica das Doenças Mentais e do Encéfalo, Paris; Ex-Presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. No
original também em francês. (N.T.)
4
Balat, Michel: Sur le pragmatisme de Peirce à l’usage des psychistes em Les Cahiers Henri Ey, N° 1, Printemps 2000, pp. 83/95.
76.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
aos governos no mundo em que vivemos, etc. Há uma posição tomada, e
diz assim: "O ateorismo – ou seja, sem teoria – do DSM III aparece como a
expressão maior da filosofia pragmática". Para Pierre Pichot – não creio que
ele fale somente porque lhe ocorreu, tem o aval de quem lhe confiou a
edição em outras línguas – considera que o fundamento do DSM é a filosofia pragmática. Será verdade? Não nomeia qualquer filósofo do pragmatismo, nomeia precisamente o que está na origem do pragmatismo americano, alguém casualmente bem valorado por Lacan, Charles Sanders Peirce.
Que diz Charles Sanders Peirce a respeito de o que é o pragmatismo? Há
uma definição clássica de Peirce que diz assim: "Consideramos o objeto de
uma de nossas ideias e nos representamos todos os efeitos imagináveis,
podendo ter um interesse prático qualquer que atribuamos a este objeto.
Eu digo que nossa ideia do objeto não é mais que a soma das ideias de
todos seus efeitos". Trata-se de todos os efeitos imagináveis a serem verificados – por isso tem a ver com o pragmatismo – mas imagináveis, não a
priori recolhidos em uma empiria.
O próprio Charles Sanders Peirce, farto da degradação de sua filosofia
do pragmatismo, lá por 1903 decidiu mudar o nome e a chamou pragmaticismo, pensando que uma palavra tão desagradável o salvaria de ter adeptos indesejáveis. Charles Sanders Peirce propõe que ao reduzir o método
científico à dedução e à indução se comete um erro por insuficiência. Na
dedução, – desde as elaborações da antiga Grécia, da lógica aristotélica –
parte-se de um argumento geral que é aplicado ao conjunto dos elementos
e a cada um deles como mostração particular desse argumento geral, que se
apresenta como argumento necessário.
À dedução opõe-se a indução, que parte de uma pequena amostra percebida – porque a percepção é essencial – que cria uma razão que se tenta
aplicar à série, é um argumento não necessário, probabilístico.
Charles Sanders Peirce diz que esta bipartição é insuficiente, que há
um terceiro método que as ciências utilizam, incluindo as mais duras, que
é a abdução. Na abdução também parte-se de um argumento não necessário,
abril/maio 2013 l correio APPOA
.77
temática.
é um argumento hipotético, que permite predizer a aparição de uma série
de fatos a serem verificados. Para Charles Sanders Peirce, no início há uma
hipótese, há critérios, há teoria.
Pierre Pichot diz que a classificação do DSM é ateórica e produzida por
consenso. Vou mostrar com um breve exemplo que isso não faz mais que
velar uma multiplicidade mesclada de teorias. Afirma que a classificação se
baseia em agrupamentos naturais de sintomas que é feita prescindindo de
outras razões. Leio de Pierre Pichot: "Há dois modelos psicopatológicos
fundamentalmente diferentes: o primeiro – que é o que embaralha, que está
na base do DSM – repousa sobre a descrição de síndromes, ou seja, de
constelações de sintomas associados na natureza por uma frequência maior
do que a de uma distribuição ao azar; o segundo –que é o que evidentemente ele questiona – funda-se sobre a noção de doença e postula a existência
de entidades naturais definidas ante tudo por sua ideologia e sua patogenia;
se o primeiro grupo é ateórico, o segundo não é, pois a doença implica com
efeito uma ideologia e uma patogenia específica". Propõe eliminar o conceito de etiologia e de patogenia. É o que permite que, em vez de usar a palavra
sintoma, diga transtorno. Ao não compreender-se qual é sua patogenia,
qual é sua causa, qual é a verdade que porta, somente se trata de transtornos a serem suprimidos.
Vou dar um exemplo do DSM IV, de como funciona. Por exemplo, na
seção que diz "Transtornos da personalidade", um deles é transtorno de
relação. Mas em outra seção que se chama "Transtornos de ansiedade" diz,
como um deles, fobia específica. E em outra seção distinta, que se chama
"Transtornos de ansiedade", diz angústia com agorafobia. Se eu pergunto a
vocês, colegas: evitação, fobia específica, angústia com agorafobia, não temos a neurose fóbica, o pequeno Hans ante nós? Mas se parto do pequeno
Hans que desfila ante nós, seu mal-estar tem uma causa, una etiologia, que
interroga o Outro, e o Outro não é só a família, é também a lógica coletiva,
a cultura na qual vive. Ao invocar uma etiologia também enuncia uma verdade, o sintoma do pequeno Hans diz algo do Outro.
78.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
A ciência positivista rechaça estas duas palavras: causa e verdade. Em
vez de causa diz correlações, em vez de verdade, modelo. Já que para nós
tampouco se trata da verdade segundo a escolástica, não é a verdade do
pensamento adequado à coisa. É uma verdade que implica, como disse
cada um de meus colegas, a dimensão do sujeito, um sintoma diz a verdade
do sujeito, qual e como é o Real ao qual responde, uma verdade que aponta
ao Real mas diz ao sujeito.
Tradução Paulo Gleich
abril/maio 2013 l correio APPOA
.79
temática.
Crítica aberta ao DSM IV
Alfredo Jerusalinsky
O DSM IV não se apresenta como um manual exclusivamente médico, mas como um manual de psicopatologia que inclui aspectos psicológicos e psíquicos, embora se autorize desde uma metodologia médica. Assim, o modo como inclui os aspectos não médicos está subordinado aos
princípios organicistas. O DSM IV não trata meramente de definir ou classificar os aspectos orgânicos das enfermidades psíquicas e psicológicas,
mas de reduzir toda e qualquer manifestação psíquica ou psicológica a um
determinismo pura e exclusivamente orgânico, abolindo toda e qualquer
causalidade psíquica. O que resulta em várias consequências:
1) A medicalização da vida cotidiana, especialmente no campo infantil.
2) A criação de, pelo menos, três epidemias falsas: a multiplicação
absurda dos diagnósticos de autismo (os diagnósticos passaram de
1/25000, em 1970, para 1/123, em 2007), a proliferação da bipolaridade, e a aberrante estatística de 1 a cada 5,88 crianças com TDAH.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.81
temática.
3) A supressão da categoria psicopatológica "Psicoses Infantis", provoca uma indiferenciação de critérios diagnósticos entre autismo e as
diferentes variantes das psicoses infantis, e confusão nas pesquisas
tanto neurobiológicas como psíquicas e psicológicas. Desta forma, o
DSM IV torna altamente improvável a seleção de uma amostra de
crianças verdadeiramente autistas para permitir pesquisas coerentes sobre as alterações genéticas que são significativamente frequentes no autismo, já que muitas das crianças ali incluídas podem não
ser efetivamente autistas, mas psicóticas e/ou deficientes. A
indiferenciação diagnóstica inspirada na tentativa de unificar os critérios diagnósticos (propósito certamente tão louvável como necessário) foi conduzida nesse manual para o procedimento da inclusão, nos quadros, de traços, signos e características psicológicas de
tal diversidade e abrangência que provoca uma extensão inusitada
nas diferentes categorias de doenças psiquiátricas. Esses quadros
psicopatológicos, assim ampliados na sua extensão populacional,
se correspondem – com curiosa, mas não surpreendente coincidência – com as invenções farmacológicas construídas a partir de descobertas neurobiológicas de grande importância e certamente verdadeiras, mas que, assim utilizadas, perdem completamente seu valor
científico. De fato, devido a enorme diversidade psíquica das pessoas diagnosticadas como se padecessem da mesma afecção
psicopatológica, os psiquiatras acabam fazendo da utilização dos
psicofármacos (a maior parte deles) um uso empírico e experimental, que muda a cada paciente. Os psiquiatras confessam, nas consultas, que é necessário ver, em cada um, o efeito que irá produzir
tal ou qual medicação e tal ou qual dosagem. Indicam ainda com
quais outras medicações deverão ser complementadas essas que foram receitadas, e cujos efeitos deverão ser vistos em tantos dias.
Que tal experimentalismo seja inevitável em certo grau em toda prática médica (ou psicoterapêutica também) não desculpa o fato de
82.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
que o DSM IV, com sua metodologia equivocada, arraste o necessário experimentalismo no território das aplicações medicamentosas
para o campo de um empirismo que captura muito mais gente do
que a que realmente mereceria esses cuidados.1
O DSM IV não é um manual com consequências exclusivas à prática
psiquiátrica (médica). Ele afeta – e não se priva de manifestá-lo explicitamente nas suas páginas – as práticas terapêuticas em geral ao suprimir as
categorias psicopatológicas que não se adaptam à sua metodologia e às suas
finalidades, desconhecendo ativamente sua existência. Também se especializa em suprimir toda e qualquer categoria psicanalítica, afastando qualquer referência a tratamentos nela inspirados. Ocorre que, precisamente, a
psicanálise trata a problemática mental desde o ângulo da causalidade psíquica que justamente fica abolida por este Manual.
O DSM IV não é simplesmente um manual médico. É um mau
manual médico. É muito mais uma ferramenta ideológica que uma ferramenta científica. Vemo-nos, então, na necessidade de criticar precisamente
sua falta evidente de cientificidade.
Os médicos e psiquiatras não se identificam em massa com ele.
Uma mostra disso é que, em 2012, o Psyquiatric London Royal College, ao
ser consultado pelo grupo de psiquiatria americano que está elaborando o
DSM V, se pronunciou com veementes críticas às consequências de sua
aplicação e de sua metodologia; especialmente se referiram às três falsas
epidemias que mencionamos acima.
É verdade que o Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública
não tem e nem deve ter como alvo qualquer enfrentamento com o âmbito
médico – até mesmo porque esse movimento não se caracteriza por inclusão ou exclusão de classes profissionais. Seu alvo é defender as contribuições que a psicanálise tem feito, e ainda tem a fazer nos campos do autismo,
1
São muito raras as pesquisas sobre hipocondria. E nenhuma delas financiada por laboratórios farmacêuticos.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.83
temática.
da psicopatologia, das práticas terapêuticas, da ciência e da saúde pública
– sendo que todos e cada um desses objetivos podem, de fato, estar encarnados em qualquer classe profissional, seja na clínica, na educação ou na
saúde.
A crítica ao DSM IV, a meu entender, é de indubitável pertinência a
esse movimento e, sabendo como sabemos que a insistência no seu uso
obedece muito mais a um poder do que à razão, surge uma questão fundamental: é vacilando perante o poder que vamos levar adiante a ética que
nos inspira?
84.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
Autismo: uma síndrome, diferentes
abordagens
Nilson Sibemberg
O autismo hoje não pode ser mais entendido apenas como uma posição subjetiva. O quadro psicopatológico tal qual conhecemos pela nomeação de Leo Kanner não apresenta uma causalidade única. Por esta razão é
considerado uma síndrome e classificado nos atuais manuais diagnósticos
em psiquiatria no campo dos transtornos do espectro autista. Relacionado
a causas genéticas, neurológicas e metabólicas, também secundário à deficiências sensoriais como a surdez profunda, ainda encontramos crianças
em posição de exclusão frente a demanda do Outro que não apresentam
nas avaliações genéticas, neurológicas, endocrinológicas e fonoaudiológicas
qualquer achado no real do corpo biológico. Considerando, na contramão
dos esforços daqueles que buscam de forma obsessiva por um marcador
biológico único, a noção de espectro, que inclui a variedade etiológica e de
sintomatologia, pensa-se ser um contrasenso estipular as terapias cognitivo
abril/maio 2013 l correio APPOA
.85
temática.
comportamentais como única modalidade de tratamento, além da
psicofarmacologia, para todos os casos de autismo.
Em agosto de 2012 o governo do estado de São Paulo lançou edital para
parceria com entidades e contratação de especialistas que tratam de crianças e adolescentes autistas colocando como condição para a contratação de
serviços a formação dos técnicos em terapia cognitivo comportamental. O
efeito deste édito foi a exclusão de profissionais e instituições que tem na
psicanálise a referência teórica e clínica entre aqueles que compõe o trabalho multiprofissional no tratamento de autistas. A reação do movimento
psicanalítico nacional foi imediata face ao acontecimento, que representa
uma resistência e um ataque à psicanálise. Fato que remete ao tempo em
que Freud (1976) escreveu o texto A questão da análise leiga.
Em 1926 Freud escreve a defesa da análise leiga para se contrapor a um
movimento de analistas, principalmente vindo das sociedades psicanalíticas americanas e defendido por Ernest Jones, que colocavam como condição para a formação analítica o ser médico. Neste momento, seu discípulo
Theodor Reik sofria um processo de charlatanismo movido por uma paciente pelo fato de não ser médico. O pai da psicanálise enfatiza que a psicanálise não é uma disciplina da psicologia, mais um tipo de psicoterapia,
tampouco, e principalmente, um ramo da ciência médica. O movimento ao
qual Freud se opôs parece ter buscado no pertencimento ao campo médico
e científico positivista uma saída à resistência que a psicanálise sofria do
mesmo grupo ao qual desejavam pertencer e serem reconhecidos.
A história se repete de multiplas formas, em diferentes lugares. As
tratativas de regulamentação da "profissão" nos Estados Unidos, França,
Itália e Brasil fazem parte do cenário atual. As leis de Estado, o discurso
científico hegemônico, se contrapõe aos princípios básicos e as regras fundamentais – associação livre e atenção flutuante – constituintes da praxis
psicanalítica e tão defendidas por seu fundador. O caso de São Paulo em
relação a direção do tratamento de crianças e adolescentes autistas é outra.
Neste caso, o Estado, através de seus aparelhos governamentais, reconhece
86.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
como legítimo e autoriza o desejo de exclusão da psicanálise por um grupo
da psiquiatria e da psicologia comportamental que defende a terapia cognitivo comportamental como única, dentro do conceito empírico e experimental de medicina baseada em evidências, válida para o tratamento de
pacientes diagnosticados dentro dos transtornos do espectro autista.
A reação deste grupo que resiste à psicanálise, não apenas no tratamento de autistas, mas à psicanálise em toda sua extensão, nos sucita duas
questões. Todas duas tem relação com o método científico experimental na
validação das práticas clínicas.
A primeira nos remete novamente a posição freudiana frente a questão da análise leiga. Criticar a psicanálise por não adotar o método verificacional da pesquisa empírico experimental corresponde a pensar que a
única garantia da verdade se encontra dentro dos cânones positivistas.
Portanto, aquilo que foge a identidade torna-se ameaçador. O discurso
científico situa a psicanálise como outro perseguidor, mas sua montagem
paranóica da mais um giro fazendo dela não mais o perseguidor e sim o
perseguido. O inconsciente, não podendo ser submetido ao método experimental, produz uma fenda no racionalismo empirista ao deslocar o saber
que se produz sobre o objeto para o sujeito do saber. Se o conhecimento
científico se faz na observação externa ao objeto pesquisado, na psicanálise o saber se encontra no interior do objeto a ser escutado. Para a psicanálise o objeto de que se trata é um sujeito falante. O que se exige da psicanálise é que se submeta aos métodos empírico-experimentais, que se torne uma igual no grupo. Porém, para isso, o método psicanalítico teria de
abdicar de um conceito chave que orienta sua práxis: a transferência. A
posição de Freud frente a relação da psicanálise com a medicina não aponta para uma exclusão, mas também não suporta o caminho da inclusão
totalitária. A psicanálise deixaria de ser psicanálise para ser uma psicologia
médica. Não obstante, abre espaço para campos interdisciplinares de debate, como é o caso, por exemplo, da psicossomática e, porquê não, da pesquisa e da clínica sobre o autismo. A psicanálise não é mais uma outra
abril/maio 2013 l correio APPOA
.87
temática.
especialidade médica, mas também não pode se furtar ao debate com o
discurso médico.
As pesquisas sobre o autismo tem demonstrado que esta relação é possível. Exemplo disso é o trabalho de Marie-Christine Laznik com pesquisadores médicos na França e Itália, bem como da pesquisa feita no Brasil
sobre os indicadores de risco para o desenvolvimento infantil que envolveu a intervenção de pediatras e reuniu conceitos psicanalíticos sobre a
estruturação do sujeito psíquico e do desenvolvimento infantil com o método estatístico. Se, por um lado, encontramos limites na avaliação psicanalítica das crianças que fizeram parte da pesquisa, já que elas não tiveram
seu diagnóstico a partir da relação transferencial que se dá no interior do
tratamento psicanalítico, por outro abriu a possibilidade para que os conhecimentos dela advindos permitissem aos pediatras a avaliação precoce
de sinais de risco para o desenvolvimento e estruturação do sujeito psíquico, solicitando posterior avaliação especializada. Entre os especialistas vamos encontrar de neuropediatras à psicanalistas (Pesaro, 2011).
A segunda questão diz respeito a validação científica das práticas clínicas preconizadas pelo discurso médico com relação ao tratamento de crianças e adolescentes com problemas globais do desenvolvimento.
É sabido que as pesquisas sobre o uso de psicofármacos na infância,
com estudos clínicos controlados e randomizados, são escassas. Por exemplo, o uso dos estabilizadores do humor, entre eles o Carbanato de Lítio,
para o tratamento dos transtornos do humor, não apresenta estudos suficientes para que possa ser classificado no grupo de medicações que apresenta evidência efetiva de seus resultados clínicos.³ Apesar de não ter respaldo no princípio da medicina baseada em evidências, o uso dos
estabilizadores do humor segue como indicação de tratamento para crianças e adolescentes com quadros de mania e depressão. São os estudos em
população adulta que respaldam seu uso em crianças. Faz-se assim uma
medicina centrada na experiência com adultos mesmo sabendo que o cérebro da criança é diferente. O sistema nervoso central da criança segue seus
88.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
processos maturativos até a adolescência e em alguns aspectos até a idade
adulta. Já com relação ao uso da Risperidona, sabemos que apresenta evidência suficiente no tratamento do autismo. Quando se diz isso é preciso
salientar que o efeito terapêutico se dá sobre sintomas alvo, como ansiedade, agitação psicomotora e agressividade. Psicofármacos não curam autismo.
O que está aqui colocado não indica que não se deva usar psicofármacos na
infância, mas que o risco/benefício ainda não está estabelecido de forma
científica para um número significativo de medicamentos usados até então
com adultos. Apesar da contradição, os psicofármacos vem sendo cada vez
mais prescritos para crianças e adolescentes.
No que diz respeito às terapias cognitivo-comportamentais no tratamento dos transtornos do espectro autista, verificamos limitações da mesma ordem que no uso dos psicofármacos. Não existem estudos científicos
suficientes que mostrem as evidências de seus resultados no tratamento do
autismo (Bosa, 2006). No entanto, as intervenções psicoeducacionais, os
treinamentos comportamentais de habilidades sociais e de linguagem pragmática seguem sendo preconizados indiscriminadamente para o tratamento
de todas as crianças e adolescentes diagnosticados no amplo espectro da
síndrome do autismo, não fazendo distinção em razão da etiologia e do
quadro clínico.
Sabemos que entre as crianças diagnosticadas dentro do espectro autista
estão aquelas que anteriormente ao DSM lll eram dignosticadas como
psicóticas. Hoje as psicoses infantis fazem parte do conjunto de crianças
incluidas majoritariamente na categoria dos autistas leves e verbais. A distinção que a psicanálise faz entre as psicoses infantis e o autismo não é uma
questão de taxonomia. Ao perceber a relação diferenciada entre as duas
estruturas com a linguagem e sua posição frente a demanda do Outro, permite armados específicos na direção do tratamento psicanalítico e das áreas
instrumentais, como a psicopedagogia e a fonoaudiologia.
A direção do tratamento psiquiátrico e da psicologia comportamental
para os transtornos do espectro autista aponta para a melhora de sintomas
abril/maio 2013 l correio APPOA
.89
temática.
alvo no campo da linguagem pragmática, do comportamento e das habilidades sociais. Portanto, crianças portadoras da síndrome do autismo levarão
sempre esse diagnóstico ao longo da vida. O caráter não decidido das estruturas clínicas na infância fica excluido deste campo clínico e de pesquisa.
A infância é o período da vida onde a maturação do sistema nervoso
central está em andamento. A estruturação da matriz simbólica da linguagem se faz atravessada pela matriz edípica. É na relação da criança ao fantasma do casal parental, ao fantasma e ao desejo materno, que se constitui
o sujeito psíquico na sua singularidade. A plasticidade neuronal depende
do investimento de desejo vindo do agente da função materna. É o exercício da função materna, atravessado pela função paterna, que articula o orgânico e o psíquico na estruturação do sujeito e marca as pautas do desenvolvimento infantil. Assim, as estruturas psíquicas na infância estão em constituição e podem não estar decididas antes da puberdade.
Não há autismo, senão autismos. Não há psicose, senão psicoses. O
que permite diferenciar um quadro de outro é a etiologia e a relação que a
criança é capaz de estabelecer com a linguagem. A direção do tratamento
inicia na avaliação das patologias que podem interferir na estruturação do
sistema nervoso central e também na posição em que a criança se encontra
diante do desejo e da demanda do Outro parental. Disso dependerá a condição de inscrição da criança no mundo da linguagem.
A sintomatologia autista na Síndrome de Rett depende mais do caráter
degenerativo do sistema nervoso central do que do desejo do Outro. A
fenilcetonúria, doença metabólica de caráter genético, se não tratada precocemente com dieta adequada, pode acarretar danos no sistema nervoso central. A Síndrome do X-frágil é uma doença genética que causa retardo mental e pode levar ao autismo. A agnosia verbo-auditiva é uma patologia do
lobo temporal que afeta a transformação do estímulo sonoro em linguagem.
No caso do autismo secundário à enfermidades que afetam de forma significativa o funcionamento do sistema nervoso central é comum encontrar
crianças com formações cognitivas deficitárias.
90.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Ainda que nos casos de autismo secundários à problemas orgânicos
encontremos no real do corpo a causa primária, não podemos esquecer o
quanto uma patologia no filho afeta o desejo dos pais, propiciando a construção de fantasias inconscientes e formações sintomáticas que podem
acrescentar mais dificuldades a estruturação do sujeito psíquico e ao desenvolvimento destas crianças.
Se no autismo de Kanner as crianças apresentam ausência de linguagem, nas psicoses infantis a relação com a linguagem está presente, ainda
que com falhas na função comunicativa com o outro. A falha na função
simbólica da linguagem na criança psicótica faz com que sua fala fique aquém
do discurso social compartilhado, dificultando a construção de relações
sociais e produzindo um funcionamento cognitivo particular onde os quadros de seriação, classificadores, espaciais e temporais vão se construindo
sem chegar a constituir sistemas. O conhecimento produzido pela criança
encontra barreiras para ser generalizado, ainda que algumas crianças
psicóticas possam chegar ao nível operatório da estruturação cognitiva
piagetiana. No que diz respeito a linguagem, ela pode aparecer de forma
fragmentada, como também na forma de uma linguagem ordenada na formação gramatical, ainda que a polissemia do significante esteja ausente. Já nas
crianças que apresentam quadros de intenso isolamento e ausência de linguagem, é necessário um trabalho psicanalítico prévio para que possam
tomar a demanda do outro fora da posição de exclusão que as caracteriza,
tornando-as aptas às intervenções educativas.
Diante da complexa relação entre os aspectos estruturais do desenvolvimento infantil, da relação entre o orgânico e o psíquico na estruturação
do sujeito, da plasticidade que caracteriza esta idade da vida, da variedade
de apresentações clínicas e etiológicas das crianças diagnosticadas dentro
do espectro autista, não parece plausível a prescrição absoluta de uma única forma de abordagem terapêutica para o problema.
A clínica dos problemas do desenvolvimento infantil não tem como
ser realizada senão em equipes multiprofissionais que atuem de forma inter
abril/maio 2013 l correio APPOA
.91
temática.
e transdisciplinar. A psicanálise se ocupa do corpo erógeno, mas o que dá
suporte ao mapa erógeno desenhado pela alíngua materna é um corpo real.
O sujeito psíquico não é a resposta do que se passa com um ou outro
corpo, mas da relação indissociável entre o real, o imaginário e o simbólico
em um corpo singular. Do real do corpo biológico a psicanálise tem pouco
a dizer, a palavra está com as pesquisas médicas. Porém, sobre o nó que se
arma entre linguagem e corpo, o sujeito psíquico em questão, tem muito a
contribuir, inclusive com as pesquisas médicas. Se um campo da ciência
médica aponta para a psicanálise seu desejo de exclusão, não será reagindo
também, e paradoxalmente, na posição de excluido que a psicanálise pode
responder. Alias, esta é a forma como o autista se coloca frente a demanda
de exclusão do Outro. A psicanálise não pode se fazer surda, em atitude de
negação às novas descobertas científicas no campo do autismo. Ao se recusar a ficar reduzida a uma especialidade médica, não pode se fechar numa
concha como defesa. Então que posição poderia adotar? Em se tratando das
pesquisas sobre o espectro autista, não se trata de desatar o nó da questão,
mas, pelo contrário, de insistir na construção de enlace com os parceiros
possíveis.
Referências bibliográficas
BOSA, Cleonice. Autismo: intervenções psicoeducacionais. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28 (Supl I), 2006, p. 47-53.
FREUD, Sigmund. A questão da análise leiga. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
PESARO, Maria Eugênia. Alcance e limites teórico-metodológicos da pesquisa multicêntrica de indicadores clínicos de risco para
o desenvolvimento infantil. Associação psicanalítica de Curitiba, em Revista, Curitiba, n. 22, 2011, p. 145-69.
92.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
Abordagem transdisciplinar
da complexidade estrutural
e clínica do autismo1
Alfredo Jerusalinsky
A experiência acumulada na clínica do autismo, desde a formulação
do quadro por Leo Kanner em 1943 e os avanços produzidos na pesquisa
básica, nos permitem diferenciar tipos de autismo, assim como aconteceu
na história das classificações tangente às psicoses.
Aparecem três grandes linhas para orientar nossa classificação atual:
1) As diferenças etiológicas. 2) As diferentes formas de funcionamento. 3)
As diferenças de estrutura psíquica. Nenhuma dessas três linhas de análise requer qualquer procedimento estatístico já que elas se alicerçam na
interpretação do valor que cada um dos signos psicopatológicos tem em
1
Este texto está em elaboração para apresentação na Jornada Inaugural do Laboratório de Psicopatologia do Departamento de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UNICAMP que acontecerá em 2 de maio de 2013. Também foi enviado ao Ministério de Saúde
para fazer parte da consulta pública realizada no mês de março último acerca do documento proposto por esse mesmo Ministério
para estabelecer as diretrizes do atendimento do autismo no país.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.93
temática.
relação com o conjunto deles. Trata-se de identificar qual ou quais termos
da manifestação clínica tem ou não valor determinante. Assim, um termo
que em determinadas condições pode ser causal, em outras não o é. 2
Essas linhas classificatórias não devem ser reciprocamente excludentes precisamente porque a sua articulação interdisciplinar resulta imprescindível para a abordagem atual da complexidade do autismo, tanto no
campo da pesquisa quanto na orientação e escolha das abordagens terapêuticas no caso a caso.
No que tange à etiologia, os conhecimentos atuais permitem uma classificação da variedade de manifestações autistas que se registram na clínica,
baseada na formulação de hipóteses causais. Hipóteses, por que em nenhuma das formas do autismo tem sido possível, até o momento atual, determinar fatores indubitavelmente causais.
Não há provas de uma correlação patognomônica que permita afirmar
relações invariáveis de causalidade entre etiologia e formas de funcionamento mental – salvo nos casos de síndromes ou doenças do SNC especificadas
–, e, por outro lado, existindo provas da capacidade do funcionamento mental para provocar modificações no SNC, e considerando também não haver
provas de causalidade específica do autismo nessa direção (embora existam
pesquisas que demonstrem alta correlação entre formas de funcionamento e
autismo de um modo geral, e também com variantes genéticas até o momento
inespecíficas), parece-nos necessário formular as etiologias como hipóteses.
Trata-se da tentativa de evidenciar nas classificações o estado de nossos conhecimentos e as diferenciações necessárias aos campos de pesquisa, incluindo, ao mesmo tempo as articulações entre genética, epigenética,
neurologia, psicologia, psiquiatria e psicanálise, na tentativa de produzirmos avanços na articulação e na diferenciação entre o orgânico e o psíquico
num quadro que, como o autismo, abrange essa complexidade.
2
Nos referimos ao conceito freudiano de "sobredeterminação".
94. correio
APPOA l abril 2013
Dar a palavra aos autistas.
Se, no campo orgânico, nos encontramos com complexas articulações
entre genética, epigenética e neurobiologia, também no campo psíquico nos
encontramos com complexas articulações entre a psicologia do funcionamento lógico e os níveis de subjetivação. O que implica, necessariamente,
considerar os aportes da psicologia e a experiência clínica e conceitual psicanalítica nesse campo.
1. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ETIOLOGIA
1.1 Primários
1.1.1 Hipótese de transtornos específicos de linguagem
1.1.1.1 Afasia compreensiva
1.1.1.2 Afasia expressiva
1.1.1.3 Retardo anártrico central
1.1.2 Hipótese genética – neurológica.
1.1.2.1 Síndromes definidas (Por ex. Síndrome de Rett,
Síndrome de x frágil, hipercalcemia idiopática, Síndrome
de Jubert, Síndrome de Angelman, Síndrome de West).
1.1.2.2 Síndromes não definidas (variantes genéticas
parcialmente correlacionadas com manifestações autísticas
e de possível valor causal).
1.1.2.3 Pobreza sináptica no sulco temporal superior esquerdo
(Zilbovicius, 2006).
1.1.3 Hipótese psicanalítica (transtornos nos processos de
construção do sujeito psíquico).
1.1.3.1 Ruptura da função de reconhecimento recíproco entre
o bebê e seu cuidador primário.
1.1.3.2 Rompimento precoce das identificações primordiais.
1.1.3.3 Rompimento precoce das identificações primárias.
1.1.3.4 Prevalência dos automatismos neurobiológicos (reflexos
e/ou reativos) sobre as tentativas parentais de simbolizar as
abril/maio 2013 l correio APPOA
.95
temática.
atividades corporais. Dificuldade ou impossibilidade de
passagem do primeiro ao segundo tempo da pulsão. (Para dar
curso à construção do sujeito que opere na modelagem do
funcionamento cerebral3, o bebê precisa parar de se fazer a si
próprio – primeiro tempo da pulsão – e passar a se fazer pelo
outro – segundo tempo da pulsão) (Laznik, M. C. 1992).
2. Secundários
2.1 À deficiências sensoriais
2.1.1 Hipo e hiperacúsias severas.
2.1.2 Cegueiras e ambliopias
2.1.3 Diminuição do sensório
2.2 À danos cerebrais
2.2.1 Anoxias perinatais
2.2.2 Sequelas infecciosas
2.2.3 Toxemias
2.2.4 Sequelas traumáticas
2.3 À rompimento abrupto dos vínculos primários essenciais
2.3.1 Hospitalismo
2.3.2 Intercorrências invasivas e dolorosas
2.3.3 Separação abrupta da criança de suas figuras parentais
no momento em que já tenham sido estabelecidas incipientes
identificações primárias.
2.3.4 Variações constantes de moradias, línguas e cuidadores
primários antes dos 3 anos.
No que tange às possíveis classificações do ponto de vista do comportamento e do funcionamento existem já proposições tais como "autismo de
alto funcionamento" (se refere ao padrão intelectual), "autistas hiperativos",
3
É importante lembrar aqui do conceito de neuroplasticidade e da plasticidade do ADN mitocondrial, seguindo as mais recentes
descobertas neurobiológicas que confirmam a decisiva incidência do entorno na configuração pós-natal do funcionamento
cerebral.
96.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
"autistas depressivos". A síndrome de Asperger (que agrupa um conjunto
de autistas com sintomas obsessivos). Quando se trata do comportamento,
esta classificação toma uma forma descritiva (o DSM 4, ou o M-CHAT, por
exemplo). Mas quando se tratam das funções cognitivas resulta imprescindível uma abordagem estrutural não positivista, tal como a psicologia genética de Jean Piaget, para lograr compreender o grau de complexidade lógica
e o método do pensamento desse autista em particular (já que de muito
pouco vale na abordagem clínica ter a medida do QI – seguramente, por
acréscimo, instável e desarmônico).
A respeito de uma classificação segundo a estrutura psíquica, ela se
organiza a partir do quadro etiológico aqui proposto articulado às categorias de análise (supor um sujeito, estabelecer a demanda, alternância presença-ausência, função paterna) estabelecidas e verificadas pelo IRDI - (Indicadores de risco para o desenvolvimento infantil4). Tratando-se da estrutura
psíquica mais do que de uma classificação, referimo-nos a uma compreensão do modo particular e singular em que o processo de construção do
sujeito psíquico está acontecendo em cada indivíduo. O que garante que o
diagnóstico não se converta numa profecia autocumprida.
Algumas considerações sobre a abordagem clínica
A ampla variedade etiológica, de funcionamento e de estrutura como
se apresenta clinicamente o autismo contrasta com a regularidade com que
se apresenta nele um pequeno conjunto de signos e sintomas. Uma pergunta pertinente, então, é, se o conceito de Espectro – que permitiu criar
uma categoria vasta e abrangente, mas, numa certa medida, inespecífica –
ajuda ou confunde para a unificação de critérios no que tange a diagnósticos e pesquisas. Do ponto de vista da abordagem terapêutica essa
inespecificidade do diagnóstico, que assim unifica sob uma mesma categoria casos clínicos diferenciados fortemente entre si, facilita a aplicação de
4
Kupfer, Jerusalinsky, Rocha, Infante et alii, 2009
abril/maio 2013 l correio APPOA
.97
temática.
um método padrão para a terapêutica de todo e qualquer autista. Suprimese assim, a interrogação pela singularidade, que permite abordar cada caso
sob a forma específica de sua condição clínica.
Não se trata da mesma forma um paciente terminal e um paciente com
manifestações incipientes, embora possa tratar-se do mesmo mal.
A consulta aos pais das crianças autistas geralmente se endereça às
associações de pais de crianças autistas e, portanto, não se endereça aos
pais das crianças que se curaram ou melhoraram o suficiente para não mais
serem consideradas autistas. Isso acontece pelo simples motivo de que,
quando as coisas assim acontecem, esses afortunados pais, como é natural,
não tenham vontade alguma de continuar a falar do assunto, e tampouco
formam parte das associações de pais de autistas pois o motivo que teriam
para isso desapareceu. Não parece nada sensato aplicar o mesmo método
de tratamento para toda a escala de gravidade e todo e qualquer momento
da afecção, seja na hora de sua incipiência, ou na de sua cronificação.
Compreende-se que, onde pouco de sujeito se logrou construir, surja a
necessidade de métodos ao menos adaptativos. Mas não pode ser essa a
conduta generalizada quando – nas épocas precoces da vida – o processo
de construção do sujeito ainda está em andamento ou, principalmente ,
quando está nos seus primórdios.
É preciso ressaltar que, na medida em que nos humanos os objetos não
têm uma significação fixa transmitida por herança genética, precisa-se de
um outro que transmita uma significação. As significações dos objetos, das
situações, das coisas e das pessoas, como bem sabemos, são infinitamente
variáveis entre famílias, indivíduos, culturas, grupos e, ainda, variáveis em
cada momento ou circunstância. Preparar alguém para morar no nosso
mundo implica necessariamente dotá-lo dessa estrutura interior que lhe
permita interpretar as significações que se operam para cada objeto e circunstância de forma variável. Mais ainda, que lhe permita operar para transformar essas significações. É nisso que consiste um sujeito.
Às vezes ele é possível e à vezes, impossível.
98.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Mas declarar sua impossibilidade de início, quando ainda nada foi
tentado nessa direção, é condená-lo a um padrão fixo de interpretação cujo
raio de variabilidade muito pouco alcança a se distanciar de seu centro,
comprometendo suas possibilidades de resposta a situações e circunstancias
que fogem dos padrões típicos contemplados no treinamento recebido.
É verdade que qualquer um pode ficar feliz na sua pobreza significante. Mas, é cada um com suas possíveis limitações e capacidades constitucionais e não os outros quem têm que decidir sobre a medida de essa
eventual pobreza.
Apêndice
Algumas considerações metodológicas
Durante o século XX se desdobraram duas grandes correntes de pensamento no campo científico, constituindo duas epistemologias com
enfrentamentos metodológicos: o positivismo – que sustenta que a verdade
se produz no experimento –, e o estruturalismo – que sustenta que a verdade se deduz de um deciframento. A lógica que cada uma dessas correntes
utiliza é diferente: o positivismo de uma lógica das correlações e, portanto,
probabilística; enquanto o estruturalismo se serve de uma lógica operacional
e, portanto, das transformações.
Tratando-se então de duas formas totalmente diferentes de produção
de verdades, não parece pertinente que uma exija da outra que cumpra
suas condições metodológicas. Pelo contrário, é no livre exercício dos sistemas de pensamento, num constante debate interdisciplinar, que podem
surgir questionamentos que levam a descobertas significativas. Por isso,
advogar pela supressão política de qualquer uma dessas correntes é totalmente contrário à ética da cientificidade.
Por que a psicanálise contribui para a compreensão
e a terapia do autismo
Hoje em dia é lugar comum afirmar que a psicanálise tem como mérito
fundamental a descoberta do inconsciente. Dessa descoberta atualmente se
abril/maio 2013 l correio APPOA
.99
temática.
servem, explícita ou implicitamente, as mais diversas produções: pesquisas das artes e das ciências. Dito de outro modo se, por um lado, os artistas
não vacilam em aceitar que há significações que surgem escapando ao controle egoico, por outro, os cientistas não cessam de criar sistemas de controle de processos experimentais e seus resultados, por que – embora não o
saibam – desconfiam da objetividade de sua percepção. Por um lado os
artistas confiam cada vez mais no desvelamento de um sentido oculto, e
por outro os artefatos científicos se multiplicam para preservar o experimento das influencias da subjetividade do experimentador, ou seja: os
cientistas desconfiam cada vez mais de si mesmos.
Tal a prova social mais escancarada da existência inquestionável do
inconsciente.
Mas, surge então a questão de saber se esse inconsciente é inato ou é
produto de uma transmissão psicológica operada pelos pais sobre a criança. Há consenso de que é a incidência da linguagem que produz o efeito
residual do Real que compõe o inconsciente. Portanto, o inconsciente é
produto de uma construção, na medida em que a linguagem não é inata,
mas adquirida, embora efetivamente existam estruturas cerebrais plásticas
e predispostas para o registro de sua inscrição. Tal indeterminação originária é o que explica a diversidade infinita das formas de pensamento e,
portanto, as diferenças subjetivas e culturais.
Eis aqui que registramos outra fundamental descoberta da psicanálise
que, amparada na metodologia estruturalista, joga luz sobre os processos
de construção do sujeito psíquico.
Na medida em que o autismo é precisamente a forma psicopatológica
em que mais radicalmente se manifesta a ausência ou debilidade extrema
do sujeito, é precisamente ali onde a psicanálise faz seu principal aporte
para sua terapia: o percurso passo a passo da construção desse sujeito que
tropeça com formações (sejam biológicas ou fantasmáticas) que resistem às
operações necessárias para sua estruturação originária.
100.
correio APPOA l abril/maio 2013
temática.
A psiquiatria biológica: uma bolha
especulativa?1
François Gonon2
O discurso da psiquiatria biológica afirma que todos os transtornos
mentais podem e devem ser compreendidos como doenças do cérebro. Evidentemente, há casos ou sintomas de aparência psiquiátrica que têm causas cerebrais identificáveis e tratáveis. Por exemplo, um tumor hipofisário
pode causar os sintomas de uma depressão bipolar. Os progressos da
neurobiologia, das imagens cerebrais e da neurocirurgia permitem tratar
esses casos que pareceriam dizer respeito à psiquiatria, e aparecem agora
como concernindo à neurologia. Pode-se deduzir que, em um futuro próxi-
1
Texto disponível em http://esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=36379&folder=2 Acesso em mar/2013.
2
Neurobiólogo, diretor de pesquisa CNRS no instituto de doenças degenerativas da Universiteì de Bordeaux. Esse texto se apoia
entre outros sobre estudos realizados pelo autor e seus colaboradores com o apoio do CNRS (Centre national de la recherche
scientifique) da região Aquitaine e do Instituto de ciências da comunicação do CNRS. No entanto, as opiniões aqui expressas
comprometem apenas o autor. Contato: [email protected]
abril/maio 2013 l correio APPOA
.101
temática.
mo, todos os transtornos psiquiátricos poderão ser descritos em termos
neurológicos e então curados sobre as bases desses novos conhecimentos?
Se esta ambição fosse fundada, a psiquiatria biológica representaria
efetivamente uma ruptura epistemológica na história da psiquiatria. Para
que assim fosse, seria necessário poder constatar um aporte substancial da
neurobiologia à pratica psiquiátrica ou, ao menos, uma perspectiva realista
de um tal aporte no que tange os transtornos mentais mais frequentes. A
primeira parte desse texto apresenta as dúvidas que os expertos reconhecidos da psiquiatria biológica exprimem atualmente nas maiores revistas
americanas a propósito dessa ambição.
Várias aproximações, que não são mutuamente exclusivas, permitem
apreender as causas dos transtornos mentais: neurobiologia, psicologia e
sociologia. No entanto, segundo um recente estudo americano3, o grande
público adere cada vez mais a uma concepção exclusivamente neurobiológica
dos transtornos mentais. O jornalista Ethan Watters escreveu recentemente
no The New York Times um longo artigo onde ele mostra que a psiquiatria
americana tende a impor ao resto do mundo sua concepção estritamente
neurobiológica das doenças mentais4. Ele sublinha que esta difusão não é,
porém, devida ao sucesso da psiquiatria americana: o número dos pacientes não diminuiu nos Estados Unidos, muito pelo contrário. O discurso
que privilegia a concepção neurobiológica dos transtornos mentais parece,
pois, evoluir independentemente dos progressos da neurobiologia. Daniel
Luchins foi por muito tempo a primeira autoridade médica em psiquiatria
clínica no estado de Illinois. Segundo ele, esse discurso reducionista não
serve senão para eludir as questões sociais e para deixar de lado as medidas de prevenção dos transtornos mentais mais frequentes5. Seguindo ele,
3
B. A. Pescosolido, J. K. Martin, J. S. Long et al., "‘A Disease Like any Other’? A Decade of Change in Public Reactions to
Schizophrenia, Depression, and Alcohol Dependence", American Journal of Psychiatry, 2010, vol. 167, no 11, p. 1321-1330.
4
E. Watters, "The Americanization of Mental Illness", The New York Times, 8 de janeiro de 2010.
5
D. J. Luchins, "At Issue: Will the Term Brain Disease Reduce Stigma and Promote Parity for Mental Illnesses?", Schizophrenia
Bulletin, 2004, vol. 30, no 4, p. 1043-1048. Id., "The Future of Mental Health Care and the Limits of the Behavioral Neurosciences",
Journal of Nervous and Mental Disease, 2010, vol. 198, no 6, p. 395-398.
102.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
nos interrogaremos sobre os modos de produção desse discurso, sobre suas
consequências sociais e sua interpretação sociológica.
As interrogações da psiquiatria biológica – Da esperança
à dúvida
A classificação das doenças mentais proposta pela American Psychiatric
Association (APA) em 1980 no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-3) estava em ruptura com as classificações precedentes,
porque ela se queria ateórica a fim de melhorar a fiabilidade e a validade dos
diagnósticos. Tratava-se também de facilitar as pesquisas biológicas e clínicas, definindo grupos de pacientes homogêneos. A meta era fazer a psiquiatria entrar no campo da medicina científica, elaborando uma neuropatologia
que ligasse causalmente disfunções neurobiológicas aos transtornos mentais.
Na época, esta esperança podia parecer razoável: as neurociências já tinham
alcançado resultados na neurologia (por exemplo, o tratamento do mal de
Parkinson) e a descoberta de medicamentos psicotrópicos eficazes, proveniente de observações clínicas fortuitas, mostrando que era possível agir sobre
o funcionamento cerebral com a ajuda de uma química apropriada.
Trinta anos depois, a esperança dá lugar à dúvida. Em um artigo publicado no dia 12 de fevereiro de 2010 pela muito famosa revista Science, dois
redatores escrevem: "Quando a primeira conferência de preparação do DSM5 teve lugar em 1999, os participantes estavam convencidos de que logo
seria possível sustentar o diagnóstico de numerosos transtornos mentais
pelos indicadores biológicos tais como testes genéticos ou observações por
imagens cerebrais. Enquanto a redação do DSM-5 está em curso, os responsáveis da APA reconhecem que nenhum indicador biológico é suficientemente confiável para merecer figurar nesta nova versão6." Vários artigos
parecidos recentemente publicados nas maiores revistas científicas americanas desenvolveram a mesma constatação. Ainda mais radicalmente, em
6
G. Miller e C. Holden, "Proposed Revisions to Psychiatry’s Canon Unveiled", Science, 2010, vol. 327, p. 770-771.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.103
temática.
um artigo de 19 de março de 2010, a revista Science reportou uma nova
iniciativa do National Institute of Mental Health (NIMH), o principal organismo americano de pesquisa em psiquiatria biológica7. O NIMH se propõe
a financiar pesquisas por fora do DSM a fim "de mudar a maneira como os
pesquisadores estudam os transtornos mentais" porque, segundo Steven
Hyman, ex-diretor do NIMH, "a classificação destes transtornos segundo o
DSM travou a pesquisa".
Os avanços em matéria de medicamentos psicotrópicos também foram
igualmente decepcionantes. No numero de outubro de 2010 da revista Nature
Neuroscience, Steven Hyman e Eric Nestler, outro grande nome da psiquiatria americana, escrevem: "Os alvos moleculares das principais classes de
medicamentos psicotrópicos atualmente disponíveis foram definidos a partir
de medicamentos descobertos nos anos 1960 após observações clínicas8." A
constatação atual é, portanto, clara: as pesquisas em neurociências não resultaram nem no desenvolvimento de indicadores biológicos das doenças psiquiátricas, nem em novas classes de medicamentos psicotrópicos.
As incertezas da genética
Em um editorial de 12 de outubro de 1990 na revista Science, podia-se
ler: "A esquizofrenia e outras doenças psiquiátricas têm provavelmente uma
origem poligenética. O sequenciamento do genoma humano será um instrumento essencial para compreender estas doenças." No entanto, se esta
sequenciação foi terminada mais rápido que o previsto, a análise do genoma
inteiro de aproximadamente setecentos e cinquenta esquizofrênicos não foi
suficiente para evidenciar anomalias genéticas9. Ela nem sequer encontrou
o gene defeituoso que fora identificado em uma família escocesa. Para os
transtornos mais frequentes, como o déficit de atenção com hiperatividade
7
G. Miller, "Beyond DSM: Seeking a Brain-Based Classification of Mental Illness", Science, 2010, vol. 327, p. 1437.
8
E. J. Nestler e S. E. Hyman, "Animal Models of Neuropsychiatric Disorders", Nature Neuroscience, 2010, vol. 13, no 10, p. 11611169.
9
A. Abbott, "The Brains of the Family", Nature, 2008, vol. 454, p. 154-157.
104.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
(TDAH), os estudos iniciais nos anos 1990 tinham aportado resultados
muito encorajadores, mas que não foram confirmados. Atualmente, o rápido desenvolvimento das tecnologias genéticas e o recrutamento de milhares de pacientes conduzem à constatação inversa: os efeitos genéticos aparecem cada vez mais inconsistentes. Como disse Sonuga-Barke, um dos
líderes da pedopsiquiatria inglesa, "mesmo os defensores mais inflamados
de uma visão genética determinista reveêm suas concepções e aceitam um
papel central do ambiente no desenvolvimento dos transtornos mentais10".
Em última análise, a genética identificou apenas algumas anomalias genéticas nas quais as alterações não explicam mais que uma porcentagem muito
pequena de casos e unicamente para os transtornos psiquiátricos mais severos: autismo, esquizofrenia, retardo mental e transtorno bipolar de tipo I (ou
seja, com episódio maníaco com necessidade de hospitalização). Na verdade,
a porcentagem de casos explicados pelas anomalias genéticas é mais elevada
para o autismo e não chega a 5%. Fora esses raros casos de ligação causal, a
genética não identificou mais que fatores de risco, que são sempre inconsistentes. O alcance dessas observações, tanto do ponto de vista do diagnóstico
como da pesquisa de novos tratamentos, é portanto limitado11.
Alguns desses estudos genéticos recentes foram publicados em revistas científicas muito renomadas. A mídia os apresentou logo como descobertas de ponta. É curioso constatar que esses famosos estudos se apoiam
com frequência sobre outros mais antigos que mostram que o transtorno
psiquiátrico em questão é fortemente hereditário. É evidente há muito tempo que os transtornos psiquiátricos são mais frequentes em certas famílias.
Os estudos comparando os verdadeiros e os falsos gêmeos permitindo
medir a herdabilidade de um transtorno. Segundo a maioria desses estudos, a herdabilidade parece ser frequentemente bastante consistente na
psiquiatria: de 35% para a depressão unipolar até 70-90% para o autismo e
10
E. J. Sonuga-Barke, "Editorial: ‘It’s the Environment Stupid!’ On Epigenetics, Programming and Plasticity in Child Mental Health",
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2010, vol. 51, no 2, p. 113-115.
11
J. P. Evans, E. M. Meslin, T. M. Marteau et al., "Deflating the Genomic Bubble", Science, 2011, vol. 331, p. 861-862. J. Z. Sadler,
"Psychiatric Molecular Genetics and the Ethics of Social Promises", Bioethical Inquiry, 2011, vol. 8, p. 27-34.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.105
temática.
a esquizofrenia12. Contudo, uma herdabilidade elevada não indica necessariamente uma causa genética. Na verdade, os estudos de herdabilidade não
conseguem distinguir entre puros efeitos de genes e interações entre genes
e ambiente, o que explica que numerosas doenças microbianas como a tuberculose apresentam igualmente uma herdabilidade de 70 a 80%13.
Por uma hierarquização dos transtornos mentais
As doenças mentais muito incapacitantes (autismo, esquizofrenia, retardo mental) não afetam, nenhuma, além de 1% da população, sem diferença maior de uma cultura para outra14. Sua herdabilidade é alta, falhas
genéticas já explicam alguns casos e as mutações de novo15 têm um papel já
que sua prevalência aumenta com a idade do pai. É pois provável que a
contribuição de falhas genéticas a sua etiologia seja substancial. Por outro
lado, a prevalência dos transtornos mais frequentes varia conforme as culturas. Por exemplo, os transtornos de humor aparecem duas a três vezes
mais frequentemente na França e nos Estados Unidos que na Itália ou no
Japão16. Os fatores ambientais influenciam fortemente na ocorrência desses
transtornos. Por exemplo, a depressão, assim como os transtornos de ansiedade são mais frequentes nas famílias de baixa renda. Os genes contribuem eventualmente na sua etiologia, apenas em interação com o ambiente17.
Estas considerações conduziram Rudolph a distinguir entre doenças
muito invalidantes, pouco frequentes e com forte componente genético provável por um lado, e transtornos frequentes e com forte componente
12
S. E. Hyman, "A Glimmer of Light for Neuropsychiatric Disorders", Nature, 2008, vol. 455, p. 890-893. R. Uher, "The Role of Genetic
Variation in the Causation of Mental Illness: An Evolution-Informed Framework", Molecular Psychiatry, 2009, vol. 14, no 12, p. 1072-1082.
13
P. M. Visscher, W. G. Hill e N. R. Wray, "Heritability in the Genomics Era-Concepts and Misconceptions", Nature Reviews Genetics,
2008, vol. 9, no 4, p. 255-266.
14
S. E. Hyman, "A Glimmer of Light..." art. Cit., e R. Uher, "The Role of Genetic Variation...", art. cit.
15
Mutação genética que acomete um indivíduo e que não aparece no patrimônio genético de seus pais. (N.T.)
16
K. Demyttenaere, R. Bruffaerts, J. Posada-Villa et al., "Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment of Mental Disorders
in the World Health Organization World Mental Health Surveys", Journal of the American Medical Association (JAMA), 2004, vol.
291, no 21, p. 2581- 2590.
17
R. Uher, "The Role of Genetic Variation...", art. cit.
106.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
ambiental de outro18. Neste segundo grupo, a maioria dos pacientes sofre
de vários transtornos (por exemplo, depressão e ansiedade). É, portanto,
muito difícil estabelecer grupos de pacientes homogêneos, o que complica
ainda mais a pesquisa de disfunções neurobiológicas associadas a um transtorno específico. E também é evidente que um estado cronicamente
hiperativo, depressivo ou ansioso afeta numerosas redes neuronais, para
não dizer todo o cérebro. No estado atual dos conhecimentos, parece portanto ilusório esperar descobrir um alvo molecular especificamente responsável pelos transtornos frequentes.
Para as doenças psiquiátricas severas, os medicamentos psicotrópicos
descobertos nos anos 1950 e 1960 representaram um grande progresso. Em
compensação, os tratamentos medicamentosos são pouco eficazes a longo
prazo para os transtornos frequentes. Por exemplo, os psicoestimulantes
são eficazes a curto prazo para aliviar os sintomas da hiperatividade (TDAH),
mas eles não protegem contra os riscos aumentados de delinquência, toxicomania e fracasso escolar, que são mais elevados (duas a quatro vezes) nas
crianças que sofrem de TDAH19. Do mesmo modo, após um tratamento com
antidepressivos, a taxa de recaída é da ordem de 70%20 e a diferença de um
tratamento placebo é um pouco significativa apenas nas depressões mais
severas21. Em compensação, as psicoterapias são consideradas eficazes nos
Estados Unidos22, e incluindo aquelas com referência à psicanálise23.
18
Ibid.
19
F. Gonon, J.-M. Guileì e D. Cohen, “Le trouble deìficitaire de l’attention avec hyperactiviteì: donneìes reìcentes des neurosciences
et de l’expeìrience nord-ameìricaine”, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2010, vol. 58, p. 273-281.
20
M. H. Trivedi, A. J. Rush, S. R. Wisniewski et al., "Evaluation of Outcomes with Citalopram for Depression Using MeasurementBased Care in STAR*D: Implications for Clinical Practice", American Journal of Psychiatry, 2006, vol. 163, no 1, p. 28-40.
21
I. Kirsch, B. J. Deacon, T. B. Huedo-Medina et al., "Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted
to the Food and Drug Administration", PLoS Med, 2008, vol. 5, no 2, p. e45. J.-C. Fournier, R. J. DeRubeis, S. D. Hollon et al.,
"Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-Analysis", JAMA, 2010, vol. 303, no 1, p. 47-53.
22
J. R. Davidson, "Major Depressive Disorder Treatment Guidelines in America and Europe", Journal of Clinical Psychiatry, 2010,
vol. 71, suppl. E1, p. e04.
23
F. Leichsenring e S. Rabung, "Effectiveness of Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: A Meta-Analysis", JAMA, 2008, vol.
300, no 13, p. 1551-1565. P. Knekt, O. Lindfors, M. A. Laaksonen et al., "Quasi-Experimental Study on the Effectiveness of
Psychoanalysis, Long-Term and Short-Term Psychotherapy on Psychiatric Symptoms, Work Ability and Functional Capacity During
a 5-Year Follow-up", Journal of Affective Disorders, 2011, vol. 132, p. 37-47.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.107
temática.
Os progressos da epigenética
A ação dos genes sobre a atividade celular não depende somente da
sequência do DNA. O DNA programa a síntese das proteínas, mas a intensidade dessa transcrição da informação gênica é influenciada por numerosos fatores ambientais. A epigenética consiste em estudar as alterações da
atividade dos genes que não são devidas a variações da sequência de DNA.
Ela pesquisa os mecanismos moleculares que explicam que um fator
ambiental, por exemplo maus-tratos severos na infância, possa acarretar
modificações profundas, duráveis e às vezes transmissíveis à geração seguinte na atividade gênica. No domínio das neurociências, os estudos de
epigenética estão em pleno crescimento: o número de artigos multiplicouse por dez entre 2000 e 2010. No entanto, os estudos de Victor Denenberg
mostraram desde 1963 que o comportamento de ratos adultos poderia ser
influenciado pelas experiências vividas por sua mãe durante os primeiros
dias24. Os trabalhos mais recentes confirmaram que a qualidade dos cuidados da mãe com seus ratinhos influencia seu comportamento na idade adulta
e mostraram que vários parâmetros neurobiológicos, dentre os quais a resposta hormonal ao estresse, são duradouramente afetados25. Os efeitos do
ambiente precoce se exercem tanto negativa como positivamente: cuidados
maternais de melhor qualidade ou mesmo estresse moderado nos primeiros dias favorecem no animal adulto a sociabilidade e a resiliência ao
estresse26. Os mecanismos moleculares correlacionados a essas modificações epigenéticas, como a metilação dos genes, começam a ser descritos
entre animais, mas também entre humanos. Por exemplo, o exame do gene
codificador do promotor de um receptor de hormônios glucocorticóides
com um grupo de homens falecidos por suicídio mostrou uma maior
24
V. H. Denenberg e K. M. Rosenberg, "Nongenetic Transmission of Information", Nature, 1967, vol. 216, p. 549-550.
25
D. Francis, J. Diorio, D. Liu et al., "Nongenomic Transmission Across Generations of Maternal Behavior and Stress Responses
in the Rat", Science, 1999, vol. 286, p. 1155-1158. D. Liu, J. Diorio, J. C. Day et al., "Maternal care, Hippocampal Synaptogenesis
and Cognitive Development in Rats", Nature Neuroscience, 2000, vol. 3, no 8, p. 799-806.
26
T. L. Bale, T. Z. Baram, A. S. Brown et al., "Early Life Programming and Neurodevelopmental Disorders", Biological Psychiatry,
2010, vol. 68, no 4, p. 314-319.
108.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
metilação desse gene e uma baixa de sua atividade entre aqueles que foram
severamente maltratados durante sua infância27.
Em um artigo de síntese assinado por Eric Nestler, Thomas Insel (o
atual diretor do NIMH) e outros grandes nomes da psiquiatria americana,
os autores destacam que os estudos epigenéticos começam a revelar as bases biológicas daquilo que era conhecido há tempos pelos clínicos: as experiências precoces condicionam a saúde mental dos adultos28. Depois de
três decênios decepcionantes de pesquisa das causas genéticas dos transtornos psiquiátricos, esse novo eixo de pesquisa da psiquiatria biológica
tem o mérito de recolocar à frente da cena os fatores de risco ambientais dos
períodos pré e pós-natais. Dessa maneira, os estudos epidemiológicos, que
colocaram em evidência os fatores de risco sociais e econômicos, reencontram crédito, assim como as ações preventivas destinadas às crianças pequenas e seus pais. Um artigo extraordinário, publicado em setembro de
2010 na prestigiosa revista Nature Reviews Neuroscience, discute a ligação
entre pobreza e saúde mental a partir de uma grande diversidade de estudos (sociologia, economia, psicologia, psiquiatria e neurobiologia). Os autores concluem: "Por consequência, deveria dar-se prioridade a políticas e
programas que reduzem o estresse parental, aumentando o bem-estar emocional dos pais e lhes assegurando recursos materiais suficientes.29"
Para Nestler, Insel e seus coautores, as novas tecnologias permitirão
"sem dúvida, em um futuro próximo, identificar novos grupos de genes e
mecanismos epigenéticos implicados no desenvolvimento das doenças psiquiátricas", o que levará à descoberta de "novos alvos terapêuticos30". Esse
belo otimismo é temperado por Greg Miller, redator da revista Science31.
27
P. O. McGowan, A. Sasaki, A. C. D’Alessio et al., "Epigenetic Regulation of the Gluco- corticoid Receptor in Human Brain
Associates with Childhood Abuse", Nature Neuroscience, 2009, vol. 12, no 3, p. 342-348.
28
T. L. Bale, T. Z. Baram, A. S. Brown et al., "Early Life Programming...", art. cit.
29
D. A. Hackman, M. J. Farah e M. J. Meaney, "Socioeconomic Status and the Brain: Mechanistic Insights from Human and Animal
Research", Nature Reviews Neuroscience, 2010, vol. 11, no 9, p. 651-659.
30
T. L. Bale, T. Z. Baram, A. S. Brown et al., "Early Life Programming...", art. cit.
31
G. Miller, "Epigenetics. The Seductive Allure of Behavioral Epigenetics", Science, 2010, vol. 329, p. 24-27.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.109
temática.
Primeiramente, o caminho entre a observação de correlações pontuais e o
deciframento de cadeias causais será certamente muito longo por causa das
metilações e outras alterações da expressão gênica produzindo-se simultaneamente sobre numerosos genes. Em segundo lugar, o que pode ser observado no animal em situação experimentalmente controlada não será tão
facilmente observável no homem em condição natural. Miller assinala que
numerosos grupos gastaram muitos esforços e dinheiro em pesquisas com
humanos sem encontrar resultados positivos. Ele termina seu artigo citando a exasperação de Darlene Francis, uma das pioneiras da epigenética, "a
respeito desses genes dos quais, a partir de algumas observações em animais, deduz-se que a metilação [dos genes] seria agora a causa e a solução a
todo um monte de problemas existenciais32".
As promessas da psiquiatria biológica: tentativa
de avaliação
No número de 16 de outubro de 2008 da revista Nature, Steven Hyman
intitulou seu artigo: "Um raio de esperança para os transtornos neuropsiquiátricos33". O artigo começa pelas constatações já apresentadas mais acima: "Nenhum novo alvo farmacológico, nenhum mecanismo terapêutico
novo foi descoberto em quarenta anos." Steven Hyman vê, no entanto, um
raio de esperança na identificação de algumas alterações gênicas que explicam alguns raros casos de transtornos bipolares, de esquizofrenia e, menos
raramente, de autismo (5% dos casos). Ele reconhece que a estrada será
longa entre esses primeiros resultados e o desenvolvimento de eventuais
terapêuticas. Pode-se acompanhá-lo quando ele espera progressos significativos no que concerne à neuropatologia de certos casos de autismo, de
esquizofrenia e de retardo mental. Mas seu otimismo me parece ir muito
longe quando ele o estende ao conjunto dos transtornos psiquiátricos.
32
Ibid.
33
S. E. Hyman, "A Glimmer of Light..." art. cit.
110.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Para dar uma ideia das dificuldades, pode ser interessante considerar
o avanço das pesquisas que concernem a dor física. A virtude analgésica
dos opiáceos é conhecida desde a Antiguidade. No entanto, as dores crônicas
colocam problemas consideráveis que os medicamentos opiáceos atuais resolvem mal. A descoberta, em 1975, de redes de neurônios com opiáceos
endógenos havia levantado imensas esperanças e alguns autores haviam
então previsto a descoberta rápida de novos medicamentos mais eficazes34.
Isso infelizmente não aconteceu, e os pesquisadores começam apenas a
entender por que: a percepção dolorosa resultaria da atividade de ao menos
dois sistemas neuronais antagonistas. A estimulação dos receptores com
opiáceos endógenos pelos analgésicos alivia a curto prazo a dor, mas desregula
o sistema pró-analgésico que põe em jogo outros peptídeos ainda pouco
conhecidos35. É evidente que numerosos circuitos neuronais estão simultaneamente implicados nos transtornos mentais, inclusive os mais comuns.
O TDAH, por exemplo, não se resume, contrariamente ao que é muito frequentemente dito, a um déficit de dopamina: numerosas redes corticais e
subcorticais parecem implicadas nesse transtorno36. Já que trinta e cinco
anos de intensas pesquisas não permitiram aÌ neurobiologia da dor chegar
a novos tratamentos, mede-se agora o caminho a ser percorrido no que
concerne aos transtornos mentais mais comuns e que são sem dúvidas os
mais complexos.
Uma outra maneira de avaliar a credibilidade das promessas da psiquiatria biológica consiste em compará-las às que foram feitas no campo do
câncer. Quando o presidente Kennedy lançou em 1961 o projeto Apollo de
conquista da lua, o desafio tecnológico era considerável. No entanto, oito
anos e vinte e cinco bilhões de dólares bastaram para ter sucesso. Seguindo
34
F. W. Kerr e P. R. Wilson, "Pain", Annual Review of Neuroscience, 1978, vol. 1, p. 83-102.
35
F. Simonin, M. Schmitt, J. P. Laulin et al., "RF9, a Potent and Selective Neuropeptide FF Receptor Antagonist, Prevents OpioidInduced Tolerance Associated with Hyperalgesia", Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., 2006, vol. 103, no 2,
p. 466-471.
36
F. Gonon, "The Dopaminergic Hypothesis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Needs Re-Examining", Trends in Neuroscience,
2009, vol. 32, p. 2-8.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.111
temática.
esse exemplo, o presidente Nixon lançou em 1971 a cruzada contra o câncer, com a ambição de vencer esse flagelo em um decênio. Quarenta anos
mais tarde e apesar de centenas de bilhões de dólares em despesas de pesquisa apenas nos Estados Unidos, os progressos foram mais lentos que o
previsto37. Avanços maiores foram realizados apenas em alguns cânceres
(por exemplo, leucemia infantil). Em termos de população, a diminuição
da mortalidade resultou sobretudo da prevenção (p. ex., a luta contra o
tabagismo) e do diagnóstico precoce. A biologia dos cânceres mostra-se agora muito complexa e multifatorial e ninguém pode dizer quando a pesquisa
chegará a inovações terapêuticas radicais.
A complexidade do cérebro humano é tal que os desafios afrontados
pela psiquiatria biológica ultrapassam muito provavelmente os da biologia
dos cânceres. As dificuldades identificadas por Steven Hyman se devem aÌ
ausência de marcador biológico, à debilidade dos modelos animais e à complexidade da genética das doenças mentais38. No momento, a maioria das pesquisas tentaram ligar causalmente pares de observações, por exemplo um
gene e uma patologia. Segundo John Sadler, este andamento da genética
molecular tem bem poucas chances de chegar à descoberta de novos tratamentos39. Como para a pesquisa sobre o câncer, uma mudança de paradigma
se impõe. Será necessário desenvolver novos conceitos e instrumentos de
cálculo potentes para dar conta da complexidade e do caráter multifatorial
das doenças mentais.
O discurso da psiquiatria biológica e suas consequências
Se todos os líderes da psiquiatria biológica reconhecem que a pesquisa
neurobiológica por enquanto pouco aportou à prática psiquiátrica, a maioria continua a predizer progressos importantes em um futuro próximo. Esta
37
S. M. Gapstur e M. J. Thun, "Progress in the War on Cancer", JAMA, 2010, vol. 303, no 11, p. 1084-1085.
38
S. E. Hyman, "A Glimmer of Light...", art. cit.
39
J. Z. Sadler, "Psychiatric Molecular Genetics...", art. cit.
112.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
retórica da promessa começa a ser criticada. Um artigo publicado no dia 18
de fevereiro de 2011 na revista Science fala de "bolha genômica" e critica a
inflação de promessas irrealistas na literatura científica concernente aos
determinantes genéticos das doenças40. A retórica da promessa na psiquiatria biológica suscita três questões: como esse discurso abusivo é produzido, como ele tem um impacto sobre o público e quais são as consequências
sociais?
A deformação das conclusões na literatura científica
Os pesquisadores constatam que existe frequentemente uma distância
considerável entre as observações neurobiológicas e as conclusões abusivas
publicadas pela mídia. Eles se indignam então com a falta de profissionalismo dos jornalistas. No entanto, um exame atento mostra que os neurobiólogos contribuem a esta deformação, já que ela aparece em primeiro
lugar no cerne mesmo de numerosos artigos científicos. Nós distinguimos
três tipos de deformações que estudamos no contexto de uma análise da
literatura sobre a neurobiologia da hiperatividade (TDAH41). O primeiro
tipo, felizmente raro, consiste em incoerências flagrantes entre resultados e
conclusões.
No segundo tipo, uma conclusão forte é afirmada no resumo, deixando
de mencionar os dados que relativizam o alcance da conclusão. Para ilustrar esta deformação, nós analisamos o conjunto dos resumos que mencionam uma associação significativa entre o TDAH e os alelos do gene
codificante do receptor D4 da dopamina. Segundo as meta-análises recentes, esta associação é estatisticamente significativa, mas confere um risco
menor: 23% das crianças que sofrem de TDAH são portadores do alelo 7-R,
mas também 17% das crianças com boa saúde. Entre os resumos que afirmam uma associação forte, 80% deixam de mencionar que ela oferece um
40
J. P. Evans, E. M. Meslin, T. M. Marteau et al., "Deflating the Genomic Bubble", art. cit.
41
F. Gonon, E. Beìzard e T. Boraud, “Misrepresentation of Neuroscience Data Might Give Rise to Misleading Conclusions in the Media:
The Case of Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, PLoS ONE, 2011, vol. 6, no 1, p. e14618.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.113
temática.
risco menor. Não é então de se espantar que, em certos textos escritos para
o grande público, o gene do receptor D4 seja apresentado como um marcador
biológico do TDAH42.
O terceiro tipo de deformação consiste em afirmar de maneira abusiva
que os resultados de estudos pré-clínicos abrem novos caminhos
terapêuticos. Para quantificar esse viés, nós analisamos o conjunto dos
estudos realizados com ratos em relação com o TDAH43. Consideramos que
as perspectivas terapêuticas foram abusivamente afirmadas quando a ligação entre esses ratos e o TDAH era unicamente baseada sobre semelhanças
de comportamentos. Com efeito, o TDAH é um transtorno complexo, muito
frequentemente associado a outros transtornos (por exemplo, ansiedade,
depressão) e o comportamento observado nos ratos não pode captar sua
complexidade. Nossa análise mostra que perspectivas terapêuticas foram
abusivamente afirmadas em 23% dos artigos. Ainda, a frequência dessas
afirmações abusivas aumenta com o renome do jornal. Como os artigos
publicados nas revistas mais prestigiosas são os mesmos que são reproduzidos pela mídia, essas perspectivas terapêuticas abusivas nutrem esperanças ilusórias no grande público.
Os vieses de publicação
Um viés muito frequente nos artigos científicos consiste em citar de
preferência os estudos que estão de acordo com as hipóteses dos autores.
Esse viés foi recentemente estudado em um caso particular: a relação entre
a proteína ß amiloide muscular e o mal de Alzheimer. Greenberg analisou a
rede de citações referentes a essa questão44. Segundo esta análise, a distorção
das citações é tão considerável que ela "gera dogmas não-fundados".
42
F. Gonon, E. Beìzard e T. Boraud, “Misrepresentation of Neuroscience...”, art. cit.
43
Ibid.
44
S. A. Greenberg, "How Citation Distortions Create Unfounded Authority: Analysis of a Citation Network", BMJ, 2009, vol. 339, p.
b2680.
114.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
Por outro lado, sabe-se há muito tempo que os resultados positivos são
muito mais frequentemente publicados que os resultados negativos. Esse
viés é particularmente flagrante para os testes clínicos de medicamentos
como, por exemplo, os antidepressivos45, mas ele concerne a todos os domínios da biologia. Com efeito, quando várias equipes concorrentes se interessam pela mesma questão, a primeira que encontra uma relação estatisticamente significativa entre dois acontecimentos se esforçará para publicar
rapidamente, ao passo que aquelas que não observaram relação significativa publicarão apenas em resposta à primeira publicação46. Por exemplo, o
primeiro estudo produzido sobre a relação entre o TDAH e a taxa de expressão da proteína que transporta a dopamina foi publicado em 1999 no
The Lancet e mostrou um aumento de 70% dessa taxa nos pacientes47. Os
estudos ulteriores relataram efeitos mais fracos, depois nulos48. Um estudo
longitudinal de várias dezenas de meta-análises pôs em evidência a generalidade do fenômeno: o primeiro estudo publicado relata muito frequentemente um efeito mais espetacular que os estudos ulteriores49. Do ponto de
vista científico, não há nada de chocante em constatar que a maioria das
relações supostas entre duas observações não são confirmadas50. O problema surge com a midiatização: como os estudos iniciais são mais frequentemente publicados nas revistas prestigiosas,51 eles são bem mais largamente
midiatizados que os estudos ulteriores. Assim, o público, incluídos os médicos e políticos, ouve falar dessas descobertas iniciais espetaculares, mas não
é informado que elas são frequentemente invalidadas posteriormente.
45
I. Kirsch, B. J. Deacon, T. B. Huedo-Medina et al., "Initial Seventy...", art. cit.
46
J. P. Ioannidis, "Contradicted and Initially Stronger Effects in Highly Cited Clinical Research", JAMA, 2005, vol. 294, no 2, p. 218-228.
47
D. D. Dougherty, A. A. Bonab, T. J. Spencer et al., "Dopamine Transporter Density in Patients with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder", The Lancet, 1999, vol. 354, p. 2132-2133.
48
F. Gonon, "The Dopaminergic Hypothesis...", art. cit.
49
J. P. Ioannidis e O. A. Panagiotou, "Comparison of Effect Sizes Associated with Biomarkers Reported in Highly Cited Individual
Articles and in Subsequent Meta-Analyses", Journal of the American Medical Association, 2011, vol. 305, no 21, p. 2200-2210.
50
P. Ioannidis, "Why Most Published Research Findings are False", PLoS Med, 2005, vol. 2, no 8, p. e124.
51
Id., "Contradicted and Initially Stronger Effects...", art. cit.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.115
temática.
Um vocabulário que se presta à confusão
O vocabulário utilizado nos artigos científicos produz ele mesmo interpretações errôneas. Por exemplo, lia-se no Le Monde de 2 de outubro de
2010 um artigo intitulado A genética implicada na hiperatividade. Este artigo fazia eco de um estudo publicado em 30 de setembro de 2010 no The
Lancet que observava uma maior frequência de deleções e duplicações nos
cromossomos de crianças que sofriam de TDAH52. Os autores tinham observado essas anomalias em 12% das crianças afetadas e 7% das crianças
saudáveis. Como nada prova que elas eram a causa do TDAH nas crianças
assim diagnosticadas, tratava-se então de uma pura correlação. O termo
"implicada" utilizado pelo jornal Le Monde é a tradução de uma das numerosas palavras imprecisas usadas tão frequentemente na literatura científica
como involved, play a role ou take part. Todas estas expressões não afirmam abertamente uma ligação causal, mas sugerem a possibilidade mesmo
que os fatos observados sejam com mais frequência apenas correlações.
Essas imprecisões de vocabulário afetam a compreensão do grande público, mal preparado para distinguir uma eventualidade de uma prova científica de ligação causal.
As consequências sociais da distorção do discurso
Um estudo na população geral mostrou que, de 1996 a 2006, a porcentagem de norte-americanos convencidos de que os transtornos mentais como
a depressão ou o alcoolismo são doenças do cérebro de origem genética
passou de 54% a 67%53. As autoridades de saúde pública comemoram isso
há tempos, porque esta concepção neurobiológica supostamente diminuiria a estigmatização dos pacientes. As pesquisas de campo nos Estados
Unidos mostram que é o inverso: as pessoas que compartilham desta con-
52
N. M. Williams, I. Zaharieva, A. Martin et al., "Rare Chromosomal Deletions and Duplications in Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder: A Genome-Wide Analysis", The Lancet, 2010, vol. 376, p. 1401-1408.
53
B. A. Pescosolido, J. K. Martin, J. S. Long et al., "‘A Disease Like any Other’?...", art. cit.
116.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
cepção têm uma reação de rejeição mais forte frente às doenças e são mais
pessimistas quanto às possibilidades de cura54.
Mesmo se as pesquisas em neurociências mais recentes permitem entrever como os fatores ambientais modificam a neurobiologia, o grande público parece interpretar "uma base neurobiológica" de um transtorno mental
como excludente de causas psicológicas ou sociais. A ênfase nas causas
neurobiológicas supostas a essas doenças impele então a minimizar seus
determinantes ambientais e a ignorar as medidas de prevenção correspondentes. Por exemplo, se o TDAH é considerado como uma doença devida a
um déficit de dopamina de origem principalmente genética, não há então
ação preventiva possível. Ora, numerosas condições ambientais são fatores
de risco para o TDAH: nascimento prematuro, mãe adolescente, pobreza,
baixo nível de educação dos pais55. Em padrão de vida equivalente, quanto
menos uma sociedade é igualitária, mais aumentam esses fatores. A prevenção do TDAH resulta então ao menos em parte de escolhas políticas.
A psiquiatria biológica no contexto norte-americano
O discurso reducionista da psiquiatria biológica não é exclusividade
da sociedade norte-americana, mas é lá que ele encontrou sua maior expressão. Para apreender as forças subjacentes a esse discurso, pode ser útil
situá-lo em seu contexto. A OMS estudou em 2003 a prevalência de transtornos mentais em diferentes países graças a uma pesquisa com a população geral por meio de questionário padronizado. Os resultados foram publicados no famoso JAMA e revelam uma prevalência mais elevada nos Estados Unidos que nos países europeus56. Esta diferença é particularmente
evidente se são considerados os transtornos severos, dos quais pode-se
pensar que foram melhor identificados pelos pesquisadores. Sua prevalência
54
S. P. Hinshaw e A. Stier, "Stigma as Related to Mental Disorders", Annual Review of Clinical Psychology, 2008, vol. 4, p. 367393. B. A. Pescosolido, J. K. Martin, J. S. Long et al., "‘A Disease Like any Other’?...", art. cit.
55
F. Gonon, J.-M. Guileì e D. Cohen, “Le trouble deìficitaire de l’attention avec hyperactiviteì...”, art. cit.
56
K. Demyttenaere, R. Bruffaerts, J. Posada-Villa et al., "Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment...", art. cit.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.117
temática.
era de 7,7% nos Estados Unidos, 2,7% na França e 1,6% na média de seis
países europeus (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha). Dois
tipos de causa poderiam contribuir a esta importante diferença de
prevalência. Primeiramente, a saúde mental dos americanos poderia ser
realmente pior que a dos europeus. Em segundo lugar, fatores sociais e
culturais poderiam favorecer a consideração médica dos problemas psíquicos nos Estados Unidos.
A saúde mental dos americanos é realmente pior
que a dos europeus?
Para responder a esta questão, seria necessário implementar outros índices da saúde mental e relacioná-los entre eles, o que, a meu saber, não foi
feito. Um índice que merece ser mencionado é o da taxa de encarceramento:
em 2008 ele era de 7,6/1000 habitantes nos Estados Unidos, de 0,96/1000
na França e de 1,07/1000 na média dos seis países europeus. Ora, a porcentagem de prisioneiros que sofrem de transtornos psiquiátricos é muito elevada. Segundo James Gilligan, professor de psiquiatria em Harvard que
trabalhou durante vinte e cinco anos nas prisões americanas, o aumento da
taxa de encarceramento nos Estados Unidos durante os trinta últimos anos
reflete principalmente a diminuição da oferta pública de cuidados psiquiátricos para os mais desfavorecidos57.
Outra aproximação poderia consistir em considerar as causas dos transtornos mentais. Aqui tampouco parece haver estudos comparando a Europa e os Estados Unidos. As reflexões que seguem devem, portanto, ser
apenas consideradas como pistas provisórias. Primeiramente, as crianças
prematuras têm uma maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais e a taxa de nascimentos prematuros é mais elevada nos Estados Unidos
(12,7%) que na Europa (5 a 9%58). Em segundo lugar, segundo estudos
57
J. Gilligan, "The Last Mental Hospital", Psychiatry Quarterly, 2001, vol. 72, no 1, p. 45- 61.
58
R. L. Goldenberg, J. F. Culhane, J. D. Iams et al., "Epidemiology and Causes of Preterm Birth", The Lancet, 2008, vol. 371, p. 75-84.
118.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
norte-americanos, as crianças nascidas de mães adolescentes apresentam
um risco bastante mais elevado de transtornos mentais59. Ora, segundo a
OMS, a taxa de nascimento por 1000 adolescentes era em 2007 de 42 nos
Estados Unidos, de 10,5 na França e de 9,2 para a média dos seis países
europeus. A diferença entre os Estados Unidos e a Europa continental é
ainda mais flagrante (fator 10) se se consideram mães muito jovens (15-17
anos). Nos Estados Unidos como na França, as mães adolescentes acumulam desvantagens: pobreza, solidão, baixo nível de educação60. É, pois,
bem difícil saber se o risco elevado de transtornos mentais em seus filhos é
intrinsecamente devido a sua imaturidade ou a seu estatuto sócio-econômico.
E, em terceiro lugar, nos países ricos a pobreza aumenta o risco de transtornos mentais61. O epidemiologista Richard Wilkinson mostrou uma relação
positiva entre a amplitude das diferenças de renda e a diferença de expectativa de vida entre os mais ricos e os mais pobres, assim como a taxa de
homicídios62. Esta relação é particularmente significativa quando ela compara os diferentes estados norte-americanos entre eles. Apoiando-se sobre
numerosos exemplos, ele sustenta a ideia de que, nos países ricos, desigualdades muito grandes produzem entre aqueles que vivem na base da
escala social um forte sentimento de insegurança e de humilhação. Esta
situação de estresse crônico acarreta em transtornos mentais (ansiedade,
depressão, paranoia) e suas consequências somáticas (doenças cardiovasculares, etc.), explicando assim a ligação entre pobreza relativa e baixa
esperança de vida63. Pelas mesmas razões, James Gilligan, quando era con-
59
M. M. Black, M. A. Papas, J. M. Hussey et al., "Behavior Problems Among Preschool Children Born to Adolescent Mothers: Effects
of Maternal Depression and Perceptions of Partner Relationships", Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 2002, vol.
31, no 1, p. 16-26.
60
S. Singh, J. E. Darroch e J. J. Frost, "Socioeconomic Disadvantage and Adolescent Women’s Sexual and Reproductive Behavior:
The Case of Five Developed Countries", Family Planning Perspectives, 2001, vol. 33, no 6, p. 251-258 et 289.
61
C. Muntaner, W.W. Eaton, R. Miech et al., "Socioeconomic Position and Major Mental Disorders", Epidemiologic Reviews, 2004,
vol. 26, p. 53-62. D. A. Hackman, M. J. Farah e M. J. Meaney, "Socioeconomic Status and the Brain...", art. cit.
62
R. Wilkinson, L’eìgaliteì c’est la santeì, Paris, Demopolis, 2010.
63
Ibid.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.119
temática.
selheiro do presidente Clinton, recomendou a diminuição das diferenças
de renda como primeira medida de luta contra a violência64. No total, já que
as desigualdades sociais são mais marcadas nos Estados Unidos que nos
países da Europa continental65, elas poderiam então contribuir para a diferença de prevalência dos transtornos mentais.
O sofrimento psíquico é mais largamente medicalizado
nos Estados Unidos?
Vários autores norte-americanos denunciaram a influência da indústria farmacêutica na medicalização excessiva do sofrimento psíquico66. Por
exemplo, a revista PLoS Medicine consagrou seu número de abril de 2006 à
"fabricação" das doenças e, entre os seis exemplos apresentados naquela
edição, cinco dependiam de um tratamento com um medicamento psicotrópico. Por outro lado, a intensidade da medicalização depende também das
regras sociais: nos Estados Unidos, o diagnóstico de transtorno mental dá
direitos. Por exemplo, se uma criança norte-americana tem dificuldades
escolares, ela tem direito a uma assistência personalizada com a condição
de que ela tenha sido diagnosticada como portadora de um transtorno
incapacitante como o TDAH.
Pode-se formular desde já uma hipótese: a intensidade da medicalização
dos transtornos psíquicos poderia depender também do tipo de democracia. A igualdade dos cidadãos é inerente à democracia e François Dubet distingue duas concepções de igualdade. Os países anglo-saxãos a pensam como
uma igualdade de oportunidades no nascimento, enquanto que os países da
Europa continental consideram antes uma igualdade de posições onde a
diferença das condições socioeconômicas é aparada pela redistribuição67. Como
64
J. Gilligan, "Violence in Public Health and Preventive Medicine", The Lancet, 2000, vol. 355, p. 1802-1804.
65
R. Wilkinson, L’eìgaliteì c’est la santeì, op. cit.
66
E. S. Valenstein, Blaming the Brain, New York, The Free Press, 1988. A.V. Horwitz e J. C. Wakefield, The Loss of Sadness: How
Psychiatry Transformed Normal Sorrow Into Depressive Disorder, Oxford, Oxford University Press, 2007.
67
F. Dubet, Les Places et les Chances: repenser la justice sociale, Paris, Le Seuil, 2010.
120.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
o acesso das crianças desfavorecidas às classes superiores da sociedade é
ainda mais improvável nos Estados Unidos que na Europa68, o ideal americano se choca com uma realidade cada vez mais insustentável. A psiquiatria biológica seria então convocada para demonstrar que a diferença social
dos indivíduos resulta de sua deficiência neurobiológica.
Para sustentar minha hipótese segundo a qual trata-se aí de um ponto
de vista antes anglo-saxão, examinei a literatura científica referente às duas
teorias que se afrontam há muito tempo para explicar a maior prevalência
de transtornos mentais nas famílias de baixo nível socioeconômico. Ou
bem as condições sociais desfavoráveis geram os transtornos (social
causation), ou bem o indivíduo que sofre de um déficit mental tem menos
sucesso na competição social e transmite esse déficit a seus filhos (social
selection). É surpreendente constatar que entre os 195 artigos69 que evocam
ou discutem essas teorias desde 1967, 101 vêm de equipes americanas. A
contribuição dos outros países anglo-saxãos (39 artigos) ultrapassa a dos
países da Europa continental (29 artigos). É preciso assinalar que essas
pesquisas foram progressivamente delimitando os campos de validade dessas duas teorias. A segunda (social selection) se aplicaria às doenças psiquiátricas mais severas (esquizofrenia), enquanto que a primeira (social
causation) explicaria os transtornos frequentes70.
A psiquiatria biológica face aos desafios da sociedade
norte-americana
Em seu editorial de janeiro de 2004, Julio Licinio, redator-chefe da
importante revista Molecular Psychiatry, se inquietava com o contraste entre uma pesquisa em neurociências em plena expansão e a degradação da
68
Ibid.
69
Esses artigos foram coletados em janeiro de 2011 pela base de dados PubMed com as palavras-chave: social, causation,
selection, mental disorders.
70
B. P. Dohrenwend, I. Levav, P. E. Shrout et al., "Socioeconomic Status and Psychiatric Disorders: The Causation-Selection Issue",
Science, 1992, vol. 255, p. 946-952. R. Uher, "The Role of Genetic Variation...", art. cit.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.121
temática.
oferta de cuidados em saúde mental nos Estados Unidos71. Nas clínicas
equipadas com as técnicas mais sofisticadas, o número de leitos e a duração da admissão de pacientes não cessam de diminuir, embora "o sistema
penal [norte-americano] é agora o primeiro recurso de cuidados psiquiátricos72". Em particular, "a diminuição do tempo de hospitalização impede a
avaliação dos efeitos terapêuticos dos medicamentos psicotrópicos", o que
é tão danoso para "a qualidade dos cuidados e a formação dos estudantes
em psiquiatria73" como para a pesquisa clínica.
Como disse Dubet, "as desigualdades fazem mal" e a política norteamericana de saúde mental, se não resolve nada, parece carregada de ameaças a longo prazo para os mais desfavorecidos. Com efeito, vários autores
se inquietaram com o aumento rápido da prescrição de antipsicóticos para
crianças norte-americanas74. Ela atingia 0,27% das crianças em 1993 e 1,44%
em 2003. Ora, essa taxa de prescrição é muito desigualmente distribuída:
em 2004, era inferior a 0,90% entre as crianças cujas famílias tinham meios
para pagar uma assistência privada, e subia a 4,2% entre aquelas cujas
famílias menos ricas eram asseguradas por Medicaid75. Na França, essa taxa
em 2004 era de 0,33 %76. Os antipsicóticos são uma classe de medicamentos destinados aos esquizofrênicos. Eles apresentam numerosos e sérios
efeitos colaterais, em particular nas crianças: ganho de peso, diabetes, problemas motores de tipo parkinsoniano, sonolência77. Seus efeitos a longo
prazo sobre o desenvolvimento psíquico e intelectual da criança são tão
71
J. Licinio, "A Leadership Crisis in American Psychiatry", Molecular Psychiatry, 2004, vol.9, no 1, p. 1.
72
Ibid.
73
Ibid.
74
M. Olfson, C. Blanco, L. Liu et al., "National Trends in the Outpatient Treatment of Children and Adolescents with Antipsychotic
Drugs", Archives of General Psychiatry, 2006, vol. 63, no 6, p. 679-685.
75
S. Crystal, M. Olfson, C. Huang et al., "Broadened use of Atypical Antipsychotics: Safety, Effectiveness, and Policy Challenges",
Health Affairs (Millwood), 2009, vol. 28, no 5, p. 770-781.
76
E. Acquaviva, S. Legleye, G. R. Auleley et al., "Psychotropic Medication in the French Child and Adolescent Population: Prevalence
Estimation from Health Insurance Data and National Self-Report Survey Data", BMC Psychiatry, 2009, vol. 9, p. 72-78.
77
C. U. Correll, "Assessing and Maximizing the Safety and Tolerability of Antipsychotics Used in the Treatment of Children and
Adolescents", Journal of Clinical Psychiatry, 2008, vol. 69, suppl. 4, p. 26-36.
122.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
mal conhecidos que sua prescrição em pediatria foi aprovada pela autoridade reguladora americana (FDA) apenas para raras indicações (esquizofrenia precoce, mania, irritabilidade associada ao autismo). Três quartos
das prescrições de antipsicóticos concernem crianças norte-americanas que
não se enquadram, no entanto, nesses diagnósticos raros78. Qual será seu
porvir? Conseguirão assumir-se como adultos autônomos ou correm o risco de aumentar as filas de vítimas e de abandonados à própria sorte?
Desde uns trinta anos e da chegada de Ronald Reagan à presidência, as
desigualdades sociais aumentaram bastante nos Estados Unidos79 e a taxa
de encarceramento multiplicou-se por mais de cinco. No mesmo período, a
oferta pública de cuidados em saúde mental e, de maneira geral, todas as
ajudas sociais públicas foram reduzidas. Esses fatores provavelmente contribuíram para aumentar a prevalência de transtornos psiquiátricos nos
Estados Unidos, em particular entre os mais desfavorecidos. Por outro lado,
apesar dos orçamentos em expansão, especialmente durante a "década do
cérebro" ao longo dos anos 1990, as pesquisas em psiquiatria biológica beneficiaram apenas muito pouco a prática clínica. Em última análise, esta
política global relativa ao tratamento e à pesquisa em saúde mental parece
antes ineficaz, e sua persistência há três decênios sugere que ela é menos
guiada pelos fatos que pela defesa implícita do ideal anglo-saxão que privilegia a igualdade de oportunidades.
-*As causas dos transtornos mentais podem ser apreendidas de vários
pontos de vista que não são mutualmente excludentes e possuem cada um
sua pertinência: neurobiológico, psicológico e sociológico. Toda doença,
mesmo a mais somática, afeta o paciente de maneira única. A fortiori o
sofrimento psíquico apenas pode encontrar seu sentido e sua superação
na história singular da pessoa. Como disse o neurobiólogo Marc Jeannerod,
78
S. Crystal, M. Olfson, C. Huang et al., "Broadened use of Atypical...", art. cit.
79
F. Dubet, Les Places et les Chances..., op. cit.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.123
temática.
"o paradoxo é que a identidade pessoal, apesar de encontrar-se claramente
no domínio da física e da biologia, pertence a uma categoria de fatos que
escapam à descrição objetiva e que parecem então excluídos de uma abordagem científica. Não é verdade que é impossível compreender como o
sentido está arraigado no biológico. Mas o fato de saber que ele ali encontra
suas raízes não garante que se possa aceder a elas80".
Os promotores de uma neurobiologia reducionista afirmam a superioridade de sua abordagem porque ela seria mais científica. Eu contesto esta
pretensão porque a psicologia e a sociologia, se elas são menos objetivas,
não são menos racionais. Quanto à sua pertinência frente às doenças mentais e ao sofrimento psíquico, a comparação com a neurobiologia não pende
muito, no momento, a favor desta última. Retomo, pois, por conta da psiquiatria biológica, as recomendações daqueles que denunciam a "bolha
genômica81". Primeiramente, o financiamento da pesquisa deve respeitar
um equilíbrio entre ciências biológicas e ciências humanas. Em segundo
lugar, os pesquisadores são tão responsáveis quanto os jornalistas pela
qualidade da informação recebida pelo grande público e devem respeitar
uma ética da comunicação científica. Para além desta conclusão, me parece
que essas reflexões poderiam nutrir dois debates mais políticos.
Saúde mental e modelo democrático
Para realizar o ideal de igualdade dos cidadãos, as democracias podem
favorecer ou a igualdade de oportunidades ou a igualdade de posições.
Como mostrou Franc'ois Dubet, cada opção tem suas vantagens e inconvenientes. No entanto, para que essa escolha possa ser assumida com conhecimento de causa, é importante medir os custos a longo prazo. Me parece
que a opção "igualdade de oportunidades" é mais patogênica do ponto de
vista da saúde mental. Além disso, tendo os transtornos mentais tendência
80
M. Jeannerod, La Nature de l’esprit, Paris, Odile Jacob, 2002.
81
J. P. Evans, E. M. Meslin, T. M. Marteau et al., "Deflating the Genomic Bubble", art. cit.
124.
correio APPOA l abril/maio 2013
Dar a palavra aos autistas.
a transmitir-se de uma geração a outra, uma diferença mínima no caráter
patogênico de uma sociedade pode ter efeitos consideráveis a longo prazo.
Pode-se apenas esperar que a ligação entre saúde mental e sistema democrático seja objeto de estudos sistemáticos. Em todo caso, meu ponto de
vista reafirma um argumento à defesa de Franc'ois Dubet a favor de um
modelo democrático que favoreça a igualdade de posições. Com efeito, posto que "a igualdade é a saúde", uma política que limite a amplitude das
desigualdades sociais poderia ser a longo prazo "a melhor maneira de realizar a igualdade de oportunidades82".
Pela independência da psiquiatria em relação
à neurologia
Para Jacques Hochmann, a especificidade da psiquiatria reside em que
ela deve afrontar quotidianamente três paradoxos. Em primeiro lugar, apesar de formada pela medicina somática – e essa formação é necessária –, a
neurobiologia atual não se conduz muito por seu caminho. Em segundo
lugar, mesmo que para a medicina somática a fronteira entre o doente e o
saudável é clara, com o paciente psiquiátrico, mesmo o mais louco, há
sempre uma parte sã, uma consciência ao menos parcial de sua loucura.
Por fim, em terceiro lugar, em suas decisões terapêuticas, o psiquiatra deve
preservar não apenas os interesses do paciente, mas também os de seu
entorno e da sociedade. Esta especificidade da psiquiatria justifica sua separação da neurologia e isso não deveria ser colocado em questão enquanto
o primeiro paradoxo não for resolvido. Mas, ninguém anuncia grandes progressos em psiquiatria biológica para os próximos decênios.
Pleiteio, então, por uma pesquisa em neurociências na qual a criatividade
não será freada por objetivos terapêuticos a curto prazo, por uma prática
psiquiátrica alimentada pela pesquisa clínica e por uma desmedicalização
do sofrimento psíquico. Me parece que, mais que os Estados Unidos, os
82
F. Dubet, Les Places et les Chances..., op. cit.
abril/maio 2013 l correio APPOA
.125
temática.
países europeus souberam preservar as competências necessárias a esses
dois últimos objetivos. É esta via que nós deveríamos continuar a explorar.
Agradeço a Erwan Beìzard, Thomas Boraud, David Cohen, François
Dubet, Alain Ehrenberg, Annie Giroux-Gonon e Jacques Hochmann por
seu apoio e suas sugestões.
Tradução: Paulo Gleich
Revisão: Marcia Helena de Menezes Ribeiro
126.
correio APPOA l abril/maio 2013
agenda.
eventos do ano
2013
data
evento
local
18 de maio
Jornada do Percurso
Sede da APPOA – Porto Alegre – RS
14, 15 e 16 de junho
Relendo Freud
Hotel Laje de Pedra – Canela – RS
23 e 24 de agosto
III Jornada
do Instituto APPOA
Hotel Continental – Porto Alegre – RS
26 e 27 de outubro
Jornada clínica
Plaza São Rafael – Porto Alegre – RS
agenda
maio. 2013
dia
hora
atividade
07 e 21
14h
Reunião da Comissão da Revista
05 e 19
16h30min
Reunião da Comissão de Aperiódicos
15 e 26
20h30min
Reunião da Comissão do Correio
11, 18 e 25
19h30min
Reunião da Comissão de Eventos
18
21h
Reunião da Mesa Diretiva
11
20h
Reunião da Comissão da Biblioteca
próximo número
Psicanálise, Clínica e Universidade
abril/maio 2013 l correio APPOA
.127
normas editoriais do Correio da APPOA
O Correio da APPOA é uma publicação mensal, o que pressupõe um
trabalho de seleção temática – orientado tanto pelos eventos promovidos pela
Associação, como pelas questões que constantemente se apresentam na clínica –, bem como de obtenção dos textos a serem publicados, além da tarefa
de programação editorial.
Tem sido nosso objetivo apresentar a cada mês um Correio mais elaborado, quer seja pela apresentação de textos que proporcionem uma leitura
interessante e possibilitem uma interlocução; quer pela preocupação com os
aspectos editoriais, como a remessa no início do mês e a composição visual.
Frente à necessidade de uma programação editorial, solicitamos que sejam respeitadas as seguintes normas:
1) os textos para publicação na Seção Temática, Seção Debates, Seção
Ensaio e Resenha deverão ser enviados por e-mail para a secretaria da
APPOA ([email protected]);
2) a formatação dos textos deverá obedecer às seguintes medidas:
– Fonte Times New Roman, tamanho 12
– O texto deve conter, em média, 12.000 caracteres com espaço
– Notas de rodapé em fonte tamanho 10
3) as notas deverão ser incluídas sempre como notas de rodapé;
4) as referências bibliográficas deverão informar o(s) autor(es), título da
obra, autor(es) e título do capítulo (se for o caso), cidade, editora, ano, volume
(se for o caso);
5) as aspas serão utilizadas para identificar citações diretas;
6) citações diretas com mais de 3 linhas devem vir separadas do corpo do
texto, com recuo de 4 cm em relação à margem, utilizando fonte tamanho 10;
7) o itálico deverá ser utilizado para expressões que se queira grifar, para
palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente ou títulos de livros;
8) não utilizar negrito (bold) ou sublinhado (underline);
9) a data máxima de entrega de matéria (textos ou notícias) é o dia 05,
para publicação no mês seguinte;
10) o autor, não associado a APPOA, deverá informar em uma linha como
deve ser apresentado. A Comissão do Correio se reserva o direito de sugerir
alterações ao(s) autor(es) e de efetuar as correções gramaticais que forem necessárias para a clareza do texto, bem como se responsabilizará pela revisão das
provas gráficas;
11) a inclusão de matérias está sujeita à apreciação da Comissão do
Correio e à disponibilidade de espaço para publicação.