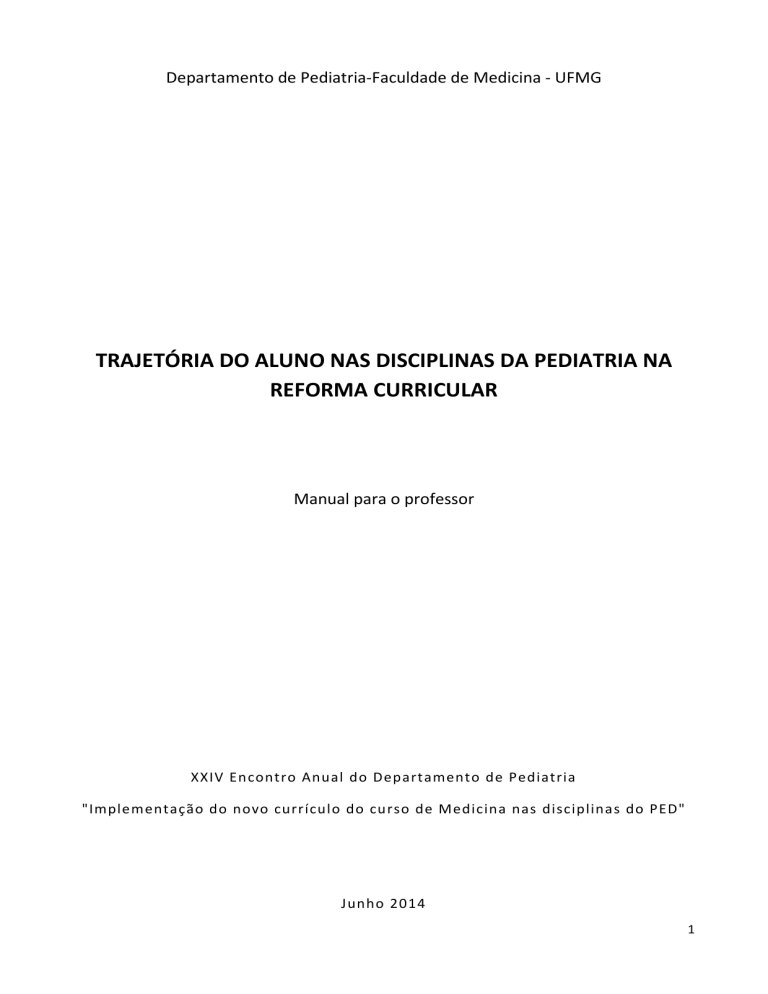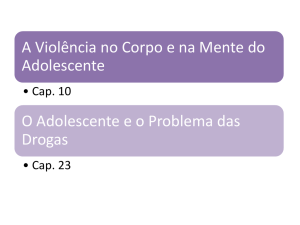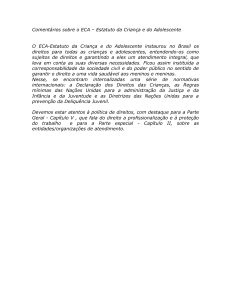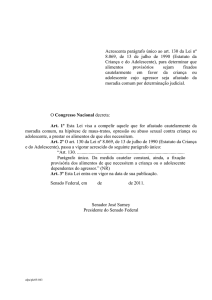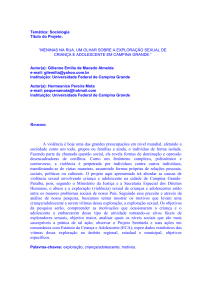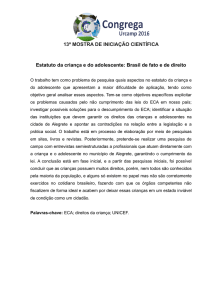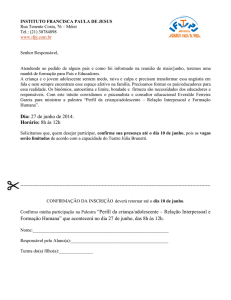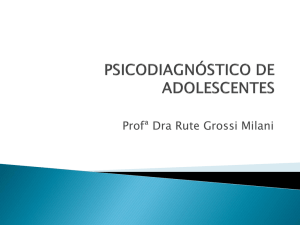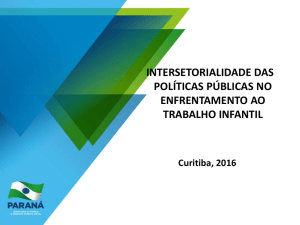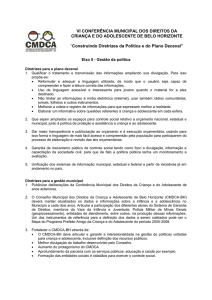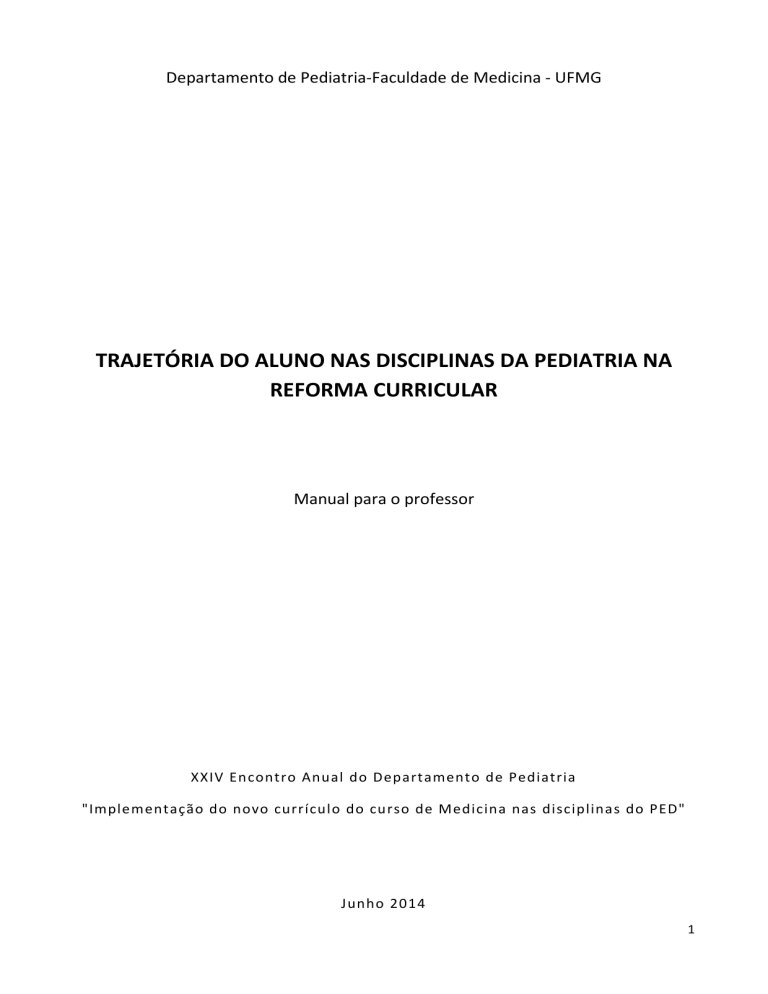
Departamento de Pediatria-Faculdade de Medicina - UFMG
TRAJETÓRIA DO ALUNO NAS DISCIPLINAS DA PEDIATRIA NA
REFORMA CURRICULAR
Manual para o professor
XXIV Encontro Anual do Departamento de Pediatria
"Implementação do novo currículo do curso de Medicina nas disciplinas do PED"
Junho 2014
1
Introdução
Este documento pretende orientar os Professores do Departamento de Pediatria sobre as
disciplinas ofertadas pelo Departamento na reforma curricular, com ênfase no período de
transição, entre o segundo semestre de 2014 e segundo semestre de 2015.
Na primeira parte serão apresentadas as características das disciplinas Pediatria 1 a 5, assim como,
as Disciplinas da Urgência e o Estágio em Clínica Pediátrica quanto à carga horária, local e
conteúdo programático nos semestres da transição curricular.
Na segunda parte estão listados os objetivos de aprendizagem (competências desejadas) do
conteúdo programático, organizados por disciplina, considerando o currículo definitivo.
Esperamos que esse manual possa auxiliar o professor durante a transição curricular.
Comissão Organizadora do XXIV Encontro Anual do Departamento de Pediatria-2014
2
Sumário
Trajetória do aluno durante a transição curricular
Página
Pediatria 1
4
Pediatria 2
6
Pediatria 3
8
Pediatria 4
10
Pediatria 5
12
Estágio em Clínica Pediátrica
14
Disciplinas da Urgência
16
Objetivos de aprendizagem
Página
Pediatria 1
21
Pediatria 2
27
Pediatria 3
34
Pediatria 4
40
Pediatria 5
45
3
Trajetória do aluno nas Disciplinas da Pediatria na reforma curricular
PEDIATRIA 1
Carga horária semanal: 6 horas (4 horas de atendimento ambulatorial + 2 horas de treinamento de
habilidades e discussão teórica)
Local: Ambulatório Bias Fortes e Faculdade de Medicina
Corpo docente: Maioria composta por professores que já atuavam na Semiologia I.
Mudanças a partir do segundo semestre de 2014:
A PEDIATRIA 1 (equivalente a Semiologia I) será ministrada mais cedo no curso de Medicina, no 4º período.
Com carga horária ampliada de 6 horas semanais (4 horas de atendimento ambulatorial + 2 horas de
treinamento de habilidades e discussão teórica), ministradas pelo mesmo professor.
O novo currículo introduz uma nova disciplina, a IAPS, Iniciação à Atenção Primária à Saúde (no 2°, 3º e 4º
períodos) em que o aluno terá iniciação mais precoce no contato com pacientes no Centro de Saúde, o que
certamente vai contribuir para o amadurecimento do mesmo. No currículo atual, esse contato se dava
apenas no 5º período. Lembrar que nos primeiros semestres, devido ao período de transição curricular,
receberemos alunos que não cursaram esta disciplina.
O conteúdo programático não muda muito em relação ao anterior (Semiologia I). Teremos mais tempo para
discutir os casos atendidos no ambulatório (4 horas semanais) e para treinamento de habilidades clínicas e
de comunicação e discussão teórica (2 horas semanais).
Proposta Planejamento Pediatria 1 - 18 semanas de aula
Ambulatório - 4 horas semanais
Aula 1 – apresentação da disciplina
Aula 2 – simulação Anamnese (semelhante ao já realizado)
Aula 3 – simulação exame físico (semelhante ao já realizado)
Aula 4 a 18 – atendimentos ambulatoriais com discussão dos casos
4
Aula 2 horas
Aula
Assunto
Anamnese
Objetivo
Habilidades de comunicação
Anamnese
Anamnese
Anamnese
Registro da anamnese
Exame Físico
Treinamento de habilidades clínicas –
antropometria, dados vitais, ectoscopia
Treinamento de habilidades clínicas –
COONG
Treinamento de habilidades clínicas –
COONG, pescoço
Leite materno
Alimentação 1º ano, pré-escolar,
escolar, adolescente
Crescimento da criança e Caderneta
da criança
Crescimento do adolescente e
Caderneta do adolescente
Exame Físico
Exame Físico
Alimentação
Alimentação
Crescimento
10.
Crescimento
11.
12.
Prova parcial
Desenvolvimento
13.
Desenvolvimento
14.
Vacinação
15.
16.
Vacinação
Integração seminário
Prova prática
Prova Final
17.
18.
DNPM no primeiro ano de vida
Prevenção de acidentes
DNPM
Prevenção de acidentes
Princípios
Calendário básico
Calendário básico
Anamnese, exame físico, crescimento,
desenvolvimento e vacinação
Metodologia
Vídeos
Simulação
GD com casos clínicos
Vídeos
Simulação
Vídeos
Simulação
Vídeos
Simulação
Vídeos
Simulação
GD com casos clínicos
GD com casos clínicos
GD com casos clínicos
GD com casos clínicos
Dissertativa
GD com casos clínicos, vídeos do
Semiologia da Criança
GD com casos clínicos
Vídeos
GD com casos clínicos
GD com casos clínicos
Casos simulados integrando
conteúdo
Lab Sim
5
Trajetória do aluno nas Disciplinas da Pediatria na reforma curricular
PEDIATRIA 2
Carga horária semanal: 4h - A partir do segundo semestre de 2015 serão 6h semanais
Locais: Ambulatório Bias Fortes - LabSim - Enfermaria
Corpo docente: Maioria composta por docentes que já atuam na Semiologia II
No segundo semestre de 2014:
O aluno não terá feito a Pediatria I (antigo quinto período). O conteúdo programático nesse semestre será
abordado com simulação e vídeos para a anamnese em aulas já gravadas com os temas do quarto período
da reforma. Os sistemas, serão abordados em GDs, no LabSim e na enfermaria. Não serão dados neste
período o sistema geniturinário e sistema locomotor, saúde psicoafetiva, hepatoesplenomegalia e transição
da adolescência. Há necessidade de enfatizar o seguinte conteúdo: PARÂMETROS DE NORMALIDADE PARA
MEDIDA DE PRESSÃ O ARTERIAL, FREQUÊNCIAS CARDÍACA E RESPIRATÓRIA EM CRIANÇAS; TEMPERATURA CORPORAL.
O conteúdo programático neste semestre será abordado em 7 GDs, 1 aula teórica, 02 atividades de
simulação e 1 estudo dirigido, conforme apresentado no quadro abaixo:
Programa teórico
Métodos de Ensino
ANAMNESE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Simulação - videos
Simulação - videos
Video - GD
Video -GD
ANAMNESE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ALIMENTAÇÃO 1 (LM; ALIMENTAÇÃO NORMAL DO PRÉ-ESCOLAR, ESCOLAR E
ADOLESCENTE);
CALENDÁRIO VACINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
EXAME FÍSICO: ECTOSCOPIA COONG CAVIDADE BUCAL PESCOÇO
CRESCIMENTO NORMAL;CLASSIFICAÇÃO CRESCIMENTO COM DESVIOS DA
NORMALIDADE
MARCOS DO DESENVOLVIMENTO NORMAL - TESTE DENVER
Estudo dirigido
GD
Aula -GD
GD - video
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Labsim - enfermaria
Enfermaria
SISTEMA DIGESTÓRIO
GD enfermaria
SISTEMA NERVOSO
Video -GD
TEMA DE ÉTICA: Ética na abordagem do paciente e na realização do exame físico em crianças e
adolescentes.
Estes alunos terão um horário de 13 às 14h, um dia na semana que deverá se utilizado conforme
necessidade da turma.
SISTEMA RESPIRATÓRIO
SISTEMA CARDIOVASCULAR
6
PEDIATRIA 2
No primeiro semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 2, já fez Pediatria I. Os temas serão os acordados para Pediatria 2 no Projeto
Pedagógico do Departamento em 2012.
Programa teórico
Métodos de Ensino
Sistema respiratório
Sistema cardiovascular
Sistema digestório
Sistema nervoso
Sistema locomotor
Sistema geniturinário- inclusive problemas da área genital
Distúrbios do crescimento – abordagem da criança e do adolescente com peso
e/ou altura baixos para a idade. Desvios no crescimento do perímetro cefálico;
Saúde psicoafetiva de crianças (vinculo mãe-bebê; choro; sono; apetite /
saciedade; controle de esfíncteres; birra; disciplina; autoestima);
Teste de Denver
A transição da adolescência
Linfadenomegalias-diagnóstico diferencial
Hepatomegalia e esplenomegalia - diagnóstico diferencial
GD
GD
GD
GD- video
Estudo dirigido
2 -GDs
Estudo dirigido
GD
GD
GD
GD
GD
O segundo semestre de 2015 será igual ao primeiro semestre 2015
A partir do segundo semestre de 2015 a carga horária será de 6 horas semanais.
7
Trajetória do aluno nas Disciplinas da Pediatria na reforma curricular
PEDIATRIA 3
Carga horária semanal: 4h
Local: Ambulatório Bias Fortes
Corpo docente: Maioria composta por professores que já atuavam na MGCI
No segundo semestre de 2014:
O aluno que fará a PEDIATRIA 3 não terá feito a Semiologia II. Alguns conteúdos serão abordados apenas
em aulas e há necessidade de fortalecer os referidos conteúdos ao longo desse período: Sistema
cardiovascular, Sistema respiratório, Sistema digestivo e Sistema nervoso. O conteúdo programático nesse
semestre será abordado em 7 GDs e 3 estudos dirigidos, conforme apresentado no quadro abaixo:
Programa teórico
Métodos de Ensino
Nutrição de crianças e adolescentes
Obesidade
Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais;
imunização passiva)
Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar
Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores)
Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal, dispepsia e RGE)
Dermatoses mais comuns na infância e adolescência
Linfadenomegalias - diagnóstico diferencial
Teste de Denver
Transição para adolescência
Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários: o
prontuário médico e aspectos éticos envolvidos na prescrição e nos pedidos de
exames complementares
GD
GD
GD
GD
Estudo dirigido
GD
Estudo dirigido
GD
GD
Estudo dirigido
Abordado durantes as
discussões e
atendimento aos
pacientes
Em negrito os temas que serão definitivos na disciplina PED
PEDIATRIA 3
No primeiro semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 3 não terá feito a Semiologia I. Logo, deverá ser fortalecido ao longo desse
período o conteúdo programático de: Anamnese da criança e do adolescente, Exame físico: ectoscopia e
COONG, parâmetros de normalidade para medida de pressão arterial, frequências cardíaca e respiratória
em crianças; temperatura corporal. O referido conteúdo programático desse semestre será abordado em 7
GDs, uma aula teórica e 2 estudos dirigidos, conforme apresentado no quadro abaixo:
8
Programa teórico
Métodos de Ensino
Nutrição de crianças e adolescentes
Obesidade
Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais;
imunização passiva)
Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar
Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores)
Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal, dispepsia e RGE)
Dermatoses mais comuns na infância e adolescência
Semiologia do aparelho urinário e genital e Problemas da área genital
Semiologia do aparelho ortopédico
Saúde psicoafetiva da criança
Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários: o
prontuário médico e aspectos éticos envolvidos na prescrição e nos pedidos de
exames complementares
GD
GD
GD
GD
Estudo dirigido
GD
Estudo dirigido
GD
GD
Aula
Abordado durantes as
discussões e
atendimento aos
pacientes
Em negrito os temas que serão definitivos na disciplina PED
No segundo semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 3 entrará no programa definitivo da reforma curricular. O conteúdo
programático nesse semestre será abordado em 7 GDs
Programa teórico
Métodos de Ensino
Nutrição de crianças e adolescentes
Obesidade
Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais;
imunização passiva)
Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar
Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores)
Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal, dispepsia e RGE)
Dermatoses mais comuns na infância e adolescência
Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários: o
prontuário médico e aspectos éticos envolvidos na prescrição e nos pedidos de
exames complementares
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Abordado durantes as
discussões e
atendimento aos
pacientes
9
Trajetória do aluno nas Disciplinas da Pediatria na reforma curricular
PEDIATRIA 4
Carga horária semanal: 4h
Local: Centros de Saúde
Corpo docente: Maioria composta por professores que já atuavam nos Centros de Sáude na MGCII.
No segundo semestre de 2014:
O aluno que fará a PEDIATRIA 4 não terá feito a MGC I. Logo, o conteúdo programático nesse semestre
será abordado em 7 GDs, 3 aulas teóricas e 2 estudos dirigidos, conforme apresentado no quadro abaixo:
Temas
Métodos de ensino
Obesidade
Vacinação 2
Dores recorrentes
Distúrbios gastrointestinais funcionais
Dermatoses mais comuns na infância
Anemia ferropriva
Febre no lactente
Infecções de vias aéreas superiores
Infecções de vias aéreas inferiores (Bronquiolite e Pneumonias)
Asma e abordagem do lactente sibilante
Diarreia aguda e TRO
Parasitose intestinal
Em negrito os temas que serão definitivos na disciplina PED 4
Aula 1
Aula 2
GD
GD
Estudo dirigido
Aula 3
GD
GD
GD
GD
GD
Estudo dirigido
No primeiro semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 4 não terá feito a Semiologia II. Portanto, será necessário aprimorar as
habilidades de exame físico e realização da anamnese. Além disso, os temas da PEDIATRIA 3, “Dermatoses
mais comuns na infância e adolescência” e “Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros
inferiores)” foram abordados em Estudo Dirigido e poderão ser reforçados durante esse semestre . O
conteúdo programático nesse semestre incluirá o tema Saúde psicoafetiva, abordado em estudo dirigido e
os temas definitivos da disciplina, dados em 8 GDs, conforme apresentado no quadro seguinte:
PEDIATRIA 4
Temas
Métodos de ensino
Anemia ferropriva
Febre no lactente
Infecções de vias aéreas superiores
Infecções de vias aéreas inferiores (Bronquiolite e Pneumonias)
Síndrome do Respirador oral e rinite alérgica
Asma e abordagem do lactente sibilante
Diarreia aguda e TRO
Parasitose intestinal
Saúde psicoafetiva da criança
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Estudo dirigido
10
No segundo semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 4 não terá feito a Semiologia I. Portanto será necessário aprimorar as
habilidades de exame físico e realização da anamnese.
O conteúdo programático nesse semestre é o definitivo e será abordado em GDs, conforme apresentado
no quadro abaixo:
Temas
Métodos de ensino
Anemia ferropriva
Febre no lactente
Infecções de vias aéreas superiores
Infecções de vias aéreas inferiores (Bronquiolite e Pneumonias)
Síndrome do Respirador oral e rinite alérgica
Asma e abordagem do lactente sibilante
Diarreia aguda e TRO
Parasitose intestinal
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Trajetória do aluno nas Disciplinas da Pediatria na reforma curricular
PEDIATRIA 5
Carga horária semanal: 4h
Local: Centros de Saúde
Corpo docente: Maioria composta por professores que já atuavam nos Centros de Saúde na MGCII.
No segundo semestre de 2014:
O aluno que fará a PEDIATRIA 5 terá feito as disciplinas Semiologia 1, 2 e a MGCI com conteúdo de
transição. Dos temas do conteúdo do PED 5, já terá visto crise febril. Quatro temas da PED 4 (rinite e
respirador oral, Asma, diarreia e TRO e Infecções de vias aéreas inferiores – pneumonia e bronquiolite)
serão vistos, excepcionalmente, nesse semestre. O conteúdo programático será abordado em 8 GDs, 2
aulas teóricas e 2 estudos dirigidos, conforme apresentado no quadro abaixo:
Temas
Métodos de ensino
Abordagem do adolescente e seus problemas
mais comuns
A criança e o adolescente vítima de Violência
Infecção do trato Urinário x Disfunção do trato
urinário inferior
Diagnóstico diferencial das hematúrias
Diagnóstico diferencial dos exantemas febris
Leishmaniose visceral
Dengue
Tuberculose
Rinite e respirador Oral
Asma e abordagem do lactente sibilante
Diarreia aguda e TRO
Infecções de vias aéreas inferiores
Aula 1
GD
GD
Estudo Dirigido
GD
Aula 2
GD
GD
GD
GD
Estudo Dirigido
GD
11
Em negrito os temas que serão definitivos na disciplina PED 5. Aqui não consta crise febril que é um tema
do PED 5 mas que foi discutido na MGCI em 2014-1.
PEDIATRIA 5
No primeiro semestre de 2015
O aluno que fará a PEDIATRIA 5 terá feito a PED 4 porém não fez a MGCI. Os temas Dificuldade escolar ,
Rinite e respirador oral serão abordados, excepcionalmente, nesse semestre. O conteúdo programático
será composto por 11temas e a metodologia proposta será de 8GDs, 1 aula e 2 estudos dirigidos, conforme
apresentado no quadro abaixo:
Temas
Métodos de ensino
Rinite e síndrome do respirador oral
Dificuldade escolar
Abordagem do adolescente e seus problemas mais comuns
A criança e o adolescente vítima de violência
Infecção do trato Urinário x Disfunção do trato urinário inferior
Diagnóstico diferencial das hematúrias
Diagnóstico diferencial dos exantemas febris
Convulsão febril
Leishmaniose visceral
Dengue
Tuberculose
Em negrito os temas que serão definitivos na disciplina PED 5
Estudo Dirigido
Estudo Dirigido
GD
GD
GD
GD
GD
GD
Aula
GD
GD
No segundo semestre de 2015
Atenção: O aluno que fará a PEDIATRIA 5, não fez a semiologia II. Continuamos com atenção com esse
aluno, como foi feito no PED 4 para o aprimoramento das habilidades de exame físico e realização da
anamnese. O tema “Hepatoesplenomegalia” ainda não foi abordado para essa turma, logo deverá ser
dado durante a discussão de calazar. O conteúdo programático nesse semestre é o definitivo e será
abordado em GDs, conforme apresentado no quadro abaixo:
Temas
Métodos de ensino
Abordagem do adolescente e seus problemas mais comuns
A criança e o adolescente vítima de violência
Infecção do trato Urinário x Disfunção do trato urinário inferior
Diagnóstico diferencial das hematúrias
Diagnóstico diferencial dos exantemas febris
Convulsão febril
Leishmaniose visceral e diagnóstico diferencial de hepatoesplenomegalia
Dengue
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
12
ESTÁGIO EM CLÍNICA PEDIÁTRICA
Carga horária total: 300 horas.
Período: 9º período. Currículo antigo: Internato em Clínica Pediátrica nos 11º e 12º períodos.
Locais: Enfermarias de Pediatria do Hospital das Clínicas e do Hospital Infantil João Paulo II. Unidades
Neonatal do Hospital das Clínicas e do Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves.
Corpo docente: Professores do Departamento de Pediatria, professores voluntários ou professores
convidados dos hospitais conveniados, médicos plantonistas dos hospitais.
No segundo semestre 2014, primeiro e segundo semestres de 2015:
Receberemos, por trimestre, 80 alunos do 9 º período do currículo novo e mais 80 alunos dos 11º e 12º
períodos do currículo antigo (2014-2: 9º período=80; 11ºp=27; 12ºp=54; total= 161. 2015-1: 9º período=80;
11ºp=27; 12ºp=54; total= 161. 2015-2: 9º período=80; 12ºp=54; total= 134) .
Os alunos do currículo novo (9º período) farão, também, outras 3 disciplinas no turno da tarde (3 tardes
diferentes) – Medicina Legal, Saúde do Trabalhador e Propedêutica Contextualizada II.
Todos os alunos passarão 4 semanas em uma das Unidades de Neonatologia, 4 semanas em uma das
Unidades de Internação Pediátrica e 4 semanas de rodízio nas especialidades pediátricas (a ser montado).
Objetivo geral do módulo de Neonatologia:
Ao final do Módulo de Neonatologia, os alunos serão capazes de assistir ao recém-nascido (RN) normal e de
prevenir, reconhecer e conduzir problemas relacionados ao período perinatal.
Especificamente, quando diante de um cenário clínico, os alunos deverão ser capazes de:
1. Assistir ao RN quando do seu nascimento;
2. Assistir ao RN normal em alojamento conjunto;
3. Assistir ao RN na Unidade Neonatal;
4. Conhecer a nosologia prevalente na gestante e parturiente e sua repercussão no feto e no recémnascido;
5. Conduzir ou referenciar adequadamente os pacientes que necessitem de intervenção especializada.
Módulo de Neonatologia (GDs e atividade não presencial):
1. Epidemiologia do período perinatal
2. Assistência ao nascimento
3. Exame clínico e classificação do recém-nascido.
4. Assistência ao recém-nascido pré-termo.
5. Aleitamento materno
6. Icterícia Neonatal
7. Distúrbios metabólicos do RN
8. Distúrbios respiratórios do RN: diagnóstico diferencial
9. Sepse Neonatal.
10. Abordagem das Infecções crônicas perinatais
Nas Unidades de Internação os alunos deverão adquirir ou aprimorar as seguintes habilidades:
1. Registrar de forma organizada e efetiva a história clínica, a lista de hipóteses diagnósticas e sua
evolução;
2. Executar com habilidade o exame físico completo do paciente, incluindo todos os sistemas;
3. Indicar e interpretar os principais exames necessários ao esclarecimento do diagnóstico;
4. Analisar os exames de monitoramento do paciente (ECG, oximetria, diurese, etc.);
13
5. Participar ativamente em procedimentos de ressucitação cardiopulmonar;
6. Informar ao paciente em linguagem coloquial os principais achados e/ou condutas adotadas; os riscos,
custos e possíveis benefícios dos exames solicitados; orientar a alimentação, imunização e hábitos de
vida saudáveis;
7. Redigir a prescrição médica com clareza e letra legível;
8. Elaborar relatório de alta/transferência/interconsulta.
Esses temas, prevalentes nas Unidades de Internação Pediátricas, deverão ser estudados pelos alunos
consultando bibliografia sugerida e/ou material áudio-visual (aulas gravadas em vídeo ou DVD, isto é,
atividade não-presencial):
1. Prescrição do paciente internado (características do paciente internado e prescrição)
2. Aspectos nutricionais do paciente internado
3. Terapia de hidratação venosa e distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos mais comuns
4. Síndromes respiratórias: Bronquiolite, Asma aguda, Pneumonias
5. Síndrome séptica– Abordagem na primeira hora
6. Insuficiência cardíaca na criança internada
7. Cetoacidose diabética
8. Paciente neutropênico febril
9. Sinais e sintomas do câncer na infância
10.Síndrome falciforme: protocolo para tratamento
11.Colestase do lactente
12.Doenças infecto-parasitárias prevalentes na infância
13.Doenças exantemáticas
TEMAS DE ÉTICA:
Abordagem da família, do recém-nascido e da criança hospitalizados.
Limite terapêutico e ortotanásia.
1. Eutanásia
2. Limitação terapêutica
3. Assistência ao paciente terminal
4. Humanização da assistência
5. Outros – de acordo com os casos clínicos discutidos.
14
DISCIPLINAS DA URGÊNCIA
Atendimento Pré Hospitalar e Primeiros Socorros (APH)
Suporte Avançado de Vida de Urgência e Emergência (SVUE)
Estágio de Urgência
BREVE HISTÓRICO:
As disciplinas de urgência, em sua maioria, são oferecidas em módulos, juntamente com os
departamentos de Clínica Médica e Cirurgia. As discussões para as propostas do Departamento de Pediatria
sobre a reforma curricular foram baseadas em reuniões da CCD, do colegiado e dos coordenadores das
disciplinas da urgência.
Seguindo as novas diretrizes curriculares nacionais, os egressos dos cursos médicos devem estar
preparados para o “atendimento inicial das urgências e emergências, em todas as fases do ciclo biológico”.
Por este motivo, optou-se por adotar a estratégia horizontal de ensino-aprendizado na reforma curricular.
Neste contexto, serão ofertadas as disciplinas Atendimento Pré-hospitalar e Primeiros Socorros (APH) no
primeiro período, Suporte Avançado de Vida de Urgência e Emergência (SVUE) no oitavo período e o
Estágio de Urgência no décimo segundo período.
A transição para a reforma curricular ocorrerá a partir do segundo semestre de 2014. Neste
semestre, ainda será ministrado o Internato de Urgências para os alunos do 10º período pela última vez.
Esta disciplina passa a ser ofertada a partir do primeiro semestre de 2016 para os alunos do 12º período.
No segundo semestre de 2014, ocorrerá o início da oferta das disciplinas APH para o 1º período do curso de
Medicina e SVUE para o 8º período. Como forma de transição curricular, as disciplinas SVUE e APH serão
ofertadas para os alunos do 9º período no segundo semestre de 2014, sob a forma de disciplina
equivalente. A partir do primeiro semestre de 2015, deverá ocorrer equivalência para a disciplina APH para
os alunos do 3º ao 7º períodos. A disciplina SVUE continuará a ser ofertada regularmente. Além disso, os
docentes do PED envolvidos nas disciplinas da urgência continuarão supervisionando os cenários de prática
da urgência já estabelecidos, de forma a garantir a presença da UFMG, auxiliando os docentes do Internato
de Pediatria, que terá número de alunos dobrados no ano de 2015.
Para a oferta das novas disciplinas, em especial a de APH e SVUE, o material didático, incluindo o
ensino à distância (Plataforma Moodle da UFMG), está sendo preparado. Com a verba recebida do PIEQ,
vídeo-aulas serão preparadas e será oferecido um curso de simulação avançada em São Paulo para um
docente do PED. O conteúdo teórico de ensino à distância será disponibilizado como forma de suporte
educacional ao aluno, de acordo com a ementa das disciplinas. A disponibilização de vídeos instrucionais
possibilita que o aluno perceba a sequência adequada da abordagem ao paciente gravemente enfermo,
garantindo o aprendizado uniforme. Permite também a visualização de algumas técnicas importantes no
cenário de urgência, como por exemplo, compressão torácica, manejo de vias aéreas e acesso venoso. Na
parte prática a ser desenvolvida no Laboratório de Simulação (LABSIM), serão utilizados casos clínicos, com
respectivos checklists, planos de ação e debriefing para cada estação. O Manual de urgências do NESCON,
disponibilizado para referência teórica, também será revisto e atualizado.
15
RESUMO DAS DISCIPLINAS:
• Internato de Urgências (currículo antigo): décimo período - apenas no segundo semestre de 2014
• Atendimento Pré-Hospitalar e Primeiros Socorros (APH): primeiro período - a partir do segundo semestre
de 2014
• Suporte de Vida em Urgências e Emergências (SVUE): oitavo período - a partir do segundo semestre de
2014
• Estágio de Urgências (EU): décimo segundo período - partir do primeiro semestre de 2016
1) APH
Carga horária: 45 horas (15 horas a distância – 5 horas para cada departamento - e 30 presenciais - 10
horas para cada departamento).
Objetivos
1. Identificar o paciente gravemente enfermo.
2. Indicar e realizar medidas de suporte básico de vida.
3. Realizar em ambiente de simulação medidas de assistências pré-hospitalar ao paciente gravemente
enfermo.
4. Desenvolver técnicas de habilidades de comunicação e dos aspectos humanísticos e éticos para
abordagem aos pacientes graves e seus acompanhantes.
5. Desenvolver habilidades de trabalho em equipe.
6. Conhecer a organização e regulação da rede de urgência e emergência no âmbito do SUS.
Conteúdo
1. Sintomas e sinais de gravidade.
2. Suporte básico nas diversas faixas etárias e em trauma.
3. Abordagem dos aspectos éticos e bioéticos e das técnicas de habilidades de comunicação no
atendimento de pacientes gravemente enfermos.
4. Trabalho em equipe em situações de urgência.
5. Organização e regulação da rede de urgência e emergência no âmbito do SUS.
Metodologia:
Para a discussão dos casos teóricos, serão elaborados casos clínicos apresentados sob a forma de vídeos
para a realização de vídeo debriefing, abordando os aspectos éticos, trabalho em equipe e habilidades de
comunicação. Os temas a serem discutidos serão: lactente engasgado; criança afogada; aspectos éticos e
habilidades de comunicação, ativação sistema médico de urgência. O objetivo é a discussão da abordagem
pré-hospitalar: sinais de gravidade, além do primeiro atendimento aos pacientes graves e seu
encaminhamento. Os alunos assistirão aos vídeos e discutirão os pontos essenciais para o atendimento aos
pacientes, as condutas aceitáveis e as inaceitáveis, abordando aspectos teóricos, éticos e do
relacionamento médico-paciente. Na área de urgência e emergência é necessário: abordar o paciente, o
acompanhante e/ou responsável, contatar com o SAMU (192) e interagir com a equipe de atendimento.
Em relação à parte prática no LabSim: Carga horária total de 15 horas, sendo 5 horas para o departamento
de Pediatria, com grupos de 40 alunos, divididos em 3 a 4 subgrupos de 13 a 14 alunos, para capacitação
sob a forma de rodizio das estações/cenários, utilizando manequins e equipamentos de simulação para
abordagem dos seguintes temas:
16
1. Suporte Básico de Vida em Pediatria (Lactente e criança) - treinamento nos manequins;
2. Acidentes - Serão discutidos três casos:
3. Como utilizar corretamente a cadeirinha para automóvel. Na parte a distância, será utilizado um vídeo
produzido pelo CETES e material da SBP.
4. Intoxicações exógenas (o que não fazer!)
5. Acidentes por animais peçonhentos (o que é urgente?)
6. Como reconhecer a criança grave (dificuldade respiratória, palidez, cianose, desidratação, alteração da
consciência).
2) SVUE
Carga horária: 30 horas, sendo 15 horas à distância (5 horas para cada departamento) e 15 horas
presenciais no LabSim (5 horas para cada departamento)
Objetivos
A disciplina tem como objetivo principal capacitar o estudante para o primeiro atendimento a pacientes
adultos e pediátricos em situação de urgência e emergência, utilizando medidas de suporte básico e, se
necessário, suporte avançado de vida.
Objetivos Específicos
1. Discutir o sistema regional de urgências e emergências médicas, conhecendo o fluxo dos pacientes;
2. Capacitar o aluno para a classificação de risco;
3. Treinamento teórico e prático (em ambiente artificial) para a abordagem inicial das situações de
emergências médicas mais prevalentes nos diversos níveis de complexidade do sistema de saúde;
4. Discutir os princípios do atendimento de urgência em equipe, de forma ética e humanizada.
Conteúdo
1. Suporte Básico de Vida e uso do desfibrilador automático externo.
2. Abordagem dos aspectos éticos, bioéticos e as técnicas de habilidades de comunicação no atendimento
de pacientes gravemente enfermos
3. Biomecânica do trauma e atendimento ao paciente politraumatizado.
4. Acidentes por animais peçonhentos e intoxicações exógenas
5. Atendimento às emergências clínicas: crises convulsivas, perda da consciência súbita, dor precordial,
crise hipertensiva, acidente vascular encefálico, queimaduras, anafilaxia, afogamento, diabetes
descompensado.
6. Atendimento inicial ao Choque e à insuficiência respiratória.
7. Atendimento à parada cardiorrespiratória e arritmias cardíacas.
8. Classificação de risco na urgência, transporte e encaminhamento responsável.
Metodologia
Pelo calendário proposto existe uma variação nos dias e turnos de acordo com os horários disponíveis.
I. Parte a distância: Carga horária: 10 horas (5 horas para o PED e para CLM). O aluno deverá interagir com
a plataforma MOODLE utilizada pela UFMG, de forma a ter acesso aos conteúdos teóricos da disciplina.
Será disponibilizado pelos docentes material teórico e de audiovisual sobre os temas. Os alunos serão
divididos em 2 grupos de 80 alunos. Monitores e tutores serão disponibilizados para suporte técnico e
didático.
17
II. Parte prática no LabSim: Carga horária: 15 horas (5 horas por departamento). Grupos de 40 alunos,
divididos em 3 grupos de aproximadamente 14 alunos, para capacitação sob a forma de rodízio das
estações/cenários, utilizando manequins e equipamentos de simulação. Roteiros e checklist serão
disponibilizados para garantir a padronização do ensino e da avaliação do aluno.
I. Parte a distância:
1. Suporte Básico de Vida e uso do desfibrilador automático externo.
2. Atendimento à parada cardiorrespiratória na criança e no adulto no suporte avançado.
3. Avaliação e atendimento inicial ao paciente gravemente enfermo.
4. Abordagem inicial de problemas respiratórios (sistemas de oferta e oxigênio, intubação endotraqueal)
5. Abordagem inicial de problemas circulatório: choque (acesso venoso e reposição volêmica).
6. Abordagem inicial do paciente comatoso, acidente vascular encefálico e crise convulsiva.
7. Biomecânica do trauma e atendimento ao paciente politraumatizado.
8. Atendimento às emergências clínicas: dor precordial, crise hipertensiva, queimaduras e anafilaxia.
II. Parte presencial no LabSim:
A parte presencial no LabSim (4 turmas de 40 alunos, duração: 15 horas): Aulas práticas no LabSim para
capacitação utilizando manequins e equipamentos de simulação.
As aulas práticas serão distribuídos em 3 módulos de 5 horas cada, destinados a cada departamento
envolvido (Pediatria, Clínica Médica e Cirurgia). Cada módulo será realizado sob a forma de rodízio, com
uma estação pré-cenário e, a seguir, estações.
Os cenários a serem utilizados pelo PED são:
1. Atendimento à parada cardiorrespiratória no lactente, criança e no adolescente;
2. Primeiro atendimento aos distúrbios circulatórios (choque, anafilaxia);
3. Primeiro atendimento aos distúrbios respiratórios (sistema de oferta de oxigênio, intubação traqueal,
reconhecimento das síndromes respiratórias).
3) ESTÁGIO DE URGÊNCIA
Carga horária: 104 horas - 1 plantão/semana de 12h por 10 semanas + 4h outras atividades –
teoria/simulação, totalizando 12 horas/semana.
Conteúdo
1. Ensino a distância utilizando a plataforma Moodle da disciplina: textos, artigos, apresentação em
powerpoint, casos clínicos, questões múltipla escolha, protocolos, vídeos instrucionais.
2. Discussão de casos clínicos de temas prevalentes, a serem disponibilizados na plataforma Moodle, sob
supervisão de monitores e docentes.
3. Grupos de discussão sobre os temas: atendimento ao paciente grave, crise asmática aguda e diarreia
aguda.
4. Grupos de discussão utilizando a simulação com manequins básicos e semi-robotizados, seguidos por
discussão das ações aceitáveis e inaceitáveis.
- Metaturma atual (Moodle UFMG) do décimo será disponibilizada para os alunos. Os conteúdos serão
distribuídos entre as disciplinas. Os alunos ocuparão os cenários de prática do atual Internato de Urgência.
Os docentes supervisionarão os campos de estágios e serão responsáveis pela primeira semana de aulas
teórico-práticas e grupos de discussão.
Temas a serem abordados:
1. Suporte básico e avançado de vida em pediatria.
18
2. Técnicas de habilidades de comunicação e aspectos éticos no atendimento de pacientes gravemente
enfermos.
3. Primeiro atendimento ao paciente gravemente enfermo e trabalho em equipe.
4. Classificação de risco na urgência, transporte e encaminhamento responsável.
5. Abordagem de choque (distributivo, obstrutivo, hipovolêmico e cardiogênico).
6. Abordagem da diarreia aguda.
7. Abordagem dos problemas respiratórios das vias aéreas superiores e inferiores.
8. Abordagem dos distúrbios do ritmo cardíacos mais comuns na criança.
9. Abordagem dos problemas neurológicos mais comuns na criança.
10. Indicação de internação hospitalar e em Centro de Tratamento Intensivo.
11. Compreender a base dos princípios de terapêutica geral e específica das situações clínicas mais
comuns.
12. Observação Clínico-Cirúrgica na sala de observação em Pronto Atendimento Referencial.
Competências:
1. Ao final da disciplina o aluno no módulo PED deve ter a competência para:
2. O atendimento pré-hospitalar aos pacientes com doença aguda.
3. Diferenciar as ações aceitáveis e inaceitáveis durante ao primeiro atendimento destes pacientes,
enfocando as principais causas de morte, que são a insuficiência respiratória e o choque.
4. A abordagem ética e da relação médico-paciente/acompanhante (familiares), assim como conhecer a
regulação da assistência pelos serviços públicos disponíveis.
5. O atendimento em equipe, relação interprofissional, utilizando técnicas de habilidades de
comunicação.
6. Utilizar protocolos definidos para a abordagem às principais urgências que fazem parte da nosologia
prevalente em nosso meio.
Divisão das turmas:
• 160 alunos por semestre divididos em 2 turmas de 80 alunos, onde 80 farão o estágio de
Trauma/Ortopedia por 1 trimestre e os outros 80 farão Emergências Clínicas e Pediátricas por 1
trimestre.
• No Estágio de Emergências Clínicas e Pediátricas os 80 alunos serão divididos em 5 turmas de 16
alunos cada. A seguir cada uma das turmas será subdividida, de acordo com os campos de estágio.
19
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (COMPETÊNCIAS ESPERADAS)
PEDIATRIA 1
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anamnese da criança e adolescente
Reconhecer a importância do sexo, da idade, da residência e da procedência do paciente na
interpretação dos sintomas em pediatria.
Relacionar as características do informante e a qualidade das informações colhidas durante a
anamnese. Identificar características do informante e sua relação com o cuidado com a criança.
Executar adequadamente a anotação da ‘Queixa Principal’ e da ‘História da moléstia atual - HMA’ (nas
palavras do paciente? Quando utilizar termos mais técnicos?)
Identificar o que deve ser perguntado na ‘HMA’, na ‘Anamnese Especial’, na ‘História Pregressa’, na
‘História Familiar’, na ‘História Sócio-Econômica’.
Relacionar as condições de saúde da mãe durante a gravidez, as medidas do recém-nascido e a nota de
Apgar. Exemplificar.
Relacionar os vários itens da ‘Anamnese’ na interpretação dos sintomas.
Usar técnicas e habilidades de comunicação da consulta centrada no paciente: contato visual, escuta
atenta, encorajadores, sumarização e parafraseamento, transição, abordagem das preocupações e
significado da doença;
Estabelecer a agenda do paciente.
Reconhecer e diferenciar os conceitos de doença e moléstia.
Reconhecer e diferenciar os conceitos de motivo da consulta e razão da consulta.
Reconhecer a importância da escuta na construção da relação médico-paciente-família.
Identificar as particularidades da consulta do adolescente (sigilo médico, atendimento em separado).
II. Iniciação ao Exame Físico
1. Identificar as particularidades do exame físico em pediatria: como conseguir a cooperação da
criança/adolescente? Procurar respeitar as condições da criança/adolescente para que aceite ser
examinado.
2. Executar e anotar corretamente a mensuração dos dados antropométricos no prontuário:
- peso (cuidados com a calibração, roupas, posição);
- estatura;
- perímetro cefálico (PC).
3. Executar corretamente a mensuração dos dados vitais e reconhecer seus parâmetros de normalidade
em Pediatria:
- freqüência cardíaca (FC) e pulsos;
- pressão arterial (PA): escolha do manguito; valores de referência;
- freqüência respiratória (FR);
- temperatura axilar (Tax).
4. Executar e anotar corretamente a ‘Ectoscopia’:
- observar o aspecto geral do paciente, o comportamento, a postura, a relação com a
mãe/responsável;
- observar achados anormais durante o exame: choro, tosse, vômitos, convulsões, etc;
20
5.
6.
7.
8.
9.
- observar a fácies;
- observar o estado de nutrição: pele, subcutâneo, cabelos, musculatura, mucosas, correlacionar os
achados com a história alimentar, o peso e a estatura;
- observar o estado de hidratação: observar sede, sensório, mucosas, turgor, fontanela, enoftalmia,
tipo de respiração, perfusão capilar, correlacionar os achados com a história de perdas, com a
história de baixa oferta, com o peso, com a freqüência cardíaca e com o tipo de pulso, determinar o
grau de desidratação;
- pele: observar elasticidade, textura, umidade, coloração (anemia, cianose, icterícia), lesões
elementares;
- pelos: distribuição, implantação, cor, brilho, textura, coloração;
- unhas;
- tecido subcutâneo: turgor, quantidade, distribuição, edema (caracterização);
- musculatura: tonicidade e troficidade;
- esqueleto; forma, função;
- examinar as cadeias de linfonodos: cadeias, diâmetro, consistência, mobilidade, sensibilidade;
Executar e anotar corretamente o exame da cabeça, olhos, ouvidos, nariz, garganta e cavidade oral
(‘C.O.O.N.G’) e pescoço.
- cabeça: conformação, fontanelas (tamanho, tensão, superfície), craniotabes, PC, sinais
meníngeos;
- pescoço: posição, torcicolo, pterígeo, lesões, tireóide;
- olhos: esclera, conjuntiva, olho vermelho, estrabismo, reflexo pupilar, epífora;
- nariz: forma, batimento de asa de nariz (BAN), cornetos, secreções; caracterização da rinite
alérgica;
- cavidade oral e garganta: técnicas de exame, achados anormais; o que deve ser inspecionado;
como descrever a oroscopia;
- otoscopia: técnica, aspecto normal do tímpano e conduto auditivo. Conhecer a representação
esquemática do tímpano, saber observá-lo na prática. Descrever a otoscopia normal.
Identificar os sinais de desidratação aguda.
Identificar os sinais de desnutrição (marasmo e kwashiorkor).
Identificar as principais características observadas nas fácies: hidrocefalia, Síndrome de Down,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, sarampo.
Identificar e descrever os seguintes achados ao exame físico: postura fetal, mancha mongólica,
manchas ectásicas do recém-nascido, hirsutismo, unha em vidro de relógio, sinal do godê ou do cacifo,
craniossinostose, craniotabes, hipertelorismo ocular, leucocoria, língua geográfica, língua saburrosa.
III. A caderneta de saúde da criança e do adolescente
1. Conhecer os instrumentos de avaliação do crescimento e desenvolvimento utilizados pela Caderneta
de Saúde da Criança de 2013 (8ª edição).
2. Utilizar a Caderneta de Saúde da Criança como instrumento de educação em saúde.
3. Utilizar a Caderneta de Saúde do Adolescente como instrumento de educação em saúde.
I. Conceitos Básicos sobre Alimentação
1. Reconhecer qual a alimentação ideal para o primeiro semestre de vida da criança.
2. Conhecer o que é preconizado pela OMS em relação ao aleitamento materno.
21
3. Reconhecer as vantagens do aleitamento materno, considerando fatores biológicos, psíquicos e sócioambientais; descrever a composição do leite materno (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas,
minerais, componentes imunológicos). Definir colostro, leite de transição, leite maduro.
4. Identificar estratégias de promoção do aleitamento materno no pré-natal: lembrar que o preparo da
mãe e do companheiro antecede o da mama; abordar aspectos não apenas técnicos do aleitamento
materno, abordar também questões subjetivas, relacionadas a sexualidade, por exemplo, o que o
aleitamento materno pode mudar na vida do casal.
5. Compreender o mecanismo da secreção e propulsão do leite.
6. Compreender as particularidades em relação ao Aleitamento materno: horário, duração, técnica,
conhecer as principais causas de desmame e obstáculos ao aleitamento materno (fissura, mastite,
mamilo plano). Reconhecer as contra-indicações absolutas e relativas ao aleitamento materno.
7. Compreender por que a criança em aleitamento materno exclusivo não necessita suplementação de
ferro. Quais são as exceções?
8. Descrever a época e sequência de introdução dos alimentos (refeições). Compreender por que é
necessária essa introdução.
9. Orientar o preparo da papa de legumes: de quê, como fazer, quando introduzir.
10. Conhecer a época de introdução dos seguintes alimentos: gema de ovo, clara, carne, fígado, peixes.
11. Orientar adequadamente sobre o desmame definitivo: quando?
12. Orientar adequadamente o Aleitamento misto: como prescrever e em que circunstâncias. Conhecer a
composição do leite de vaca integral, as vantagens e desvantagens das fórmulas lácteas e do leite de
vaca integral; prescrever adequadamente o preparo da mamadeira de Leite de Vaca e fórmulas
(concentrações e diluições).
13. Descrever o esquema alimentar no 1o. ano de vida, mês a mês.
14. Orientar adequadamente sobre o banho de sol: quando iniciar, duração e freqüência.
15. Descrever as particularidades da alimentação no 2º ano de vida, na fase pré-escolar, escolar e
adolescente.
16. Conhecer as indicação de uso de sulfato ferroso e polivitamínicos.
V.
Crescimento
1. Definir crescimento.
2. Correlacionar os tipos de crescimento (somático, neural, linfóide) com as faixas etárias. Conhecer a
representação gráfica.
22
3. Definir as épocas de repleção e estirão.
4. Executar adequadamente a medição dos dados antropométricos: peso, comprimento/estatura,
perímetro cefálico (PC); calcular o IMC (índice de massa corporal). Registrar e comparar os resultados
encontrados com gráficos adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil (Caderneta da Criança) e
Organização Mundial de Saúde;
5. Conhecer como as Curvas de Crescimento são elaboradas, em especial o Estudo Multicêntrico de
Referência para o Crescimento (WHO Multicentre Growth Reference Study, MGRS, 2006).
Compreender as curvas de percentil e de escore Z para peso, estatura e IMC e seus respectivos pontos
de corte.
6. Avaliar o crescimento do recém nascido: medidas ao nascimento (Peso, Estatura, Perímetro
Cefálico/PC); proporções do corpo do RN; perda de peso no período neonatal; ganho de peso no
primeiro mês;
7. Avaliar o crescimento durante o primeiro e segundo ano de vida: ganho de peso e comprimento,
aumento do PC, fechamento da fontanelas, erupção dos dentes.
8. Avaliar o crescimento do pré-escolar e do escolar - mudanças na postura.
9. Avaliar o crescimento na puberdade: características, correlacionar com os critérios de Tanner.
Conhecer a idade e evolução do aparecimento dos caracteres sexuais secundários.
10. Reconhecer a importância da avaliação longitudinal no diagnóstico do crescimento.
11. Sistematizar a avaliação do crescimento durante a consulta pediátrica, desde a anamnese, passando
pelas medidas antropométricas, exame físico e a classificação nutricional com as curvas de
crescimento.
Marcos do crescimento:
1. Peso médio ao nascimento: 3,4Kg
2. Estatura média ao nascimento: 50cm
3. Perímetro cefálico ao nascimento: 35cm
4. Estatura aos 12 meses:75cm
5. Dobra o peso de nascimento: em torno de 5 meses
23
6. Triplica o peso de nascimento: 12meses
7. Estatura aos 4 anos:100cm
VI.
1.
2.
3.
Desenvolvimento
Definir desenvolvimento.
Identificar os princípios básicos do desenvolvimento: seqüência, ritmo, reflexos primitivos.
Identificar os fatores de risco para atraso do desenvolvimento: dismorfologia, história pré-natal,
perinatal e pós-natal, história familiar e social.
4. Descrever a evolução do desenvolvimento neuropsicomotor nos quatro primeiros trimestres de vida:
postura, linguagem, contato visual. Reconhecer os principais marcos em cada área de
desenvolvimento.
5. Descrever os reflexos arcaicos mais importantes e idade de ocorrência e desaparecimento: Moro,
sucção, protusão da língua, preensão palmar e plantar, apoio plantar, marcha, tônico-cervical
assimétrico
6. Conhecer e utilizar instrumentos de avaliação do desenvolvimento: Ministério da Saúde (Caderneta da
Criança 2011 - utilizar no atendimento) e Denver. Interpretar a escala de Denver. Conhecer os quatro
campos de avaliação do desenvolvimento: motor, adaptativo, linguagem, pessoal-social.
7. Reconhecer a importância do cuidador, do Outro, na constituição psicológica do ser humano.
Compreender a importância da estimulação oportuna de acordo com a faixa etária.
8. Identificar os marcos fundamentais do desenvolvimento neuro-motor:
a. Sustenta a cabeça: 3meses;
b. Senta sozinho: 6meses;
c. Em pé com apoio: 9meses;
d. Inicia marcha: 12meses
9. Reconhecer sinais para detecção precoce de déficits de audição e visão e autismo.
10. Sistematizar a avaliação do desenvolvimento durante a consulta pediátrica, englobando a anamnese e
exame físico.
VII. Conceitos básicos sobre Vacinação e Calendário Vacinal
1. Conhecer os princípios da imunização:
• Particularidades da resposta imune do lactente
• Características das vacinas (vivas e inativadas; conjugadas e combinadas)
• Conservação das vacinas (rede frio)
• Contraindicações gerais e precauções ao uso de vacinas.
• Falsas contraindicações ou precauções ao uso de vacinas.
2. Conhecer o programa nacional de imunizações: impacto no controle de doenças transmissíveis.
3. BCG: descrever a evolução da pega, eficácia, efeitos adversos, indicação de revacinação,
contraindicações e indicação de adiamento de acordo com o peso de nascimento.
4. Vacina contra Hepatite B: indicação, esquema vacinal, esquema vacinal de acordo com o peso de
nascimento, prevenção de transmissão vertical, efeitos adversos.
5. Vacina antipólio: reconhecer tipos de vacina e suas indicações e efeitos adversos, vantagens e
desvantagens de cada tipo de vacina, esquema vacinal, contra-indicações.
6. Tríplice bacteriana: descrever seus componentes, esquema vacinal, contraindicações, efeitos adversos.
Identificar a conduta adequada nos casos de reações como febre, choro inconsolável, evento
hipotônico hiporresponsivo, convulsões. Reconhecer as indicações da tríplice bacteriana acelular.
7. Dupla tipo adulto: descrever seus componentes, indicações, contra-indicações, efeitos adversos.
24
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vacina contra Haemophilus influenza tipo B: descrever esquema vacinal, indicações, efeitos adversos.
Vacina pentavalente: descrever seus componentes, esquema vacinal.
Tríplice e tetra viral: descrever seus componentes, esquema vacinal, contraindicações, efeitos adversos.
Vacina contra febre amarela: esquema vacinal, indicações, contraindicações, efeitos adversos.
Vacina contra rotavírus: esquema vacinal, indicações, contraindicações, efeitos adversos.
Vacina conjugada contra meningococos tipo C e pneumococos: eficácia, esquema vacinal, indicações,
contraindicações, efeitos adversos.
Vacina contra Influenza: esquema vacinal, indicações, contraindicações, efeitos adversos.
Vacina contra o HPV: indicação, esquema vacinal.
Vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), ainda não incorporadas no PNI:
hepatite A, tríplice acelular: esquema vacinal, indicações, contraindicações, efeitos adversos.
Comparar o calendário vacinal do PNI e SBP.
Definir conduta quando existe atraso na execução do esquema vacinal.
Citar as doenças que exigem imunização ativa artificial (vacina) mesmo após o indivíduo tê-las
adquirido.
Conhecer o calendário vacinal do PNI e SBP para adolescentes.
25
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
IX.
Prevenção de acidentes
Definir acidente.
Identificar fatores de risco para os acidentes a partir de dados da epidemiologia.
Relacionar o estágio de desenvolvimento de uma criança e o tipo de acidente mais provável.
IUdentificar as variadas maneiras de se proceder à prevenção de acidentes.
Identificar as causas mais comuns de morbidade e mortalidade entre adolescentes (violência,
acidentes, DST).
Visão ética da relação médico-paciente-família
A visão ética da relação médico-paciente-família será abordada conforme a exigência de cada caso clínico.
MARTINS M A, VIANA M R A, VASCONCELLOS M C, FERREIRA R A. Semiologia da Criança e do Adolescente
Rio de Janeiro; MedBook, 2010. Capítulos 3 e 6
26
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (COMPETÊNCIAS ESPERADAS)
PEDIATRIA 2
I. SAÚDE PSICOAFETIVA DA CRIANÇA E TESTE DE DENVER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Conhecer acerca do desenvolvimento infantil
Realizar anamnese buscando dados relevantes para avaliação do desenvolvimento infantil
Reconhecer as principais alterações do desenvolvimento infantil
Conhecer as causas de atraso do desenvolvimento infantil
Conhecer o teste de Denver II
Citar fatores determinantes do desenvolvimento infantil.
Compreender a importância da vigilância constante ao desenvolvimento infantil e a necessidade de
intervenção precoce quando a criança apresenta atrasos
Compreender as principais características do desenvolvimento emocional das crianças e dos
adolescentes
Observar e avaliar o vínculo mãe-filho. Compreender a sua importância
Conceituar e reconhecer os organizadores de Spitz, explicar os seus significados
Identificar dados da anamnese e exame físico que levam a suspeita de autismo na criança
Identificar fatores de risco para o desenvolvimento emocional das crianças
Saber ouvir dos cuidadores as observações sobre o desenvolvimento da criança e considerá-las
Identificar estrabismo, baixa visão e como a visão evolui na criança
Identificar como é o desenvolvimento do olfato no bebê
Explicar a afirmação: Mãe boa o bastante de Winnicott e os objetos transicionais deste autor
Identificar o papel do pai no desenvolvimento infantil
Saber orientar cuidadores quanto a: por que a criança faz birra, como proceder em tais casos e quando
iniciar o treinamento de esfíncteres
Saber orientar os cuidadores quanto ao momento de estabelecer limites e quais são as regras básicas
para a sua implementação
Saber avaliar o desenvolvimento infantil utilizando a Caderneta de Saúde da Criança
Aplicar e interpretar o IRDI (Indice de Risco para o Desenvolvimento Infantil)? Identificar os sinais de
alerta em cada faixa etária
Aplicar o teste de Denver
Saber interpretar o teste de Denver II
II. SISTEMA RESPIRATÓRIO
1. Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema respiratório
2. Realizar o exame físico do sistema respiratório
3. Reconhecer, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema respiratório
4. Realizar as técnicas de exame do sistema respiratório
5. Conhecer as causas de afecções do sistema respiratório
6. Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema respiratório
7. Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema
8. Conhecer os mecanismos de formação dos roncos, sibilos e crepitações. Saber interpretar estes
achados?
9. Saber conceituar: Pausa x Apnéia e respiração periódica do recém nascido.
10. Saber conceituar e citar as principais causas de taquipnéia e bradipnéia.
11. Conhecer as alterações torácicas que podem ser encontradas nas seguintes doenças:
27
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
a) Raquitismo
b) Escorbuto
c) Desnutrição grave
d) Asma grave
Saber fazer um quadro com inspeção, palpação, ausculta e radiografia de tórax: na pneumonia, na
asma, derrame pleural, pneumotórax e atelectasia extensa.
Conhecer, saber o que é, e a clínica da: fibrose cística, do refluxo gastro- esofágico, bronquiolite,
lactente sibilante e epiglotite.
Conhecer e saber descrever os diferentes ritmos e padrões respiratórios de acordo com a faixa etária.
Saber dar exemplos em quais situações são encontrados.
Conhecer os sinais e sintomas encontrados nas obstruções respiratórias altas e baixas e saber dar
exemplos de cada um.
Saber os sinais e sintomas de hipóxia aguda e crônica.
Saber identificar e diferenciar um resfriado comum de uma infecção respiratória mais grave.
Saber descrever as alterações semiológicas (inspecção, palpação, percussão, ausculta, radiografia de
tórax) encontradas nas laringites e no corpo estranho no pulmão.
Conhecer e saber interpretar: Tiragem intercostal e batimento de aletas nasais.
Conhecer as alterações que podem ser encontradas no pulmão das crianças com tuberculose e o
quadro clínico da tuberculose pulmonar.
III. SISTEMA CARDIOVASCULAR
1. Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema cardiovascular
2. Realizar o exame físico do sistema cardiovascular.
3. Reconhecer, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema cardiovascular
4. Realizar as técnicas de exame do sistema cardiovascular
5. Conhecer as causas de afecções do sistema cardiovascular
6. Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema cardiovascular
7. Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema cardiovascular
8. Conhecer e saber fazer um esquema do ciclo cardíaco situando as quatro bulhas em cada fase,
explicando seus mecanismos de formação.
9. Saber explicar quando B3 é um achado fisiológico e quando é patológica?
10. Conhecer desdobramento fisiológico de B2 e o desdobramento patológico de B2. Saber por que cada um
acontece e conhecer um exemplo de desdobramento patológico de B2.
11. Conhecer as causas extra e intra-cardíacas de alteração de fonese de B1 e B2. Explicar:
12. Saber explicar Hiperfonese de B1 na Estenose Mitral e no Intervalo PR curto.
13. Saber explicar Hipofonese de B1 na Insuficiência Mitral e no Intervalo PR longo.
14. Conhecer os mecanismos de formação dos sopros cardíacos.
15. Conhecer os critérios usados no diagnóstico de sopro inocente.
16. Conhecer os tipos de sopros inocentes mais comuns em quais focos se localizam, quais características e
modificações do sopro.
17. Conhecer e saber fazer um esquema das principais Cardiopatias encontradas na criança: Congênitas
(Cianosantes e não Cianosantes) e Adquiridas.
18. Conhecer os achados clínicos mais característicos (sopros, pulsos, alteração da pressão arterial,
presença ou não de cianose) nas seguintes cardiopatias: Tetralogia de Fallot, CIA, CIV, PCA, Coarctação
da Aorta, Estenose e Insuficiência de Mitral, Estenose Pulmonar, Insuficiência Aórtica.
19. Conhecer o quadro clínico da febre reumática em relação:
28
Achados auscultatórios na fase aguda. Lesões valvares mais comuns nas fases aguda e crônica nas
crianças e adolescentes.
• Fisiopatologia (resumida)
• Principais sintomas e sinais.
20. Conhecer os principais sintomas e sinais da ICC na criança.
21. Conhecer os critérios usados para diagnosticar Hipertensão Arterial na criança/adolescente e suas
principais causas.
•
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SISTEMA DIGESTÓRIO
Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema digestório
Realizar o exame físico do sistema digestório
Reconhecer, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema digestório
Realizar as técnicas de exame do sistema digestório
Conhecer as causas de afecções do sistema digestório
Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema digestório
Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema digestório
Saber definir melena, hematêmese, encoprese, incontinência anal, constipação intestinal, diarréia,
vômitos versus regurgitação; aranhas vasculares (como pesquisar)
9. Conhecer os critérios para definir se fígado ou baço palpáveis em um paciente são preocupantes ou
não.
10. Conhecer e saber identificar o diagnóstico semiológico de:
• Refluxo gastroesofágico, Estenose hipertrófica do piloro
• Hérnia inguinal, Hérnia umbilical
• Onfalocele Gastrosquise
• Atresia de vias biliares, Apendicite
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Conhecer o diagnóstico diferencial de Atresia de vias biliares.
Conhecer as causas de hemorragia gastrointestinal (alta e baixa) no lactente e na criança
maior.
Conhecer as causas de dor abdominal aguda e crônica.
Conhecer e saber identificar o quadro clínico do seqüestro esplênico na anemia falciforme.
Conhecer e saber identificar o quadro clínico da invaginação intestinal.
Saber identificar as alterações semiológicos nas regiões inguinais, anal e sacrococcigeana.
SISTEMA GENITURINÁRIO
1. Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema genitourinário
2. Realizar o exame físico do sistema genitourinário normal.
3. Reconhecer,, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema genitourinário
4. Realizar as técnicas de percussão e palpação dos rins e das lojas renais.
5. Conhecer as causas de afecções do sistema genitourinário
6. Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema genitourinário
7. Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema genitourinário.
8. Definir algúria, disúria, poliúria, polaciúria, enurese, nictúria e noctúria.
9. Realizar as técnicas de percussão e palpação dos rins e das lojas renais.
29
10. Reconhecer um paciente em anasarca. Realizar as técnicas para avaliar presença de edema e ascite.
11. Avaliar presença de bexiga palpável.
12. R
e
alizar o exame físico dos aparelhos genitais masculino e feminino e saber avaliar presença ou não de
anormalidades.
13. Realizar a manobra de valsalva para avaliar presença de hérnias, varicocele.
14. Realizar a manobra de transiluminação para reconhecer presença de hidrocele.
15. Reconhecer a presença de corrimento vagina e conhecer as principais causas no recém-nascido,
lactente, pré-escolar, escolar e adolescentel.
16. Avaliar o desenvolvimento puberal do adolescente, aplicar escala de Tanner
17. Definir e reconhecer fimose, parafimose e prepúcio exuberante, hérnia inguinal, hidrocele, torção
testicular, tumor testicular e varicocele, criptorquia, testículo retrátil, hipospádia e epispádia,e saber a
conduta e quando encaminhar a cirurgia .
18. Diferenciar micropênis de pênis oculto. Definir, identificar e conhecer causas de priapismo.
19. Definir e identificar e conhecer conduta na sinéquia de pequenos lábios, hímen imperfurado,
hidrocolpo e hematocolpo.
20. Conhecer os termos e saber identificar telarca, pubarca.
21. Conhecer o termo menarca.
22. Definir e reconhecer uma genitália ambígua.
23. Conhecer e identificar os achados semiológicos da síndrome de Turner e Klinefelter
24. Compreender as características clínicas das síndromes nefrítica e nefrótica.
25. Compreender as características clínicas da infecção do trato urinário (ITU) no recém-nascido, lactente,
criança e adolescente.
26. Saber a importância do diagnóstico correto da ITU na criança.
27. Saber a época de aparecimento normal dos caracteres sexuais secundários e da menarca.
28. Saber as principais causas de genitália ambígua e a importância do seu diagnóstico precoce.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SISTEMA LOCOMOTOR
Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema locomotor
Realizar o exame físico do sistema locomotor.
Reconhecer, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema locomotor
Realizar as técnicas de exame do sistema locomotor.
Conhecer as causas de afecções do sistema locomotor
Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema locomotor
Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema locomotor
Realizar o exame físico do sistema locomotor, saber avaliar presença ou não de anormalidades.
Conhecer os distúrbios mais comuns do aparelho locomotor, de acordo com a faixa etária: recémnascido, lactente, escolar e adolescente.
Saber diferenciar hipotonia e hipertonia citando exemplos de doenças.
Saber diferenciar hipertrofia de pseudohipertrofia muscular
Saber o significado da manobra de Gowers e em qual doença pode estar presente .
Saber reconhecer displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), como detectá-la no recém- nascido e
quais as conseqüências se não tratada.
Definir, identificar, genu varum e genu valgum e quando encaminhar.
30
15. Definir as seguintes alterações de extremidades: polidactilia, sindactilia, aracnodactilia, baqueteamento
digital, amelia.
16. Saber diferenciar: pé torto congênito do pé torto verdadeiro; pé chato (plano) fisiológico do pé chato
verdadeiro.
17. Conhecer os sinais e sintomas mais comuns nas seguintes doenças do aparelho locomotor:
- Artrite reumatoide - Artrite séptica
- Doença de Legg- Calvé Perthes - Doença de Osgood-Schlatter
- Doença de Sever - Distrofia muscular tipo Duchenne/ Becker - Esclerodermia juvenil
18. Conhecer os critérios usados no diagnóstico de “dor de crescimento” e a conduta recomendada,
identificando os principais diagnósticos diferenciais.
19. Caracterizar: dor de crescimento, fibromialgia, síndrome de hipermobilidade articular, osteocondrites,
síndromes dolorosas do super uso, tumores ósseos quanto a (sexo mais acometido, idade, localização,
tipo da dor, alterações concomitantes).
20. Conhecer as principais dores recorrentes em membros com manifestações sistêmicas na criança.
21. Conhecer 10 alterações clínicas possíveis em pacientes com doença do sistema locomotor.
22. Conhecer 10 alterações cutâneas possíveis de estarem associadas à doença do sistema locomotor.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SISTEMA NERVOSO
Conhecer os termos semiológicos referentes ao sistema nervoso.
Realizar o exame físico do sistema nervoso normal.
Reconhecer, ao exame físico, as principais anormalidades do sistema nervoso.
Realizar as técnicas de exame sistema nervoso.
Conhecer as causas de afecções do sistema nervoso
Conhecer a evolução e prognóstico das afecções do sistema nervoso
Conhecer as condutas frente às anormalidades do sistema nervoso
Conhecer as características clínicas da síndrome do neurônio motor superior e síndrome do neurônio
motor inferior.
9. Definir: disartria, dislalia, afasia de percepção, afasia de expressão.
10. Conhecer Sinal de Romberg e saber interpretar o seu achado.
11. Conhecer os tipos de marcha e relação com a topografia da lesão
• Marcha anserina
• Marcha espástica
12. Saber avaliar a redução dos movimentos musculares em um só membro, nos membros inferiores e nos
quatro membros
13. Saber avaliar a força muscular
14.Conhecer e interpretar: rigidez e espasticidade.
15. Saber avaliar a coordenação motora
16. Conhecer as características da síndrome cerebelar.
17.Saber pesquisar o reflexo cutâneo plantar, o reflexo cutâneo plantar em extensão e o Sinal de Babinski
18. Saber pesquisar e interpretar o reflexo cutâneo abdominal.
19. Conhecer osovimentos involuntários:
a.Coréia
b. Tiques
20. Conhecer e interpretar o reflexo fotomotor direto e indireto
21. Conhecer e interpretar o movimentação extra-ocular e a movimentação ocular intrínseca
22. Conhecer a importãncia do diagnóstico precoce de estrabismo na criança pequena.
31
23.
24.
25.
26.
Saber identificar estrabismo convergente e divergente?
Saber identificar surdez e condução e neurosensorial.
Conhecer os sinais de irritação meníngea.
Saber pesquisar e identificar os reflexos transitórios do neonato (data de desaparecimento) e os
reflexos de maturação.
27. Saber pesquisar o funcionamento dos nervos cranianos e as suas principais funções.
VII.
LINFADENOMEGALIAS
Conceituar linfadenomegalias, linfadenopatias e citar sinônimos.
Conhecer a anatomia e a área de drenagem das principais cadeias de linfonodos.
Conhecer a estrutura e a função dos tecidos linfáticos.
Conhecer as particularidades do desenvolvimento do tecido linfático na infância e adolescência.
Explicar o mecanismo de aumento dos linfonodos.
Conceituar linfadenopatia localizada e generalizada.
Conceituar linfadenopatia superficial e profunda.
Citar os principais dados da anamnese associados a linfadenomegalias.
Associar os principais sinais e sintomas gerais e locais à agentes etiológicos das linfadenomegalias.
Conhecer detalhadamente as etapas do exame físico relacionadas ao exame dos linfonodos.
Conhecer e saber realizar o exame dos linfonodos na criança e no adolescente.
Descrever objetivamente os principais dados a serem descritos relacionados ao exame dos linfonodos.
Correlacionar os dados da anamnese e do exame físico, com a etiologia provável da linfadenomegalia.
Conhecer e discutir os principais diagnósticos diferenciais das linfadenomegalias infecciosa e não
infecciosa.
Conhecer os sinais de alerta para abordagem das linfadenomegalias na infância e adolescência.
Citar as características das linfadenomegalias que podem ser consideradas benignas na infância.
Conhecer a indicação e saber interpretar os exames laboratoriais quando solicitados.
Conhecer a indicação e saber interpretar a ultrassonografia com Doppler quando solicitada.
Conhecer a indicação e saber interpretar a tomografia computadorizada quando solicitada.
Citar a indicação de biópsia e de punção aspirativa por agulha nas linfadenomegalias.
VIII.
TRANSIÇÃO DA ADOLESCÊNCIA
Conhecer as mudanças físicas e psicológicas por que passam os jovens.
Conhecer características do crescimento na adolescência nos diferentes sexos.
Conhecer as principais mudanças hormonais que acontecem na adolescência.
32
Conhecer e saber identificar os principais distúrbios da nutrição e alimentação comuns na adolescência.
Saber avaliar o estado nutricional do adolescente.
Conhecer os riscos do uso e abuso de drogas na adolescência.
Conhecer os principais riscos a saúde do adolescente.
Descrever os estágios de Tanner e saber solicitar ao adolescente que o faça.
Identificar utilizando o estadiamento de Tanner o momento do estirão para o sexo feminino e para o
masculino.
Identificar no estadiamento de Tanner a o momento provável da menarca.
Conhecer a idade média da menarca e as variações.
Conhecer as características dos primeiros ciclos menstruais.
Identificar no estadiamento de Tanner o início da maturação sexual.
Identificar no estadiamento de Tanner o final da maturação sexual.
Conhecer a ação do hormônio do crescimento.
Conhecer as características emocional, moral, cognitiva e sexual comuns aos adolescentes nas idades de 10
a 14 nos e 15 a 19 anos.
Conhecer a legislação que protege o adolescente.
Conhecer a idade da espermerca e saber abordar o adolescente explicando a polução noturna.
Conhecer a possibilidade de ginecomastia no adolescênte e o alerta para necessidade de encaminhamento.
Reconhecer o retardo puberal no adolescente do sexo feminino e masculino.
Reconhecer puberdade precoce no sexo feminino e masculino.
Saber utilizar os gráficos de crescimento da caderneta do adolescente e saber explicar ao adolescente o seu
crescimento.
Identificar corrimento normal e patológico na adolescente.
Saber orientar o adolescente quanto às mudanças que estão ocorrendo no seu corpo, utilizando a
caderneta do adolescente.
Saber orientar quanto à sexualidade e como realizar a dupla proteção.
Saber orientar a adolescente quanto ao controle da menstruação e os cuidados higiênicos e a ocorrência de
cólicas.
Conhecer e saber orientar as vacinas indicadas para o adolescente.
Conhecer a cartilha do Ministério da Saúde Sobre orientações para o atendimento a saúde do adolescente
e a Caderneta de Saúde da Adolescente e do Adolescente.
Conhecer as principais orientações que devem ser dadas ao adolescente e que estão na caderneta.
33
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (COMPETÊNCIAS ESPERADAS)
PEDIATRIA 3
I. Nutrição de crianças e adolescentes
1. Reconhecer a importância da avaliação nutricional sistemática da criança e do adolescente nos cuidados
primários.
2. Realizar anamnese e exame físico completo do paciente pediátrico para avaliação do seu estado
nutricional e identificação de situações de risco, ou reconhecimento precoce de distúrbios já instalados.
3. Conhecer os diferentes métodos de avaliação do estado nutricional: inquéritos dietéticos,
determinações bioquímicas, avaliação clínica e antropometria.
4. Utilizar com segurança as curvas de crescimento da OMS na avaliação do estado nutricional da criança e
do adolescente, considerando a avaliação transversal e longitudinal dos dados registrados.
5. Compreender a epidemiologia dos distúrbios nutricionais
6. Categorizar os distúrbios da nutrição em carências nutricionais (desnutrição) ou excesso de nutrientes
(sobrepeso ou obesidade).
a. Muito baixa estatura para idade; Baixa estatura para idade; Estatura adequada para idade.
b. Muito baixo peso para a idade; Baixo peso para idade; Peso adequado para idade; Peso
elevado para idade.
c. Magreza acentuada; Magreza; Eutrofia; Magreza acentuada; Magreza; Eutrofia; Risco de
sobrepeso; Sobrepeso; Obesidade; Obesidade grave.
7. Correlacionar os percentis e escores Z dos valores críticos da classificação do estado nutricional para
cada um dos índices antropométricos considerados (peso/idade, altura/idade, IMC/idade)
8. Caracterizar os distúrbios nutricionais em primários, secundários ou mistos.
9. Elaborar hipóteses diagnósticas
10. Propor propedêutica pertinente e individualizada
11. Propor tratamento específico, considerando medidas dietéticas, comportamentais e medicamentosas.
12. Propor estratégias de prevenção.
13. Utilizar os endereços eletrônicos e periódicos impressos para atualização sobre o tema.
II. Obesidade
1. Compreender a epidemiologia para sobrepeso/obesidade;
2. Compreender o impacto individual e em nível de saúde pública de sobrepeso/obesidade;
3. Conhecer as principais etiologias da obesidade em crianças e adolescentes;
4. Compreender a patogênese da obesidade primária;
5. Compreender os fatores de risco para sobrepeso/obesidade;
6. Compreender as manifestações e repercussões clínicas da obesidade;
7. Compreender a classificação de sobrepeso e obesidade nas diferentes faixas etárias, segundo as
recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil;
8. Compreender a propedêutica para avaliar comorbidades e a Síndrome metabólica;
9. Compreender o tratamento do sobrepeso/obesidade;
10. Compreender as medidas profiláticas individuais para prevenir sobrepeso/obesidade, em especial
àquelas relacionadas à modificação de estilo de vida, à alimentação saudável e às atividades físicas;
11. Compreender as medidas profiláticas coletivas - programas governamentais - para prevenir
sobrepeso/obesidade
III. Vacinação 2 (calendário ampliado, vacinação em situações especiais; imunização passiva)
34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Compreender a etiopatogenia do Resfriado Comum.
Compreender a epidemiologia do Resfriado Comum.
Compreender os fatores de risco para o Resfriado Comum.
Compreender as manifestações clínicas do Resfriado Comum.
Compreender o diagnóstico clínico do Resfriado Comum.
Compreender os princípios do tratamento do Resfriado Comum.
Compreender as medidas profiláticas para o Resfriado Comum.
Compreender o prognóstico e as complicações do Resfriado Comum.
IV. Distúrbios do desenvolvimento – dificuldade escolar
1. Entender o impacto do fracasso escolar ao longo da vida. Importância de fazer parte da anamnese.
2. Compreender o que é dificuldade escolar – dificuldades externas à criança
3. Compreender o que é transtornos específicos de aprendizagem (TA) como dislexia (leitura),
disortografia, disgrafia e discalculia do desenvolvimento – dificuldade na aquisição das habilidades
referidas NÃO-esperadas para idade, escolaridade e cognitivo (inteligência). No caso, os tratamentos
são não-medicamentosos com psicopedagoga e fonoaudiologia (dislexia)
4. Identificar sinais e sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H). Em grande
maioria dos casos, os tratamentos medicamentoso associa-se a educação familiar e nãomedicamentosos com terapia cognitivo-comportamental, psicopedagoga e fonoaudiologia
5. Fazer o diagnóstico diferencial com outros quadros que mimetizam ou acentuam as causas de baixo
desempenho escolar. Ex: distúrbio de sono (apnéia do sono), deficiência intelectual, síndrome alcoólica
fetal, exposição a álcool e fumo na gestação
6. Identificar os fatores de risco ambientais (filhos de um cuidador não-proficiente de leitura,
prematuridade, baixo peso ao nascimento, atraso de linguagem, exposição fetal a álcool e nicotina,
entre outros), genéticos (história familiar positiva para TDA/H e TA)
7. Conhecer a importância do tratamento multiprofissional para crianças com baixo desempenho escolar.
Importância do papel da família no tratamento.
V. Dores recorrentes (cefaleia; dor abdominal; dor nos membros inferiores)
Cefaleias
1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural da cefaleia;
2. Classificar as cefaleias na infância;
3. Diagnosticar cefaleias em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e exame físico;
4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial da cefaleia na infância;
5. Conhecer o diagnóstico diferencial da cefaleia na infância;
6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com cefaleia;
7. Propor e orientar o tratamento medicamentoso inicial da cefaleia;
8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;
9. Reconhecer sinais de gravidade da cefaleia na infância;
10. Identificar situações de urgência relacionadas a cefaleia na infância.
Dores abdominais
1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural da dor abdominal crônica;
2. Classificar a dor abdominal crônica na infância;
3. Diagnosticar dor abdominal crônica em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e exame
físico;
35
4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial da dor abdominal crônica
na infância;
5. Conhecer o diagnóstico diferencial da dor abdominal crônica na infância;
6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com dor abdominal crônica;
7. Propor e orientar o tratamento inicial da dor abdominal crônica;
8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;
9. Reconhecer sinais de gravidade da dor abdominal crônica na infância;
10. Identificar situações de urgência relacionadas a dor abdominal crônica na infância.
Dores nos membros
1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural das dores nos membros;
2. Classificar as dores nos membros na infância;
3. Diagnosticar as dores nos membros em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e exame
físico;
4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial das dores nos membros na
infância;
5. Conhecer o diagnóstico diferencial das dores nos membros na infância;
6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com dores nos membros;
7. Propor e orientar o tratamento inicial das dores nos membros;
8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;
9. Reconhecer sinais de gravidade das dores nos membros na infância;
10. Identificar situações de urgência relacionadas as dores nos membros na infância.
VI. Distúrbios gastrointestinais funcionais (constipação intestinal, dispepsia e RGE)
Constipação intestinal
1. Compreender a epidemiologia da constipação intestinal. Comparar a prevalência da morbidade no
Brasil com dados oriundos de outras regiões do mundo.
2. Compreender quando e como se dá a transição do uso da fralda para o uso de vaso sanitário,
identificando situações de risco.
3. Compreender a classificação da constipação intestinal: aguda versus crônica, e funcional versus
orgânica.
4. Compreender a etiopatogênese da constipação intestinal orgânica e funcional.
5. Identificar os fatores de risco para a constipação intestinal, incluindo medicações sabidamente
constipantes.
6. Reconhecer as manifestações clínicas da constipação intestinal.
7. Compreender a Escala de Bristol.
8. Compreender os conceitos de escape, encoprese e incontinência fecal e a repercussão desses quadros
sobre a saúde psicossocial da criança e da família.
9. Compreender as complicações da constipação intestinal crônica.
10. Compreender que o diagnóstico da constipação intestinal funcional é primariamente clínico e que a
propedêutica complementar, frequentemente, não é necessária.
11. Compreender as indicações da propedêutica, notadamente exames de imagens, manometria anorretal
e biópsia retal.
12. Compreender a importância do tratamento precoce em pacientes com constipação intestinal.
13. Compreender que a constipação intestinal deve ser tratada com medidas dietéticas, comportamentais
e uso de medicamentos laxativos, associados ou não.
14. Propor orientações educacionais e dietéticas para o paciente com constipação intestinal.
36
15. Compreender que restrições alimentares não devem ser utilizadas rotineiramente na condução de
crianças e adolescentes com constipação intestinal.
16. Compreender o tratamento farmacológico da constipação intestinal funcional, identificando as
contraindicações e efeitos colaterais dos medicamentos habitualmente usados. Compreender que na
abordagem de pacientes com massas fecais moderadas a grandes e/ou escape fecal o tratamento
inicial é realizado com medicamento, associado ou não ao uso de clister.
17. Compreender a profilaxia da constipação intestinal.
18. Compreender o prognóstico da constipação intestinal crônica.
Refluxo Gastresofágico – RGE
1. Compreender a epidemiologia do RGE e da DRGE na criança e adolescente.
2. Compreender o que é a barreira anti-refluxo e citar seus componentes.
3. Compreender o que são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofageano inferior (RTEEI).
4. Compreender a classificação do RGE: fisiológico versus patológico.
5. Compreender o conceito de doença do refluxo.
6. Compreender a fisiopatologia da DRGE.
7. Compreender as manifestações clínicas, esofageanas e extra esofageanas da DRGE.
8. Fazer o diagnóstico diferencial entre DRGE e alergia à proteína do leite de vaca, propondo testes de
retirada da proteína do leite de vaca quando pertinente.
9. Conhecer as indicações para propedêutica - exames de imagens, pHmetria esofageana de 24 horas,
impedanciometria, manometria esofageana, endoscopia digestiva, biópsia esofageana.
10. Compreender o tratamento farmacológico da RGE.
11. Compreender o papel das intervenções dietéticas e comportamentais na condução de crianças e
adolescentes com DRGE.
12. Reconhecer as indicações para o tratamento cirúrgico e que, na atualidade, este é apenas
ocasionalmente indicado.
13. Compreender as complicações do RGE.
14. Compreender o prognóstico do RGE.
VII. Dermatoses mais comuns na infância e adolescência
1. Reconhecer a importância da anamnese e exame físico completo para diagnóstico das doenças de pele,
subcutâneo e fâneros ainda que apresente manifestações localizadas.
2. Realizar anamnese com descrição clara da evolução das lesões, incluindo alterações ocorridas após a
instituição de qualquer terapêutica.
3. Identificar e descrever as lesões elementares de pele, agrupando-as em cinco categorias básicas:
manchas ou máculas (vásculo-sanguíneas e pigmentares); formações sólidas; formações líquidas;
alterações de espessura e perdas teciduais.
4. Reconhecer que as lesões elementares podem se agrupar de variadas formas, em uma mesma doença:
lesões eritêmato-descamativas, vesiculobolhosas, ulcerocrostosas, pápulas eritematosas, placas
hipercrômicas, etc.
5. Descrever a configuração das lesões: anular, numular, em alvo, linear, serpiginosa, umbilicada,
herpertiforme.
6. Descrever a distribuição das lesões: disseminadas, simétricas, fotoexpostas, localizadas, regionais,
universais, zosteriformes.
7. Realizar exame físico completo para diagnosticar uma eventual doença sistêmica como causa de lesão
mais localizada.
37
8. Conhecer os princípios básicos do tratamento dermatológico: medicações tópicas versus sistêmicas
(benefícios e riscos); medidas de higiene (sabões, xampus, antissépticos, óleos); escolha do veículo de
acordo com a fase evolutiva da doença (fase aguda exsudadtiva- soluções aquosas, loções ou cremes;
fase crônica com lesões secas- pomadas ou unguentos) ou de acordo com a região acometida (áreas
pilosas- loção, spray, solução ou gel; áreas de dobra- pó ou creme)
9. Reconhecer dermatoses complexas que necessitem do auxílio do dermatologista para abordagem
específica (evoluções atípicas pós-tratamento, necessidade de dermatoscopia, exame micológico,
biópsia de pele, exame com lâmpada de Wood).
10. Compreender a epidemiologia, etiologia, manifestações clínicas, história natural da doença,
possibilidades terapêuticas, prognóstico e profilaxia das dermatoses mais comuns na infância.
• Escabiose
• Pediculose
• Prurigo agudo – Estrófulo
• Molusco contagioso
• Verrugas (Simples; Plana; Filiforme; Plantar)
• Herpes (Simples; Zoster; Gengivoestomatite herpética)
• Larva migrans cutânea
• Tungíase
• Eczema atópico
• Dermatite seborreica
• Dermatite de fralda
• Dermatite de contato
• Eczemátide hipocromiante
• Impetigo
• Ectima
• Intertrigo
• Celulite
• Erisipela
• Foliculite
• Furúnculo
• Abscesso
• Tínea (corpo, couro cabeludo e unhas)
• Ptiríase versicolor
• Miliária
• Milium
• Anormalidades Vasculares
Hemangioma Macular
Mancha Vinho do Porto
Hemangioma em Morango
Hemangioma Cavernoso
• Urticária
• Dermatografismo
• Farmacodermia
• Queilose
• Queilite
38
• Língua geográfica
• Aftas de repetição
• Monilíase oral
• Síndrome mão-pé-boca
• Ceratose folicular de face extensora
11. Utilizar os endereços eletrônicos e periódicos impressos para atualização sobre o tema.
1.
2.
3.
4.
5.
VIII.
Linfadenomegalias - diagnóstico diferencial
Realizar anamnese e exame físico completos, incluindo a palpação das cadeias ganglionares superficiais
Descrever os achados no exame físico adequadamente
Elaborar lista de hipóteses diagnósticas
Propor propedêutica pertinente
Identificar os casos que exigem urgência na abordagem.
1.
2.
3.
4.
IX. Atendendo a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários: o prontuário médico
e aspectos éticos envolvidos na prescrição e nos pedidos de exames complementares
Compreender o atendimento a criança e o adolescente no ambulatório de cuidados primários
Identificar os aspectos éticos relacionados ao prontuário médico
Conhecer os aspectos éticos envolvidos na prescrição
Compreender os aspectos éticos envolvidos nos pedidos de exames complementares
39
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (COMPETÊNCIAS ESPERADAS)
PEDIATRIA 4
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anemia ferropriva e diagnóstico diferencial
Compreender a epidemiologia da anemia ferropriva na criança.
Compreender a etiopatogênese da anemia ferropriva.
Identificar os fatores de risco da anemia ferropriva na criança.
Identificar as manifestações clínicas da anemia ferropriva na criança.
Compreender o diagnóstico clínico e laboratorial da anemia ferropriva.
Compreender o tratamento farmacológico da anemia ferropriva.
Compreender a profilaxia da anemia ferropriva.
Compreender as complicações mais freqüentes das anemias ferropriva.
Fazer o diagnóstico diferencial das anemias microciticas e hipocrômicas.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Febre no lactente
Revisar a etiopatogênese da febre.
Conhecer as principais causas de febre no lactente.
Compreender o diagnóstico diferencial das causas de febre no lactente.
Reconhecer os sinais que sugerem quadros de bacteremia, (situações de risco).
Compreender a abordagem diagnóstica da febre no lactente.
Compreender o manejo do lactente febril.
Saber as indicações de realização de propedêutica para investigação de febre no lactente.
III. Infecções de vias aéreas superiores- IVAS
1. Compreender o conceito de IVAS.
2. Reconhecer as principais síndromes respiratórias agudas.
3.1Resfriado Comum
1. Compreender a etiopatogenia do Resfriado Comum.
2. Compreender a epidemiologia do Resfriado Comum.
3. Compreender os fatores de risco para o Resfriado Comum.
4. Compreender as manifestações clínicas do Resfriado Comum.
5. Compreender o diagnóstico clínico do Resfriado Comum.
6. Compreender os princípios do tratamento do Resfriado Comum.
7. Compreender as medidas profiláticas para o Resfriado Comum.
8. Compreender o prognóstico e as complicações do Resfriado Comum.
3.2Otite Média aguda- OMA
Compreender a etiopatogenia da OMA.
Compreender a epidemiologia da OMA.
Compreender os fatores de risco para a OMA.
Compreender as manifestações clínicas da OMA.
Compreender o diagnóstico da OMA.
Compreender os princípios do tratamento da OMA.
Compreender as medidas profiláticas para a OMA.
40
Compreender as complicações da OMA.
3.3Amigadalite Streptocócica
1. Compreender a etiopatogenia da Amigadalite streptocócica.
2. Compreender a epidemiologia da Amigdalite streptocócica.
3. Compreender os fatores de risco para a Amigdalite streptocócica.
4. Compreender as manifestações clínicas da Amigdalite streptocócica..
5. Compreender o diagnóstico clínico e laboratorial da Amigdalite streptocócica.
6. Compreender os princípios do tratamento da Amigdalite streptocócica.
7. Compreender as medidas profiláticas para a Amigdalite streptocócica.
8. Compreender as complicações da Amigdalite streptocócica.
9. Compreender o diagnóstico diferencial entre Amigadalite streptocócica.
10. Herpangina, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma pneumoniae, Mononucleosis infecciosa,
Herpes simplex virus.
3.4 Sinusopatias
1. Compreender a etiopatogenia das Sinusopatias.
2. Compreender a epidemiologia das Sinusopatias.
3. Compreender os fatores de risco para a Sinusopatias.
4. Compreender as manifestações clínicas da Sinusopatias.
5. Compreender o diagnóstico da Sinusopatias.
6. Compreender a propedêutica das Sinusopatias ( exame de imagens).
7. Compreender a classificação de Sinusopatia aguda versus crônica.
8. Compreender os princípios do tratamento das Sinusopatias.
9. Compreender as medidas profiláticas para as Sinusopatias.
10. Compreender as complicações das Sinusopatias.
3.5 Síndrome do Crupe
1. Compreender a Síndrome do Crupe Viral.
2. Compreender a classificação do crupe viral: Laringite versus laringotraqueíte versus
laringotraqueobronquite.
3. Compreender a etiopatogenia da laringotraqueobronquite.
4. Compreender a epidemiologia da laringotraqueobronquite.
5. Compreender os fatores de risco para a laringotraqueobronquite.
6. Compreender as manifestações clínicas da laringotraqueobronquite.
7. Compreender o diagnóstico clínico e laboratorial da laringotraqueobronquite.
8. Compreender os princípios do tratamento das laringotraqueobronquite.
9. Compreender as medidas profiláticas para as das laringotraqueobronquite.
10. Compreender as complicações das laringotraqueobronquite.
3.6 Epiglotite
1. Compreender a etiopatogenia da Epiglotite.
2. Compreender a epidemiologia da Epiglotite.
3. Compreender os fatores de risco para a Epiglotite.
4. Compreender as manifestações clínicas da Epiglotite.
5. Compreender o diagnóstico clínico e laboratorial da Epiglotite.
41
6. Compreender os princípios do tratamento da Epiglotite.
7. Compreender as medidas profiláticas para as da Epiglotite.
8. Compreender as complicações da Epiglotite.
IV- Infecções de vias aéreas inferiores
4.1 Bronquiolite
1. Compreender o conceito, forma de transmissão e a fisiopatologia da BVA.
2. Conhecer a idade de acometimento da BVA.
3. Conhecer os principais agentes etiológicos e sua relação com sazonalidade e gravidade da BVA.
4. Compreender as manifestações clínicas da BVA.
5. Reconhecer os pacientes de risco para evolução mais grave.
6. Compreender o diagnóstico da bronquiolite viral aguda
7. Conhecer o diagnóstico diferencial da BVA
8. Propor e orientar os cuidados com a criança com BVA.
9. Conhecer o tratamento medicamentoso da BVA.
10. Saber encaminhar o lactente com sinais de gravidade para internação hospitalar.
11.Conhecer as complicações da BVA e necessidade de acompanhamento ambulatorial.
12.Conhecer as formas de prevenção da BVA.
4.2 Pneumonia
1. Compreender a epidemiologia da pneumonia.
2. Conhecer os fatores de risco para pneumonia.
3. Compreender o diagnóstico da pneumonia.
4. Identificar as alterações mais importantes ao exame físico.
5. Avaliar e interpretar corretamente a frequência respiratória e valorizá-la no diagnóstico de pneumonia.
6. Solicitar quando indicado e saber interpretar exames complementares.
7. Conhecer os diagnósticos diferenciais de pneumonia.
8. Relacionar os agentes etiológicos mais comuns de pneumonia adquirida na comunidade de acordo com
a faixa etária da criança.
9. Realizar o diagnóstico diferencial entre pneumonias virais, bacterianas por agentes típicos e atípicos.
10. Reconhecer os sinais de alerta de gravidade clínica.
11. Conhecer as indicações de internação.
12. Conduzir o tratamento ambulatorial.
13. Revisar o espectro de ação dos antimicrobianos para os agentes etiológicos mais comuns de
pneumonia adquirida na comunidade em crianças e adolescentes.
14. Identificar falha terapêutica, conhecer as possíveis causas e saber conduzir o caso
15. Identificar as possíveis complicações da PAC .
V. Síndrome do Respirador oral e Rinite alérgica
1. Conhecer a fisiopatologia da respiração oral
2. Conhecer as causas da respiração oral, com ênfase na hipertrofia de adenóides, amígdalas, desvio de
septo e rinite alérgica
3. Compreender as repercussões da respiração oral
4. Reconhecer as principais alterações orofaciais do respirador oral
5. Conhecer o diagnostico da apneia obstrutiva do sono na criança
42
6. Propor intervenções propedêuticas e terapêuticas para hipertrofia de adenóides, amígdalas, desvio de
septo e rinite alérgica
7. Conhecer a importância do tratamento multiprofissional para os pacientes com respiração bucal.
8. Conhecer a importância epidemiológica da rinite alérgica
9. Saber diagnosticar e classificar a rinite alérgica
10.Propor abordagem terapêutica para a rinite alérgica
11.Saber as indicações para encaminhamento para a otorrinolaringologia
VI. Asma e abordagem do lactente sibilante
1. Compreender o conceito, a fisiopatologia e a história natural da asma;
2. Conhecer os fenótipos de asma e sibilância na infância;
3. Diagnosticar asma em crianças e adolescentes, baseado na história clínica e exame físico;
4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico e classificação da asma;
5. Classificar a asma pelo nível de controle;
6. Propor e orientar os cuidados com a criança e o adolescente com asma;
7. Propor e orientar o tratamento medicamentoso inicial da asma não controlada;
8. Reconhecer a necessidade de encaminhamento para o especialista;
9. Reconhecer sinais de gravidade e classificar a crise de asma;
10. Tratar a crise de asma leve e moderada;
11. Saber encaminhar a crise de asma grave.
VII. Diarreia aguda e TRO
1. Compreender a epidemiologia da diarreia aguda
2. Identificar as causas da diarreia aguda
3. Compreender a etiopatogenia da diarreia aguda
4. Saber diagnosticar a diarreia aguda
5. Revisar os sinais de desidratação
6. Classificar a desidratação
7. Instituir o tratamento adequado ( A, B ou C)
8. Saber diferenciar as indicações de tratamento domiciliar e de internação
9. Saber identificar os sinais de alerta e de piora evolutiva
10.Discutir as indicações de prebioticos,probioticos, zinco, racecadotril, antibioticoterapia no manejo dos
pacientes com diarreia aguda.
VIII. Parasitose intestinal
O aluno deverá ser capaz de compreender os principais protozoários (Ameba, Giardia, Isospora,
Criptosporídio, Balantídio, Microspora, Blastocisto, Ciclosporídio) e Helmintos (Áscaris, Ancilostoma,
Estrongilóides, Tenia, Himenolepes, Tricocéfalos, Enteróbios, Toxocara), quanto a:
1.
2.
3.
4.
5.
Conhecer a epidemiologia das parasitoses intestinais.
Revisar a etiopatogênese das parasitoses intestinais.
Conhecer a relação parasita versus hospedeiro versus ambiente.
Conhecer as manifestações clínicas, formas de transmissão, e as complicações de cada parasita.
Compreender o diagnóstico clínico e laboratorial.
43
6. Identificar os fatores de risco para a parasitose intestinal : condição sócio-econômica, sanitária e cultural
da população em estudo.
7. Identificar os parasitas associados à Síndrome de Löefler.
8. Compreender o tratamento farmacológico de cada parasita e as particularidades tratamento no
paciente poliparasitado.
9. Compreender as medidas profiláticas individuais e coletivas.
44
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (COMPETÊNCIAS ESPERADAS)
PEDIATRIA 5
V. Abordagem do adolescente e seus problemas mais comuns
1.RECONHECER AS PARTICULARIDADES DO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE
1.1 Identificar o período da adolescência (ECA 12-18 anos e OMS 10-19 anos);
1.2 Saber acolher o adolescente e sua família (consulta em dois tempos);
1.3 Discutir os princípios da confidencialidade, privacidade, ética e sigilo do atendimento;
1.4 Saber escutar e oportunizar demandas;
1.5 Saber determinar o estadiamento puberal e aplicar a escala de Tanner;
1.6 Reconhecer a “síndrome da adolescência normal
2.PROMOVER A SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (AÇÕES
INTEGRAIS)
2.1 Promover busca ativa do adolescente na Unidade Básica de Saúde, promover e participar de ações
educativas em grupo;
2.2 Realizar o cuidado integral, com visão multiprofissional, do adolescente de risco (etilista e tabagista) e
do adolescente em conflito com a lei (usuário de drogas ilícitas);
2.3 Promover educação afetivossexual; 2.4 Prevenir a gravidez na adolescência e DST/AIDS (saber
prescrever e orientar o uso do anticoncepcional oral e preservativos – princípio da dupla proteção);
2.5 Conhecer e saber atualizar o calendário de vacinação do adolescente; 2.6 Promover bons hábitos de
vida (alimentação saudável e atividade física), tratamento do sobrepeso/ obesidade;
2.7 Tratar integralmente o adolescente vítima de violência sexual, conhecer aspectos médicos, sociais e
legais.
II. Diagnóstico diferencial das Hematúrias
Objetivos:
-conceituar e classificar as hematúrias.
-identificar e conduzir as principais causas das hematúrias glomerular e não glomerular.
Competências esperadas
1) Conceituar hematúria
2) Saber interpretar corretamente o exame de urina rotina
3) Classificar as hematúrias- diferenciar glomerular de não glomerular
4) Sobre a Hematúria glomerular
-identificar as principais causas
-saber conduzir
-saber identificar os sinais de gravidade e idicação do encaminhamento para o especialista
5) Sobre a hematúria não glomerular
-identificar principais causas
-saber como conduzir
6) Sobre a GNDA:
Saber identificar:
- Agente etiológico
-Fisiopatologia
-Faixa etária e manifestações clínicas
45
7) Exames a serem pedidos
8) Tratamento- indicação de internação
9) Seguimento
III. Diagnóstico diferencial dos Exantemas febris1.Compreender o conceito e a fisiopatologia do exantema febril;
2. Conhecer as características dos principais exantemas febris: maculopapulares e papulovesiculares.
3. Conhecer a história clínica,exame físico (características do exantema)de cada doença exantemática
febril:
Escarlatina
Rubéola
Eritema infeccioso
Exantema súbito
Varicela
Doença de Kawasaki
Dengue
Doença meningocócica
Mononucleose infecciosa
Citomegalovirose
Toxoplasmose
Herpangina
Sarampo
Doença de Lyme
Hantavirose
4. Conhecer os exames complementares que auxiliam o diagnóstico diferencial dos exantemas febris;
5. Propor e orientar o tratamento sintomático e /ou medicamentoso da doença exantemática febril;
6. Reconhecer e propor o isolamento do paciente com exantema febril quando necessário;
7. Orientar as precauções de transmissibilidade dos exantemas febris;
8. Reconhecer sinais de gravidade do exantema febril;
9. Saber encaminhar o paciente quando houver complicações dos exantemas febris.
III. Infecção do trato Urinário (ITU) x Disfunção do trato Urinário inferior (DTUI)
1. Compreender o conceito, etiologia e a fisiopatologia da ITU
2. Compreender o conceito e a fisiopatologia da DTUI
3. Conhecer a apresentação clínica da ITU nas diversas faixas etárias.
4. Compreender o quadro clínico de DTUI.
5. Reconhecer o papel da DTUI e do Refluxo vésico- ureteral (RVU) na gênese e recidivas de ITU.
6. Conhecer e interpretar os exames laboratoriais que auxiliam no diagnóstico da ITU.
7. Conhecer os métodos de coleta de urina e a sua importância para o diagnóstico correto da ITU.
8. Propor e orientar o tratamento medicamentoso da ITU
9. Propor e orientar o tratamento de medidas comportamentais da DTUI
10.Conhecer a sequência da avaliação morfofuncional do trato urinário pós ITU.
11.Saber conduzir a abordagem da criança com ITU a médio prazo.
12.Saber quando encaminhar a criança com ITU para o especialista.
46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
V. A criança, o adolescente e a violência Conceituar violência
Conhecer o histórico epidemiológico da violência na infância e adolescência
Classificar os tipos e a natureza da violência
Identificar os sinais e sintomas de maus-tratos contra a criança e o adolescente
Conhecer a obrigatoriedade da notificaçãoda suspeita de violência contra crianças e adolescentes,
segundo o ECA
Identificar as vulnerabilidades às violências
Identificar os fatores de resiliência pessoais, familiares e sociais
Conhecer a rede de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência
Conhecer a atuação do Conselho Tutelar e identificar outras instituições de apoio às vítimas e famílias
em situação de violência
Saber orientar a prevenção da violência
VI. Dengue
Conhecer a fisiopatologia da Dengue
Diferenciar o quadro clínico da dengue clássica, febre hemorragica da dengue e síndrome do choque da
dengue
Construir uma historia clinica detalhada
Identificar as alterações mais importantes do exame físico
Saber fazer e interpretar a prova do laço
Solicitar quando indicado e interpretar exames complementares
Confirmação diagnostica: saber qual exame e quando coletar
Conhecer os sinais/sintomas de alarme e de choque
Saber conduzir uma criança com suspeita de dengue
Saber encaminhar a criança com critérios de gravidade para a internação
Saber notificar
VII. Leishmaniose visceral
Conhecer a epidemiologia da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Identificar a etiologia da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Descrever o ciclo da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Conhecer o período de incubação da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Conhecer a forma de transmissão da leishmaniose visceral em crianças e adolescentes.
Conhecer a resposta imunológica da criança e do adolescente com leishmaniose visceral.
Saber quando suspeitar de leishmaniose visceralna criança e no adolescente.
Realizar a anamnese abrangente da criança e do adolescente com leishmaniose visceral.
Realizar o exame físico completo da criança e do adolescente com leishmaniose visceral.
Descrever as formas clínicas da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Formular hipóteses diagnósticas para uma criança e um adolescente com leishmaniose visceral.
Realizar o diagnóstico de leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Identificar os fatores de risco para a criança e o adolescente com leishmaniose visceral.
Indicar a realização dos principais exames complementares para o diagnóstico da criança e do
adolescente com leishmaniose visceral.
Interpretar os exames laboratoriais e os exames de imagem da criança e do adolescente com
leishmaniose.
47
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Conhecer os diagnósticos diferenciais da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Conhecer as indicações de internação para a leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Elaborar o plano terapêutico para a leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Reconhecer o campo de atuação da Atenção Primária na criança e no adolescente com leishmaniose
visceral.
Identificar as vantagens e desvantagens do uso de antimoniais pentavalentes e da anfotericina no
tratamento da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Identificar os critérios de cura da leishmaniose visceral da criança e do adolescente.
Identificar as complicações da leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
Propor ações preventivas para a leishmaniose visceral na criança e no adolescente.
VIII. Tuberculose
1. Conhecer o Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
2. Identificar condições para manutenção da Tuberculose como problema de saúde pública.
3. Compreender contexto epidemiológico da tuberculose e sua importância no diagnóstico da doença em
pediatria.
4. Compreender a fisiopatologia da infecção pelo M. Tuberculosis.
5. Diferenciar tuberculose latente e doença
6. Reconhecer as manifestações clínicas da tuberculose primária e pós-primaria.
7. Indicar a propedêutica para definição de infecção ou doença.
8. Reconhecer as principais alterações radiográficas da tuberculose primária e pós-primária.
9. Interpretar o valor de PPD de acordo com o contexto do paciente.
10. Discutir o valor do BAAR e cultura em escarro ou lavado gástrico em crianças.
11. Conhecer os princípios básicos do tratamento e o esquema terapêutico inicial utilizado para pacientes
acima e abaixo de 10 anos
12. Conhecer outros esquemas, em caso de abandono de tratamento, meningite tuberculosa, intolerância
ou resistência as drogas.
13. Reconhecer os principais efeitos colaterais e a importância do seguimento do paciente.
IX. Convulsão febril
Definir a crise febril e reconhecer que é uma condição específica, distinta da epilepsia.
Classificar os 2 tipos de convulsão febril: simples e complexa.
Diferenciar convulsão febril simples da, complexa.
Reconhecer as indicações de punção lombar, para afastar infecção do SNC, em um paciente que apresente
convulsão febril, levando em consideração a faixa etária, sinais e sintomas.
Reconhecer os fatores de riscos para recorrência da convulsão febril.
Reconhecer os fatores preditivos de epilepsia em crianças que apresentam crise febril.
Reconhecer as principais estratégias para o tratamento agudo do paciente com crise febril.
Reconhecer as indicações de tratamento profilático, contínuo e intermitente, para crises febris, os
fármacos mais utilizados para esse fim em nosso meio.
48