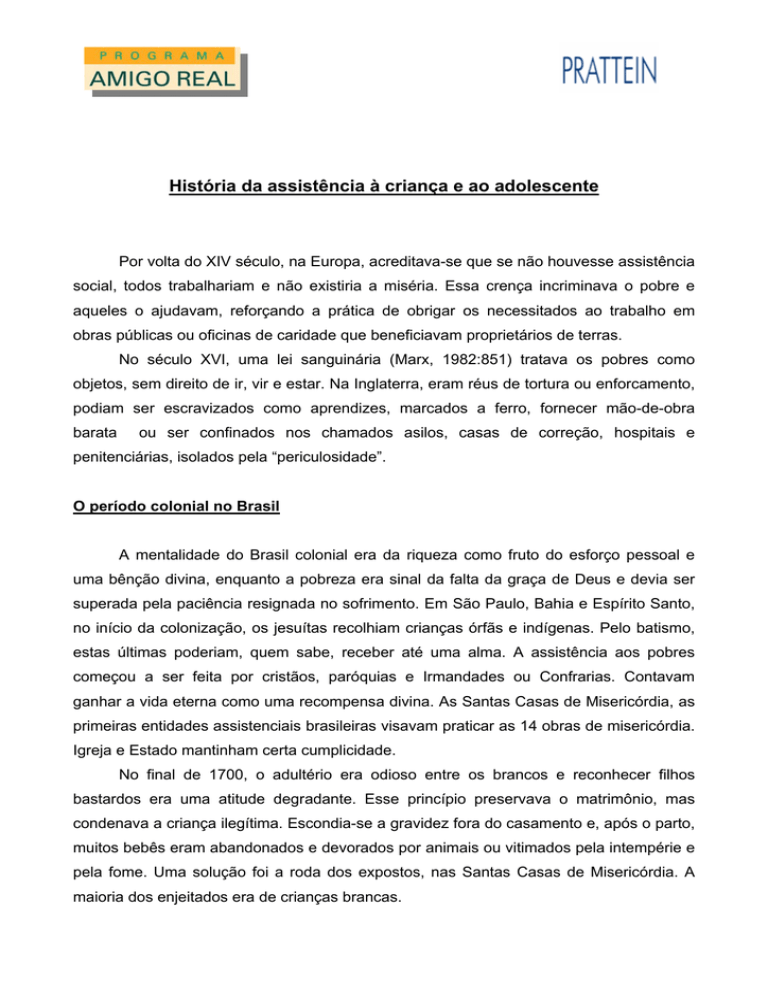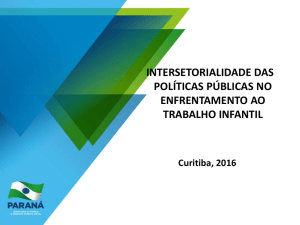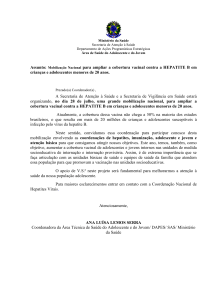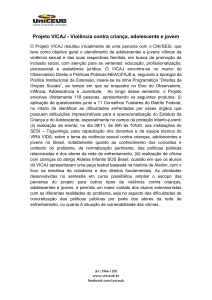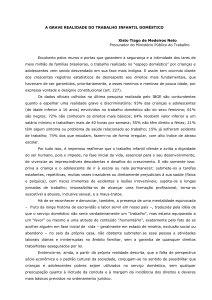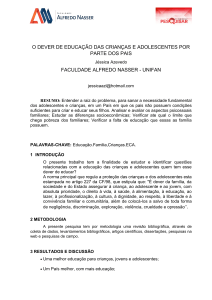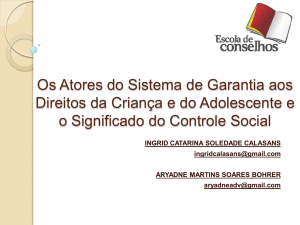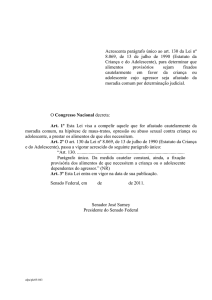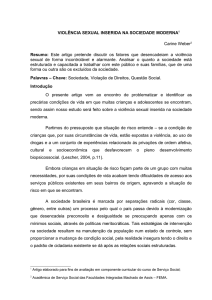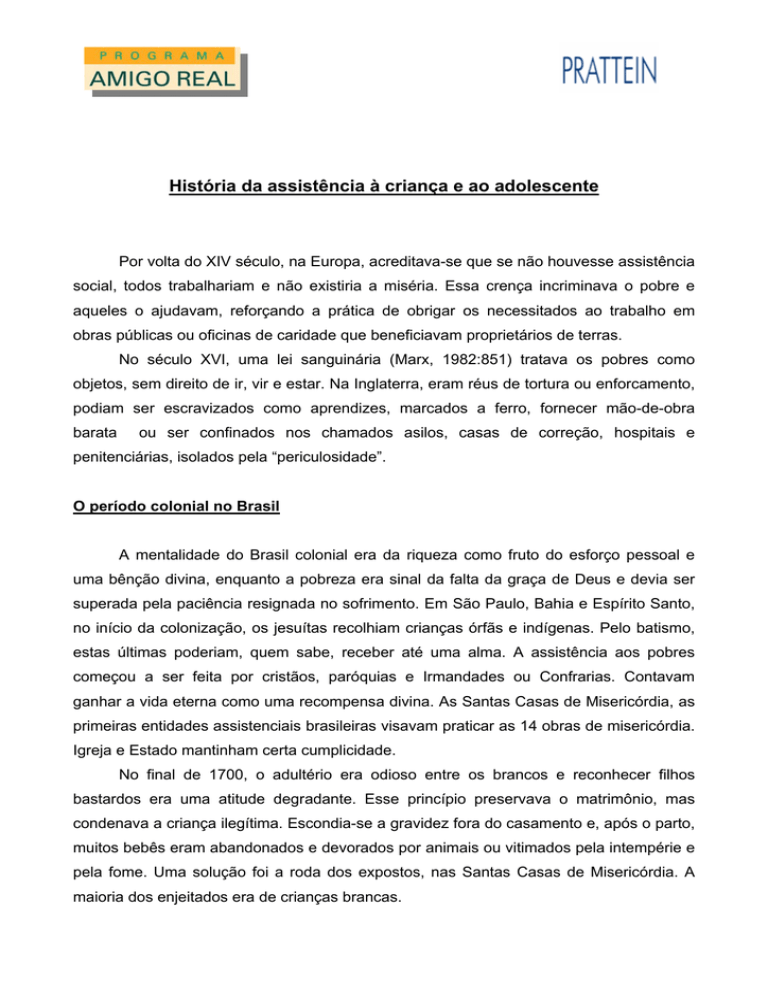
História da assistência à criança e ao adolescente
Por volta do XIV século, na Europa, acreditava-se que se não houvesse assistência
social, todos trabalhariam e não existiria a miséria. Essa crença incriminava o pobre e
aqueles o ajudavam, reforçando a prática de obrigar os necessitados ao trabalho em
obras públicas ou oficinas de caridade que beneficiavam proprietários de terras.
No século XVI, uma lei sanguinária (Marx, 1982:851) tratava os pobres como
objetos, sem direito de ir, vir e estar. Na Inglaterra, eram réus de tortura ou enforcamento,
podiam ser escravizados como aprendizes, marcados a ferro, fornecer mão-de-obra
barata
ou ser confinados nos chamados asilos, casas de correção, hospitais e
penitenciárias, isolados pela “periculosidade”.
O período colonial no Brasil
A mentalidade do Brasil colonial era da riqueza como fruto do esforço pessoal e
uma bênção divina, enquanto a pobreza era sinal da falta da graça de Deus e devia ser
superada pela paciência resignada no sofrimento. Em São Paulo, Bahia e Espírito Santo,
no início da colonização, os jesuítas recolhiam crianças órfãs e indígenas. Pelo batismo,
estas últimas poderiam, quem sabe, receber até uma alma. A assistência aos pobres
começou a ser feita por cristãos, paróquias e Irmandades ou Confrarias. Contavam
ganhar a vida eterna como uma recompensa divina. As Santas Casas de Misericórdia, as
primeiras entidades assistenciais brasileiras visavam praticar as 14 obras de misericórdia.
Igreja e Estado mantinham certa cumplicidade.
No final de 1700, o adultério era odioso entre os brancos e reconhecer filhos
bastardos era uma atitude degradante. Esse princípio preservava o matrimônio, mas
condenava a criança ilegítima. Escondia-se a gravidez fora do casamento e, após o parto,
muitos bebês eram abandonados e devorados por animais ou vitimados pela intempérie e
pela fome. Uma solução foi a roda dos expostos, nas Santas Casas de Misericórdia. A
maioria dos enjeitados era de crianças brancas.
As práticas educacionais desrespeitavam o desenvolvimento físico, emocional e
cognitivo da criança. Até a primeira República, as meninas de famílias patriarcais
costumavam ser internadas em colégios religiosos, para aprender francês, inglês,
bordado, culinária, música, dança e como ser mulher. Casavam-se com treze a quinze
anos. Nos asilos, órfãos e abandonadas protegidos pela Igreja eram preparados para
serem criados e criadas. A maioria permanecia excluída e trabalhava desde muito cedo.
O Código Civil de 1820 caracterizava a responsabilidade criminal da criança; o de
1890 determinava a inimputabilidade da criança abaixo de nove anos. Ambos traziam
ranços da lei do pobre. Confinar era a solução para a exclusão da infância e da juventude.
No Código Civil de 1927, os artigos que beneficiavam a criança foram considerados
favoráveis ao aumento da prostituição e da criminalidade. O menor era concebido como
objeto de ações religiosas e políticas. A assistência era instrumento de manutenção da
população na pobreza. Práticas bem-sucedidas de atendimento à criança, porém,
aconteciam nos orfanatos ligados à Igreja Católica, que visavam educar e fazer dos
órfãos trabalhadores e cidadãos.
O século XX
Desde 1930, a assistência começou a ser assumida pelo Estado, que iria distinguir
dois campos da filantropia, o atendimento à saúde e à criança. O Departamento de
Assistência Social e os trabalhos filantrópicos de entidades privadas começaram a ser
normatizados, com o objetivo de fornecer suporte ao desenvolvimento de políticas
econômicas que viessem assegurar a acumulação do capital e a expansão das indústrias.
Em 1940, o DNCr - Departamento Nacional da Criança, do Ministério da Educação
e Saúde, e em 1942, a LBA - Legião Brasileira de Assistência, começaram a repassar os
recursos a instituições filantrópicas de caráter particular. A LBA implantou algumas
creches e o DNCr procurou estabelecer as normas para o funcionamento das creches ou
entidades que atuavam com crianças. A LBA nasceu para apoiar as famílias dos soldados
brasileiros que lutavam na Itália. Após a guerra, mudou sua natureza e ficou conhecida
como mãe da pobreza, lar do carente, socorro dos aflitos.
Os mecanismos autoritários e de controle construídos ao longo da história
brasileira começaram a ser rompidos por meio de reclamos de diferentes segmentos da
sociedade civil, além das influências internacionais, exigindo uma política
redistributiva e autopromotora. Essas reivindicações geraram uma tensão interna que
desembocou na instauração do regime militar em 1964. Um de seus objetivos era
desconstruir o tecido social que lutava por uma política social e implantar uma política
social que transformasse o direito em tutela ou numa relação de favores. Não se fala mais
em política social como um fim em si mesma, mas como um meio.
Após 1964, o Decreto-Lei 593 transformou a LBA em Fundação. Como as demais
instituições que desenvolveram programas de combate à pobreza na década de 70, ela
atuava de forma fragmentada e setorizada, sem
continuidade, por um viés populista
assistencial. A execução dos programas era repassada a entidades filantrópicas, por meio
de convênios. O atendimento às necessidades sociais passou a ser feito em nome dos
efeitos econômicos ou da racionalidade tecnocrática. Os programas sociais desse período
eram marcados por:
a) paralelismos, desperdícios, superposição e até antagonismos;
b) centralismo burocrático que obriga o Estado e o Município a cumprirem os
programas elaborados por decretos federais;
c) controle social das populações pobres, como objetos do assistencialismo do
Estado;
d) participação do destinatário em forma de mão-de-obra;
e) desmobilização das organizações sociais e da participação do cidadão na
conquista de seus direitos;
f) critérios obscuros na distribuição das verbas;
g) políticas sociais não elaboradas a partir das necessidades das comunidades e sim
das prioridades do Estado;
h) retenção dos recursos em atividades de intermediação e controle, fazendo com
que apenas uma parcela mínima dos recursos destinados à área social chegasse
realmente aos destinatários.
A atuação do Estado no atendimento aos direitos das crianças e jovens
considerados em situação irregular era feita pela Lei 4513/64, que estabeleceu a Política
Nacional de Bem-Estar do Menor. A Lei 6697/79 (Código de Menores) tratava da proteção
e vigilância aos menores em situação irregular. Seu objetivo era tratar dos desajustes do
menor carente, abandonado e delinqüente, atribuídos à falta de afeto e amor na
família. Essa legislação visava atender o menor, ou seja, a criança e o adolescente
considerados em situações de caráter irregular, em estado de necessidade “em razão da
manifesta incapacidade dos pais para mantê-los”. A PNBEM (Política Nacional do BemEstar do Menor) obedecia a uma gestão centralizadora e vertical, e a padrões uniformes
de atenção direta. A FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) era seu
órgão executor e as FEBEMs (Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor) nos
Estados. A FEBEM falhou na proposta de superar o enfoque correcional-repressivo que
via o menino como ameaça social. Adotou o enfoque assistencialista, que passa percebêlo como carente. Da noção de periculosidade se passa à de privação: o que o menino não
é, não sabe, não tem, não é capaz. O modelo assistencialista passou a conviver com as
práticas repressivas. Essa abordagem toma como padrão de normalidade o menino de
classe média. O marginalizado era visto como um feixe de carências. O atendimento seria
a tentativa de lhe restituir o que lhe fora sonegado. Foram organizados centros de triagem
nas capitais e redes oficiais de internatos no interior, como modelo básico de atendimento
público ao menor em todo o país.
Na segunda metade dos anos setenta, o ciclo perverso de institucionalização
compulsória (Leis 4513/64 e 6697/79), de “apreensão/triagem/rotulação/deportação e
confinamento” começou a ser conhecido pela ineficácia dos resultados. A FUNABEM
optou pelo trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social
em sua comunidade de origem. O PLIMEC (Plano de Integração Menor-Comunidade),
implantado em todo o país, por meio dos Núcleos Preventivos, teve como meta evitar que
crianças e adolescentes acabassem como trabalhadores de rua ou fizessem do espaço
público local de moradia. O PLIMEC sofreu os efeitos da padronização e do verticalismo
do Governo Central. Seu fracasso despertou reflexões, autocríticas e avaliações.
Nesse período, os setores populares emergiram como força de oposição e
interlocutores ativos e críticos dos dirigentes e técnicos das políticas públicas. Um
movimento social de tipo novo entre a população de baixa renda se constituiu. Ao lado
das antigas Associações de Amigos de Bairros, novas associações de moradores
desatreladas dos patrocinadores convencionais. Ao contrário das velhas lideranças
sindicais atreladas à burocracia, grupos de oposição sindical, propostas de organização
de um novo sindicalismo. Movimentos contra a Carestia. Movimentos culturais e grupos
de teatro e música popular nas periferias, muitos com forte acento na cultura afrobrasileira. Uma imprensa de bairro divulgava trabalhos, lutas e experiências.
A Igreja participou desse processo de ação social autônoma, fundada nas reformas
que começaram com o Vaticano II e no pressuposto da “salvação do homem todo e de
todos os homens”. Os padres propunham aos fiéis o debate de suas condições de vida e
de como melhorá-las. As CEBs levavam os marginalizados a novos patamares de
consciência e organização. Do ponto de vista da Igreja, porém, os horizontes de tempo
para a mudança são ilimitados. O importante é prepará-las, para que aconteçam.
No final dos anos 70, com a abertura democrática, educadores e trabalhadores
sociais da área lançaram um movimento de educação progressista. O menino era agora
visto como sujeito de sua história e da história de seu povo, um feixe de possibilidades.
Perguntava-se o que ele é, sabe, traz e de que é capaz. Essa nova fase não eliminou a
anterior. Conviviam de forma justaposta na FUNABEM e nas FEBEMS práticas
correcionais-repressivas, assistencialistas e educativas. Em 1976, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito revelou a existência de 13.542.508 menores carentes e de
1.909.570 menores abandonados. O Código do Menor de 1979, Lei Federal 6.697, tinha
como finalidade proteger a criança na linha do confinamento e do controle. Mas não podia
institucionalizar todo esse contingente. Em 1987, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil divulgou a cifra de 36 milhões de menores empobrecidos, no Brasil, 7 milhões deles
abandonados.
Os anos 80 são considerados a década perdida no desenvolvimento econômico no
Brasil. De 1980 a 1982, além do fracasso do PLIMEC e apesar da ascensão do
movimento social, da “distensão lenta, gradual e segura” proposta pelos militares, da
“abertura
democrática”
e
da
confiança
na
irreversibilidade
do
processo
de
redemocratização, milhares de crianças e adolescentes transformavam as ruas em
espaço de sobrevivência e moradia. Isto causava perplexidade nos setores vinculados às
políticas públicas que se haviam comprometido com mudanças nas concepções e
práticas convencionais de atendimento às crianças e jovens em circunstâncias
especialmente difíceis.
O fracasso do PLIMEC junto com os CSU (Centros Sociais Urbanos) e a
emergência de um movimento social de tipo novo prepararam e deram inteligibilidade aos
acontecimentos dos anos 80. As legislações sociais, até 1988, tendiam a dar à pobreza
uma feição policial. Os pressupostos pedagógicos que preconizavam a institucionalização
da criança e do adolescente transformavam a vítima em réu. Essa prática legal,
numa cultura
autoritária e tirânica, com relações
de
tutela e favoritismo, gerou o
alarmante número de 32 milhões de crianças e adolescentes esquecidos pelo
planejamento socioeconômico e político. Apesar da permanente crise, foram inegáveis os
avanços políticos e institucionais, rumo ao Estado democrático de direito. O país elegeu
um presidente civil, elaborou uma nova Constituição, reviu a legislação herdada do
autoritarismo e elevou o exercício das liberdades democráticas.
O avanço das reflexões permitiu perceber o menino como figura emblemática da
falta de condições mínimas de bem-estar e dignidade de milhões de famílias brasileiras,
especialmente expulsas do campo. Daí a percepção de que inovar o atendimento aos
meninos e meninas de rua poderia dar início a um processo de reversão da política
brasileira de atendimento aos direitos da infância e da juventude, sem inscrevê-los nas
categorias de controle social, compreendidas como parte do entulho autoritário a ser
banido do panorama legal brasileiro. Por isso, não deviam ser chamados de menores.
Para iniciar alguma coisa, achou-se que valia a pena encarar o trabalho social e
educativo junto aos meninos e meninas de rua pela ótica e prática das alternativas
comunitárias de atendimento. Técnicos do UNICEF, da FUNABEM e da SAS (Secretaria
de Ação Social) do Ministério da Previdência e Assistência Social iniciaram o Projeto
Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua, com base em Termo de Acordo das três
instituições. A idéia era de se aprender com quem faz. Em clima de criatividade
institucional, teve início um processo de identificação, registro e divulgação de
experiências bem sucedidas de atendimento a meninos e meninas que estavam nas ruas
ou comunidades pobres, para desenvolver uma estratégia de aprendizagem/ensino
chamada semitágio (de seminário mais estágio). Era feita uma reflexão conjunta de uma
experiência na qual o grupo podia imergir, oficinas, reuniões, encontros, cartilhas, vídeos.
Eram espaços de transmissão, produção de idéias, conhecimentos, posturas, criação e
estreitamento de laços de amizade, sentido de pertinência e vínculo entre os
participantes.
Resultados:
a) patrimônio de idéias e experiências;
b) grupo de lideranças emergentes, em escala nacional, representativo de
compromisso político e competência nas atividades com meninos e meninas de
rua.
O evento mais forte foi o I Seminário Latino-Americano de Alternativas
Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, realizado em Brasília, em
novembro de 1984. A força do atendimento alternativo emergente do movimento social
desse período se impôs em oposição ao modelo assistencialista e correcional-repressivo
resultante da articulação entre o Código de Menores e a PNBEM. O passo seguinte foi a
organização das comissões locais e estaduais que elegeram em 1985 a Coordenação
Nacional do Movimento MMR, evento e conquista mais importante desse período. Em
maio de 1986, o I Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em Brasília, reuniu
crianças e adolescentes que tinham passado por processos de discussão nos níveis local
e estadual. Demonstraram consciência política nos debates sobre saúde, família,
trabalho, escola, sexualidade, direitos. Violência foi uma palavra freqüente. Denunciavam
a violência pessoal na família, nas ruas, na polícia, na justiça e nas instituições. A falta de
terra, salário digno para os pais, trabalho, habitação, escolas, programas de capacitação,
cultura, esporte, lazer e recreação. Seu nível de maturidade e organização espantou a
muitas pessoas.
Com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, na luta para colocar os
direitos da criança e do adolescente na Carta Constitucional, destacaram-se a Frente
Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a Pastoral do Menor da
CNBB, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e a Comissão Nacional
Criança e Constituinte. Em setembro de 1986, a Portaria Interministerial 449 cria a
Comissão Nacional criança e Constituinte, envolvendo os Ministérios da Educação,
Saúde, Previdência e Assistência Social, Justiça, Trabalho e Planejamento.
Em
novembro de 1986, o UNICEF assinou com o Ministério da Educação um Termo de
Acordo de Cooperação Técnica e Financeiro.
A Comissão Nacional Criança e Constituinte realizou um amplo processo de
sensibilização, conscientização e mobilização da opinião pública e dos constituintes.
Encontros Nacionais, debates em diversos Estados, difusão pelos MCS, eventos com
milhares de crianças em frente ao Congresso Nacional, panfletagem e abordagem
pessoal dos parlamentares constituintes, participação nas Audiências Públicas, carta de
reivindicações com mais de 1,4 bilhões de assinaturas de crianças e adolescentes,
exigindo a introdução dos seus direitos na Nova Carta. Houve participação da iniciativa
privada, com mais de 200 mil assinaturas de eleitores à Assembléia Nacional Constituinte:
“Criança e Constituinte” e “Criança – Prioridade Nacional”. Textos fundidos entraram no
corpo da Constituição, com 435 votos e 08 contra.
O paradigma delineado na Constituição de 1988 deu um salto qualitativo e
quantitativo no que se refere à assistência social, reconhecendo-a como direito de todos
os brasileiros. No artigo 203, o novo modelo da assistência prevê a proteção de todos
aqueles que dela necessitarem. Isto significa que mesmo aqueles que, por qualquer
razão, não puderem contribuir com a previdência, serão por ela contemplados. O artigo
204 estabelece a participação da população por meios organizados na formulação das
políticas sociais. A ampliação dos direitos sociais possibilita um novo caráter redistributivo
da renda nacional, por meio das políticas sociais. Em termos operacionais, a Constituição
preconiza a municipalização da assistência e a participação da população em sua
formulação, o que permite passar de uma cultura de favor para uma cultura de direito.
O caput do artigo 227 introduz na Constituição o enfoque e a substância básica da
Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Em 05 de outubro de 1988, o Brasil
incorporou na Carta Magna a essência de uma Convenção Internacional que só seria
aprovada em 20 de novembro de 1989, graças à força, habilidade, compromisso e
resolução do movimento social em torno da criança e do adolescente.
Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão.
Para elaborar a lei ordinária que revogasse a legislação do período autoritário, as
entidades
não-governamentais
articularam-se
no
Fórum-DCA:
Fórum
Nacional
Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em torno do respeito à identidade, à autonomia e ao dinamismo de cada
uma das entidades-membro. Milhares de encontros, congressos, seminários, reuniões e
jornadas se realizaram em todo o país. Centenas de manifestações e subsídios foram
apresentadas pelo Estatuto nas duas Casas do Congresso Nacional: o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados.
Três forças se uniram em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que
revogou o Código de Menores e a PNBEM: 1) a jurídica (juízes, promotores, advogados e
professores de direito); 2) as políticas públicas (assessores da FUNABEM, dirigentes e
técnicos dos órgãos estaduais reunidos no FONOCRIAD, o Fórum Nacional de Dirigentes
de Políticas Estaduais para a Criança e o Adolescente; 3) o movimento social,
representado pelo Fórum DCA, entidades não-governamentais, a SBP, Sociedade
Brasileira de Pediatria e a Abrinq, Associação dos Fabricantes de Brinquedos, que
representou o mundo empresarial. Aprovado pelo Congresso Nacional, o Estatuto da
Criança e do Adolescente foi sancionado pelo Presidente da República, tornando-se a Lei
8069 de 13 de julho de 1990.
O reordenamento jurídico não eliminou, no Brasil, a coexistência do bem-estar com
o supermal-estar social, traduzida em números percentuais. Em 1991, no topo da
pirâmide, 1% da população detinha 17,3% da riqueza nacional. Os 10% mais pobres
ficavam com os minguados 0,6% dessa riqueza. Essa descomedida diferença na
distribuição da renda era visível na realidade social, marcada pelo altíssimo índice de
mortalidade infantil, extermínio de crianças e adolescentes, exploração do trabalho
infanto-juvenil, tráfico de bebês, corrupção, tráfico de drogas, prostituição infanto-juvenil,
desagregação familiar, perambulação de crianças, adolescentes e adultos pela ruas e
praças,
analfabetismo,
sucateamento
dos
equipamentos
sociais,
desemprego,
desnutrição, fome e falta de moradia. Apesar dessa realidade, acreditamos na
possibilidade de garantia dos direitos sociais estabelecidos na Constituição e no ECA,
obras arquitetadas por diversos segmentos da sociedade civil organizada. Esses direitos
resultam de lutas multisseculares no Brasil e fora dele, de um conflito constante entre o
capital e o trabalho.
Em 1996, o
Ipea
e
o
Bird apontavam que 20% dos brasileiros mais ricos
detinham 63,3% da renda nacional, da qual os 50% mais pobres ficavam somente com
11,61%. Cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes com menos de 14 anos eram
obrigadas a enfrentar jornadas de até 12 horas de trabalho, às vezes sem receber por
isso, em atividades que colocavam em risco sua integridade física e moral. Da população
economicamente ativa, segundo o IBGE, 11,6% eram menores de 17 anos, uma mão-deobra barata e desorganizada. O SOS Criança informava que 87% dos “menores” que
perambulavam pela Grande São Paulo, pedindo ou fazendo pequenos furtos,
viciados em crack, cola, maconha e cocaína, tinham vínculos familiares e alguns eram
arrimo de família, sendo que apenas 10% deles moravam na rua. Na família, a tortura
levava algumas crianças até a morte. Os pais eram os primeiros responsáveis pela
violência: “A cada hora, são 750 que sofrem violências em casa.” (FSP, 21/02/94.)
Confirmam esses dados a lógica do Estado de privilegiar a esfera privada em
detrimento da esfera pública, a exemplo dos financiamentos para os banqueiros,
enquanto não aparece verba para pagamento dos professores do ensino fundamental. A
corrupção, a priorização dos interesses privados e o sucateamento dos bens públicos, por
parte do Estado, têm reafirmado esse mesmo espírito, a exemplo do menosprezo dado às
políticas sociais. Esse quadro fortalece a cultura do mal-estar social (Manzini Covre,
1993:7), que se agrava com a ausência de políticas sociais, como a falta de abrigos para
crianças abandonadas e vítimas de violência.
O desafio que se coloca, porém, é contemplar atentamente o presente para
compreender como a população excluída dos bens da cidade, está incluída, de certa
forma, como condicionante da subsistência de vários grupos sociais. Nos dados
históricos, é corolário que a miséria, com sua carga de criminalidade, tem sido um meio
de garantir o enriquecimento e o status social de políticos, empresários, líderes religiosos
e grupos organizados. A realidade da criança e do adolescente empobrecidos cria, no
mundo hodierno, os juízes da infância e juventude, os procuradores da justiça, os
educadores, os assistentes sociais, os líderes comunitários, as damas de caridade, uma
rede de pessoas que vivem de sua tragédia.
As questões postas nas relações corriqueiras são pluralistas, repercutem de
maneira peculiar em cada indivíduo ou segmento. Se a miséria gerou e gera uma
burocracia parasita, está também na base da constituição de uma rede de solidariedade
que sustenta a vida, em que a compaixão se coaduna com a justiça. A solidariedade no
cotidiano não é somente um instrumento de alienação; contribui para a cidadania e a
reconstituição da justiça social.
A falta de políticas sociais bem estabelecidas, articuladas com a sociedade civil e
circunscritas nas relações produtivas, delineia uma política de genocídio do “menor”. No
Brasil, essa política se encaixa num quadro de desenvolvimento desigual/combinado. Não
acreditamos que exista uma política de bem-estar e uma do “mal-estar” social
desarticuladas uma da outra. Políticas sociais menos burocratizadas podem facilitar a
acesso dos menos favorecidos e abrir campo para programas a serem
desenvolvidos pelos municípios. A municipalização do atendimento, sob a vigilância dos
munícipes, permite que os recursos financeiros possam ser aplicados para cobrir as
prioridades. Um instrumento para isso são os conselhos municipais dos direitos da
criança e do adolescente, como preconiza o ECA, artigo 88. A municipalização da
assistência social tende a assegurar, com mais eficácia, os direitos sociais. Entre os
desafios que a sociedade deve enfrentar, para garantir o Estado do Bem-Estar social,
destaca-se a revisão da forma de pagamento da dívida externa do Brasil; a
municipalização da assistência social; e a mobilização da sociedade civil para fazer valer
os seus direitos.
Na década de noventa, a sociedade brasileira implantou uma reforma institucional
que questionava as práticas e procedimentos do clientelismo e do favoritismo
predominantes na assistência, em vista de uma acepção fundada nos direitos de
cidadania. A descentralização constitucional das estruturas políticas administrativas
valorizou o poder local e a participação popular como mecanismos de construção da
democracia. O conjunto das legislações sociais sobre a criança e o adolescente, a partir
de 1990, estabeleceu que eles são prioridade absoluta, sujeitos de direitos. Essa
concepção veio reforçar os questionamentos sobre como transformar uma sociedade
viciada em práticas autoritárias. Como ajudar aqueles que foram educados para a prática
da violência? De que forma implementar o projeto societário preconizado no ECA numa
sociedade impregnada pelo autoritarismo, que procura formas de burlar as leis que
salvaguardam os direitos das crianças e adolescentes (Souza Neto, 1993), por considerálas desnecessárias? Os fundamentos para a consolidação do ECA somente serão
estabelecidos quando seu conteúdo, enquanto projeto societário que necessita de
alguns ajustes, conseguir penetrar no universo cultural brasileiro.
Nesse sentido, cada ação que se proponha a defender os direitos da criança e do
adolescente vai construindo essa nova cultura. Marx (1953:224) exalta a importância de
uma legislação que proteja as crianças de abusos e exploração no trabalho e lhes garanta
uma boa educação como meio para transformar a sociedade. No caso brasileiro, há
várias ações de parcerias nacionais e internacionais entre sindicatos, conselhos,
governos, empresários, para erradicar o trabalho infantil e estimular a escolarização. A
política da assistência social, no quadro das relações contraditórias e antagônicas do
modo de produção vigente, aparece como produto das relações conflituosas entre o
capital e o trabalho. Enquanto a política social se fortalece, produz e reproduz um
conjunto de contradições sociais, a assistência permite desvelar a exploração e contribui
para a conquista da cidadania e a garantia dos direitos sociais.
Um dos organismos para concretizar esses objetivos e os objetivos do ECA, para
que as crianças e os adolescentes passassem a ser tratados como prioridade absoluta
são os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Eles
são uma esfera pública, um meio para consolidar a democracia, que põe a céu aberto as
contradições do município e produz uma metodologia pedagógica recriada para o
contexto atual. Como instrumento democrático para formulação de políticas sociais para a
criança e o adolescente, podem liberar a cultura que está presa nos grilhões da tirania e
contribuir pedagogicamente para a construção do sujeito individual e coletivo.
Esses Conselhos são constituídos paritariamente por representantes do poder
público municipal e da sociedade civil, que são eleitos. Os membros da sociedade civil,
para participar do processo de escolha, devem pertencer a uma entidade que atua na
área da criança e do adolescente. Na atuação dos Conselhos, pode-se questionar a
concepção da assistência, no sentido de promover a eqüidade ou de reproduzir a
desigualdade social. Seriam os seus programas apenas curativos, sem medidas
preventivas indispensáveis à emancipação do sujeito? Esta problemática retoma a
discussão da crença na univocidade da assistência, e de que todas as ações
desenvolvidas pelo Estado ou pela sociedade capitalista tenham por fim último fortalecer
a subserviência, a dominação e a exploração, ou o contrário, a pluralidade. A nosso juízo,
a assistência sedimenta-se nas lógicas do controle, da dominação ou da possibilidade de
condições de acesso à cidadania.
Os CMDCAs colaboram
com o município, frente à impossibilidade do poder
municipal para equacionar sozinho todas as suas mazelas. Entre as dificuldades do
município estão a não disponibilidade de recursos financeiros e físicos para atender a
todas as demandas sociais e a incapacidade das políticas sociais setorizadas agirem sem
uma interface com as políticas econômicas, especialmente com as políticas de pleno
emprego e de salários. O enfrentamento da pobreza não pode ser feito por ações
isoladas, que acabam por atribuir a culpa das mazelas sociais ao indigente e a missão de
reeducá-lo a abnegados filantropos. A pobreza é fruto de ações estruturais, não
individuais, não é natural, mas socialmente produzida. A participação nos CMDCAs tende
a reunir elementos para derrubar barreiras e preconceitos sobre a assistência social.
Eles não são uma dádiva ou um encontro de amigos,
e sim
um espaço de
divergências, conflitos e disputas de projetos, no qual vence quem tiver maior capacidade
de articulação e negociação. Além de controlar de forma imediata o poder público,
também aponta alternativas alterativas.
O embate entre a sociedade civil e o poder público não só ajuda o governo, mas
também pode contribuir para que as entidades mudem a concepção de assistência.
Participação vem acompanhada de compromisso, capacidade de negociação, descoberta
de ferramentas para se impor um projeto. Não é uma dádiva, é conquista; põe em ação a
crença na viabilidade dos sonhos, acima dos partidarismos; segue um processo lento,
acompanhado pelo olhar vigilante da sociedade civil, para que não seja tutelada pelo
poder público; significa exigir dos poderes executivo, legislativo e judiciário o cumprimento
de suas funções; deve ser um instrumento para conquista, garantia e equacionalização
das oportunidades sociais para todos, e não de manipulação para escamotear o
autoritarismo; não significa apenas o ato de votar, mas deve ocorrer em torno de um
projeto, com objetivos definidos; deve ampliar a publicidade do Estado; deve encontrar
nos conselhos instrumentos facilitadores para motivar e estimular a participação. A
participação reveste-se de uma utopia realizável, porém, não de modo satisfatório. Por
essa razão, desenvolve-se num processo imorredouro. Por isso, ela é construída e
recriada com entusiasmo, esperança e fé na possibilidade de mudar a situação.
A participação possibilita um caráter ético, democrático e eficiente que tenderia a
diminuir a corrupção no uso dos recursos públicos. Em determinados momentos, também
logra maior publicidade das coisas públicas. Ela é importante pelo conteúdo pedagógico,
para a construção de uma ética social que contribua ao reordenamento das coisas
públicas e propicie a passagem de uma cultura de favores para uma cultura de direitos.
Uma vez circunscrita no âmago da desigualdade política e social, permite aperfeiçoar os
procedimentos de aquisição da cidadania e romper o paternalismo, sob a guarda das
organizações e dos movimentos populares. Sua qualidade depende de fatores como a
capacidade de argumentação dos conselheiros do poder público e dos representantes da
sociedade civil a favor das reivindicações e necessidades da criança e do adolescente,
para incorporá-las nas políticas sociais. O caráter democrático do CMDCA desencadeia
um processo que desvela os conflitos individuais e sociais, expõe as contradições sociais,
exige uma contínua revisão do projeto político do poder público, em busca da liberdade.
Ele torna viável a articulação e o fortalecimento das classes populares e das
organizações sociais. A eficiência é um outro aspecto da participação democrática.
A democracia como estratégia para melhorar a qualidade de vida não significa apenas
conquistas de mecanismos estabelecidos nas legislações sociais. É necessário que os
movimentos
assumam canais como os Conselhos e a municipalização das políticas
sociais, que formam uma trincheira da guerra de posição, para fortalecer a democracia.
Como esferas de negociação, os Conselhos ajudam a conceber uma cultura
administrativa transformada e a dar visibilidade à assistência e às demais políticas
sociais. Os Conselhos ganham feições peculiares, de acordo com as correlações de
forças existentes na cidade.
A concepção da assistência como direito retira a culpa da pobreza do indivíduo e a
reconhece como social. Esta visão repercute no CMDCA e é um dos conteúdos a serem
assimilados pelos responsáveis das políticas sociais. Por essa perspectiva, os Conselhos
não devem se reduzir a espaços de discussão de interesses particulares de entidades. A
acepção de assistência que perpassa a legislação social do Brasil faz do CMDCA um
canal de criação de um imaginário nos responsáveis pela elaboração das políticas sociais.
Sua dinâmica tende a revelar que a assistência social não é monopólio do Estado nem
de damas abnegadas, mas da sociedade civil, tanto quanto do poder público. A
assistência é um projeto de enfrentamento da miséria, em articulação com as demais
esferas sociais. O CMDCA cria condições para a mudança de mentalidade e a construção
de imaginários culturais, sociais e políticos,
pelo intercâmbio entre os poderes e as
organizações sociais. Ele desempenha um papel inibidor da prática da corrupção ou do
tráfico de influência. Uma de suas atribuições é chamar à responsabilidade governantes e
governados, entidades governamentais e não-governamentais, para formularem diretrizes
das políticas assistenciais que revertam o quadro de desperdício e superposição de
programas sociais. A participação permite às organizações e ao próprio poder público
ultrapassarem os interesses particulares e oligárquicos para pensarem as políticas sociais
e as prestações de serviços à cidade.
A descentralização e os Conselhos são dois
instrumentos que possibilitam a mudança de mentalidade não só do poder público local,
mas da sociedade civil.