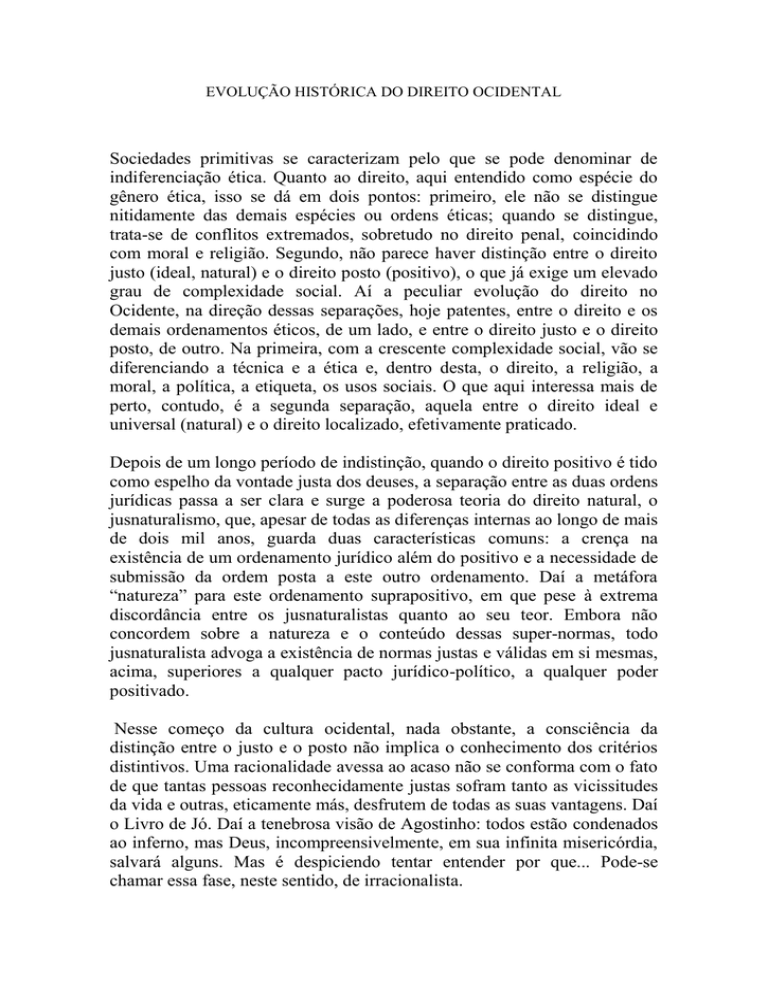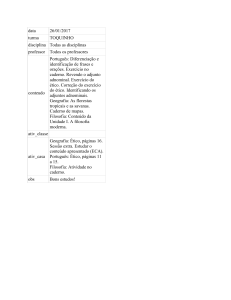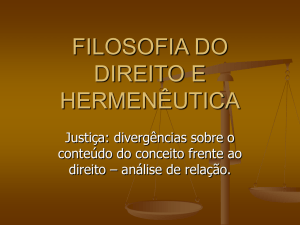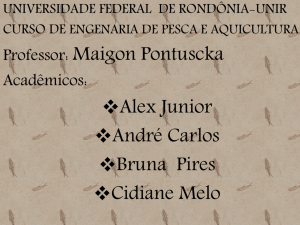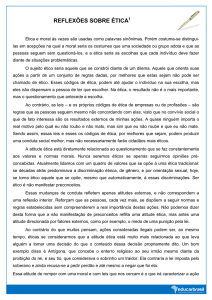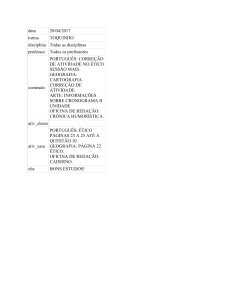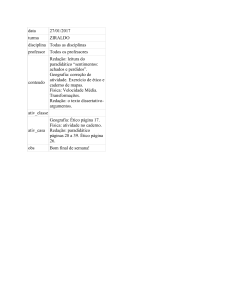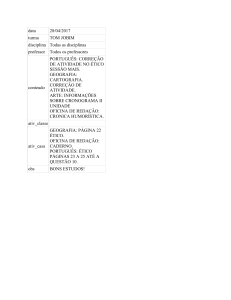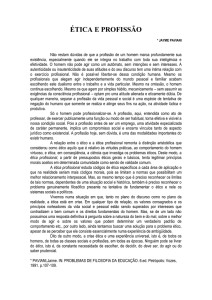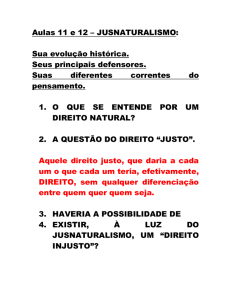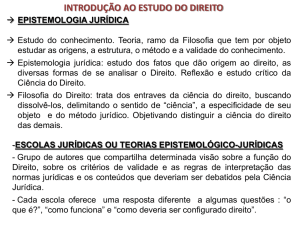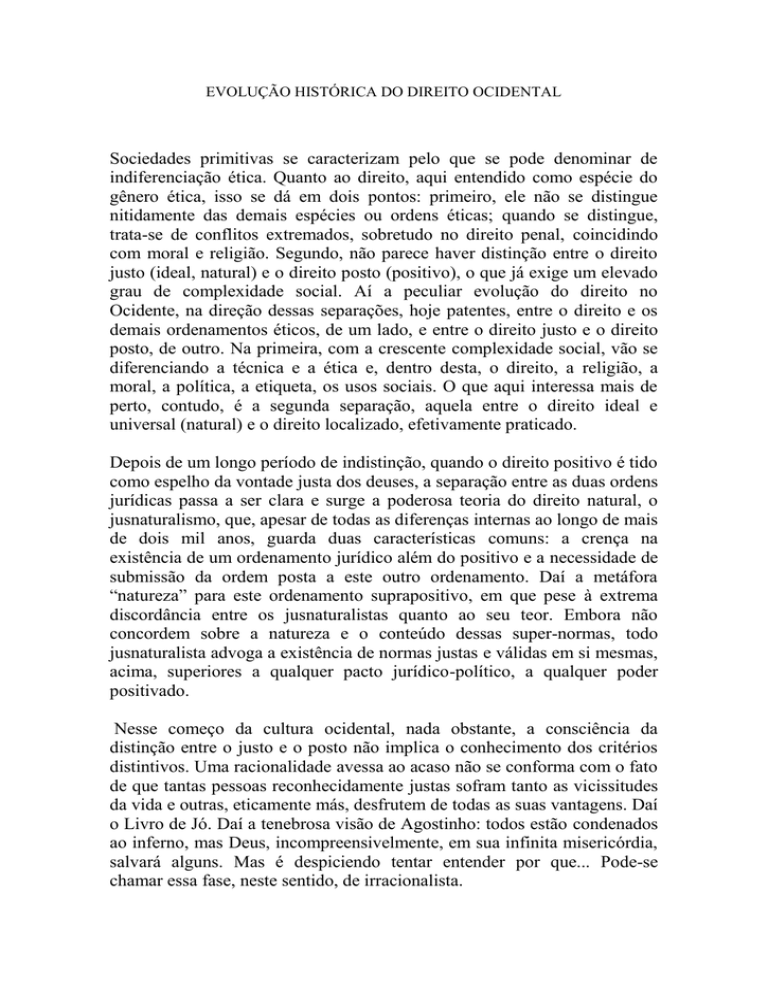
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO OCIDENTAL
Sociedades primitivas se caracterizam pelo que se pode denominar de
indiferenciação ética. Quanto ao direito, aqui entendido como espécie do
gênero ética, isso se dá em dois pontos: primeiro, ele não se distingue
nitidamente das demais espécies ou ordens éticas; quando se distingue,
trata-se de conflitos extremados, sobretudo no direito penal, coincidindo
com moral e religião. Segundo, não parece haver distinção entre o direito
justo (ideal, natural) e o direito posto (positivo), o que já exige um elevado
grau de complexidade social. Aí a peculiar evolução do direito no
Ocidente, na direção dessas separações, hoje patentes, entre o direito e os
demais ordenamentos éticos, de um lado, e entre o direito justo e o direito
posto, de outro. Na primeira, com a crescente complexidade social, vão se
diferenciando a técnica e a ética e, dentro desta, o direito, a religião, a
moral, a política, a etiqueta, os usos sociais. O que aqui interessa mais de
perto, contudo, é a segunda separação, aquela entre o direito ideal e
universal (natural) e o direito localizado, efetivamente praticado.
Depois de um longo período de indistinção, quando o direito positivo é tido
como espelho da vontade justa dos deuses, a separação entre as duas ordens
jurídicas passa a ser clara e surge a poderosa teoria do direito natural, o
jusnaturalismo, que, apesar de todas as diferenças internas ao longo de mais
de dois mil anos, guarda duas características comuns: a crença na
existência de um ordenamento jurídico além do positivo e a necessidade de
submissão da ordem posta a este outro ordenamento. Daí a metáfora
“natureza” para este ordenamento suprapositivo, em que pese à extrema
discordância entre os jusnaturalistas quanto ao seu teor. Embora não
concordem sobre a natureza e o conteúdo dessas super-normas, todo
jusnaturalista advoga a existência de normas justas e válidas em si mesmas,
acima, superiores a qualquer pacto jurídico-político, a qualquer poder
positivado.
Nesse começo da cultura ocidental, nada obstante, a consciência da
distinção entre o justo e o posto não implica o conhecimento dos critérios
distintivos. Uma racionalidade avessa ao acaso não se conforma com o fato
de que tantas pessoas reconhecidamente justas sofram tanto as vicissitudes
da vida e outras, eticamente más, desfrutem de todas as suas vantagens. Daí
o Livro de Jó. Daí a tenebrosa visão de Agostinho: todos estão condenados
ao inferno, mas Deus, incompreensivelmente, em sua infinita misericórdia,
salvará alguns. Mas é despiciendo tentar entender por que... Pode-se
chamar essa fase, neste sentido, de irracionalista.
O jusnaturalismo teológico, filosofia do Catolicismo vitorioso, já tem uma
lógica, como o nome diz. Mas é uma lógica divina, que necessita da
intermediação da Santa Madre Igreja para transformar a Lex Naturalis na
Lex Humana. A pessoa será julgada para a eternidade por seus atos neste
mundo, mas os critérios não estão ao alcance de qualquer um. Por isso, e
também com muita violência contra os recalcitrantes, a extraordinária
hegemonia conseguida pela Igreja Católica, a única intérprete oficial do
direito natural.
Na grande revolução do jusnaturalismo aqui denominado antropológico, a
lógica já passa a ser humana, cada anthropos racional pode perceber o
direito justo, e aí o problema ético passa a ser como decidir se os seres
humanos divergem a respeito. Daí a politização da igualdade, mesmo com
todas as suas restrições iniciais (os votos capacitário, censitário, familiar,
plural) e o surgimento do próximo passo, aqui denominado jusnaturalismo
democrático. Mas note-se que Rousseau, Locke, Hobbes, Hegel e tantos
outros recusam o princípio da maioria, buscando instâncias de legitimidade
que não se reduziriam ao mero contar de cabeças, pois o direito justo não
está necessariamente com a maioria, mas pode ser eventualmente
“descoberto” e “conduzido” por um grupo minoritário. Acontece que a
vontade geral ou o espírito do povo revelaram-se conceitos metafísicos de
pouca utilidade jurídico-política e de impossível determinação conceitual.
Estava aberto o caminho para o positivismo, filho indesejado da ética
jusnaturalista.
O positivismo domina, então, como a teoria do direito mais adequada à
democracia. Ele tem pretensões de universalidade, sim, mas seu
universalismo é meramente formal, procedimental, ele considera a questão
do conteúdo ético uma questão extrajurídica.
Pela solução da modernidade democrática para esse dilema, igualitária, o
direito passa a ser em primeiro lugar, uma questão de maioria, pois justo
não é este ou aquele padrão de conduta, mas sim aquilo que a maioria
decide que é justo; e, em segundo lugar, o direito torna-se
institucionalizdamente mutável, pois sempre novos conteúdos éticos
divergentes podem ser submetidos a novas maiorias. O positivismo retira o
problema da legitimidade e da justiça da esfera da ciência do direito e
abandona o ideal iluminista de um direito internacional.
.
É certo que, depois de estatuídas as primeiras regras, como em um poder
constituinte originário, os poderes legiferantes derivados devem se
submeter aos conteúdos éticos escolhidos. Mas o poder constituinte
realmente originário não tem qualquer limite ético, pois nenhuma norma
vale acima do pacto jurídico-político. E, depois de ele estabelecer suas
bases, a legitimidade jurídica é questão de validade, isto é, a norma justa é
aquela fruto de autoridade competente e de rito de elaboração de acordo
com o sistema. Em suma: novamente critérios exclusivamente formais.
Dessa maneira, se a variabilidade é intrínseca ao direito, a universalização
de regras jurídicas só pode ter caráter formal, ficando a cargo de cada
Estado, cada povo, cada território a fixação de suas regras.
Fácil entender, assim, como o positivismo exegético evolui para o
decisionismo. Com a crescente complexidade social e o progressivo
dissenso sobre a significação concreta dos textos jurídicos, a objetividade,
mesmo formal, da legislação é mais e mais posta em dúvida. O positivismo
contemporâneo perde seu caráter cientificista e torna-se cada vez mais
casuístico, esvaziando o papel do Legislativo e enfatizando a concretização
da norma jurídica por meio do Judiciário e demais partes envolvidas no
caso concreto. A lei e mesmo o precedente judicial são vistos como textos,
não como normas, são meros dados de entrada para construção da norma
diante do caso. O apelo a princípios, máximas ou a sobreprincípios como a
proporcionalidade, passa a ser mais uma estratégia para dispor de espaço
livre na adaptação do sistema à complexidade dos casos. Uma
racionalidade casuística ou mesmo casual é o máximo que se pode esperar.
Essas dificuldades para uma racionalização universal tornam-se ainda mais
agudas no âmbito do direito internacional, pois, mesmo se fosse possível
um acordo sobre um conteúdo ético definido, isso não bastaria a uma
efetiva constituição do direito internacional. Como já afirmava Kant
(também em Zum ewigen Frieden, de 1795), uma
coercitividade internacional, certamente via um tribunal soberano, seria
indispensável, pois, como ele coerentemente diz, “Das Recht ist mit der
Befugnis zu zwingen verbunden (o direito está ligado à autorização para
coagir)7. O direito internacional tem chegado, na melhor das hipóteses, ao
princípio de Hugo Grotius pacta sunt servanda, regra máxima esta também
meramente formal, pois nada diz sobre o conteúdo ético desse pacto, não
diz o que deve e o que não deve ocorrer. Sim, pois a adesão dos Estados
nacionais, por definição os sujeitos do direito internacional, é autônoma,
enquanto que a adesão dos cidadãos ao direito dogmático nacional é
heterônoma. Parece haver uma diferença fundamental de conceitos.
Pode-se tomar como ponto de argumentação a tese do “respeito mínimo aos
direitos humanos”. Verifica-se que a idéia de direitos humanos
fundamentais e inalienáveis, válidos por si mesmos, independentemente e
acima do pacto político constituinte da ordem jurídica, que parecia
caminhar para uma universalização definitiva nessa“constelação pósnacional”, após a queda do muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e
da União Soviética, em 25 de dezembro de 1991, parece também agora ter
sido apressadamente saudada pelos partidários mais otimistas do Estado
democrático de direito. O que se vê, como sempre, é que a aplicação
extraterritorial das leis penais, por exemplo, só tem ocorrido sobre Estados
fracos. Mesmo assim, uma justiça nacional internacionalizada é muito
diferente de uma justiça supranacional.
Com efeito, após os atentados terroristas nos Estados Unidos, em 11 de
setembro de 2001, o mundo vê estupefato a “lei patriótica”, aprovada
naquele país supostamente líder na efetivação dos ideais democráticos,
transformar em direito positivo uma série de normas violentadoras dos
direitos humanos: mediante meras suspeitas são eliminados direitos à
privacidade em todos os níveis, prisões sumárias são permitidas, tribunais
de exceção podem ser conduzidos em segredo e até em bases militares e
navios de guerra, dentre outras medidas na mesma direção. Não apenas
contrário a normas internacionais de proteção ambiental, o governo dos
Estados Unidos também é contra o Tribunal Penal Internacional e
coerentemente defende aquela lei de proteção a funcionários
norteamericanos no exterior (o American Servicemembers Protection Act –
ASPA), a qual permite até a invasão militar de qualquer país para recuperar
cidadão norte-americano ameaçado de ser trazido perante uma corte
internacional. Quem ousará? Mais ainda, outros governos supostamente
democráticos, novamente capitaneados pelos Estados Unidos, não apenas
apóiam a guerra contra o Iraque, mas também consentem em estabelecer
alianças com exemplares adversários dos direitos humanos como, por
exemplo, o ditador do Uzbequistão Islam Karimov ou o general golpista
paquistanês Pervez Moucharraf. Apenas repetindo a história recente,
incluindo a América do Sul.
Em suma: na pós-modernidade, na contemporaneidade, o direito dogmático
e a democracia positivista tradicionais não têm mais a mesma consistência
teórica nem o mesmo grau de eficiência. A crise se manifesta em diversos
sentidos, tais como o alto índice de abstinência no voto e a possibilidade de
partidos não-democráticos chegarem ao poder e acabarem com os
procedimentos democráticos. Daí porque a tese da separação autopoiética
entre direito e moral, entre direito e conteúdos éticos, oriunda do
positivismo e outrora hegemônica, passa a ser contestada.
Os juristas contemporâneos não-positivistas, assim, passam a apelar à
necessidade de normas de conteúdo ético definido, que não se refiram
apenas a regras procedimentais, ou pelo menos, defendendo regras
procedimentais com conteúdo ético, como “todos têm direito de participar”
(por serem iguais)10. Na busca por esse conteúdo, pregam a necessidade de
valores universais, direitos que teriam caráter intrinsecamente humano, daí
estarem acima de qualquer posição de maioria ou regra formal de
procedimento, tais como a igualdade irrestrita entre todos os seres
humanos, a proibição da discriminação racial ou sexual, o banimento da
tortura, a injustiça da pena de morte. Regram diretamente contrárias a essas
sempre fizeram e fazem até hoje parte do direito positivo, sempre
discriminatório.
A teoria universalista contemporânea tenta assim, muito logicamente,
reerguer o ideal do direito internacional, até hoje mero ideal.