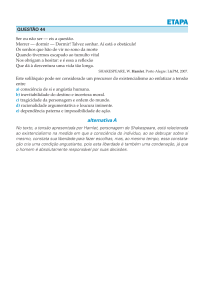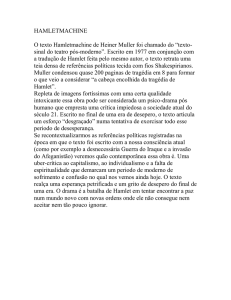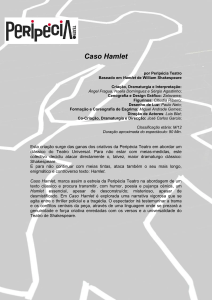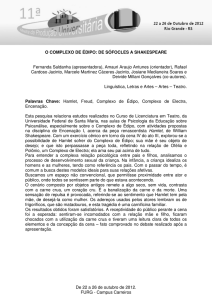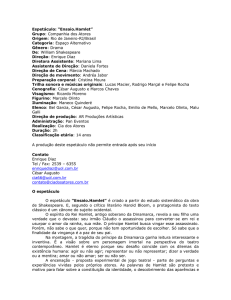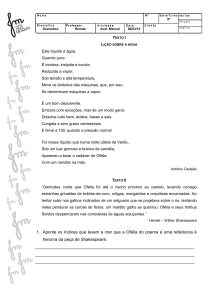Teatro
Carlos
Alberto
ESTREIA ABSOLUTA
5-14
Abr
2013
GERTRUDE
a partir de
Hamlet de
William
Shakespeare
tradução
interpretação
António M. Feijó
Fiammetta Bellone
(português)
Simão Do Vale
Agostino Lombardo
(italiano)
coprodução
TNSJ
dramaturgia
e encenação
Simão Do Vale
música original
A Turma
e sonoplastia
Francisco Pessanha
dur. aprox. 1:20
de Meneses
M/12 anos
cenografia e figurinos
Bernardo Monteiro
qua-sáb 21:30
desenho de luz
dom 16:00
Rui Simão
coreografia
Né Barros
assistência
de encenação
Manuel Tur
Espetáculo em língua
portuguesa e língua italiana,
legendado em português.
Na legendagem, a tradução foi
objeto de ligeiras reformulações
e acertos.
O espetáculo contou com
o apoio do Programa
Gulbenkian de Língua e Cultura
Portuguesas (Teatro/Novos
Encenadores) da Fundação
Calouste Gulbenkian.
UMA RAINHA FORA
DE PORTAS
simão do vale
Criar uma nova dramaturgia a partir
de Hamlet e desenvolvê­‑la a partir da
personagem feminina de Gertrude foi
um desafio que não pretendeu resolver
o que o autor não resolveu (ou optou
por mistificar?) relativamente à mãe
do protagonista, mas que não quis
escapar à curiosidade em aprofundar as
intrincadas relações que uma peça de
génio nos deixou como legado.
A personagem de Gertrude, devido às
incertezas que gravitam em seu redor
e à curiosidade gerada pela hipótese de
explorar uma “mulher de Shakespeare”,
foi usada como motivo de estudo e
reflexão, acabando por se tornar numa
rede complexa de verdades e/ou simples
suposições.
Este trabalho de dramaturgia parte
de um princípio de impossibilidade
de compactação da obra, ou seja,
impossibilidade de alcançar uma
total fidelidade à história. A resolução
prática das dúvidas que Gertrude gera
na sua análise/observação pode servir
apenas como exercício de interpretação
e representação cénicas, e não como
trabalho de interpretação literária. Para
mim, como criador teatral, a ausência de
problemas dramatúrgicos é a ausência
simultânea do estímulo de criação (até
2
mesmo de interpretação), o que significa
que o “problema Gertrude” representa
em si mesmo a urgência da existência
deste espectáculo.
As analogias, que o texto original
esconde e expõe com uma habilidade
notável, vão sendo reveladas na sua
relação descritiva com as personagens,
numa espécie de reinterpretação
repetitiva e exaustiva da existência de
Gertrude. Esta Rainha tenta vir à tona
através da verdadeira incorporação de
outras personagens e através da adopção
de palavras que não lhe pertencem
originalmente, revelando uma verdade
cénica que serpenteia entre as várias
vivências, que se entrecruzam dentro
de uma matriz familiar e “política”
que progressivamente vai fugindo ao
controle de cada um.
Esta “nova” Rainha está sujeita a muitos
dos estímulos sensoriais “sofridos”
pelo filho na obra original, mas para
ela a presença de outras personagens
funciona como uma onda atlântica que
a subjuga àquela intensidade emocional,
da qual Hamlet é vítima e autor na obra
de Shakespeare.
Gertrude é uma Rainha estrangeira
(interpretada pela actriz italiana
Fiammetta Bellone) numa corte que
fala português (aquele que precede o
novo Acordo Ortográfico) como língua
oficial. O seu isolamento e a sua solidão,
agravados por uma viuvez da qual não
sabemos se foi observadora inocente,
cúmplice ou artífice, são lentamente
exacerbados pela intrusão de factores
corrosivos, como o uso da língua
portuguesa ou o contacto com cenas às
quais ela, na obra original, não assiste.
Ao contrário do que acontece no Hamlet
de Shakespeare, Gertrude apresenta­‑se
agora diluída numa presença
constante no desenrolar da peça e nas
transformações de personagens a que
esta nova narração impeliu.
Hamlet, por sua vez, é uma grande
ferramenta dramatúrgica no desenrolar
desta versão: a voz e corpo duma
consciência materna abafada pelos
sentidos, voz essa que é usada como
ponte de ligação entre a narração e o
significado interior das personagens.
Este espectáculo não se apresenta como
um quadro descritivo/naturalístico;
as personagens existem mais como
presenças corporais e sonoras (numa
tentativa de conduzir uma linha narrativa)
do que como “normais” seres humanos.
A participação de dois actores de
nacionalidades diferentes desencadeia
naturalmente a curiosidade pelo
contacto/confronto entre duas línguas
muito semelhantes. Ou melhor, essa
curiosidade desencadeou o desejo de
fazer este espectáculo com um português
e uma italiana. Estes dois povos têm,
na minha opinião, um profundo
desconhecimento das semelhanças entre
as suas línguas; semelhanças essas que
não só são evidentes a quem conheça bem
os dois idiomas, como advêm de vários
intercâmbios (portuários, por exemplo)
mantidos ao longo dos séculos entre
as duas nações (os dialectos genovês e
veneziano, por exemplo, apresentam
muitas semelhanças de vocabulário com
a língua portuguesa). Portugal e Itália têm
hoje um reduzido conhecimento mútuo,
sobretudo a nível cultural e linguístico,
e a possibilidade de contribuir para um
possível alargamento deste conhecimento
é particularmente gratificante.
P.S. Um agradecimento especial ao
Nuno Carinhas, director artístico do
TNSJ, que neste projecto depositou
confiança e esperança inesperadas.
Um obrigado a toda a estrutura do
TNSJ que, na sua hospitalidade
e generosidade, não deixou espaço
ao medo.
Um agradecimento ao António
M. Feijó, por nos permitir o uso
e abuso da sua tradução do Hamlet
de W. Shakespeare.
Um muito obrigado ao João Reis, ao
Jacinto Lucas Pires e ao Pedro Sobrado,
pela paciência em encontrarem
palavras lá onde nós já as não tínhamos.
Obrigado também ao António
Lagarto, por nos permitir uma
revisitação de um seu objecto de cena.
E ao António Durães, pela sua mãozinha.
Texto escrito de acordo com a antiga
ortografia.
3
UMA PEÇA SOBERANA
jacinto lucas pires
Um ator e uma atriz fazendo em italiano
e português um texto de Shakespeare.
Se isto não é a Europa, o que é a Europa?
Numa sala de ensaios do Teatro Carlos
Alberto, no Porto, Fiammetta Bellone
e Simão Do Vale trabalham cenas de
Gertrude – uma peça a partir de Hamlet;
um Hamlet pelo ponto de vista da mãe.
Mexem­‑se dentro das palavras, como
se o pano negro que lhes serve de chão e
a roupa negra que é um chão­‑de­‑vestir
fossem a própria tinta shakespeariana.
4
Tinta antiga, tanta sombra, sangue
novo. Umberto Eco terá dito que a
língua oficial da Europa se chamava
Tradução. Outra hipótese era chamar­‑se
Shakespeare.
Herberto Helder escreve: “No sorriso
louco das mães batem as leves/ gotas
de chuva. Nas amadas/ caras loucas
batem e batem/ os dedos amarelos
das candeias./ Que balouçam. Que
são puras./ Gotas e candeias puras.
E as mães/ aproximam­‑se soprando os
dedos frios./ Seu corpo move­‑se/ pelo
meio dos ossos filiais, pelos tendões/
e órgãos mergulhados,/ e as calmas
mães intrínsecas sentam­‑se/ nas
cabeças filiais./ Sentam­‑se e estão ali
num silêncio demorado e apressado,/
vendo tudo,/ e queimando as imagens,
alimentando as imagens,/ enquanto
o amor é cada vez mais forte” (Ofício
Cantante, ed. Assírio & Alvim).
É uma verdadeira blasfémia pôr este
poema entre aspas, deixá­‑lo atravessado
de barras inclinadas no museu das
citações, e blasfémia ainda maior é
interrompê­‑lo a seguir. Perdoem­‑me, por
favor. Mas, para falar deste Gertrude, era
aqui que eu queria chegar. Do ensaio que
vi (era manhã nesse dia portuense mas
na minha memória, que estranho, é noite
e noite alta), o que mais me impressionou
traduz­‑se exatamente assim: “Pelo
meio dos ossos filiais”, “calmas mães
intrínsecas”, “enquanto o amor é cada
vez mais forte”.
Os atores andavam sobre um quadrado
preto, pensando com o corpo, com a
voz, com os olhos. Manuel Tur fazia
de ponto quando era preciso e, de vez
em quando, lançava música. Dava a
impressão que estavam os três a resolver
uma questão muito específica, uma
equação matemática, a estrutura de um
edifício. Porque, claro, eles sabiam onde
é que aquilo ia dar. Como uma máquina
de almas que ainda precisasse de uma
afinaçãozita aqui e ali.
“gertrude: Depois, tão paciente como
a fêmea do pombo/ Quando os gémeos
dourados lhe saem da casca/ Se há­‑de pôr
a chocar o silêncio.”
As mães levam­‑nos mais perto do
mistério. Mas o mistério é mais denso
quanto mais perto dele estamos. E, pelo
que vi, este Gertrude quer arriscar isso,
ir assim perto: um teatro íntimo onde
as palavras são deixadas com tamanha
delicadeza que se tornam respiração,
coisa física, outras palavras. Nesta versão
bilingue, editada pelo olhar da mulher, o
não­‑dito – cortes, elipses, ações solitárias
e simples pausas – ganha um peso
valiosíssimo. Mesmo só com o relance
de umas horas de ensaio (uma manhã
vestida de noite), deu para ver como esse
silêncio era combustível e não apenas
tralha. Modesta hipótese jacíntica: se
Hamlet é “palavras, palavras, palavras”,
Gertrude será “os gémeos dourados do
silêncio”?
Claro que o Príncipe de Shakespeare
é muito mais do que um simples “filho
da mãe”. Mas Gertrude também é mais
do que a mãe da personagem célebre.
O que nos leva a outro ponto deste teatro
com nome de mulher: isto é uma peça
nova, “soberana”, não é um “anexo”
de Hamlet. É isso, digo eu, o primeiro
grande achado desta ideia de Simão Do
Vale e companhia. Não construir uma
pecinha como “explicação ilustrada” da
peça grande. Muito inteligentemente,
Gertrude usa o formato de peça de
câmara para nos dar a ver toda a música
calada, tanto silêncio de tinta negra,
da Rainha de Shakespeare. Como um
retrato a preto e branco, em chiaroscuro.
Mas um retrato rasgado por um
movimento primeiro muito subtil, lento­
‑lento, e depois cada vez mais veloz e
forte e terrível. Uma tela que de repente
se pusesse em chamas – a língua do
mundo devia era chamar­‑se Herberto:
“Queimando as imagens, alimentando as
imagens”.
Parabéns, Simão. Bravo, Fiammetta.
Muita merda, William.
5
GERTRUDE SONO IO!
joão reis
ofélia: Talvez esta cena condense
o argumento da peça.
hamlet: Ficaremos a saber por este.
Os actores não sabem guardar segredo:
contam tudo.
Hamlet (Acto III, cena 2)
Poder­‑se­‑ia pensar que a afirmação
de uma pequena constelação poética
e dramatúrgica, de um ponto de
vista que pareça desfocado do eixo
central de Hamlet, não conseguiria
sobreviver durante muito tempo, até
como simples enunciado. Sobretudo
porque na ausência dos solilóquios,
ou de grande parte do seu conteúdo,
a peça perde uma parte substancial da
sua significância e do seu brilho. Mas
a autonomia forasteira de Gertrude
(nesta versão de Simão Do Vale) torna­
‑se tão imprevisível como a do próprio
Hamlet. Eis um belo combustível
para o espectador que julga conhecer
o drama. Escondido numa tragédia
que já não é a sua, o rapaz melancólico
e suicida, apanhado repetidamente
em excesso de pensamento e tráfico
de versos corrosivos, aparece aqui
à mercê das suas virtudes e do seu
desejo de vingança, mas de uma forma
aparentemente mais despojada e
descomprometida. Hamlet apaga­‑se
para iluminar Gertrude.
6
Mais do que ampliar a dimensão de
Hamlet, a propósito da possibilidade
e do caminho que ele abre às mais
diversas fantasias, ou a partir de uma
qualquer teoria sobre a sua importância
na expansão do teatro moderno e do
pensamento ocidental (há centenas de
obras, citações e apropriações de estilo
bem mais pertinentes e objectivas
do que tudo o que eu possa escrever),
interessa­‑me explorar particularmente
o fio invisível que parece tecer­‑se à
volta do Príncipe da Dinamarca nesta
sobre­‑exposição de Gertrude enquanto
figura materna e objecto do desejo.
E faço­‑o a partir da minha experiência de
intérprete – é essa, aliás, a única forma de
legitimar a minha leitura, construída na
obscuridade de um ensaio breve e como
simples observador de capacete azul, em
missão de paz e sem grandes pretensões.
Lembro­‑me de um pormenor,
referenciado perspicazmente pelo
Jacinto Lucas Pires (observador do
mesmo ensaio), dizendo da necessidade
de se criar um foco inicial, uma luz que
incidisse no rosto de Gertrude, como que
a mostrar que é a partir dela que se vai
pôr o ouvido a jeito, dado que a tentação
de seguirmos e ouvirmos Hamlet,
mesmo que amputado na sua demanda,
é ainda muito desviante e nada periférica.
Assim sendo, é Gertrude que parece
trazer agora a carga melancólica do
Príncipe, as suas hesitações metafísicas,
a sua autocomplacência perante a
tragédia que se anuncia e que a coloca
no centro de toda a acção e de todas as
dúvidas. Se na versão ou na visão mais
canónica da peça Hamlet consegue
resgatar facilmente a cumplicidade
do público, tanto nos propósitos que
o animam como nos que justificam os
sucessivos artifícios que conduzem
à morte, aqui, o registo e o tom
sacrificial de Gertrude é também a
sua oportunidade de emancipação,
como acontecera já com Ofélia (talvez
a mais enigmática das criaturas, depois
de Hamlet) ou mesmo Rosencrantz
e Guildenstern. Todos eles com
argumento, consistência e território
suficientes para partirem para outras
aventuras, tal a inspiração e a riqueza
do legado do Príncipe e das suas
motivações. Mas Gertrude é feita de
uma outra matéria. Traz consigo o lastro
pecaminoso (a mão que segura o batom
em cena é a imagem do seu santuário),
e a evocação da carne que Hamlet rejeita
e despreza sucessivamente em todos
os seus dilemas parece encontrar em
Fiammetta Bellone (e na sonoridade
que a língua italiana empresta à cena)
um doce veneno que torna idiomática
a expressão “Inconstância, o teu nome
é mulher!” Não podemos ignorar
que a apropriação de alguns versos
roubados a Cláudio e a Hamlet por
parte da Rainha lhe acrescentam uma
nobreza carismática. Mais do que
reforçar um ponto de vista, este bordado
dramatúrgico é um mecanismo para
nos acercarmos da condição feminina
na peça, da sua grandeza, tantas vezes
sombra, contornando assim a culpa
e as sobras das acusações do Príncipe
7
e dos seus fantasmas. A Rainha teme
pela sua vida, mais do que pelo seu
reinado, e ainda que ambos se misturem
habilmente no desfile da consciência,
é como se a partir de agora Gertrude
assumisse por uma vez o seu nome
(Inconstância) e a sua condição. Gertrude
sono io!
Um dos grandes fascínios da natureza
de Hamlet e do seu fulgor é a sua
paixão pelo teatro e pelos actores. É um
exorcismo para a sua cabeça infernal e
um presente para quem o interpreta.
Dito de outro modo: sem teatro, sem
espectadores, mesmo que inventados
a partir da sua demência prodigiosa,
Hamlet ficaria reduzido a um espectro
eloquente e em fuga. E é também pelo
teatro, pela seta apontada à consciência
na célebre cena do Assassínio de
Gonzaga, que Gertrude vê parte da
razão introspectiva do filho, ou pelo
menos a sua representação forjada.
Talvez possamos especular sobre o
possível desconhecimento da mãe em
relação ao assassínio do marido. Quando
o Rei interrompe a famigerada cena,
a pergunta da Rainha “Que se passa,
senhor?” sempre me causou espanto.
Mais tarde, na também célebre closet
scene, Gertrude diz: “Hamlet, muito
ofendeste teu pai”. Será o assassinato
do Rei pior ofensa do que a história que
se conta ao ouvido da nação, a de ter sido
mordido por uma serpente enquanto
dormia no jardim, no seu repouso de
guerreiro? Uma história com ares de
delírio romântico só pode ser invenção
hábil de mulher, de Gertrude, talvez.
Porque cheira a “veneno faz­‑de­‑conta”.
Ou, quem sabe, ofender o pai possa ser
ofender Cláudio, e aí teríamos mais um
apetecível e dinâmico centro de acção e
8
introspecção, ou mais um pretexto para
uma lição de psicanálise. Seja lá o que
for, Gertrude encerra em si um mistério
difícil de pronunciar. Sabemos pouco
do que ela sabe, e é nessa penumbra
que vamos andando como bons
melancólicos.
Mas eu queria chegar um pouco mais
longe – e mais uma vez ao teatro. Este
dispositivo montado por Simão Do Vale
não é mero exercício de economia, é
um gesto inteligente que Hamlet, ele
próprio, não desdenharia. Digamos que
a tentação da hipérbole interpretativa,
da sua manipulação em cena, é também
o grande sonho e o maior desejo de
Hamlet. Ou como ele dirá a Ofélia, ainda
que noutro contexto: “Pudesse eu ver de
cima a bonecada a mexer”.
Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
UMA MULHER
SOB INFLUÊNCIA
pedro sobrado
hamlet: Vá, vá, sentai­‑vos, que daqui
não saireis./ Não ireis até que vos
ponha um espelho à frente/ Em que
possais ver o vosso recesso mais
íntimo.
No primeiro ensaio a que assisti, tomei
apenas quatro notas no meu caderninho.
A coisa resumia­‑se a isto: Underground,
Rosebud, The Night of The Hunter e Lost
in Translation. Nada mais. Achei­‑lhes
graça por se tratar de quatro referências
do cinema, sobretudo tendo em conta (1.º)
que não sou propriamente um cinéfilo
e (2.º) que – a despeito do filmezinho
que, no final, talvez denuncie uma
vontade de cinema – o espectáculo não
contém citações, reminiscências ou
piscadelas­‑de­‑olho cinematográficas.
Só depois tomei consciência que, na
sala de ensaios do TeCA, me sentara
numa desconchavada “cadeira de
realizador”. Se, como professa a
epistemologia moderna, o lugar de onde
vemos condiciona a nossa percepção
da realidade, então isto não se aplicará
apenas à condição e circunstância do
observador (memória, ideologia, etc.),
mas também, muito prosaicamente,
à própria cadeira a que destinamos
o traseiro. O assento cinéfilo explica,
creio, o que se segue: um pequeno mas
variegado patchwork de filmes, cujos
títulos ou imagens comentam o que vejo.
Calharam estes, poderiam ser outros,
pois todo o zapping tem qualquer coisa
de caprichoso e arbitrário. No início
do ensaio, Simão e Fiammetta estão
sentados, de costas voltadas para a
plateia, em bancos que, informam­‑me
no final, se chamam “parideiras”. Que
tropológico! Gertrude versa a mãe de
Hamlet, tratado ou tratante misógino
que da progenitora diz que seria melhor
não o ter parido e à noiva dedica a
seguinte mesura: “Põe­‑te a mexer para
um convento. Ou preferes andar a parir
pecadores?”
Underground
“Debaixo dos paralelepípedos, a praia”,
rezava um dos slogans do Maio de 68.
Na formulação de Michel Foucault:
“Debaixo dos paralelepípedos, a natureza
em festa”. Gertrude começa por ser um
Hamlet sem palavras: duas breves cenas
concentram, silenciosamente, tudo o
que precisamos de saber. À encenada
solenidade do protocolo de Estado,
interrompida pela queda de um rei,
segue­‑se a coreografia subterrânea
de dois vermes que ascendem ao trono.
Outra forma de pôr as coisas: sob o salão
nobre, a cave; sob a passadeira vermelha,
o subterrâneo. São abundantes e
espantosamente diversas as bichezas
que se alojam e prosperam no
subsolo: térmitas, vermes, ácaros,
fungos, bactérias, protozoários… Mal
imaginamos as relações bióticas –
apetece dizer: biopolíticas – de predação,
parasitismo, comensalismo, mutualismo
ou competição que pulsam sob o chão
que pisamos. Se pudéssemos escutar
o labor incessante dessa luxuriante
9
população subterrânea, não mais
nos sentiríamos em segurança. No
Underground de Kusturica, toda uma
urbe fervilha sob o pavimento da
História. Sob o chão da intriga de Hamlet,
perdão, Gertrude, vermes e larvas
progridem, conquistando terreno: uma
marcha imparável. Nem poderia ser de
outro modo, numa peça que fala tanto
em sepulturas e covas como em leitos
e divãs infectos. O filme de Kusturica
começa num jardim zoológico, talvez
para nos dizer que um país (Jugoslávia,
lembram­‑se?) estava entregue às feras
– um pouco como esta european house
designada reino da Dinamarca. Mas
a fauna que retém a nossa atenção
é aquela formada pelos diligentes e
festivos inquilinos do subsolo. O Hamlet
que, no original de Shakespeare, já
10
instruía Polónio sobre como o Sol pode
engendrar vermes num cão morto,
refere­‑se ao conselheiro de Estado já
defunto como menu de degustação
para larvas omnívoras – criaturas que
não são esquisitas de boca. Diz o herói,
elucubrando metempsicoses fágicas:
“Pelas vísceras de um verme pode
desfilar um rei”.
Citizen Kane
Para além deste viveiro de larvas ladinas,
há um pequeno zoológico. Por lá se move
a serpente da Bíblia e uma ratazana de
esgoto: alta e baixa cultura. O espírito
de Cláudio é um canil e o leito real,
uma pocilga (“cortelho imundo” são
as palavras exactas). A seu tempo, os
figurinos de Bernardo Monteiro hão­‑de
representar o contingente das aves
– raras, de rapina ou mau agouro.
Há também um “capitoso bezerro” e,
a dada altura, é mencionado um “cavalo
pressago”. O ginete é evocado num
exercício de rememoração, quando
Hamlet e um actor se empenham em
recuperar um determinado passo de
uma peça. Muito antes de escutarmos
tal fragmento, um cavalinho de baloiço
é introduzido em cena, no exacto
momento em que o fantasma do velho
Hamlet impõe ao filho o dever da
memória – “Lembra­‑te de mim” –,
enquanto toda a corte (viúva aí incluída)
se precipita na pronta rasura do passado.
O cavalinho em que talvez o infante
Hamlet se imaginou a atravessar as
estepes adquire aqui o valor de uma
sinédoque – a parte exposta de uma
coisa muito maior do que ela e a que
não nos é dado aceder: a infância, esse
espaço­‑tempo da feliz indivisão de si.
Num dos vários ensaios que dedicou
aos brinquedos, Walter Benjamin lança
a seguinte interrogação: “Se, como
diz um poeta moderno, há para cada
um de nós uma imagem que nos faz
esquecer tudo o resto, para quantos
não surgirá ela de uma velha caixa de
brinquedos?” Enquanto destroço de um
paraíso perdido, o cavalinho de baloiço
deste Hamlet faz lembrar o trenó da
criança que um dia o magnata Charles
Foster Kane fora. É nesse brinquedo
que está gravada a palavra rosebud,
sussurro de moribundo que abre o
filme (e a cinematografia) de Welles e
que explicaria a índole da personagem
bigger than life que é Kane. Apenas nós,
espectadores, ficamos a saber que a
palavra­‑enigma está afinal inscrita nesse
objeto da infância que, no plano final,
arde num fogo destruidor e purificador,
enquanto a investigação jornalística
que serve de expediente narrativo
redunda num desolador fracasso.
“Talvez rosebud seja alguma coisa que
ele nunca conseguiu ter, ou que perdeu”,
diz o repórter. O mesmo se aplica, creio,
ao cavalinho de Hamlet, ou ao que tal
brinquedo representa em Gertrude.
Uma indecorosa revelação de Gore
Vidal permite prosseguir (inflectindo)
a leitura do achado que este cavalo
de baloiço representa do ponto de
vista teatral: ao arrepio das múltiplas
especulações mais ou menos elevadas dos
cinéfilos (um deles classificou rosebud
como “o maior segredo do cinema”),
o escritor norte­‑americano anunciou
nas respeitáveis páginas do New York
Review of Books que rosebud seria, afinal,
o nickname que William Randolph
Hearst – o magnata da imprensa em
cuja história e personalidade Welles
se teria inspirado para construir o
seu Kane – atribuíra ao clítoris da
sua amante, a actriz Marion Davies.
Deixa perfeita para considerarmos o
carácter inquietantemente lúbrico que
o brinquedo infantil também adquire
em Gertrude. No momento em que o
fantasma do pai denuncia a corrupção
da virtude da sua Rainha, vemo­‑la
a cavalgar, com trejeitos lascivos e
vagamente embriagada, o cavalinho de
baloiço, como que desentranhando dele
antigos desejos ou terrores do pequeno
Hamlet. Sintetizando uma série de
energias psíquicas, a cena acciona o
mecanismo interno das perturbações
edipianas, que terá depois a expressão
que se sabe na closet scene. Mas o incesto
a que tal cena alude é de atribuição
problemática, porque Cláudio é, nesse
mesmo episódio, definido pelo fantasma
11
como uma “besta incestuosa e adúltera”,
detentora de um “cio impudico”,
merecendo posteriormente, da parte
de Hamlet, alguns epítetos zoológicos:
não o do nobre cavalo, é certo, mas, um
pouco mais modestamente, o de cão
e ratazana… Em ambos os cenários,
Gertrude afigura­‑se uma mãe ciosa – no
sentido terrivelmente literal da palavra.
The Night of the Hunter
Em Hamlet, o teatro surge­‑nos como um
instrumento de caça furtiva: “A peça é a
coisa com que vou enlaçar a consciência
do Rei”. Em conformidade, no decurso da
própria récita, O Assassínio de Gonzaga
passa a chamar­‑se A Ratoeira e, após a
abrupta interrupção da representação,
o Rei já é só uma ratazana enfronhada no
cortinado dos aposentos da Rainha.
(Para decepção do Príncipe da Dinamarca,
trata­‑se afinal da diplomática lombriga
que dá pelo nome de Polónio.) Se
considerarmos que, no momento em
que cai na armadilha, Cláudio pede
“luzes”, reconheceremos também
que se trata de uma caçada nocturna.
Na noite da representação, antes de
franquear os cómodos da mãe – aquela
que verdadeiramente deseja “enlaçar”
–, Hamlet indica: “É agora aquela
bruxuleante hora da noite…” (Um
enunciado que a dramaturgia desloca
para Fiammetta.)
Em The Night of the Hunter, filme
único de Charles Laughton, Robert
Mitchum é um falso profeta, serial killer
de viúvas abastadas, que se lança no
encalço de um dinheiro cujo paradeiro só
duas crianças conhecem. Assassinado o
pai, casa com a mãe (que acabará morta
nas águas de um rio…), mas o filho
jurou fidelidade ao pai morto e recusa
12
a paternidade maléfica do pregador.
Segue­‑se uma perseguição sem tréguas:
a long night’s journey into day. À parte
as coincidências de que só agora, ao
escrever, tomo consciência, ao ver a
cena em que Hamlet confronta a mãe,
recordo a espantosa mímica da luta entre
o bem e o mal de Mitchum: nos dedos
da mão esquerda estão tatuadas as letras
H­‑A­‑T­‑E; nos da mão direita, as letras
L­‑O­‑V­‑E. É a luta de dois irmãos, Abel
e Caim. Quando Hamlet confronta a
mãe com os retratos de dois irmãos tão
absurdamente dissemelhantes, serve­
‑se das mãos: acostando­‑se por detrás de
Fiammetta, Simão expõe­‑lhe a palma da
mão direita e, em seguida, a da esquerda:
“Este foi vosso marido. Olhai agora o que
se segue”. A mão é ícone em Gertrude,
o que se torna manifesto na cena em
que a “mão dourada do dolo” se ergue
para maquilhar (e esborratar) a culpa na
boca da Rainha. Se é verdade que, como
propõe Baudelaire em O Pintor da Vida
Moderna, a toilette e a maquilhagem são
manifestações de “alta espiritualidade”
que visam corrigir a natureza, essa
conselheira do crime e de toda a sorte de
ignomínias, então o fracasso cosmético
de Gertrude expõe uma virtude aviltada
e um espírito corrompido.
Tanto o episódio da mão dourada como
a cena em que Hamlet mostra o bem e o
mal na palma das duas mãos recuperam
para nós aquela ancestral conexão entre
mão e espírito: biblicamente, a mão é
um prolongamento do espírito, o gesto
exterior daquela exprime o movimento
interior deste. Daí que, no Antigo
Testamento, a pureza de espírito seja
descrita como pureza de mãos, ou que
a manifestação de Yahweh (para salvação
ou condenação, bênção ou punição) seja
tão recorrentemente designada pela
força da Sua dextra. Não deixa, por isso,
de ser intrigante que, quando Simão
transita da personagem de Hamlet para a
do fantasma, logo na segunda cena, cubra
o rosto com as mãos. Nas mãos do filho,
o espírito do pai.
Lost in Translation
rainha: Su, su, mi rispondi con lingua
sciocca.
hamlet: Ora, ora, questionais com língua
malévola.
A adopção de duas línguas não é em
Gertrude um puro constrangimento.
É certo que Simão e Fiammetta vivem
e trabalham em Itália, e que a realização
do projecto em Portugal, nos termos
em que se apresenta, estaria sempre
dependente da língua italiana, uma
vez que a actriz não fala o português.
Mas para lá do prazer sensorial que este
comércio idiomático possa produzir –
“As palavras são corpos tocáveis, sereias
invisíveis, sensualidades incorporadas”,
como diz o Bernardo Soares que
Fiammetta tanto aprecia (o excerto do
Livro do Desassossego que publicamos
neste programa foi­‑nos sugerido por ela) –,
há uma irrecusável teatralidade na
convivência das duas línguas. Indício
desse facto é o passo supracitado: nele,
é como se a língua italiana desdenhasse
da portuguesa, cunhando­‑a de “ociosa”,
e levasse o devido troco (o epíteto de
“malévola”). O que se segue revela­‑se,
contudo, bem mais pertinente, pois a
incompreensão que se instala entre mãe
(“Cosa, Hamlet? Che dici?”) e filho (“Que
quereis dizer?”) ganha novo sentido
e expressão pela introdução de uma
língua estranha que vem perturbar o
entendimento possível. A comunicação
é uma improbabilidade, como professa
o sociólogo Niklas Luhmann? Ou “para
o que não ama, o amor é uma língua
bárbara”, como prega o cisterciense
Bernardo de Claraval? Ou, mesmo para
o que ama, o amor é uma língua estranha,
de que apenas podemos conhecer os
rudimentos?
Outro ponto em que a dualidade
idiomática adquire significado teatral
ocorre no colóquio entre Polónio e
a Rainha. O diálogo processa­‑se em
italiano, excepto quando o conselheiro
taralhouco lê a carta de Hamlet a Ofélia,
pretensamente escrita em português.
O espectáculo tira partido do
bilinguismo em favor da coexistência de
discursos de proveniência vária que a
dramaturgia arregimenta para compor
esta Gertrude. A variação linguística no
interior de uma mesma fala de Hamlet
permite inclusive que uma determinada
expressão funcione como aparte, como
se o português constituísse uma língua
privada do herói e dos seus fantasmas.
É certo que o vaivém idiomático e o recurso
à legendagem acarretam potenciais
perdas, sobretudo quando a intensidade
dramática exige a aceleração do débito
discursivo. Mas não há só perdidos, há
também achados. Há mesmo coisas
que se perdem de uma maneira para se
acharem de outra, tal como sucede com
as personagens de Lost in Translation.
No final, há qualquer coisa que Bob diz
a Charlotte ao ouvido, e que nos escapa.
Essa perda revela­‑se um ganho.
Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
13
“
Às vezes quando, abatido e humilde,
a própria força de sonhar se me desfolha
e se me seca, e o meu único sonho só pode
ser o pensar nos meus sonhos, folheio­‑os
então, como a um livro que se folheia e se
torna a folhear sem ler mais que palavras
inevitáveis. É então que me interrogo
sobre quem tu és, figura que atravessas
todas as minhas antigas visões demoradas
de paisagens outras, e de interiores antigos
e de cerimoniais faustosos de silêncio. Em
todos os meus sonhos ou apareces, sonho,
ou, realidade falsa, me acompanhas. Visito
contigo regiões que são talvez sonhos
teus, terras que são talvez corpos teus de
ausência e desumanidade, o teu corpo
essencial descontornado para planície
calma e monte de perfil frio em jardim de
palácio oculto. Talvez eu não tenha outro
sonho senão tu, talvez seja nos teus olhos,
encostando a minha face à tua, que eu lerei
essas paisagens impossíveis, esses tédios
falsos, esses sentimentos que habitam
14
a sombra dos meus cansaços e as grutas
dos meus desassossegos. Quem sabe se as
paisagens dos meus sonhos não são o meu
modo de não te sonhar? Eu não sei quem
tu és, mas sei ao certo o que sou? Sei eu
o que é sonhar para que saiba o que vale
o chamar­‑te o meu sonho? Sei eu se não és
uma parte, quem sabe se a parte essencial
e real, de mim? E sei eu se não sou eu o
sonho e tu a realidade, eu um sonho teu
e não tu um Sonho que eu sonhe?
Que espécie de vida tens? Que modo de ver
é o modo como te vejo? Teu perfil? Nunca
é o mesmo, mas não muda nunca. E eu
digo isto porque sei, ainda que não saiba
que o sei. Teu corpo? Nu é o mesmo que
vestido, sentado está na mesma atitude do
que quando deitado ou de pé. Que significa
isto, que não significa nada?
bernardo soares
“Nossa Senhora do Silêncio”. In Livro do Desassossego.
Ed. Richard Zenith. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998. p. 458­‑459.
15
“A GERTRUDE QUE
O ESPECTADOR VÊ
NÃO É EXATAMENTE
A GERTRUDE QUE
ELES VEEM”
janet adelman*
Dada a sua centralidade na peça, é
surpreendente o pouco que sabemos
de Gertrude; até mesmo o seu grau de
envolvimento no assassinato do primeiro
marido permanece pouco claro. Podemos
sentir­‑nos tentados a interpretar o seu
choque perante a acusação de Hamlet
– “Quase tão mau, querida mãe,/ Como
matar um rei e casar com o irmão”
[III.4] – como a prova da sua inocência;
porém, o texto permite­‑nos entender
alternativamente esse choque como uma
reação ao facto de ter sido desmascarada
ou à própria brutalidade das palavras
de Hamlet. O fantasma acusa­‑a, pelo
menos indiretamente, de adultério e
incesto – Cláudio é “essa besta incestuosa
e adúltera” [I.5] –, mas não a inculpa
nem a exonera do assassínio. Para o
fantasma, assim como para Hamlet,
o principal crime de Gertrude é a sua
sexualidade desenfreada; é esse o objeto
da repugnância moral de ambos, uma
repugnância tão intensa quanto aquela
que lhes provoca Cláudio, o assassino.
Porém, a Gertrude que o espectador
vê não é exatamente a Gertrude que
eles veem. Quando a consideramos
16
em si mesma, independente das
caracterizações que pai e filho dela
fazem, tendemos a ver uma mulher
confusa mais do que deliberadamente
perversa; até mesmo a sua célebre
sensualidade é menos aparente do
que a sua solicitude dividida entre o
novo marido e o filho. Desde o início,
Gertrude mostra­‑se capaz de uma
certa compreensão culposa perante o
sofrimento de Hamlet (“Duvido que
outra coisa de tão magna possa ser/ Que
não a morte do pai e o nosso tão célere
casamento” [II.2]). Na medida em que
segue as instruções de Hamlet para
informar Cláudio da loucura dele [III.4;
IV.1], Gertrude parece desempenhar
cabalmente o papel de boa mãe,
colocando os interesses do filho acima
dos do marido. Contudo, é também
possível que ela o creia realmente louco e
julgue estar a transmitir ao marido uma
informação verdadeira; não há dúvida
de que a sua corajosa defesa do marido
no encontro seguinte entre ambos –
em que refreia fisicamente Laertes,
como especificado em IV.5 – sugere que
Gertrude não adotou inteiramente a
visão que Hamlet tem de Cláudio. Aqui,
como noutras passagens, o texto deixa
em aberto aspetos cruciais da ação e das
motivações da Rainha. Nem mesmo
a sua morte a define por completo.
É realmente um suicídio destinado a
proteger Hamlet, morrendo em vez dele?
Gertrude sabe que Cláudio preparou
a taça para Hamlet e dá mostras de uma
invulgar determinação ao desobedecer
à ordem do marido para não beber (“Não
bebas, Gertrude./ Apetece­‑me, senhor”
[V.2]). Nos seus últimos instantes, todos
os seus pensamentos parecem ser para
Hamlet; não dispensa a Cláudio sequer
a atenção necessária para o acusar
(“Não, não, o vinho, o vinho! Ah, meu
querido Hamlet!” [V.2]). Confusa, falível,
inteiramente humana, Gertrude parece
fazer por fim a escolha que Hamlet
desejaria que fizesse. Mas, mesmo aqui,
as suas palavras não são claras; a sua
personagem permanece relativamente
fechada ao espectador.
A primeira mãe a reaparecer nas peças
de Shakespeare é uma mulher adúltera
porque, creio eu, a origem materna
é em si mesma sentida como equivalente
à traição adúltera do homem, tanto do
pai como do filho. Hamlet marca o início
do período das grandes tragédias de
Shakespeare, já que representa de facto
uma reescrita da história de Abel
e Caim enquanto história de Adão e Eva,
revendo a identidade masculina à luz da
figura da mulher adúltera. Esta reescrita
explica, a meu ver, a estranheza da
posição de Gertrude na peça, que decorre
sobretudo do facto de não sabermos até
que ponto ela foi cúmplice do assassinato
do primeiro marido. Menos forte como
personagem independente do que como
objeto de fantasias que a ultrapassam,
Gertrude é sobretudo mãe enquanto
outra, a figura íntima desconhecida em
torno da qual essas fantasias se tecem.
Mantendo uma inocência ambígua
enquanto personagem, ela desempenha,
na fantasia profunda que estrutura
a imagética da peça, o papel da Eva
desaparecida: o seu corpo é o jardim
onde o marido morre, a sua sexualidade
a erva venenosa que o mata e que
envenena o mundo – e a identidade – do
filho. É esta a fantasia psicológica que se
reflete na simultaneidade do funeral e do
casamento: em Hamlet, o reaparecimento
da mãe equivale à morte do pai
idealizado, já que a presença dela
assinala a ausência dele e, assim, a
impossibilidade de defesa do filho
contra o seu veneno, a sua capacidade
de aniquilar ou contaminar; tal como
na fantasia purificadora de Marcelo,
o pai idealizado representa, em última
instância, uma proteção contra os
perigosos poderes femininos da noite.
É em parte através da sua identificação
com o pai, essa presença que inicialmente
o ajudou a emancipar­‑se da mãe, que o
pequeno Hamlet domina o medo que tais
poderes lhe inspiram; porém, se o pai
falta – ou se ele próprio parece subjugado
por ela –, então essa identificação
protetora desaparece também.
É precisamente esta a situação
psicológica no início da peça, quando
o pai se torna inacessível ao filho, não
apenas pelo facto de ter sucumbido,
mas também devido à vulnerabilidade
complexa que a sua morte evidencia.
Este pai revela­‑se incapaz de proteger
o filho; e o seu desaparecimento
coloca Hamlet sob o domínio da mãe
devoradora, despertando todos os medos
próprios ao laço primordial entre mãe
e filho. Aqui, como nas últimas peças de
Shakespeare, a perda do pai representa
efetivamente um símbolo do domínio
psíquico da mãe: no final, é o espectro
da mãe, e não o do tio­‑pai, que paralisa a
vontade de Hamlet. A culpa é da Rainha.
Esta transferência de capacidade de
ação e de perigo do masculino para o
feminino parece­‑me ser característica
da estrutura fantástica de Hamlet e da
imaginação de Shakespeare nas peças
seguintes. A injunção inicial do fantasma
estabelece como principal propósito
do enredo a execução de Cláudio; de
17
18
facto, o espectro pede especificamente
a Hamlet que deixe a mãe em paz,
atormentada apenas pela sua própria
consciência [I.5]. Contudo, se a culpa é
de Gertrude e não de Cláudio, a tarefa
fundamental de Hamlet é, afinal, outra;
o que está aqui em jogo já não é uma
simples história de vingança. Assim,
não obstante uma ostensiva intenção de
vingança, a principal missão psicológica
a que Hamlet parece propor­‑se não é
vingar o pai, mas antes recriar a mãe:
recriá­‑la à imagem da Virgem Mãe, para
garantir a pureza do pai e do próprio
Hamlet, reparando as fronteiras da
identidade deste. Ao longo de toda a
peça, o drama secreto da reabilitação
compete com o drama manifesto da
vingança, substituindo­‑o de facto, tanto
pelo que nos é dado a ver da consciência
de Hamlet, como pela ação central da
peça: quando se censura a si próprio de
falta de propósito [III,4] e de esquecer a
vingança do pai [IV.4], Hamlet pode estar
parcialmente certo. Mesmo enquanto
vingador, Hamlet parece mais motivado
pela mãe do que pelo pai: ao descrever
Cláudio a Horácio como “ele que me
matou o Rei e prostituiu a mãe” [V.2], a
segunda expressão encerra claramente
um peso emocional íntimo mais forte do
que a primeira. E Hamlet apenas logra
cumprir a sua missão quando vinga a
morte da mãe, e não a do pai; de facto,
quando esperaríamos ouvir uma versão
de “descansa, espírito perturbado” que
relacionasse a execução de Cláudio com
a injunção inicial do fantasma, aquilo que
ouvimos é: “Está aqui a tua única pérola?/
Vai a correr atrás da minha mãe” [V.2].
Esta inflexão – da vingança do pai
para a salvação da mãe – explica em
parte certas peculiaridades de Hamlet
enquanto drama de vingança. Por
exemplo, porque é que o assassino recebe
tão pouca atenção durante o estratagema
ostensivamente concebido para lhe
causar um rebate de consciência;
porque é que o confronto de Hamlet
e Gertrude na cena da antecâmara
nos parece muito mais importante,
muito mais vital, do que qualquer
confronto entre Hamlet e Cláudio?
Assim que olhamos para O Assassínio
de Gonzaga por aquilo que é, mais do
que por aquilo que Hamlet nos diz que
é, torna­‑se evidente que a pequena
peça visa de facto abanar a consciência
da Rainha – a provocação é sempre
lançada contra a sua posição enquanto
amante, e a acusação é clara: “Sangue
de meu marido outra vez derramo/ Se
um segundo marido me beija na cama”
[III.2]. O confronto com Gertrude
[III.4] segue­‑se tão naturalmente a esta
tentativa de sacudir a sua consciência
que o encontro inesperado de Hamlet
com Cláudio [III.3] parece ser apenas
a interrupção de um propósito mais
fundamental. Em grande medida, de
facto, Shakespeare concebe a quarta
cena do Ato III como uma interrupção:
a caminho da antecâmara da mãe, e
enquanto se pergunta se será capaz de
repudiar o Nero que existe em si, Hamlet
encontra Cláudio a rezar; e este encontro
é tão inesperado para ele como para os
espectadores.
Ou seja: o momento que deveria
ser o clímax do enredo de vingança
– o potencial confronto a sós entre o
vingador e o seu alvo – surge, para a
audiência e para o próprio vingador,
como um lapso, um interlúdio que tem
de ser tolerado antes de se poder passar
à verdadeira tarefa. Não nos surpreende,
19
pois, que Hamlet não possa matar
Cláudio nessa ocasião: isso seria fazer
do interlúdio a interrupção definitiva
do seu mais fundamental propósito. De
facto, nem mesmo Hamlet poderia com
razoabilidade esperar realizar a reforma
moral da mãe imediatamente após ter
assassinado o marido dela.
Por outro lado, uma tal morte vingadora
também não poderia ajudá­‑lo a recuperar
a mãe de que ele necessita: uma vez
denunciada como jardim violado e
fruído, a mãe só poderá ser purificada se
for despojada da sua sexualidade.
E é esta, de facto, a intenção de Hamlet na
quarta cena do Ato III. Nesse confronto,
Hamlet começa por insistir que Gertrude
reconheça a diferença entre Cláudio
e o Velho Hamlet, diferença essa que
o adultério e o segundo casamento
minaram. Mas após esta comparação
preliminar de retratos, Hamlet
tenta induzir nela um sentimento de
repugnância, não pela escolha do homem
errado, mas pela sua própria sexualidade,
esse fogo rebelde que lhe consome os
ossos de matrona, o “ranço pútrido, tudo
minando por dentro” [III.4]. Aqui, tal
como na peça dentro da peça, Hamlet
recria de modo obsessivo, voyeurístico, os
atos que corromperam o leito real, ainda
que, para tanto, tenha de recorrer a uma
lógica e a uma sintaxe bastante tortuosas:
gertrude: Que hei­‑de fazer?
hamlet: De modo nenhum isto que ora
vos mando fazer:/ Deixai que o Rei
untuoso vos puxe para a cama,/ Arisco
belisque a face, vos chame minha
ratinha,/ E deixai­‑o, por um par de
beijos com baba,/ E palpões no pescoço
com os dedos atrozes,/ Levar­‑vos a
confessar todo este enredo/ De que não
20
estou verdadeiramente louco,/
Antes louco por ardil. [III.4]
Haveria certamente uma forma mais
fácil de pedir à mãe que não revelasse
a falsidade da sua loucura. “De modo
nenhum isto que ora vos mando fazer”:
Hamlet não consegue parar de imaginar,
e até de ordenar, o ato sexual a que
pretende pôr fim. Além disso, o corpo
“untuoso” do rei em questão não lhe é
particular – trata­‑se do corpo masculino
sexualizado, do ato sexual de qualquer
um. O leito real da Dinamarca foi já
corrompido, é já uma cama de luxúria,
como a própria presença de Hamlet
testemunha. “Furtai­‑vos à cama do
meu tio” [III.4], diz ele à mãe, mas
a sua repugnância perante a ligação
incestuosa representa a racionalização
de uma anterior repugnância perante
toda e qualquer relação sexual, tal
como a sua tentativa de pôr fim à
união especificamente incestuosa é
a racionalização de uma tentativa de
purificar a mãe ao divorciá­‑la da sua
sexualidade.
A quarta cena do Ato III regista a sua
tentativa de concretizar este divórcio,
de recuperar a fantasia da mãe assexuada
da infância, a mãe capaz de devolver um
sentido de santidade ao mundo que a sua
sexualidade corrompeu: nesta cena, a
primeira e a última palavra de Hamlet
é “mãe”. E, pelo menos no seu próprio
espírito, Hamlet parece conseguir
realizar tal tarefa. Começa por exprimir
o desejo de que Gertrude não fosse sua
mãe (“E, ah!, quem dera que assim não
fora, sois minha mãe”); contudo, perto
do final da cena, consegue já imaginá­‑la
como a mãe a quem pediria – e de quem
receberia – a bênção:
hamlet: […] De novo, boa noite./
E quando estiverdes desejosa de ser
abençoada/ A bênção vos hei­‑de pedir.
Esta mãe pode abençoar Hamlet
apenas na medida em que ela própria
peça a bênção dele, assinalando a sua
conversão do marido para o filho e
invertendo a relação entre progenitor
e criança; Hamlet domina por completo
a situação, mesmo quando se imagina
a pedir a bênção materna. Ainda
assim, ao surgir no final da longa cena
de raiva e repulsa, esta passagem
parece­‑me extremamente comovente
na sua evocação do desejo de uma
presença materna que possa restaurar
a bem­‑aventurança do mundo e do
eu. E essa desejada bem­‑aventurança
reside especificamente na relação do
mundo com o eu: quando mãe e filho se
espelham mutuamente, abençoando­‑se
um ao outro, Shakespeare realiza
a reabertura da zona de confiança
anteriormente impossibilitada pela
mãe aniquiladora. Pela primeira vez,
Hamlet imagina­‑se tocado por algo de
exterior a si próprio que não o invadirá
nem contaminará: a recuperação de uma
presença materna benigna repara por
momentos os danos da Queda, tornando
segura essa permeabilidade de fronteiras
que tinha constituído uma fonte de
terror. Perto do final da cena, todos os
terrores nocturnos se desvanecem.
As repetidas variações de Hamlet
em torno da expressão convencional
“boa noite” assinalam a sua mudança:
partindo de um sentimento de raiva
contra a sexualidade da mãe, ele
recupera agora a boa mãe que tinha
perdido. Hamlet começara a cena com
um “Boa noite. Furtai­‑vos à cama do
meu tio. […] Refreai­‑vos esta noite”,
procurando separar Gertrude do seu
horrífico corpo nocturno; mas, no final,
mediante a sua própria versão da fantasia
purificadora de Marcelo, ele logra
imaginar como benévolas tanto a mãe
como a noite. Começando por desejar
que Gertrude não fosse sua mãe, Hamlet
termina com a pungente e repetida
despedida de uma criança relutante em
deixar a mãe, que representa agora a
garantia da sua segurança: “De novo, boa
noite. […] Boa noite, outra vez. […] Mãe,
muito boa noite. […] Boa noite, mãe”.
* Excertos de Suffocating Mothers: Fantasies of Maternal
Origin in Shakespeare’s Plays, Hamlet to The Tempest.
New York: Routledge, 1992. p. 15­‑16, 30­‑34.
Trad. Rui Pires Cabral.
21
SIMÃO DO VALE
FIAMMETTA BELLONE
Nasceu nas terras do demo, em data a revelar.
Nasceu e vive em Génova, Itália. Formou­‑se em
(Acha que o idadismo – preconceito baseado
Letras Modernas na Università degli Studi di
na pertença a um determinado grupo etário
Pavia, enquanto, simultaneamente, iniciava a sua
– é um dos maiores e menos discutidos
formação teatral. Estudou representação com
problemas sociais…) Formou­‑se em Psicologia
Geraldine Baron, Cristina Pezzoli, Maria Consagra,
pela Universidade do Porto e a sua primeira
Marcello Bartoli e Ambra D’Amico. Em 2002,
ligação a Itália surge com a estadia de um ano
diplomou­‑se em interpretação teatral na Scuola
em Florença, ao abrigo do (agora moribundo)
di Recitazione del Teatro Stabile di Genova.
programa Erasmus. Após a conclusão dos seus
Trabalhou no Teatro Stabile di Genova,
estudos em Psicologia, estudou representação
participando em espetáculos como Aiace de
na Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di
Sófocles (2004) e Svet – La luce splende nelle
Genova, com Anna Laura Messeri e Massimo
tenebre de Tolstoi (2007), com encenação de
Mesciulam. Ainda em Itália, e desde que se
Marco Sciaccaluga; Death Valley Junction (2001)
mudou para Turim (onde atualmente vive),
de Albert Ostermaier, La morte di Danton de Georg
trabalhou com encenadores como Pierpaolo
Büchner (2002), Un posto luminoso chiamato
Congiu e Antonio Villella, tendo representado
giorno de Tony Kushner (2006), com encenação
textos de William Shakespeare, Molière,
de Massimo Mesciulam; e La donna e il colonnello
Carlo Goldoni e Luigi Pirandello. Tem vindo a
de Emmanuel Dongala (2005), com encenação
desenvolver projetos independentes, nos quais
de Flavio Parenti. Integrou também o elenco de
encena e representa. Atualmente, está ligado
espetáculos da companhia Gank de Génova:
ao coletivo de criação poética InControVerso.
Otello (2004) e La Bisbetica Domata (2005) de
Regressa agora a Portugal para explorar um
Shakespeare, enc. Alberto Giusta; e Anfitrione de
dos seus textos (Hamlet), um dos seus autores
Molière (2006), enc. Antonio Zavatteri. Participou
(Shakespeare) e uma das suas personagens
em Riccardo III de Shakespeare (2006), com
favoritas (Gertrude). Nutre pelo Teatro uma
encenação de Filippo Dini e produção da Fattore
paixão assolapada, mas acha que um bom
K, companhia de Giorgio Barberio Corsetti. Com
rancho melhorado à moda de Viseu pode
o Teatro Del Carretto de Lucca, participou nos
resolver muita coisa. Quem lhe dera poder
espetáculos Odissea (2002) e Pinocchio (2006),
rebolar sobre prados verdes e sentar­‑se depois,
encenações de Maria Grazia Cipriani. Trabalha
a olhar o céu bascular sobre a sua cabeça.
há vários anos com o Teatro Cargo de Génova,
integrando o elenco de espetáculos como La
Strega, Raccolta Indifferenziata, Sudore e Donne in
Guerra, escritos e encenados pela diretora artística,
Laura Sicignano. Adaptou para a cena o romance
Medeia – Vozes de Christa Wolf, assegurando a
interpretação do espetáculo L’Altra Medea, com
encenação de Massimo Mesciulam (2013). Em
2008, encenou Daewoo de François Bon, uma
produção do Teatro Stabile di Genova. Trabalhou
ainda em produções televisivas e cinematográficas
em Itália. Ensina representação.
22
A TURMA
Coletivo artístico fundado em 2008, no Porto,
na sequência de um percurso académico nas
áreas do teatro, partilhado pelos seus membros.
Tu Acreditas no que Quiseres (2008), a partir de
Loucos por Amor, de Sam Shepard, enc. Manuel
Tur, foi o seu espetáculo inaugural. Seguiram­‑se
criações como Os que Sucedem, de Luís Mestre,
enc. Manuel Tur, em coprodução com As Boas
Raparigas… (2009); História de Amor (Últimos
Capítulos), de Jean­‑Luc Lagarce, enc. Tiago
Correia (2011); e os dois primeiros “fragmentos”
do projeto Do Discurso Amoroso, encenações
de Tiago Correia (2012). No âmbito do ciclo
Novos Encenadores, promovido por Guimarães
2012 Capital Europeia da Cultura, Manuel Tur
encenou O Amor é um Franco­‑Atirador, de
Lola Arias, e Tiago Correia encenou Gaspar,
a partir de Kaspar, de Peter Handke, espetáculos
apresentados no CAAA – Centro para os
Assuntos da Arte e Arquitetura e, no caso
do segundo, no Teatro Helena Sá e Costa.
23
ficha técnica tnsj
agradecimentos
coordenação de produção
Polícia de Segurança Pública
Maria João Teixeira
Mr. Piano/Pianos – Rui Macedo
assistência de produção
Eunice Basto
A Turma
direção de palco (adjunto)
http://aturma­‑ac.blogspot.pt
Emanuel Pina
[email protected]
direção de cena
Cátia Esteves
Teatro Nacional São João
maquinaria de cena
Praça da Batalha
António Quaresma
4000­‑102 Porto
Carlos Barbosa
T 22 340 19 00
Joel Santos
luz
Teatro Carlos Alberto
Filipe Pinheiro
Rua das Oliveiras, 43
Abílio Vinhas
4050­‑449 Porto
Nuno Gonçalves
T 22 340 19 00
José Rodrigues
som
Mosteiro de São Bento da Vitória
João Oliveira
Rua de São Bento da Vitória
guarda­‑roupa e adereços
4050­‑543 Porto
Elisabete Leão (coordenação)
T 22 340 19 00
Teresa Batista (assistência)
Nazaré Fernandes
www.tnsj.pt
Virgínia Pereira
[email protected]
Esperança Sousa (costureiras)
Suzanne Veiga Gomes (estagiária)
EDIÇÃO
Isabel Pereira (aderecista
Departamento de Edições do TNSJ
de guarda­‑roupa)
coordenação
Dora Pereira
Pedro Sobrado
Guilherme Monteiro
capa e modelo gráfico
Nuno Guedes (aderecistas)
Joana Monteiro
operação de legendagem
paginação
Sofia Barbosa
João Guedes
fotografia
APOIOS tnsj
João Tuna
impressão
LiderGraf, Artes Gráficas, SA
apoios à divulgação
24
Não é permitido filmar, gravar ou fotografar
durante o espetáculo. O uso de telemóveis
ou relógios com sinal sonoro é incómodo, tanto
para os intérpretes como para os espectadores.
25