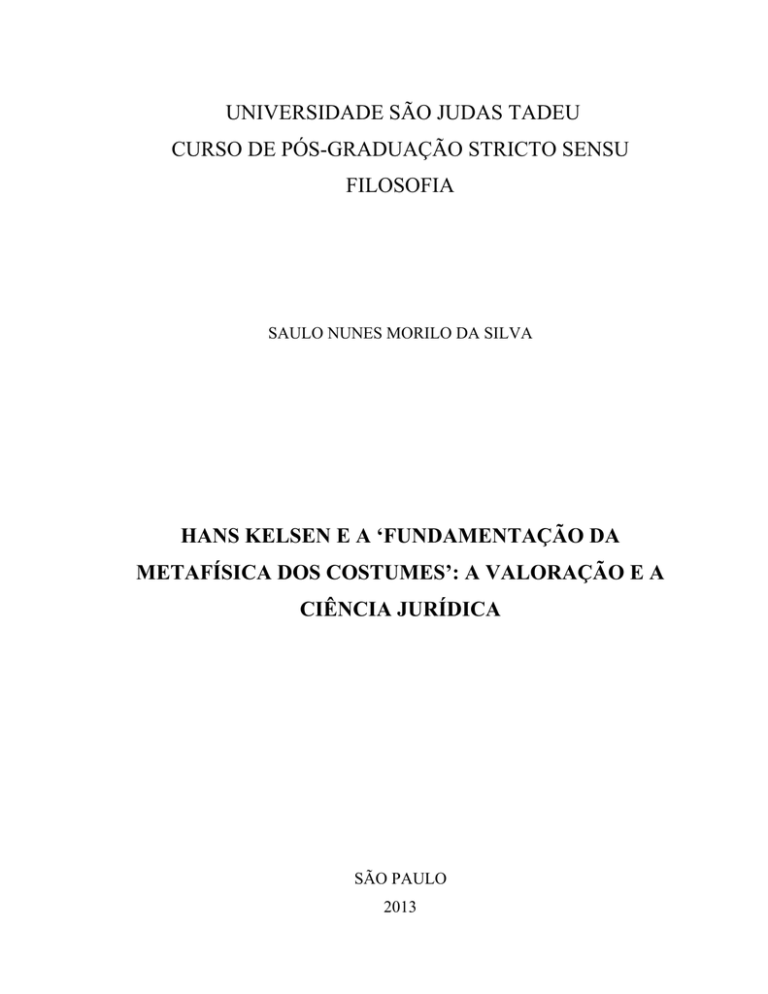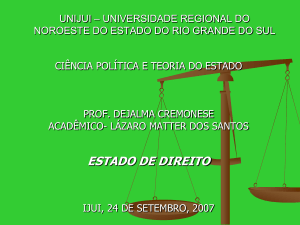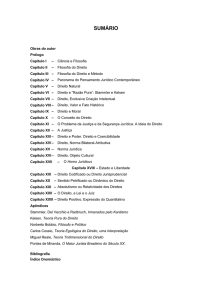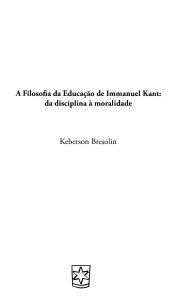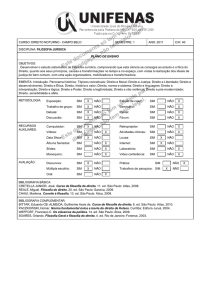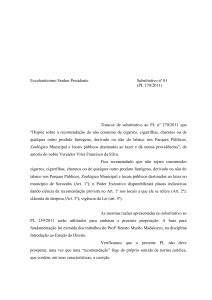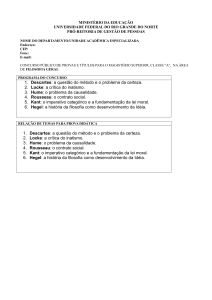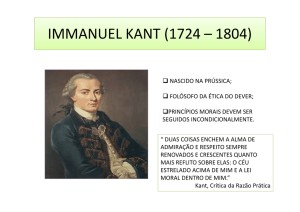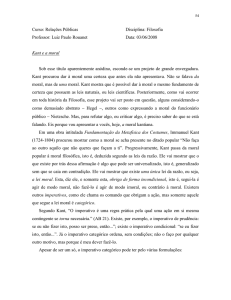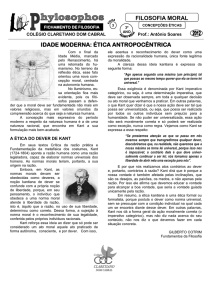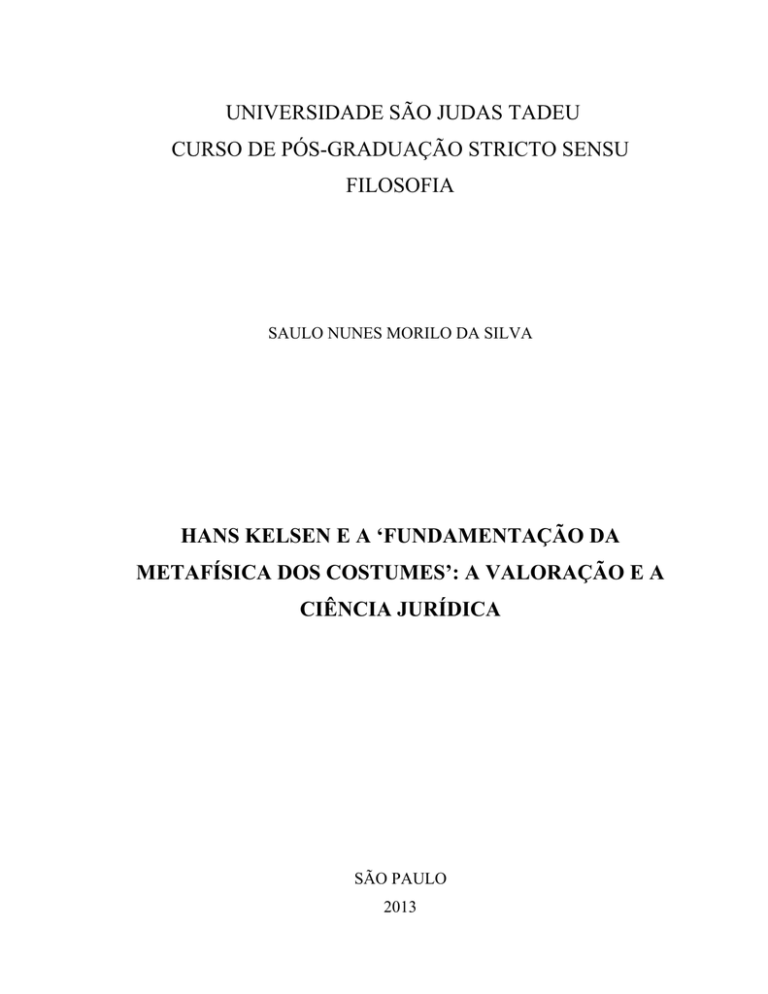
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
FILOSOFIA
SAULO NUNES MORILO DA SILVA
HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA
METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A
CIÊNCIA JURÍDICA
SÃO PAULO
2013
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
FILOSOFIA
SAULO NUNES MORILO DA SILVA
HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA
METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A
CIÊNCIA JURÍDICA
Dissertação apresentada ao curso de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade São
Judas Tadeu, como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em Filosofia.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Tedeia.
SÃO PAULO
2013
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca
da Universidade São Judas Tadeu
Bibliotecário: Ricardo de Lima - CRB 8/7464
Silva, Saulo Nunes Morilo da
S586h
Hans Kelsen e a fundamentação da metafísica dos costumes : a
valoração e a ciência jurídica / Saulo Nunes Morilo da Silva. - São Paulo,
2013.
90 f. : il. ; 30 cm.
Orientador: Gilberto Tedeia.
Dissertação (mestrado) – Universidade São Judas Tadeu,
São Paulo, 2013.
1. Kelsen, Hans, 1881-1973 - Filosofia. 2. Filosofia do direito. 3.
Metafísica. I. Tedeia, Gilberto. II. Universidade São Judas Tadeu,
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia. III. Título
CDD 22 – 110
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
FILOSOFIA
SAULO NUNES MORILO DA SILVA
HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA
METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A
CIÊNCIA JURÍDICA
Dissertação apresentada ao curso de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade São
Judas Tadeu, como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em Filosofia.
Aprovada em __________________ de 2013.
_________________________________________
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Tedeia
_________________________________________
Examinador(a): Prof. Dr. Paulo Jonas de Lima Piva
_________________________________________
Examinador(a): Profª. Drª. Monique Hulshof
Aos meus pais (Edson e Maria Lúcia), minha
família (Midori e Gabriel Yuki), meu irmão
Caio e aos amigos e colegas, pela paciência e
incentivo, cada um à sua forma.
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Gilberto Tedeia, atual orientador, pela compreensão e suporte
inspiradores nesta reta final.
À Profª. Drª. Marília Melo Pisani, primeira orientadora, pela atenção e pelas sugestões
motivadoras.
Ao Prof. Dr. Floriano Jonas Cesar, por acreditar na ideia de um aluno inexperiente,
mas que dedica todo o seu esforço e comprometimento neste trabalho.
À Profª. Drª. Monique Hulshof, pelas orientações esclarecedoras e pontuais acerca de
Immanuel Kant.
“O ahimsa é a base da busca da Verdade.
Todos os dias, percebo que a busca é vã, a
menos que seja apoiada no ahimsa. É
apropriado oferecer resistência e atacar um
sistema, mas oferecer resistência e atacar seu
autor é equivalente a oferecer resistência e
atacar a si próprio. Pois somos todos farinha
do mesmo saco, e filhos do mesmo Criador, e
portanto os poderes divinos em nós são
infinitos. Menosprezar um único ser humano é
menosprezar
aqueles
pobres,
e
assim
prejudicar não apenas aquele ser, mas também
o mundo inteiro.” (Mohandas K. Gandhi).
RESUMO
SILVA, Saulo Nunes Morilo da. Hans Kelsen e a ‘Fundamentação da Metafísica dos
Costumes’: a valoração e a ciência jurídica. Dissertação. Curso de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Filosofia da Universidade São Judas Tadeu. São Paulo; p. 90, 2013.
Esta dissertação apresenta uma descrição da interpretação kelseniana da obra Fundamentação
da Metafísica dos Costumes ([1785], 1960), de Kant. Começa descrevendo a forma pela qual
Hans Kelsen expõe sua Teoria Pura do Direito ([1960], 1996), objetivando alcançar
neutralidade para a ciência do direito, que até então via-se influenciada pela psicologia,
sociologia, política e moral. Sob análise mais detida, verifica-se que na obra de Hans Kelsen
aparecem inúmeras menções aos textos kantianos de filosofia prática, predominantemente sob
a forma de objeções. Escolhidas duas dessas objeções, primeiro a relação das inclinações para
a ação moral em Kant e depois a análise do imperativo categórico, a investigação passou a
concentrar-se em demonstrar que a interpretação kelseniana configura uma leitura literal dos
textos kantianos e que, de forma concomitante, empreende evidente esforço para enaltecer a
ciência jurídica. As réplicas às duas questões de Kelsen foram dadas, respectivamente, pelo
método de isolamento das inclinações de Kant e pela demonstração de que Kelsen não
compreendeu de forma correta o sentido de máxima usado para o imperativo categórico.
Resultou que a proposta da moral e por consequência, do direito kantianos poderiam
contribuir de algum modo ao direito atual, de modo a permitir sua valoração sem que a
jurisprudência perca sua característica de ciência. Para isso serviu a leitura contemporânea de
Kant a partir do uso público da razão, onde valores universalmente válidos, compartilháveis e
adotáveis por todos os seres racionais, possam constituir princípios determinantes do
pensamento e da ação.
Palavras-chave: Kant, Kelsen, direito, moral.
ABSTRACT
SILVA, Saulo Nunes Morilo da. Hans Kelsen and the ‘Groundwork of the Metaphysics of
Morals’: the assessment and the legal science. Dissertation. Postgraduation Course Stricto
Sensu in Philosophy from the São Judas Tadeu University. São Paulo; p. 90, 2013.
This dissertation presents a description of Kelsen’s interpretation from the kantian’s work
Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785). It starts describing the way in which Hans
Kelsen explains his theory, aiming to achieve neutrality for the science of law, which until
then was itself influenced by psychology, sociology, politics and morality. Under closer
analysis, it seems that in Hans Kelsen’s work appear many references to the Kant's practical
philosophy texts, predominantly under objections. Having chosen two of these objections,
first the relation of the inclinations to the moral action in Kant and afterwards the analysis of
the categorical imperative, the research have concentrated on demonstrating that the kelsenian
interpretation configures a literal reading of the kantian texts and that, concomitantly,
undertakes apparent effort to enhance the legal science. The answers to both Kelsen’s
questions were given, respectively, by the Kant’s method of isolation from the inclinations
and the demonstration that Kelsen did not understand correctly the meaning of maxim used to
the categorical imperative. The result is that the kantian proposal of morality and in
consequence, of the law, could contribute in some way to the current law, allowing its
valuation without the jurisprudence losing its characteristic of science. For this purpose, a
contemporary reading of Kant starting of the public use of reason served, where standards
with universal validity, shareable and adoptable by all rational beings, may constitute
determinants principles of thought and action.
Keywords: Kant, Kelsen, law, moral.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO................................................................................................. 9
1. A TEORIA PURA DO DIREITO (1960) DE HANS KELSEN .................. 12
1.1. Teoria Pura do Direito (1960): linhas gerais da obra ........................... 12
1.1.1. Direito e Natureza............................................................................. 15
1.1.2. Direito e Ciência ............................................................................... 24
2. KELSEN, UM LEITOR DE KANT ........................................................... 32
2.1. Direito e Moral na Teoria Pura do Direito............................................. 32
2.2. O papel das inclinações para a ação moral segundo Hans Kelsen...... 35
2.3. O imperativo categórico de Kant: Kelsen e o problema das máximas 39
3. KELSEN À LUZ DE KANT....................................................................... 44
3.1. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785): valor moral da
ação .................................................................................................................. 44
3.1.1. As inclinações e o método de isolamento de Immanuel Kant........ 47
3.1.2. O imperativo categórico kantiano e a máxima .............................. 52
3.2. Uma leitura contemporânea de Kant: Onora O’Neill e a importância
do uso público da razão................................................................................... 68
3.3. O direito e a ciência jurídica: uma valoração ponderada ................... 74
CONCLUSÃO ................................................................................................. 85
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................... 88
9
INTRODUÇÃO
Há muito tempo discute-se sobre a moralidade, enquanto ligada aos temas direito e
justiça. Nosso foco é procurar entender o posicionamento desse pensador e jurista austríaco
do período de transição dos séculos XIX e XX, chamado Hans Kelsen, acerca da interpretação
que faz da Fundamentação da Metafísica dos Costumes ([1785], 1960). O problema é de
difícil abordagem, uma vez que trata da argumentação sobre a existência (ou inexistência) de
uma separação entre o direito e a moral. Com o fim de localizar um ponto específico dentro
de todos os temas desenvolvidos por Hans Kelsen, a análise principal seguirá uma obra
específica - a Teoria Pura do Direito sob sua útima edição, 1960 - porque Kelsen, em
constante amadurecimento de suas posições, reviu alguns pontos de sua teoria nesta edição.
A Teoria Pura do Direito ([1960], 1996) é uma obra de grande importância tanto para
os filósofos do direito quanto para os juristas, pois o principal objetivo de Hans Kelsen era
criar uma teoria do direito que tivesse sua própria metodologia, que fosse capaz de estudar seu
objeto – o direito, sob a forma das normas jurídicas - sem a interferência de nenhuma outra
área do conhecimento. Ele procurava dar autonomia à ciência jurídica.1 O pensamento
kelseniano foi estudado por diversos autores2 e sua teoria jurídica, inovadora para a época, foi
muito divulgada, contando até com a publicação de diversos artigos sobre direito
internacional, uma matéria jurídica que foi a dedicação de Hans Kelsen até antes de falecer,
em 1973. Para a construção da análise a que nos propusemos, procuramos trabalhar com três
capítulos, baseados no diálogo entre o raciocínio jusfilosófico de Hans Kelsen e a teoria moral
Immanuel Kant.
1
Eis uma breve passagem nas palavras do autor: “Quando a si própria se designa como ‘pura’ teoria do Direito,
isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste
conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar
como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são
estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental (KELSEN, Teoria Pura do Direito. Trad. João
Baptista Machado, 5ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 1).”
2
Exemplos: Norberto Bobbio, Mario Giuseppe Losano (ambos italianos); Miguel Reale, Fábio Ulhôa Coelho e
Tércio Sampaio Ferraz Junior (brasileiros), Eric Engle (jurista alemão contemporâneo), Luís Recaséns Siches
(jurista espanhol naturalizado mexicano).
10
O nosso primeiro capítulo destaca a estrutura teórica de Kelsen e sua argumentação
em torno da necessidade de firmar a ciência jurídica sob uma pureza metodológica, extraindo
seu conhecimento a partir das normas jurídicas, que têm um fundamento de validade no
ordenamento chamado “norma fundamental”. A Teoria Pura do Direito surgiu num contexto
científico em que a pureza metodológica era posta em questão, doravante será demonstrado
que Kelsen adotou o pensamento de Weber sobre a neutralidade científica como influência
para elaborar sua teoria do Direito (cf. LOSANO, 1998, p. X e XI).
Hans Kelsen trata de direito e de moral descrevendo suas relações a partir de uma
análise sobre a valoração das normas jurídicas e sobre a relatividade da moral. Partindo de
uma consideração maior, que é a relação entre o direito e a moral, ele começa a reduzir a
investigação até chegar a alguns problemas que impedem uma análise objetiva do direito. Em
diversas passagens, é diretamente com a moral kantiana que Kelsen dialoga, procurando
afastar a plausibilidade da teoria criada por Immanuel Kant. É precisamente em torno desse
diálogo que esta pesquisa se detém. Tomado como pressuposto que a ciência jurídica possui
seu próprio objeto e não admite interferências políticas, sociológicas e nem da psicologia, a
consequência foi Kelsen esforçar-se para afastar o direito da moral - dedicou um capítulo
inteiro e um apêndice à obra para este fim. Desta discussão extraímos assunto para nosso
segundo capítulo, em que apresentamos como Kelsen interpreta a Fundamentação da
Metafísica dos Costumes. Optamos por duas passagens em que Kelsen traça objeções
relacionadas à moral kantiana: a necessidade de contrariar as inclinações para o homem agir
moralmente e a análise do imperativo categórico kantiano, considerado uma fórmula vazia de
conteúdo. A suspeita gira em torno da literalidade da interpretação kelseniana, sem a correta
correspondência com os conceitos kantianos de filosofia prática.
O terceiro capítulo divide-se em dois objetivos, ligados aos desdobramentos da análise
kelseniana, onde propomos inicialmente explicar onde Kelsen equivocou-se fazendo uso da
literalidade sobre os temas apontados, detalhando o significado de máxima na filosofia prática
de Kant e mostrando o papel das inclinações no momento de o ser racional determinar seu
princípio de ação. Posteriormente, trazemos para debate uma possibilidade de leitura kantiana
que se adequa às exigências da ciência jurídica, criando um meio de considerá-la sem que
fique restrita à Teoria Pura do Direito, ou seja, que tenha por objeto as normas jurídicas e que
permita a valoração sobre este objeto de estudo, a fim de adequá-la ao meio empírico, ao
convívio social, pois sua função, segundo Kant, consiste em regular as liberdades de todos os
11
indivíduos.
Por fim, tentaremos adiante concluir com um posicionamento sobre esta "leitura" que
Kelsen faz da moral. No entanto, de antemão, pode-se observar que apesar das suas
contribuições teóricas, a teoria kelseniana restou superada igualmente a teoria de Kant, porém
agora elas agregam novos valores à ciência jurídica, na condição de a ciência ser revista sob
um objetivo mais operante no aprimoramento da regulação do convívio social, seu fim
primordial.
12
1. A TEORIA PURA DO DIREITO (1960) DE HANS KELSEN
1.1. Teoria Pura do Direito (1960): linhas gerais da obra
A apresentação procurará situar nosso problema filosófico dentro da extensa obra
Teoria Pura do Direito. Inicialmente, as ideias serão apresentadas a partir dos capítulos
Direito e Natureza (Capítulo I) e Direito e Ciência (Capítulo III), estes suficientes para
entender as linhas gerais da obra e o motivo de Kelsen fazer a separação entre o direito e a
moral. A exposição de Direito e Moral (Capítulo II) será feita em nosso segundo capítulo,
juntamente com a discussão levantada por Kelsen sobre o imperativo categórico kantiano.3
Torna-se necessário, no entanto, alertar que os demais capítulos da obra - quais sejam:
dinâmica e estática jurídicas, da relação entre direito e estado, da relação entre estado e direito
internacional e da teoria de interpretação das normas jurídicas -, contêm outros temas que não
serão estudados agora.4 Nosso objetivo é voltar a atenção para a separação entre direito e
moral feita por Kelsen diante da teoria kantiana, incluindo especificamente as interpretações
feitas por ele sobre algumas citações de Kant, propondo adiante alguns desdobramentos.
A análise dos dois prefácios da Teoria Pura do Direito possibilitará identificarmos
preliminarmente as intenções do autor e como ele apresenta seu pensamento relacionando-o
ao conceito de “pureza” da sua teoria. O primeiro prefácio, à primeira edição, foi escrito em
Genebra, em 1934. Aqui há a exposição do resultado de duas décadas de um empreendimento
pessoal do autor para criação de uma ciência jurídica. Sustenta ele que seu intento foi “elevar
a jurisprudência” e tentar buscar nesta ciência “objetividade e exatidão” (cf. KELSEN, 1996,
p. XI). Kelsen faz também um relato acerca de oposições à sua teoria e atribui isso
3
O fato de não seguirmos a sequência original da obra e apartarmos a exposição de Direito e Moral foi pensado
para possibilitar uma análise detalhada dos argumentos.
4
Caso entrássemos no estudo daqueles demais capítulos da Teoria Pura do Direito tudo tornar-se-ia uma mera
exposição da obra.
13
principalmente à existência de um sincretismo entre política e direito, o que dificulta torná-lo
objeto da ciência. Em suas palavras:
A luta não se trava na verdade – como as aparências sugerem – pela posição da
Jurisprudência dentro da ciência e pelas consequências que daí resultam, mas pela
relação entre a ciência jurídica e a política, pela rigorosa separação entre uma e
outra, pela renúncia ao enraizado costume de, em nome da ciência do Direito e,
portanto, fazendo apelo a uma instância objetiva, advogar postulados políticos que
apenas podem ter um caráter altamente subjetivo, mesmo que surjam, com a melhor
das boas fés, como ideal de uma religião, de uma nação ou de uma classe (Ibidem, p.
XII).
Como demonstração da “pureza” de sua teoria, ele elenca uma série de críticas
recebidas, estas formuladas por posicionamentos até antagônicos:
Os fascistas declaram-na liberalismo democrático, os democratas liberais ou os
sociais-democratas consideram-na um posto avançado do fascismo. Do lado
comunista é desclassificada como ideologia de um estatismo capitalista, do lado
capitalista-nacionalista é desqualificada, já como bolchevismo crasso, já como
anarquismo velado. O seu espírito é – asseguram muitos – aparentado com o da
escolástica católica; ao passo que outros crêem reconhecer nela as características
distintivas de uma teoria protestante do Estado e do Direito. E não falta também
quem a pretenda estigmatizar com a marca de ateísta. Em suma, não há qualquer
orientação política de que a Teoria Pura do Direito não se tenha ainda tornado
suspeita (Ibidem, p. XIII).
O objetivo de Hans Kelsen era criar uma teoria científica do direito, com sua própria
metodologia e princípios. A discussão científica (quanto às ciências sociais) da época girava
em torno de duas correntes filosóficas alemãs em oposição: a primeira, liderada por Gustav
Schmoller5, admitia a emissão e a fundamentação de juízos de valor sobre as ciências,
enquanto a segunda corrente, guiada por Max Weber6, empregava esforço para distanciar-se
da valoração e aplicar-se apenas na descrição científica de forma objetiva. O pensamento
kelseniano criou uma forma de explicar a organização e a relação hierárquica das normas
jurídicas. Segundo Miguel Reale (1985, p. 26):
[...] O que caracteriza a ciência, segundo Kelsen, é a neutralidade objetiva.
[ ]
Nesse ponto, Kelsen ia coincidir com outro grande seu contemporâneo que foi Max
Weber, também pregador de um conhecimento científico ‘a-valorativo’, até mesmo
no plano das ciências humanas (grifo do autor).
5
6
Gustav Friedrich von Schmoller (1838-1917), economista alemão.
Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), jurista e economista alemão, ícone da sociologia.
14
Fazendo suas observações quanto à posição metodológica kelseniana, Machado (2009,
p. 12) resume:
É evidente que, para KELSEN, além da <<Teoria Pura do Direito>> e do
sociologismo jurídico, não pode haver qualquer outra forma de conhecimento
<<científico>> do Direito. Logo, também para ele, como para os sequazes da escola
sociológica, a dogmática tradicional mais não poderá ser do que uma arte ou técnica
sem valor científico. A refutação deste ponto de vista exigirá a prova da
<<cientificidade>> de outros modos possíveis de conhecimento além do das
ciências exactas – ou a refutação do conceito de <<ciência>> em que ele se funda
(grifos do autor).
Kelsen esclarece, por fim, que o postulado metodológico (ciência isenta de juízos de
valor) exposto em sua teoria não pode ser posto em dúvida, mas sim a possibilidade da sua
realização. Diante do momento turbulento em que sua obra foi publicada, exatamente no
período entre as duas guerras mundiais, o direito servia-se de justificativa para atrocidades e
manobras políticas legalmente autorizadas, vê-se que esta passagem corrobora suas ideias:
[...] E isto sucede particularmente na nossa época, que a guerra mundial e suas
consequências fizeram verdadeiramente saltar dos eixos, em que as bases da vida
social foram profundamente abaladas e, por isso, as oposições dentro dos Estados se
aguçaram até o extremo limite. O ideal de uma ciência objetiva do Direito e do
Estado só num período de equilíbrio social pode aspirar a um reconhecimento
generalizado. Assim, pois, nada parece hoje mais extemporâneo que uma teoria do
Direito que quer manter sua pureza [...] (KELSEN, 1996, p. XIV).
À época da segunda edição (de 1960), Kelsen escreve um prefácio onde logo esclarece
que seu propósito é resolver os problemas da pureza metodológica propostos na primeira
edição e tentar de forma mais acurada posicionar a ciência jurídica dentre as outras ciências.
Ciente das limitações da sua teoria, o autor aqui reconhece que, diante da multiplicidade dos
fenômenos jurídicos, com uma diversidade de ordenamentos positivos, os conceitos
apresentados pela Teoria Pura do Direito podem ser “demasiado estreitos, outros demasiado
latos”; Kelsen demonstra a humilde posição de agradecimento diante das críticas sobre a sua
tentativa de desenvolver a sua teoria, que reconhece não ser definitiva. Afirma ainda que
mesmo depois da segunda guerra mundial, a ciência jurídica:
[...] esbarra com a pertinaz oposição de todos aqueles que, desprezando os limites
entre ciência e política, prescrevem ao Direito, em nome daquela, um determinado
conteúdo, quer dizer, crêem poder definir um Direito justo e, conseqüentemente, um
critério de valor para o Direito positivo. É especialmente a renascida metafísica do
Direito natural que, com esta pretensão, sai a opor-se ao positivismo jurídico
(Ibidem, p. XVIII).
15
A discussão mais aprofundada entre justiça e direito foi desenvolvida no apêndice à
Teoria Pura do Direito que, reiteramos, embora constasse da edição alemã, foi publicado em
separado na língua portuguesa, com duas traduções mais conhecidas: A Justiça e o Direito
Natural ([1960], 2009) e O Problema da Justiça ([1960], 1998), cujas referências constam em
nossa bibliografia. Partiremos agora para a análise dos capítulos inicialmente indicados para
um melhor entendimento das questões a serem levantadas.
1.1.1. Direito e Natureza
O capítulo I da Teoria Pura o Direito inicia-se com a explicação das intenções da
obra; trabalha também com diversos conceitos, tais como: “norma”, “ordem social” e “ordem
jurídica”. Nosso objetivo é apresentar a distinção feita entre direito, moral (que estudam o
dever-ser), ciências sociais e naturais (que estudam o ser) e, por fim, introduzir na discussão o
conceito de norma fundamental, que ao longo do texto será uma referência para entender a
Teoria Pura do Direito. Os desdobramentos que traremos para discussão advirão da
metodologia aplicada por Kelsen relativa à neutralidade ou “pureza” do direito.
Kelsen denomina sua Teoria Pura do Direito uma teoria do direito positivo, que não
leva em consideração as normas ou o direito em suas particularidades, e sim a sua forma
geral. Seu objetivo primeiro é a identificação do seu objeto – o direito, preocupando-se não
em como ele deve ser e sim no que consiste (o que é o direito e como ele se apresenta).
Quando faz uso do termo “teoria pura”, estabelece a metodologia utilizada. Isso significa que
procura antes de tudo determinar o objeto da ciência jurídica e, para estudá-lo, evita qualquer
interferência de elementos de outras áreas do conhecimento - algo que, segundo Kelsen, não
se realizava porque a ciência jurídica tradicional (desenvolvida entre os séculos XIX e XX)
confundia seu objeto de estudo com os da psicologia, da sociologia, da ética e da teoria
política. Por isso diz: “É ciência jurídica e não política do Direito (KELSEN, 1996, p. 1).”
Para entender o que é o objeto da ciência jurídica - a ciência que estuda o direito,
sendo este um sistema de normas reguladoras da conduta dos homens -, Kelsen explica as
características de uma norma jurídica. Para isso, norma é tomada como “atos humanos que
intencionalmente se dirigem à conduta de outrem”, ou seja, um ato que estipula que alguém
16
deve agir de determinada maneira. Este dever, porém, não é considerado apenas como uma
ordem ou comando: para que seja uma norma jurídica, dever também significa “permitir ou
conferir poder (competência), inclusive o de ele próprio estabelecer normas” para
determinado ato humano. Daí concluímos que norma “[...] é o sentido de um ato através do
qual uma conduta é prescrita, permitida ou, especialmente facultada, no sentido de adjudicada
à competência de alguém (Ibidem, p. 5 e 6).”
Sendo assim, é importante distinguir que o dever-ser da norma, em outras palavras, a
conduta prescrita pela norma, não se confunde com o fato, pois este é um ser. A relação que
pode haver entre ambos é somente a de correspondência. São dois campos diferentes de
análise. Continua explicando:
[...] A expressão “conduta devida” é ambígua. Tanto pode designar a conduta que,
na norma, enquanto conteúdo da norma, é posta como devida, e que deve ser mesmo
quando se não ponha em ser ou realize; como também a conduta que de fato é ou se
realiza e corresponde ao conteúdo da norma. Quando se diz que o dever-ser é
“dirigido” a um ser, a norma a uma conduta fática (efetiva), quer-se significar a
conduta de fato que corresponde ao conteúdo da norma, o conteúdo do ser que
equivale ao conteúdo do dever-ser, a conduta em ser que equivale à conduta posta na
norma como devida (devendo ser) – mas que se não identifica com ela, por força da
diversidade do modus: ser, num caso, dever-ser, no outro (Ibidem, p. 7).
Em suma, o que vincula este dever-ser a uma obrigatoriedade não é o ato de vontade
de quem a elaborou, porque até o processo de elaboração de normas é regulado por outras
normas, mas sim uma norma superior chamada de norma fundamental, que atribui a alguém a
competência ou poder para tanto. Assim, uma norma provém de um ato legislativo; esse ato é
um dever-ser - subjetiva e objetivamente - correspondente a uma norma fundamental que
estabelece que devemos nos conduzir conforme os preceitos de uma constituição que, por
derradeiro, regula (normatiza) o processo legislativo. Para uma melhor compreensão, Kelsen
traz o exemplo da diferença entre a exigência de um pagamento de uma soma em dinheiro por
um gângster e por um funcionário de finanças. Subjetivamente, ambos são atos de indivíduos
que intencionalmente visam a conduta de outro, mas objetivamente, só a ordem do
funcionário de finanças é fundada numa norma válida. A norma fundamental é um
pressuposto que funda a validade objetiva das normas e da ordem jurídica (Ibidem, p. 9).
Norberto Bobbio, estudioso da teoria kelseniana, traz diversos esclarecimentos acerca
da norma fundamental. Para ele a norma fundamental auxilia na definição do escalonamento
17
das normas e na unidade do ordenamento jurídico: “A norma fundamental é o termo
unificador das normas que compõem um ordenamento jurídico. Sem uma norma fundamental,
as normas de que falamos até agora constituiriam um amontoado, não um ordenamento
(BOBBIO, 1997, p. 49).”.
Seu conceito de norma fundamental é relacionado diretamente com o poder
constituinte, através da seguinte construção: a norma jurídica, por impor obrigações,
pressupõe um poder (poder normativo) - no escalonamento hierárquico do ordenamento
jurídico as normas constitucionais estão no topo e derivam do poder constituinte (o poder
último) -, por sua vez, a norma fundamental atribui competência ao poder constituinte para
produzir normas jurídicas e dá validade a todas as normas do sistema. No entanto, a norma
fundamental é um pressuposto para fundar o sistema normativo, assim, é uma norma última,
não expressa, de onde deriva o poder constituinte. Justificando seu posicionamento: “O fato
de essa norma não ser expressa não significa que não exista: a ela nos referimos como o
fundamento subentendido da legitimidade de todo o sistema (Ibidem, p. 60).” Ele ainda
assevera que a função que a norma fundamental exerce é a mesma de um postulado científico:
[...] Os postulados são colocados por convenção ou por uma pretensa evidência
destes; o mesmo se pode dizer da norma fundamental: ela é uma convenção ou, se
quisermos, uma proposição evidente que é posta no vértice do sistema para que a ela
se possam reconduzir todas as demais normas (Ibidem, p. 62).
Em conclusão, Bobbio (op. cit., p. 63 e 64) afirma que tentar descobrir o que está além
da norma fundamental (descobrir seu fundamento) é um problema estéril e entrar nessa
polêmica é sair do sistema jurídico, portanto não cabe à ciência jurídica. Prosseguindo sobre a
norma fundamental, retomamos o pensamento de Hans Kelsen (1996, p. 9), que segue
dizendo:
[...] Se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever-ser, tem também
objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é porque
a Constituição empresta ao ato legislativo este sentido objetivo. O ato criador da
Constituição, por seu turno, tem sentido normativo, não só subjetiva como
objetivamente, desde que se pressuponha que nos devemos conduzir como o autor
da Constituição preceitua. Se um homem que se encontra em estado de necessidade
exige de um outro que lhe preste auxílio, o sentido subjetivo da sua pretensão é que
o outro lhe deve prestar auxílio. Porém, uma norma objetivamente válida que
vincule ou obrigue o outro só existe, nesta hipótese, se vale a norma geral do amor
do próximo, eventualmente estabelecida pelo fundador de uma religião. E esta, por
seu turno, apenas vale como objetivamente vinculante quando se pressupõe que nos
devemos conduzir como o fundador da religião preceituou.
18
Para Kelsen, os costumes podem também estabelecer normas jurídicas, ou seja, são
fonte de normas jurídicas e, desta forma, uma norma superior assume o costume como fato
produtor de normas. Assim, o sentido subjetivo7 dos atos constitutivos do costume é tomado
como uma norma objetivamente válida. Ainda seguindo este raciocínio, subjetivamente, tanto
as normas postas (e, neste sentido, positivas8) do costume quanto as normas do processo
legislativo são idênticas. Do costume pode-se extrair tanto normas morais como normas
jurídicas. “[...] As normas jurídicas são produzidas pelo costume se a Constituição da
comunidade assume o costume – um costume qualificado – como fato criador de Direito
(Ibidem, p. 10).”
Conclui-se, seguindo este raciocínio, que a norma fundamental é o que valida
objetivamente o sistema de normas jurídicas. Mas qual a relação das normas jurídicas com as
condutas que elas prescrevem? Entramos aqui a relação da norma com o valor, ou melhor, da
correspondência (ou não) da norma com a eventualidade do acontecimento de um fato que ela
prescreva. De início, devemos tomar como base a norma fundamental, a medida de valor para
que uma conduta seja considerada correspondente a uma norma jurídica. Utilizar a medida da
norma fundamental para formulação de um juízo é dizer que a conduta correspondente a essa
medida é uma conduta boa e que uma conduta contrária a esta medida é má, portanto, isso é
um juízo relativo (para uns, diante das condutas, as normas legisladas pelos homens podem
ser boas, para outros não). Isso é diferente de um juízo de valor sem se considerar uma norma
objetivamente válida, porque se trata aí de um juízo sobre um fato da ordem do ser, existente
no tempo e no espaço. Para Kelsen, só um fato da ordem do ser pode considerar-se positivo
ou negativo (valioso ou desvalioso), pois é a realidade que se avalia9. As normas estabelecidas
por ato de vontade humana, como o direito, são distintas de normas estabelecidas por ato de
uma vontade supra-humana (procedentes de Deus, por exemplo), pois aquelas têm valor
relativo, enquanto estas têm valor absoluto:
[...] as normas legisladas pelos homens – e não por uma autoridade supra-humana –
apenas constituem valores relativos. Quer isto dizer que a vigência de uma norma
desta espécie que prescreva uma determinada conduta como obrigatória, bem como
7
Neste caso, o sentido subjetivo é a vontade do grupo em que os indivíduos conduzam-se de uma determinada
maneira.
8
A norma efetivamente posta, ou positiva, é distinta da norma pensada, ou pressuposta no pensamento (cf.
KELSEN, 1996, p. 9).
9
Para melhor entendimento da discussão travada sobre a incidência de juízos de valor sobre a norma jurídica e a
conduta correspondente, vide bibliografia: A Justiça e o Direito Natural ([1960], 2009) e O Problema da Justiça
([1960], 1998).
19
a do valor por ela constituído, não exclui a possibilidade de vigência de uma outra
norma que prescreva a conduta oposta e constitua um valor oposto. Assim, a norma
que proíbe o suicídio ou a mentira em todas e quaisquer circunstâncias pode valer o
mesmo que a norma que, em certas circunstâncias, permita ou até prescreva o
suicídio ou a mentira, sem que seja possível demonstrar, por via racional, que
apenas uma pode ser considerada como válida e não a outra. Podemos considerar
como válida quer uma quer outra – mas não as duas ao mesmo tempo.
[ ]
Quando, porém, nos representamos a norma constitutiva de certo valor e que
prescreve determinada conduta como procedente de uma autoridade supra-humana,
de Deus ou da natureza criada por Deus, ela apresenta-se-nos com a pretensão de
excluir a possibilidade de vigência (validade) de uma norma que prescreva a
conduta oposta. Qualifica-se de absoluto o valor constituído por uma tal norma, em
contraposição ao valor constituído através de uma norma legislada por um ato de
vontade humana. Uma teoria científica dos valores apenas toma em consideração, no
entanto, as normas estabelecidas por atos de vontade humana e os valores por ela
constituídos (Ibidem, p. 19 e 20).
Desta forma, um juízo sobre uma norma (que é um dever-ser) é de validade ou
invalidade e não de verdade ou falsidade, haja vista que este último tipo de juízo é sobre um
ser (realidade). Ainda: para julgarmos algo como “bom” ou “mau” há dois tipos de valor - em
sentido subjetivo, o objeto relaciona-se com o desejo ou vontade de uma pessoa; em sentido
objetivo, uma conduta relaciona-se com uma norma objetivamente válida (Ibidem, p. 21 e 22).
Engle (2008, p. 47) tem um entendimento sobre este fundamento jurídico apresentado
por Kelsen e sustenta, em oposição, que de fato existem princípios morais universais:
Desta forma, diferentemente de Kelsen, percebo o elemento fundamental da lei não
como ‘normas’ hieraquicamente ordenadas. Em vez disso, vejo proposições
condicionais potencialmente em conflito com imperativos de execução contingente,
como dois átomos da lei. Entretanto estas proposições condicionais e imperativas
são apenas lei acadêmica – lei nos livros. Elas são previsões teóricas. Para serem
consideradas ‘lei prática’ – lei positiva efetiva – elas têm de ser executáveis. Isto
esclarece a distinção entre lei natural, que nada mais é do que a lei do mais forte, e
lei positiva, que são proposições arbitrárias do legislador. [...]
[ ]
[...] Este artigo funda-se na premissa de que há de fato princípios morais universais:
assim, pode haver justiça natural, entretanto, ele também considera a visão de que
não há contudo uma conexão inevitável entre direito natural e justiça natural –
princípios da justiça natural são normativos, não nomotéticos (tradução nossa).10
10
“Thus, unlike Kelsen, I see the fundamental element of law not as hierarchically ordered ‘norms’. Instead I
see potentially conflicting conditional statements with contingent enforcement imperatives as two atoms of law.
However those conditional and imperative statements are only scholarly law – law in the books. They are
theoretical predictions. To be considered ‘practical law’ – effective positive law – they must be enforced. This
highlights the distinction between natural law, which is nothing more or less than the law of the strongest, and
positive law, which is the arbitrary statements of a legislator. […]
[ ]
[…] This paper is founded on the premise that there are indeed universal moral principles: thus, there can be a
natural justice; however, it also takes the view that there is nonetheless no inevitable connection between natural
law and natural justice – principles of natural justice are normative, not nomothetic (ENGLE, Eric. Law as Lex
20
Para Kelsen (1996) o direito e a moral são considerados ordens sociais que regulam a
conduta dos homens na medida em que esta conduta está em relação com outras pessoas,
mediata (contra seu patrimônio) ou imediatamente (contra a pessoa). A forma pela qual as
ordens sociais regulam as condutas humanas é ligar um prêmio ou um castigo a determinadas
condutas prescritas ou proibidas. O prêmio ou castigo denominam-se sanção em sentido
amplo e, quando considerado isoladamente, o castigo (ou pena) denomina-se sanção em
sentido estrito. A pena, não obstante, deve ser aplicada independentemente da vontade do
atingido e, em existindo resistência, recorre-se à força física - o que dá à sanção um caráter
coercitivo, do qual o direito se utiliza. Nessa ligação entre a conduta e a atribuição de uma
consequência extraímos o conceito do princípio retributivo: “[...] O princípio que conduz a
reagir a uma determinada conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo.
(Ibidem, p. 26)”.
Bobbio (1997, p. 66), considerando o direito fundado sobre o poder coercitivo (em
última instância) e, sendo este impensável sem o exercício da força, reconhece que ela é
necessária para a sua realização; por isso, conceitua direito como um “conjunto de regras com
eficácia reforçada”.
Kelsen (1996, p. 30 e 31) conclui que para distinção das ordens sociais não devemos
levar em conta se elas estatuem sanções ou não, mas sim os tipos de sanções que são
estatuídas. Essas podem ser transcendentes ou socialmente imanentes. As primeiras provêm
de uma instância supra-humana. As segundas são realizadas e executadas por homens,
membros de uma sociedade. É esse o tipo de sanção que o direito contém. O direito,
conceitualmente, trata-se de uma ordem de conduta humana:
[...] Uma “ordem” é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de
todas elas terem o mesmo fundamento de validade. O fundamento de validade de
uma ordem normativa é – como veremos – uma norma fundamental da qual se retira
a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. Uma norma singular é uma
norma jurídica enquanto pertence a uma determinada ordem jurídica, e pertence a
uma determinada ordem jurídica quando a sua validade se funda na norma
fundamental dessa ordem (Ibidem, p. 33).
v. Ius. In: The Journal Jurisprudence, Volume One, “What is Law?”. Austrália, Melbourne: The Elias Clark
Group, 2008, p. 47, tradução nossa).”
21
Quanto à coação, há ainda esclarecimentos pontuais onde, resumidamente: o direito
não é ordem coativa no sentido psíquico (coação psíquica para agir), pois esse critério não o
distingue da religião ou da moral e sim, é uma ordem coativa no sentido de privar os
indivíduos dos seus direitos (com emprego da força física quando necessário); a função
essencial do direito é a segurança coletiva, visando garantir a ordem social. Apesar de que
podem também existir atos coercitivos que não têm o caráter de sanções; como exemplo: a
prisão preventiva, onde o ato de coação não é uma reação a um ato ilícito, mas sim a uma
suspeita de tal conduta; o internamento compulsivo de doentes mentais em asilos ou hospitais
psiquiátricos; o extermínio de animais domésticos portadores de doenças contagiosas; a
implosão de edifícios ameaçados de ruína e os atos de Estados totalitários que optam por
negar certos direitos (como o direito à vida) a determinadas pessoas simplesmente por
pertencerem a um grupo ou a uma etnia considerada indesejável – atos pertencentes às ordens
jurídicas desses Estados, sendo, no entanto, condenáveis moralmente. Extrinsecamente tais
atos são restritivos de liberdade, contudo seu pressuposto não é um ato ilícito ou delito
juridicamente prefixado, por isso são considerados atos coercitivos sem o caráter de sanções
(Ibidem, p. 40 a 45).11
Como uma ordem coativa, há espaço para liberdade no Direito? Segundo Kelsen, a
liberdade é juridicamente garantida. As condutas dos indivíduos são juridicamente permitidas
quando não são juridicamente proibidas; melhor dizendo, quando o direito não liga a uma
determinada conduta uma sanção e também não proíbe a conduta oposta, o indivíduo é livre
para exercer sua liberdade onde a lei não regulamentou - a conduta é permitida num sentido
negativo. Há também as liberdades constitucionalmente garantidas, existentes quando a
ordem jurídica proíbe intrusões neste tipo de liberdade:
[...] Trata-se de preceitos de Direito constitucional através dos quais a competência
do órgão legislativo é limitada por forma a não lhe ser permitido – ou apenas o ser
sob condições muito especiais – editar normas que prescrevam ou proíbam aos
indivíduos uma conduta de determinada espécie, como a prática da religião, a
expressão de opiniões e outras condutas análogas (Ibidem, p. 48).
O direito é tomado como uma ordem normativa de coação. A questão decisiva,
segundo Kelsen, é saber qual o fundamento de validade considerado como o sentido objetivo
de um ato, em outras palavras, o que diferencia uma ordem da norma jurídica da ordem de um
11
Nestas discussões o autor esmiuça ainda mais as diferenças entre as sanções e fundamenta o Direito como uma
ordem coativa. Por considerarmos que os conceitos apresentados até aqui cumprem a finalidade de dar uma ideia
básica sobre estes assuntos, justificamos que tais temas não serão aprofundados nesta exposição.
22
bando de salteadores de estrada12. Afinal, os dois representam um dever-ser subjetivamente
(ambas as ordens têm como escopo fazer com que um ou mais indivíduos conduzam-se de
uma determinada maneira), contudo, só a ordem jurídica “vincula” (é uma norma
objetivamente válida):
[...] Tratando-se de uma Constituição que é historicamente a primeira, tal só é
possível se pressupusermos que os indivíduos se devem conduzir de acordo com o
sentido subjetivo deste ato, que devem ser executados atos de coerção sob os
pressupostos fixados e pela forma estabelecida nas normas que caracterizamos como
Constituição, quer dizer, desde que pressuponhamos uma norma por força da qual o
ato a interpretar como ato constituinte seja de considerar como um ato criador de
normas objetivamente válidas e os indivíduos que põem este ato como autoridade
constitucional. Esta norma é – como mais tarde se verá melhor – a norma
fundamental de uma ordem jurídica estadual. Esta não é uma norma posta através de
um ato jurídico positivo, mas – como o revela uma análise dos nosso juízos jurídicos
– uma norma pressuposta, pressuposta sempre que o ato em questão seja de entender
como ato constituinte, como ato criador da Constituição, e os atos postos com
fundamento nesta Constituição como atos jurídicos. Constatar esta pressuposição é
uma função essencial da ciência jurídica. Em tal pressuposição reside o último
fundamento da validade da ordem jurídica, fundamento esse que, no entanto, pela
sua mesma essência, é um fundamento tão-somente condicional e, neste sentido,
hipotético (Ibidem, p. 51, grifos do autor).
Se não tomarmos como pressuposto a norma fundamental, o direito prende-se ao
conceito de justiça, o que para Kelsen é equivocado, porque o juízo de que uma ordem social
é justa tem um caráter relativo. O direito ser justo para um capitalista não implica no direito
ser justo para um socialista e vice-versa. Sob a ótica da Teoria Pura do Direito, uma ordem
jurídica coercitiva “injusta” é válida, desde que esteja sob um fundamento de validade
objetiva - a norma fundamental. Importante ressaltar que o direito é uma ordem de coação.
Partindo desta ideia, a fórmula para traduzir a norma fundamental de uma norma jurídica
estadual é:
[...] a coação de um indivíduo por outro deve ser praticada pela forma e sob os
pressupostos fixados pela primeira Constituição histórica. A norma fundamental
delega na primeira Constituição histórica a determinação do processo pelo qual se
devem estabelecer as normas estatuidoras de atos de coação. Uma norma, para ser
interpretada objetivamente como norma jurídica, tem de ser o sentido subjetivo de
um ato posto por este processo – pelo processo conforme à norma fundamental – e
tem de estatuir um ato de coação ou estar em essencial ligação com uma norma que
o estatua (Ibidem, p. 56).
12
Este foi o exemplo utilizado pelo autor para ilustrar as características da ordem normativa de coação,
(conforme notas 32 e 37 do capítulo I Direito e Natureza). A única diferença que Kelsen aponta é a de que, para
Agostinho, o que diferencia a ordem jurídica da ordem de um bando de salteadores é o reconhecimento de um
valor de Justiça, enquanto para ele é a norma fundamental (AGOSTINHO, Civitas Dei, IV, 4 apud KELSEN,
1996, p. 54).
23
A consequência de não se definir o direito como ordem de coação é um sincretismo
das normas jurídicas com as morais. Se as ordens jurídicas modernas suprimissem o caráter
coercitivo, o direito perderia a sua característica jurídica e “morreria”, portanto:
[...] Se o Direito não fosse definido como ordem de coação mas apenas como ordem
posta em conformidade com a norma fundamental e esta fosse formulada com o
sentido de que as pessoas se devem conduzir, nas condições fixadas pela primeira
Constituição histórica, tal como esta mesma Constituição determina, então poderiam
existir normas jurídicas desprovidas de sanção, isto é, normas jurídicas que, sob
determinados pressupostos, prescrevessem uma determinada conduta humana, sem
que uma outra norma estatuísse uma sanção para a hipótese de a primeira não ser
respeitada. Nessa hipótese, o sentido subjetivo de um ato posto em conformidade
com a norma fundamental [...] seria juridicamente irrelevante. Nessa hipótese ainda,
uma norma posta pelo legislador constitucional que prescrevesse uma determinada
conduta humana sem ligar à conduta oposta um ato coercitivo – a título de sanção –
só poderia ser distinguida de uma norma moral pela sua origem, e uma norma
jurídica produzida pela via consuetudinária nem sequer poderia ser distinguida de
uma norma de moral também produzida consuetudinariamente. Se o costume é
considerado pela Constituição como fato produtor de normas jurídicas, então toda a
Moral constituiria parte integrante da ordem jurídica, na medida em que as suas
normas são efetivamente produzidas pela via consuetudinária (Ibidem, p. 59 e 60).
As normas jurídicas que contenham a prescrição para produção de normas ou
contenham uma permissão positiva são consideradas normas não-autônomas, porque têm
validade apenas se consideradas em sua ligação com uma norma estatuidora de um ato de
coerção. A finalidade da ciência jurídica é, por consequência, formular as proposições acerca
das normas jurídicas:
[...] Visto que uma ordem jurídica é uma ordem de coação no sentido que acaba de
ser definido, pode ela ser descrita em proposições enunciando que, sob pressupostos
determinados (determinados pela ordem jurídica), devem ser aplicados certos atos
de coerção (determinados igualmente pela ordem jurídica) (Ibidem, p. 65).
Percebe-se que Kelsen, em Direito e Natureza, busca alocar o estudo do direito num
campo próprio, afastado do direito natural e da sociologia, estabelecendo o objeto de estudo
da ciência jurídica – a norma jurídica – e seu fundamento de validade: a norma fundamental.
Esta discussão parte de um pressuposto de debate que Kelsen coloca no início deste capítulo,
relacionado à tentativa de situar melhor o direito no campo das ciências sociais – mas a
delimitação ainda será definida pelo autor no Capítulo III Direito e Ciência e aqui é
sutilmente anunciada:
[...] põe-se logo a questão de saber se a ciência jurídica é uma ciência da natureza ou
uma ciência social. Mas esta contraposição de natureza e sociedade não é possível
sem mais, pois a sociedade, quando entendida como a real ou efetiva convivência
24
entre os homens, pode ser pensada como parte da vida em geral e, portanto, parte da
natureza.[...] Se analisarmos qualquer do fatos que classificamos de jurídicos ou que
têm qualquer conexão com o Direito [...], poderemos distinguir dois elementos:
primeiro, um ato que se realiza no espaço e no tempo, sensorialmente perceptível,
ou uma série de tais atos, uma manifestação externa de conduta humana; segundo, a
sua significação jurídica, isto é, a significação que o ato tem do ponto de vista do
Direito (KELSEN, op.cit., p. 2).
Kelsen procura primeiro estabelecer que o ato jurídico tem seu próprio significado, ou
seja, se auto-explica. Essa auto-explicação auxilia a entender que um ato pode significar
subjetivamente algo, enquanto objetivamente - sob a ótica do direito – pode não ter o mesmo
sentido. Com isso ele quer dizer que um ato jurídico diferencia-se de um fato da natureza pelo
seu significado e não pela sua facticidade. Isso acontece através de uma interpretação
normativa da realidade (o autor refere-se aqui à realidade como um fato da natureza,
determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza), assim, tanto uma
execução penal quanto um homicídio são o mesmo fato; não obstante, pela interpretação
normativa, um homicídio pode ser diferenciado de uma execução penal por um exercício
mental que interpreta a realidade em comparação com uma norma considerada válida (cf.
KELSEN, op. cit., p. 4). Seguiremos agora ao estudo do capítulo Direito e Ciência, o que nos
permite introduzir mais conceitos da teoria jurídica kelseniana e evitar digressões
especialmente durante a exposição do capítulo Direito e Moral (alvo principal da
investigação), que ficou por isso destacado para discussão posterior.
1.1.2. Direito e Ciência
O capítulo III da Teoria Pura o Direito defende que a ciência jurídica possui um
princípio próprio (princípio da imputação), que é diferente dos princípios das demais ciências
sociais e das ciências naturais (princípio da causalidade), relacionando a isso temas como
ideologia, história e liberdade. Desenvolve a estruturação das normas apresentando a
“estática” e “dinâmica” jurídicas, e distingue também a “norma jurídica” da “proposição
jurídica”, evitando confundir a atuação da ciência jurídica fora da sua dimensão lógica.
Kelsen começa afirmando que o objeto da ciência jurídica é o direito, formado pelas
normas jurídicas. Estas, por consequência, têm como conteúdo as condutas humanas; pode-se
portanto afirmar que as condutas humanas só são objeto da ciência jurídica, enquanto relações
25
determinadas através de relações jurídicas. Com base no argumento acima, há duas teorias do
direito, uma estática e uma dinâmica. O objeto da teoria estática é o direito enquanto “um
sistema de normas em vigor” e o objeto da teoria dinâmica é o direito em movimento, em
outras palavras, é o processo jurídico de produção e aplicação das normas jurídicas (Ibidem,
p. 79).
A ciência jurídica faz uma interpretação normativa das condutas humanas, pois elas
são o conteúdo das normas jurídicas. A descrição científica é feita por meio de enunciados
denominados proposições jurídicas; há a necessidade de distingui-las das normas jurídicas,
que são mandamentos, ou imperativos:
[...] Proposições jurídicas são juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, de
conformidade com o sentido de uma ordem jurídica – nacional ou internacional –
dada ao conhecimento jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por
esse ordenamento, devem intervir certas consequências pelo mesmo ordenamento
determinadas. As normas jurídicas, por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados
sobre um objeto dado ao conhecimento. Elas são antes, de açodo com o seu sentido,
mandamentos e, como tais, comandos, imperativos. Mas não são apenas comandos,
pois também são permissões e atribuições de poder ou competência (Ibidem, p. 80,
grifos do autor).
Os órgãos jurídicos (ou autoridades jurídicas) produzem as normas jurídicas, que são
objeto das proposições (descritivas) da ciência jurídica, feitas pelo jurista (ou cientista
jurídico). Percebendo assim que a norma jurídica (imperativo) prescreve condutas ligando às
condutas opostas uma sanção, entende-se que a proposição jurídica apenas descreve o Direito,
sem a prescrição de condutas tal como a norma jurídica. Infere-se deste raciocínio que uma
norma jurídica pode assim ser válida ou inválida, enquanto a proposição jurídica pode ser
verídica ou inverídica, ou mais: verdadeira ou falsa. Por seu caráter lógico, as proposições
jurídicas, longe de serem supérfluas, auxiliam a ciência jurídica com a aplicação do princípio
da não-contradição e com as regras de concludência de raciocínio quanto às normas jurídicas:
[...] os princípios lógicos podem ser, se não direta, indiretamente, aplicados às
normas jurídicas, na medida em que podem ser aplicados às proposições jurídicas
que descrevem estas normas e que, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas.
Duas normas jurídicas contradizem-se e não podem, por isso, ser afirmadas
simultaneamente como válidas quando as proposições jurídicas que as descrevem se
contradizem; e uma norma jurídica pode ser deduzida de uma outra quando as
proposições jurídicas que as descrevem podem entrar num silogismo lógico (Ibidem,
p. 84).
O direito pode ser delimitado diante das ciências naturais através do conceito de
norma. A ciência jurídica é uma ciência normativa. As relações entre as condutas humanas
26
numa ciência normativa também são diferentes da sociologia e de outras ciências sociais, que
descrevem as condutas humanas sob o princípio da causalidade, ligando as relações como
causa e efeito de forma similar às ciências naturais. A ciência normativa, diversamente das
ciências causais, descreve as normas jurídicas e suas relações sem ter como base o princípio
da causalidade. O princípio delimitador e específico é o princípio da imputação, que é a
ligação, feita pela norma jurídica, de um ilícito à sua consequência:
Na descrição de uma ordem normativa da conduta dos homens entre si é aplicado
aquele outro princípio ordenador, diferente da causalidade, que podemos designar
como imputação. Pela via da análise do pensamento jurídico pode mostrar-se que,
nas proposições jurídicas, isto é, nas proposições através das quais a ciência jurídica
descreve o seu objeto, o Direito – quer seja um Direito nacional ou internacional -, é
aplicado efetivamente um princípio que, embora análogo ao da causalidade, no
entanto se distingue dele por maneira característica. [...] Tal-qualmente uma lei
natural, também uma proposição jurídica liga entre si dois elementos. Porém a
ligação que se exprime na proposição jurídica tem um significado completamente
diferente daquela que a lei natural descreve, ou seja, a da causalidade. [...] O ser o
significado da cópula ou ligação dos elementos na proposição jurídica diferente do
da ligação dos elementos na lei natural resulta da circunstância de a ligação na
proposição jurídica ser produzida através de uma norma estabelecida pela autoridade
jurídica – através de um ato de vontade, portanto -, enquanto que a ligação de causa
e efeito, que na lei natural se afirma, é independente de qualquer intervenção dessa
espécie (Ibidem, p. 86 e 87, grifo do autor).
Evitando deixar dúvidas quanto à definição de proposição jurídica, Kelsen esclarece
que ela se trata de uma afirmação ou um juízo sobre um objeto dado ao conhecimento e não
se confunde um imperativo, haja vista este ser sim a norma jurídica. A especificidade das
proposições jurídicas vem fixada de forma reiterada na seguinte passagem:
Se bem que a ciência jurídica tenha por objeto normas jurídicas e, portanto, os
valores jurídicos através delas constituídos, as suas proposições são, no entanto – tal
como as leis naturais da ciência da natureza – uma descrição do seu objeto alheia a
valores (wertfreie). Quer dizer: esta descrição realiza-se sem qualquer referência a
um valor metajurídico e sem qualquer aprovação ou desaprovação emocional
(Ibidem, p. 89).
Para fundamentar o princípio da imputação Kelsen remete-se historicamente à sua
origem, afirmando que ao investigar sociedades primitivas, verifica-se que o homem primitivo
interpreta os fatos naturais segundo normas sociais, isto é, seguindo os mesmo princípios que
regem suas relações com seus semelhantes. Para Kelsen, provavelmente as normas mais
antigas da humanidade são as que buscam deter os impulsos sexuais e de agressividade - essas
normas têm como base uma regra que permeia toda a vida social primitiva, que compreende
tanto a pena quanto o prêmio - a regra da retaliação (retribuição). Nesta regra basilar residem,
27
ligados um ao outro, o pressuposto e a consequência, segundo o princípio da imputação, e não
o da causalidade (Ibidem, p. 92).
A má colheita ou a chuva em excesso, por exemplo, eram interpretadas como
resultados de uma má conduta de um grupo, aldeia ou atribuída à má atitude de um de seus
indivíduos. Kelsen diz que o indivíduo primitivo não questionava qual era a causa de um
infortúnio e sim quem era o responsável pelo fato. A conduta recíproca dos homens sob a
regra da retribuição reflete numa forma de interpretação da natureza designada: interpretação
sócio-normativa. O animismo, uma concepção de que todas as coisas na natureza, inclusive as
inanimadas, têm alma, é uma forma de interpretação sócio-normativa da natureza. O princípio
da causalidade, característico das ciências naturais contemporâneas, é o instrumento de uma
emancipação do animismo - de emancipação da interpretação social da natureza. Descrevendo
esse processo de emancipação:
[...] O passo decisivo nesta transição de uma interpretação normativa para uma
interpretação causal da natureza, do princípio da imputação para o princípio da
causalidade, reside no fato de o homem se tornar consciente de que as relações entre
as coisas – diferentemente das relações entre os homens – são determinadas
inependentemente de uma vontade humana ou supra-humana ou, o que vem a dar no
mesmo, não são determinadas por normas, de que o comportamento das coisas não é
prescrito ou permitido por qualquer autoridade (Ibidem, p. 95).
As ciências que têm como princípio a causalidade são: Psicologia, Etnologia, História
e Sociologia. Estas não se distinguem das ciências naturais como a Física, ou a Biologia. Por
outro lado, as ciências que têm como princípio a imputação são: a ética e a ciência jurídica,
também chamada de jurisprudência. Estas últimas são ciências normativas, devido a terem
base no princípio da imputação; o que possuem de similitude é o fato de ambas descreverem
normas postas por atos humanos e as relações decorrentes dessas normas (Ibidem, p. 96).
As diferenças entre os princípios da causalidade e da imputação são examinadas de
forma mais detalhada por Kelsen.13 De início, as fórmulas pelas quais são apresentados os
juízos hipotéticos de ambos são expressas de modo a ligar a um pressuposto uma determinada
consequência. A diferença consiste na ligação que há entre o pressuposto e a consequência
nos dois casos, pois no princípio da causalidade, quando A é, B também é (por exemplo,
13
Uma vez que o princípio da causalidade cria proposições com base na observação emprírica, trabalha com uma
previsibilidade (da ordem do ser), que permite afirmar que algo acontecerá sob um determinado pressuposto. Já
o princípio da imputação cria proposições com base nas normas (jurídicas ou morais) e sua consequência é
sempre um dever-ser, pois não é possível afirmar que sob um determinado pressuposto realmente a consequência
prevista na norma acontecerá. Portanto não há previsibilidade (cf. KELSEN, op. cit., p. 98 e 99).
28
quando chove, a terra fica molhada), enquanto no princípio da imputação - quando A é, B
deve ser (por exemplo, quando alguém comete um crime, deve ser punido). A imputação,
expressa na palavra “dever-ser”, designa uma relação normativa. Outra distinção importante é
relacionada à cadeia de causa e efeito que, no princípio da causalidade, é constituído por
causas intermináveis (um elo de causas ilimitado, onde tudo na ordem do ser pode ser
explicado se for remetido a uma causa anterior), enquanto no princípio da imputação a relação
entre pressuposto e consequência é limitada - existe um ponto terminal na cadeia de causas
(Ibidem, p. 100 e 101).
Matos (2006, p. 197) é esclarecedor com relação à diferença entre o princípio da
causalidade e o princípio da imputação:
[...] O princípio da causalidade se rege por fatos, ou seja, caso haja algum fato que a
lei natural-causal não consiga explicar, deve a mesma ser reformulada. Ao contrário,
o princípio da imputação pretende reger comportamentos. Se, v.g., em um caso
particular não for aplicada uma norma jurídica, tal não é razão suficiente para que a
proposição que descreve cientificamente essa relação seja substituída [...] (grifo do
autor).
Esta discussão sobre o elo de causa e efeito nos princípios da causalidade e imputação
está, segundo o texto da obra kelseniana, em estrita ligação com o conceito de liberdade,
existente em ordens sociais e normativas como as ordens jurídica e moral:
[...] Decisivo é que a conduta que constitui o ponto terminal da imputação – que, de
acordo com uma ordem moral ou jurídica, apenas representa a responsabilidade
segundo essa ordem existente -, de acordo com a causalidade da ordem da natureza
não é, nem como causa nem como efeito, um ponto terminal, mas apenas um elo
numa série sem fim (KELSEN, op. cit., p. 104).
Acrescenta Kelsen que considerar a liberdade do homem apartada da lei da
causalidade torna a responsabilização ou imputação impossível, portanto deve-se tomar como
pressuposto que a vontade dos indivíduos seja causalmente determinada. Assim, a função da
ordem normativa é ser um elo nessa cadeia causal para criar a vontade nos indivíduos de se
conduzirem conforme suas normas: “[...] Só através do fato de a ordem normativa se inserir,
como conteúdo das representações dos indivíduos cuja conduta ela regula, no processo causal,
no fluxo de causas e efeitos, é que esta ordem preenche a sua função social (Ibidem, p. 105).”
Assegura ainda que é um equívoco pressupor, por resultado, que o homem não se
sujeite à via causal, considerando-se neste sentido livre para agir, pois esse pensamento
29
necessariamente exige pressupor também que diante de uma conduta jurídica ou moralmente
má, ele terá remorso ou arrependimento, algo que não é unânime a todos os homens. Isso
somente demonstra que esta é uma liberdade fictícia, que não dá lugar para a existência da
imputação. Se a liberdade fosse tomada no sentido de uma vontade livre de uma causalidade
determinante, seria admitida como uma justificativa razoável para explicar porque somente os
homens são imputáveis e não os fenômenos naturais ou os animais. Contudo, somente os
humanos são imputáveis porque as ordens jurídicas e morais prescrevem apenas normas de
conduta humanas: “[...] A explicação não está, portanto, na liberdade mas, inversamente, na
determinação causal da vontade humana (Ibidem, p. 108).”
O intuito do autor nos parece ser aqui o de explicar que a imputação, em verdade,
procura inserir-se na linha causal, uma vez que a vontade do homem é causalmente
determinada. Inserindo-se como um dos elos da causalidade14, a imputação representa uma
norma que, por ligar à conduta oposta uma sanção, causa no indivíduo a vontade de agir
conforme o prescrito, sob a condição de ser responsabilizado pela conduta contrária à norma.
Segundo seu raciocínio, é um erro pensar que a causalidade exclui a imputação. Kelsen
resume seu posicionamento com relação à liberdade:
[...] O homem é livre porque e enquanto são imputadas a uma determinada conduta
humana, como ao seu pressuposto a recompensa, a penitência ou a pena – não
porque esta conduta não seja causalmente determinada, ou até: por ela ser
causalmente determinada. O homem é livre porque esta sua conduta é um ponto
terminal da imputação, embora seja causalmente determinada (Ibidem, p. 110).
Faz-se na obra também um cotejo entre normas hipotéticas e categóricas. As normas
hipotéticas ligam condicionalmente uma consequência a um pressuposto, aplica-se sobre estas
normas o princípio da imputação. Quanto às normas categóricas, sob uma primeira
perspectiva, pode parecer haver mesmo normas que, sob todas e quaisquer circunstâncias, sem
nenhum pressuposto, prescrevam de forma omissiva certas condutas, tais como não matar,
não mentir, não roubar etc., sendo que estas normas não se traduziriam pelo princípio da
imputação por não conectarem um pressuposto a uma consequência. Entretanto, sob uma
análise mais detida, o autor ressalta que tais normas não podem ser categóricas, haja vista
numa sociedade empírica não ser possível prescrever ações incondicionalmente, sem
quaisquer exceções, nem mesmo de forma omissiva:
14
Leia-se: “inserindo um ponto terminal entre pressuposto e consequência”.
30
[...] Também isto mostra que todas as normas gerais de uma ordem social empírica,
incluindo as normas gerais de omissão, apenas podem prescrever uma determinada
conduta sob condições ou pressupostos bem determinados, e que, por isso, toda
norma geral produz uma conexão entre dois fatos, [...] É esta, como se mostrou, a
expressão verbal do princípio da imputação [...] (Ibidem, p. 112).
Não obstante, acrescente-se que normas individuais (entendidas como as decisões
proferidas pelos tribunais direcionadas a um ou mais indivíduos) podem ter caráter categórico,
por prescreverem, autorizarem ou darem permissão15 positivamente a um indivíduo ou órgão
estatal sem vinculação a nenhum pressuposto.
Kelsen adverte para o problema de interpretar o dever-ser (a norma) como uma
ideologia. Essa interpretação conduz à conclusão de que não é possível uma ciência jurídica,
existindo apenas uma sociologia jurídica. Nega-se o conceito do dever-ser e conclui-se que os
atos de produção das normas jurídicas são meios para provocar nos indivíduos certa conduta:
[...] Vê-se no Direito – como relação entre os que fazem e os que executam as leis –
um empreendimento da mesma espécie que, v.g., o de um caçador que põe um
engodo à caça para assim a atrair para uma armadilha. Tal confronto é válido não só
enquanto o complexo motivatório é o mesmo, mas ainda na medida em que,
segundo a visualização do Direito em apreço, à apresentação do Direito como norma
(pelo legislador ou pela jurisprudência) subjaz um embuste ou ilusão. Deste ponto
de vista não “há” qualquer espécie de “normas”, e a afirmação de que isto ou aquilo
“deve ser” não tem qualquer sentido, nem mesmo qualquer específico sentido
jurídico-positivo diferente do sentido moral. Esta visualização apenas considera o
acontecer natural, inserto num nexo causal, toma os atos jurídicos apenas na sua
facticidade, mas já não toma em conta o específico teor de sentido com que eles nos
aparecem (Ibidem, p. 114).
Continuando, o autor diz que os juízos jurídicos não podem se reduzir a afirmar fatos
presentes ou futuros, nem mesmo o fato de que certas pessoas queiram que nos conduzamos
de determinada maneira; tais fatos são da ordem do ser e ultrapassam a função da ciência
jurídica:
[...] a Teoria Pura do Direito tem uma pronunciada tendência antiideológica.
Comprova-se esta sua tendência pelo fato de, na sua descrição do Direito positivo,
manter este isento de qualquer confusão com um Direito “ideal” ou “justo”. Quer
representar o Direito tal como ele é, e não como ele deve ser: pergunta pelo Direito
real e possível, não pelo Direito “ideal” ou ”justo”. Neste sentido é uma teoria do
Direito radicalmente realista, isto é, uma teoria do positivismo jurídico. Recusa-se a
valorar o Direito positivo. Como ciência, ela não se considera obrigada senão a
conceber o Direito positivo de acordo com a sua própria essência e a compreendê-lo
através de uma análise da sua estrutura. Recusa-se, particularmente, a servir
quaisquer interesses políticos, fornecendo-lhes as “ideologias” por intermédio das
quais a ordem social vigente é legitimada ou desqualificada. Assim, impede que, em
15
Como exemplo, a competência e dever conferidos ao Poder Judiciário para julgar os litígios.
31
nome da ciência jurídica, se confira ao Direito positivo um valor mais elevado do
que o que ele de fato possui, identificando-o com um Direito ideal, com um Direito
justo; ou que lhe seja recusado qualquer valor e, consequentemente, qualquer
vigência, por se entender que está em contradição com um Direito ideal, um Direito
justo. Por tal fato, a Teoria Pura do Direito surge em aguda contradição com a
ciência jurídica tradicional que – conscientemente ou inconscientemente, ora em
maior ora em menor grau – tem um caráter “ideológico”, no sentido que acaba de
ser explicitado. Precisamente através desta sua tendência antiideológica se revela a
Teoria Pura do Direito como verdadeira ciência do Direito (Ibidem, p. 118).
Neste capítulo III da Teoria Pura do Direito há determinadas passagens que
consideramos mais pertinentes à investigação proposta, reunindo vários conceitos já
trabalhados em Direito e Natureza, aplicados de uma forma mais aprofundada: Kelsen, após
ter alocado o direito diante das outras ciências, diferencia direito positivo de ciência jurídica um é o objeto de estudo do outro - e explica que a ciência jurídica possui um princípio
próprio, o princípio da imputação; salienta ainda a forma como o princípio da imputação
surgiu historicamente e desenvolveu-se a partir da regra de retribuição. Esse histórico
permitiu entender porque a ciência do direito é diferente das ciências regidas pelo princípio da
causalidade. Observa-se também uma diferença entre o ser e o dever-ser e os seus reflexos
sobre o esclarecimento dos métodos da ciência jurídica, que não se confundem com valores
sociológicos ou de justiça. A diferença de proposição jurídica para norma jurídica consiste na
separação dos conceitos do objeto de estudo (norma) e da ciência jurídica descritiva
(proposição). Por fim, a impossibilidade de considerar o direito positivo como uma forma de
ideologia foi um reforço final em defesa às suas ideias.
Feita esta apresentação, traremos em nosso segundo capítulo citações previamente
escolhidas para fazermos uma análise mais pontual. Como foi possível perceber, Kelsen trava
diálogo com a moral kantiana para além das páginas do capítulo Direito e Moral na Teoria
Pura do Direito. Embora o desejo de levantar todos os possíveis diálogos entre Kelsen e Kant
seja motivante, na presente dissertação procuraremos estritamente estudar as passagens da
Fundamentação da Metafísica dos Costumes citadas por Kelsen em Direito e Moral e do
apêndice à obra Teoria Pura do Direito, delimitadas à questão das inclinações e às páginas
relacionadas ao imperativo categórico kantiano.
32
2. KELSEN, UM LEITOR DE KANT
2.1. Direito e Moral na Teoria Pura do Direito
O capítulo II da Teoria Pura o Direito tem uma perspectiva mais estrita de discussão,
tanto que um de seus desdobramentos, a discussão entre direito e justiça, tornou-se o apêndice
à obra. O autor define aqui o que entende por “moral”, “direito”, “ética” e “ciência jurídica”.
Embora seja um capítulo curto em comparação aos demais, contém o objeto da nossa
investigação.
Hans Kelsen é considerado um neokantiano. Portanto, pode parecer incoerente ao
leitor ver adiante cotejos entre Kelsen e Kant, mas salientamos que ele não segue o
pensamento de Kant por completo. Em esclarecimento, seguem as seguintes palavras:
Kelsen pretendeu construir um conhecimento antimetafísico do direito assim como
Kant fizera no campo das ciências naturais. Mas não se pode confundir –
retornaremos a este ponto – a filosofia pura kantiana, seu criticismo transcendental
assumido por Kelsen, com sua filosofia jurídica, amplamente jusnaturalista e
metafísica. O Kant da Crítica da razão pura é peça fundamental para a Teoria Pura
do Direito, todavia o Kant da Crítica da razão prática, da Fundamentação da
metafísica dos costumes e da Metafísica dos costumes é, para Kelsen, apenas mais
um teórico jusnaturalista a ser criticado [...] (MATOS, 2006, p. 62, grifos do autor).
Esta discussão envereda-se pelas convergências e divergências existentes entre
jusnaturalismo e positivismo jurídicos. Em convergência, a obra kelseniana prevê que tanto o
jusnaturalismo quanto o positivismo têm um único aspecto em comum: a validade do direito
radica-se num elemento exógeno ao sistema jurídico. O jusnaturalismo fundamenta sua
validade em Deus, na natureza, na razão etc. e o positivismo fundamenta sua validade na
“grundnorm” – a norma fundamental. A divergência entre ambos é basilar: a norma
33
fundamental é jurídica16, diferentemente dos fundamentos de validade jusnaturalistas (Ibidem,
p. 244 e 246).
Gomes (2004, p. 277) também observa esta semelhança e afastamento paradoxais
entre as teorias kelseniana e kantiana e, em seguida, descreve:
Para Kelsen, a descrição que a Ciência do Direito opera é avalorativa, e por não
emitir juízos de valor acerca do conteúdo das normas ela considera, em sua
descrição, o valor jurídico, isto é, o valor contido na norma. O valor jurídico vem da
norma jurídica, e não de um ordenamento moral ou de uma idéia de justiça. Kelsen
separou os “valores de direito” dos “valores de justiça”. Os primeiros qualificam a
conduta dos “súditos” como jurídicas ou antijurídicas de acordo com as normas
postas. Os segundos referem-se às normas ou às pessoas que produzem as normas,
qualificando-as como justas ou injustas. [...]
[ ]
A concepção relativista de Kelsen tem seu oposto no idealismo kantiano. Kant
acredita ser a moral universal, independentemente da experiência, dada a priori para
todos os homens. Se a moral é universal, ou em outros termos, absoluta, ela pode
muito bem servir, como de fato, em Kant, serve, como critério de validade do direito
posto. Kelsen, que se filia ao pensamento kantiano em tantos pontos, neste momento
se afasta dele completamente (grifos do autor).
A pretensão do jusnaturalismo de conseguir uma legislação clara e precisa através da
reprodução do direito natural conduziu ao positivismo jurídico. O pressuposto histórico deste
processo está no fato de que o legislador não devia fazer mais do que traduzir em leis os
preceitos da razão, e a lei positiva não seria outra coisa além de declaração pública e
segurança coativa do direito natural. Em troca, sua conclusão foi que se entendera como fonte
de direito a própria vontade do legislador e, o direito natural, que durante algum tempo fora
entendido como a essência própria do Código, fora prontamente esquecido e depois rechaçado
e escarnecido (cf. FASSÒ, 1996, p. 24).
A teoria de Kelsen, por sua vez, veio para fortalecer o positivismo jurídico - a
justificação do direito com base na norma jurídica escrita. O positivismo (“lato sensu”)
iniciou-se com a vertente filosófica liderada por Augusto Comte, que considerava “ciência”
apenas o conhecimento proveniente das ciências naturais (empirismo) e das ciências formais
hipotético-dedutivas (a matemática e a lógica). Em seguida, passou-se a usar o termo
16
Jurídica, porém não positiva, pois não faz parte das leis escritas postas por um ordenamento jurídico.
Pressuposto lógico-condicional, que possibilita reconhecer uma ordem jurídica válida. Trata-se de condição,
diferente de um fundamento: tal como o nascimento é condição para viver. Este entendimento, contudo, não é
pacífico - há menção sobre pensadores contrários - Mario Losano e Jean Francois-Perrin (cf. MATOS, Andityas
Soares de Moura Costa. Filosofia do Direito e Justiça na Obra de Hans Kelsen. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2006, p. 69 e seguintes).
34
“positivismo” como um exemplo de uma postura epistemológica rigorosa; esta expressão foi
adotada abertamente pelo “Círculo de Viena”17 (cf. COELHO, 2000, p. 32 e 33). Esse
“positivismo” num primeiro momento, aplicado ao direito, suscitou a reivindicação de
legitimidade por parte da sociologia do direito como a autêntica ciência jurídica, porque
somente ela tinha como base fatos sociais verificáveis empiricamente. Kelsen reagiu a este
movimento sociológico-positivista, buscando firmar o positivismo jurídico no âmbito
hipotético-dedutivo. Para abstrair o aspecto factual e sociológico na criação do conhecimento
jurídico positivo ele teve que, metodológica e obrigatoriamente, partir da norma jurídica:
assim criou sua teoria (cf. MACHADO, 2009, p. 7 e 8).
Na Teoria Pura do Direito, tanto a moral quanto o direito são normas (ou ordens)
sociais. Essas normas sociais têm disciplinas específicas voltadas ao seu estudo: a ética e a
ciência jurídica, respectivamente. Faz-se importante não confundir o estudo da moral com o
estudo do direito porque a justiça é, segundo Kelsen, uma exigência da moral e, ao confundir
os conceitos, a pureza de método da ciência jurídica fica prejudicada. Em resumo, para uma
possível distinção entre moral e direito, segundo o autor, não se pode levar em consideração
os tipos de condutas a que ambos obrigam, pois estes podem coincidir - deveres morais
podem ser também deveres jurídicos. Não podemos também afirmar que a moral prescreve
uma conduta interna e o direito uma conduta externa - pois o direito pode proibir com base na
conduta interna, ou seja, na intenção de produzir um resultado; por exemplo: dolo ou culpa. A
produção ou aplicação das normas também não são critérios de distinção entre o direito e a
moral. Ambos podem ser elaborados por uma produção consciente (como a moral religiosa,
criada por um fundador) ou pelo costume. O conteúdo das condutas também não deve ser
levado em conta nesta distinção (cf. KELSEN, 1996, p. 67).
17
Em 1918 Hans Kelsen tornou-se professor associado da Universidade de Viena e no ano seguinte titulou-se
professor de Direito Público e Administrativo. Teve sucesso ao criar um círculo de acadêmicos (colegas e
alunos) com pensamentos em comum, pois o modernismo vienense desenvolvia-se em círculos como este
descrito. O círculo criado por Hans Kelsen ficou conhecido como a Escola de Viena (Escola de Teoria Legal de
Viena), que co-existia com outros grupos, dentre eles o Círculo de Viena (neo-positivista), formada por
economistas políticos neoliberais. A Escola de Viena pregava que não era possível entender as normas jurídicas
– pertencentes ao reino do “dever” - por meios empíricos, sendo considerada assim uma Escola “normativista”.
Já o Círculo de Viena, no entanto, focava o desenvolvimento de uma “ciência unificada”, modelada sobre o
empirismo lógico, onde as normas ou proposições sobre fatos sociais seriam permitidos, porém teriam a natureza
de predições que poderiam ser constatadas pela observação. (cf. CLEMENS, Jaboner. Kelsen and his Circle: The
Viennense Years. In: European Journal of International Law, vol. 9, nº 2, Symposium: The Changing Structure
of International Law Revisited [Part 4], 1998 e LAVADAC, Nicoletta Bersier. Hans Kelsen [1881 – 1973]
Biographical Note and Bibliography. In: European Journal of International Law, vol. 9, nº 2, Symposium: The
Changing Structure of International Law Revisited [Part 4], 1998, compilação e traduções nossas).
35
Destacaremos adiante dois argumentos kelsenianos da Teoria Pura do Direito: um do
seu próprio texto – que traz a ideia da ação realizada por inclinação -, e outro - que discorre
sobre o imperativo categórico kantiano – extraído do apêndice à obra. O primeiro argumento
kelseniano atribui a Kant a ideia de que uma ação moral só se realiza quando contraria uma
inclinação natural e o segundo argumento apresenta o imperativo categórico kantiano como
uma fórmula vazia, sem conteúdo - ambos serão pormenorizados adiante.
2.2. O papel das inclinações para a ação moral segundo Hans Kelsen
Uma vez exposto não ser possível estabelecer uma diferença entre direito e moral com
base na prescrição de uma conduta interna, Kelsen passa a aprofundar a discussão, afirmando
que:
[...] A conduta “interna”, que a Moral, diferentemente do Direito – segundo o ponto
de vista de muitos filósofos moralistas -, exige, deverá consistir em uma conduta
que, para ser moral, terá de ser realizada contra a inclinação ou – o que é o mesmo –
contra o interesse egoístico (Ibidem, p. 68).
Kelsen atribui este conceito (agir contra a inclinação) a Kant, inserindo duas notas no
final do livro que transcreveremos a seguir:
3. Esta é, como se sabe, a doutrina ética de Kant. Cf. Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten. Obras completas de Kant, editadas pela Königlich Preussischen
Akademie der Wissenschaften, vol. IV, pp. 397 e ss. (Ibidem, p. 405, grifo do autor).
4. Kant, op. cit., p. 398: “Eu afirmo, porém, que, na hipótese de uma ação desta
espécie (quando é realizada por inclinação), por mais que tal ação seja conforme ao
dever, por mais que ela seja merecedora de estima, não tem, no entanto, qualquer
verdadeiro valor moral...” (IBIDEM, KANT apud KELSEN, op. cit., p. 405).
Alguns autores pensam sobre esse ponto de maneira idêntica à kelseniana. Um
exemplo disso é Pascal (2007, p. 143), que concorre com essa interpretação, chegando a
afirmar o efeito da lei moral consiste também em contrariar as inclinações:
Não nos é dado saber de que modo a lei moral é, em si mesma e imediatamente,
princípio determinante da vontade, mas, pelo menos, podemos saber o que se passa
ou deveria passar-se no espírito quando a vontade é assim determinada pela lei. As
análises de Kant, apoiadas em grande número de exemplos, são aqui de uma
36
penetração e de uma riqueza psicológicas notáveis. Só podemos destacar-lhes o
tema essencial.
[ ]
O efeito da lei moral, enquanto móvel, é antes de tudo de natureza negativa: consiste
em contrariar as inclinações de nossa sensibilidade, dando origem a um sentimento
de dor [...] (grifo nosso).
Gomes (2004, p. 122), não obstante, ao explicar quais são os tipos de imperativos,
refere-se às inclinações na ação moral seguindo o mesmo sentido kelseniano: “[...] O
imperativo categórico é, pois, o mandamento da moralidade, que traz consigo a necessidade
incondicionada de obediência, mesmo contra as inclinações [...] (grifo nosso).”
Não nos parece suficiente, todavia, apenas afirmar que a ação moral kantiana resumese a contrariar as inclinações. Por isso apresentamos acima as citações feitas por Kelsen e
trouxemos a sua interpretação para discussão. Nosso próximo capítulo será então dedicado a
demonstrar que o fator determinante da ação moral kantiana não é essa contrariedade ditada
por Kelsen, e o faremos seguindo inicialmente o estudo da Fundamentação da Metafísica dos
Costumes.
Kelsen, embora considerando psicologicamente impossível a exigência de uma ação
que não se relacione com as inclinações ou interesses egoísticos, concebe a possível
existência de uma distinção entre direito e moral. Ele explica que uma ordem social não tem
como obstar as inclinações ou interesses egoísticos dos homens, mas pode, para ser eficaz,
provocar intencionalmente certas inclinações nos homens para que ajam em harmonia com os
seus preceitos. Agir contra o interesse egoístico ou inclinação é, portanto, um tipo de norma
moral que se refere aos motivos da conduta, só que isso tudo requer outra ordem social que
regule a conduta externa – o direito. Coelho (2000, p. 44), interpretando esta colocação, a
descreve da seguinte forma:
A antropologia kelseniana considera o homem naturalmente inclinado a perseguir
apenas a satisfação de interesses egoístas. O estabelecimento de uma ordem social
não altera esta realidade natural. Ou seja, a vontade de alguns homens, os
responsáveis pela definição das normas jurídicas ou mesmo morais, não pode mudar
a natureza humana. É necessário que as consequências, normativamente estabelecida
para as condutas indesejadas, levem o homem a considerar menos vantajoso, sob o
seu individual ponto de vista, a transgressão à norma. Desse modo, evitaria se
comportar de acordo com a sua primeira inclinação natural, para ponderar as
vantagens e desvantagens da obediência à ordem social. [...]
37
Um critério essencial para distinguir direito e moral é a forma de prescrever ou proibir
certas condutas, pois a moral proíbe apenas aprovando ou desaprovando determinadas
condutas humanas, sem nem levar em conta empregar a força física. O direito, por seu turno,
é uma ordem de coação – visando “[...] obter uma determinada conduta humana ligando à
conduta oposta um ato de coerção socialmente organizado [...] (KELSEN, op. cit., p. 71)”.
O autor nos traz duas questões que surgem ao relacionarmos direito e moral. Segundo
ele, a confusão entre as duas pode conduzir a equívocos. A primeira questão diz respeito à
relação que de fato existe entre as duas ordens; aqui nos referimos ao direito como sendo por
sua essência moral, ou seja, as condutas prescritas pelo direito correspondem exatamente às
prescrições das condutas morais (neste caso o direito é considerado justo ou injusto conforme
sua correspondência com a moral). Já a segunda questão refere-se à relação que deve existir
entre direito e moral – o direito pode ser moral, não tem necessariamente de o ser –
admitindo-se a exigência de que o direito deva ser moral. Kelsen atribui à primeira
possibilidade desta relação uma justificação do direito pela moral, isso identifica direito e
justiça, pois se considera o direito através de seu conteúdo moral, ou ainda:
[...] Na medida em que uma tal tese vise uma justificação do Direito – e é este o seu
sentido próprio -, tem de pressupor que apenas uma Moral que é a única válida, ou
seja, uma Moral absoluta, fornece um valor moral absoluto e que só as normas que
correspondam a esta Moral absoluta e, portanto, constituam o valor moral absoluto,
podem ser consideradas “Direito”. Quer dizer: parte-se de uma definição do Direito
que o determina como parte da Moral, que identifica Direito e Justiça (Ibidem, p. 72,
grifo do autor).
Diante da exposição feita, percebe-se que um valor moral absoluto, que exclua
qualquer outro, só pode ser concebido se for baseado numa crença religiosa fundada na
autoridade transcendente e absoluta divina. Dentro de diversos setores de um mesmo povo há
sistemas morais diferentes e contraditórios entre si. Impõe-se, outrossim, um valor moral
relativo. Não há, portanto, como identificar um elemento moral comum a todos os diferentes
povos, épocas e lugares:
[...] Em vista, porém, da grande diversidade daquilo que os homens efetivamente
consideram como bom e mau, justo e injusto, e diferentes épocas e nos diferentes
lugares, não se pode determinar qualquer elemento comum aos conteúdos das
diferentes ordens morais. [...] Com efeito, quando não se pressupõe qualquer a
priori como dado, isto é, quando se não pressupõe qualquer valor moral absoluto,
não se tem qualquer possibilidade de determinar o que é que tem de ser havido, em
todas as circunstâncias, por bom e mau, justo e injusto (Ibidem, p. 73, grifo do
autor).
38
Dentre os diversos sistemas de moral, a forma é o que há de necessariamente comum
entre eles. A forma é o dever-ser, o caráter de norma. A conduta será moralmente boa ou má
conforme sua correspondência com uma norma moral: “[...] o valor moral relativo é
constituído por uma norma social que estabelece um determinado comportamento como
devido (devendo-ser). Norma e valor são conceitos correlativos (Idem, p. 74).” A questão da
relação entre o direito e a moral é, sob os pressupostos anteriores, uma questão de forma e não
de conteúdo. Todo o direito constitui um valor moral que é relativo (dever-ser moral). Desta
forma, o direito constitui um valor jurídico18 ao mesmo tempo em que corporiza um valor
moral que é relativo. As citações acima demonstram a relatividade e o caráter empírico da
moral em Kelsen.
Com base na relatividade da moral, Kelsen diferencia que, ter o direito, supostamente,
um caráter moral ou ser moral (ter conteúdo essencialmente moral), não é dizer o mesmo que
o direito deva-ser moral. Afirmar que o direito deve-ser moral significa, conforme já exposto,
ter como pressuposto um valor moral relativo:
[...] Quando uma teoria do Direito positivo propõe distinguir Direito e Moral em
geral e Direito e Justiça em particular, para não os confundir entre si, ela volta-se
contra a concepção tradicional, tida como indiscutível pela maioria dos juristas, que
pressupõe que apenas existe uma única Moral válida – que é, portanto, absoluta – da
qual resulta uma Justiça absoluta. [...] Se, pressupondo a existência de valores
meramente relativos, se pretende distinguir o Direito da Moral em geral e, em
particular, distinguir o Direito da Justiça, tal pretensão não significa que o Direito
nada tenha a ver com a Moral e com a Justiça, que o conceito de Direito não caiba
no conceito de bom. Na verdade, o conceito de “bom” não pode ser determinado
senão como “o que deve ser”, o que corresponde a uma norma. Ora, se definimos
Direito como norma, isto implica que o que é conforme-ao-Direito (das
Rechtmässige) é um bem (Ibidem, p. 75, grifo do autor).
Para ilustrar esta colocação, ele sugere que seja feita uma separação entre direito e
moral e direito e justiça; essa separação possibilita haver um direito válido, que não se
submete ao dever-ser justo, independentemente de sua concordância ou discordância a uma
moral absoluta. Assim, ao afirmarmos que o direito é imoral ou mau é o mesmo que constatar
que ele não é compatível com um ou mais dos sistemas morais válidos. Assim, o direito pode
ser julgado como justo por um sistema moral enquanto pode, ao mesmo tempo, ser julgado
como injusto por outro, sendo ambos os sistemas morais válidos (Ibidem, p. 76).
18
Tomemos este conceito de valor jurídico como um valor constituído através de uma norma legislada por um
ato de vontade humana em conformidade com uma norma objetivamente válida (norma fundamental).
39
A legitimação do direito por outra ordem social (leia-se moral) é irrelevante para
Kelsen, porque a ciência jurídica não se aplica neste mérito, ela somente busca conhecer e
descrever as normas jurídicas, de forma alheia aos valores. O cientista do direito não pode
nem mesmo identificar-se com o valor jurídico que descreve em seu estudo. Esta é a
importância de diferenciar a ética - que se volta a conhecer e descrever as normas morais – da
ciência jurídica. Isso permite à ciência jurídica chegar à conclusão que uma norma jurídica
pode ser válida ainda que contrarie a ordem moral, pois esta é relativa. Em uma síntese, o
autor descreve os motivos da rejeição do valor moral para uma justificação do direito:
A tese de que o Direito é, segundo a sua própria essência, moral, isto é, de que
somente uma ordem social moral é Direito, é rejeitada pela Teoria Pura do Direito,
não apenas porque ela na sua efetiva aplicação pela jurisprudência dominante numa
determinada comunidade jurídica, conduz a uma legitimação acrítica da ordem
coercitiva estadual que constitui tal comunidade. Com efeito, pressupõe-se como
evidente que a ordem coercitiva estadual própria é Direito. O problemático critério
de medida da Moral absoluta apenas é utilizado para apreciar as ordens coercitivas
de outros Estados. Somente estas são desqualificadas como imorais [...] Como,
porém, a nossa própria ordem coercitiva é Direito, ela tem de ser, de acordo com a
dita tese, também moral. Uma tal legitimação do Direito positivo pode, apesar da
insuficiência lógica, prestar bons serviços. Do ponto de vista da ciência jurídica ela é
insustentável (Ibidem, p.78).
Apontados os argumentos kelsenianos que afrontam a moral kantiana na Teoria Pura
do Direito, seguiremos para a análise detalhada que Kelsen faz sobre o imperativo categórico
de Kant em seu apêndice à obra.
2.3. O imperativo categórico de Kant: Kelsen e o problema das máximas
Neste apêndice à Teoria Pura do Direito, cujo nome é A Justiça e o Direito Natural,
Kelsen faz uma análise mais detida sobre o imperativo categórico de Kant. Inicia com uma
classificação das normas de justiça em dois grandes grupos: do tipo racional e do tipo
metafísico. É importante entendermos esta classificação para sabermos porque Kelsen insere a
moral kantiana no tipo racional:
As normas de justiça do tipo metafísico caracterizam-se pelo facto de se
apresentarem, pela sua própria natureza, como procedentes de uma instância
transcendente, existente para além de todo o conhecimento humano experimental
40
(baseado sobre a experiência), pelo que pressupõem essencialmente a crença na
existência de uma tal instância transcendente. Estas normas são metafísicas não só
pelo que toca à sua proveniência, mas ainda pelo que respeita ao seu conteúdo, na
medida em que não podem ser compreendidas pela razão humana.
[...]
As normas de justiça do tipo aqui designado como <<racional>> – por
contraposição ao <<metafísico>> - são caracterizadas pelo facto de não pressuporem
como essencial qualquer crença na existência de uma instância transcendente, pelo
facto de poderem ser pensadas como estatuídas através de actos humanos postos no
mundo da experiência e poderem ser entendidas pela razão humana, isto é, ser
concebidas racionalmente [...] (KELSEN, 2009, p. 52, grifos do autor).
Antes de expor sua leitura e interpretação do imperativo categórico, Kelsen apresenta
duas fórmulas de justiça, que funcionam como uma introdução ao raciocínio. A primeira delas
é a fórmula do “suum cuique”, que é a de “dar a cada um o que é seu”. Para o autor, tal
fórmula conduz a uma tautologia, pois a questão de saber o que é de cada um não é
determinada pela própria norma, mas sim uma ordem normativa que estabeleça o que é de
cada um por direito. A ordem normativa, neste caso, utiliza-se da fórmula “suum cuique”
apenas como norma (ou princípio) norteadora (or) de justiça (Ibidem, p. 53).
A segunda é a fórmula da “regra de ouro” (ou “regra de oiro”): “tratarmos os outros tal
como queremos ser tratados”. A falha desta fórmula, cuja natureza Kelsen diz ser semelhante
à anterior, é a existência de um critério subjetivo (“- Como quero ser tratado?”) que é imposto
aos demais; em outras palavras, as pessoas não têm um consenso sobre uma mesma forma de
tratamento. O que é considerado bom para um pode não ser bom para outro, gerando
conflitos. A sugestão seria tomar a fórmula não ao pé da letra, mas sim: tratar os outros como
“devemos querer” ser tratados, segundo uma norma geral aplicável não somente a nós, como
também aos demais. O problema torna-se determinar qual seria o conteúdo desta norma geral,
o que a fórmula não explica (Ibidem, p. 54).
Kelsen passa então à fórmula de Kant e começa asseverando que o imperativo
categórico é semelhante à regra de ouro: não fazer ao outro o que não quer que te façam a ti.
Diz ainda que no imperativo categórico (princípio geral e supremo da moral) há implícito o
princípio da justiça e, que através deste princípio, o imperativo categórico responderia à
questão de como devemos nos conduzir para agir moralmente bem:
[...] Esta resposta diz: ages moralmente bem quando actuas segundo uma máxima da
qual possas querer que ela se transforme numa lei universal. Aqui <<máxima>> é a
regra segundo a qual se propõe ou se predispõe a agir, é a <<lei universal>>, a
norma geral segundo a qual ele deve agir (Ibidem, p. 57, grifos do autor).
41
Objetando essa concepção kantiana ele afirma que, se o verbo que rege tal ação é o
“poder”, o resultado nem sempre seria uma ação moralmente boa, pois um homem “pode”
querer que toda e qualquer máxima se torne uma lei universal. Assegura ser isso possível,
embora seja censurável; para ele, Kant crê poder demonstrar que uma máxima imoral seria
contraditória em si mesma, mas Kelsen diz que, em verdade, há contradição entre duas
máximas e não da máxima imoral consigo mesma. Sob esta interpretação kelseniana, uma
máxima imoral não poderia ser elevada a uma lei universal porque pressuporia outra máxima,
que é moral, e que deve ser obedecida (Ibidem, p. 58).
Para ilustrar, Kelsen traz os exemplos kantianos: de querer o suicídio quando a vida
tornar-se insuportável; de fazer uma promessa com a intenção de não cumpri-la; de tomar
dinheiro emprestado sabendo que não se pode restituí-lo; de buscar o prazer ao invés de
aperfeiçoar as disposições naturais humanas; e o de contribuir com o próprio bem-estar e não
importar-se com o bem estar alheio. Para ele o erro em que Kant incorre consiste em afirmar
que estas máximas se contradiriam, quando na realidade são pressupostas outras máximas
ocultas que consideram os exemplos anteriores como imorais: a conservação da vida diante do
suicídio; a obrigação de cumprir promessas diante da quebra de promessas; a obrigação de
devolver dinheiro emprestado diante do empréstimo; a necessidade de desenvolver as
faculdades naturais ou pessoais diante da busca exclusiva do prazer e, por fim, a obrigação de
importar-se com os outros diante do egoísmo. Segue abaixo um dos exemplos:
[...] É patente que um egoísta pode querer uma lei universal do egoísmo e,
simultânea e consequentemente, renunciar à ajuda dos outros, podendo, portanto,
querer sem contradição que a sua máxima se torne uma lei universal. A contradição
que aqui surge é a contradição entre a máxima e a uma lei moral pressuposta por
KANT, por força da qual devemos contribuir para o bem estar dos outros. Só desta
pressuposição, e não do imperativo categórico, se segue que o homem não
<<pode>> querer, ou seja, afinal, não deve querer, que o princípio do egoísmo se
torne uma lei universal (Ibidem, p. 60).
Façamos um complemento: Kelsen acredita que Kant estabelece valores morais préconcebidos que entram em conflito imediato com outros valores considerados imorais e que,
por não dar-se conta desta oposição, afirma que os valores imorais se contradizem por si
mesmos. A conclusão a que chega Kelsen é que a locução verbal “poder querer” que a
máxima se torne lei universal, na verdade é “dever querer”, porquanto pressupõe um dever
moral oculto, que é outra máxima que se contrapõe a uma máxima considerada imoral:
42
É, assim, patente que, com o <<poder querer>> do imperativo categórico, se quer
significar um <<dever querer>>, que o verdadeiro sentido do imperativo categórico
é: Actua segundo uma máxima da qual devas querer que ela se transforme numa lei
universal. Mas, de que máxima devo eu querer e de que máxima devo eu não querer
que ela se torne numa lei universal? A esta questão não dá o imperativo categórico
qualquer resposta (Idem, Ibidem, grifos do autor).
Deste problema indicado resulta que, como o imperativo categórico não determina
qual máxima pode ser elevada a uma lei universal, ele só reconduz à fórmula e, outrossim,
nada mais é senão uma conformidade da ação com a lei universal, esta que exprime uma
“forma de lei”, ou seja, um dever-ser que toda norma possui. Assim, a questão decisiva –
saber qual o conteúdo da lei universal – não é respondida. Isso apenas demonstra que o
imperativo categórico possui uma vacuidade (ou seja, não pressupõe um conteúdo) como
característica intrínseca, o que Kant, pelo menos indiretamente, assume:
Isto não só resulta dos exemplos que o próprio Kant aponta, como também é por ele
reconhecido – pelo menos indirectamente – quando declara <<que não é, pois,
necessária qualquer ciência ou filosofia para sabermos o que temos a fazer, para
sermos honrados e bons, para sermos até sábios e virtuosos >>, << que o
conhecimento daquilo que se deve fazer compete, portanto, a qualquer homem,
mesmo ao mais vulgar>>; quando pergunta a sério se não seria mais aconselhável
<<deixar as coisas morais ao comum juízo da razão (ao senso comum) e apenas
utilizar a filosofia, quando muito, para ... descrever o sistema moral (System der
Sitten) por maneira mais acabada e compreensível>>. Por outras palavras: o que é
bom e o que é mau compreende-se de per si (é de per si evidente). Esta questão não
precisa de ser respondida por uma ciência da moral (KANT, Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten. Obras completas de Kant, editadas pela Königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften, vol IV, p. 421 e 404, respectivamente
apud KELSEN, op. cit., p. 62, grifos do autor).
Esta apresentação de Direito e Moral na Teoria Pura do Direito e seu apêndice sobre
a justiça buscou criar as bases para nossa discussão, onde incluímos as citações necessárias à
nossa investigação, especificamente. O intuito foi tentar demonstrar como Kelsen explica as
relações entre direito e moral. Percebemos que uma moral absoluta é incompatível com a
existência de um direito isento de interferências, o que confunde o objeto da ciência jurídica.
Pudemos também auferir os conceitos e as diferenças entre ciência jurídica e ética. Vimos que
a discussão sobre uma justificação ou valoração do direito pela moral leva a uma discussão
sobre a justiça e o direito, o que segundo o autor é o caminho que a jurisprudência (doutrina
jurídica) de sua época considerava como método de análise.
Denota-se como evidente que Kelsen toma como mais apropriado e legítimo um juízo
relativo de valor moral (moral relativa), porém destacamos possibilidades de se entender a
43
moral, ainda que atualmente, dentro das questões levantadas, sob uma ótica kantiana:
procuraremos demonstrar primeiramente que, diferente do que afirma Kelsen, Kant propõe
uma abstração das inclinações para considerar se a ação é ou não moral através do uso da
razão, sem levar em consideração a contrariedade das inclinações e; pretendemos trazer
argumentos suficientes para provar também que a interpretação feita por Kelsen do conceito e
do papel da máxima no imperativo categórico kantiano é superficial, fazendo-o incorrer na
suposição de que toda e qualquer máxima possa ser elevada a uma lei universal. Assim,
criamos a possibilidade de conceber uma ciência jurídica que não se submeta exclusivamente
à metodologia kelseniana, abrindo campo para uma valoração do direito.
44
3. KELSEN À LUZ DE KANT
No presente capítulo procuraremos desenvolver alguns apontamentos dentro dos
limites temáticos levantados por Kelsen (a questão das inclinações e do imperativo
categórico), introduzindo na discussão a teoria moral de Kant, com o auxílio de alguns
comentadores. Em seguida, apresentaremos uma interpretação contemporânea da moral
kantiana que enfatiza o uso público da razão (O’Neill, 1989, 2004), para assim sugerir uma
possibilidade de concebermos a ciência jurídica mais afastada do âmbito hipotético-dedutivo,
permitindo assim uma razoável valoração sobre o direito.
3.1. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785): valor moral da ação
Iniciaremos com o prefácio da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes,
onde Kant expõe a necessidade indispensável de haver uma Metafísica dos Costumes:
[...] não só por motivos de ordem especulativa para investigar a fonte dos princípios
práticos que residem a priori na nossa razão, mas também porque os próprios
costumes ficam sujeitos a toda sorte de perversão enquanto lhes faltar aquele fio
condutor e norma suprema do seu exacto julgamento. Pois que aquilo que deve ser
moralmente bom não basta que seja conforme à lei moral, mas tem também que
cumprir-se por amor dessa mesma lei; caso contrário, aquela conformidade será
apenas muito contingente e incerta, porque o princípio imoral produzirá na verdade
de vez em quando acções conforme à lei moral, mas mais vezes ainda acções
contrárias a essa lei. Ora a lei moral, na sua pureza e autenticidade (e é exactamente
isto que mais importa na prática), não se deve buscar em nenhuma outra parte senão
numa filosofia pura, e esta (Metafísica) tem que vir portanto em primeiro lugar, e
sem ela não pode haver em parte alguma uma Filosofia moral; e aquela que mistura
os princípios puros com os empíricos não merece mesmo o nome de filosofia [...]
(KANT, 1960, p. 16, grifos do autor).
O objetivo de Kant expresso no prefácio é a busca e a fixação do princípio supremo da
moralidade, partindo da Transição do conhecimento moral da razão vulgar para o
conhecimento filosófico, em seguida de uma Transição da filosofia moral popular para a
45
Metafísica dos Costumes e por fim a Transição da Metafísica dos Costumes para a Crítica da
Razão Pura Prática (Ibidem, p. 19).
Kant começa sua exposição com o conceito de boa vontade (uma vontade boa em si
mesma, não relacionada a fins ou inclinações naturais, incondicionada)19, um conceito que ele
afirma já residir na razão vulgar, e que precisa apenas ser esclarecido, não ensinado. Para
tanto, surge a necessidade de trabalhar o conceito de dever, que contém em si o conceito de
boa vontade e que facilita seu entendimento.
A afirmação que o incondicionalmente bom é a boa vontade tem implicitamente uma
definição: o “moralmente bom” significa “incondicionalmente bom”. O problema que surge é
que os conceitos de boa vontade e de dever não têm o mesmo conteúdo. A boa vontade só
inclui o conceito de dever condicionada a certas limitações e impedimentos subjetivos. Só
cabe falar em dever quando, além de um querer bom, há também um querer mal – algo que se
dá em todo ser racional (neste caso, o homem) que também tem motivações sensíveis. Não
basta cumprir o dever moral por qualquer motivação e a moral não consiste na mera
conformidade com o dever (que Kant chama legalidade). A moralidade, a bondade
incondicional, só se realiza quando se faz o que é justo por ser moralmente correto e porque
se quer o próprio dever e se cumpre este como tal (cf. HÖFFE, 1986, p. 167).
Paton (1971, p. 46) entende que Kant, no lugar de esclarecer a natureza da boa
vontade, se propõe a examinar o conceito de dever. Uma boa vontade é a que age sob respeito
ao dever. A própria ideia de dever traz consigo o pensamento de superação de desejos e
inclinações. Uma vontade perfeita (ou divina, segundo Kant) se manifesta propriamente em
atitudes boas, sem a necessidade de reprimir, superar ou refrear inclinações naturais: a
vontade de Deus é divina e Ele não age por dever. Mas Kant se dirige às criaturas finitas
(seres racionais, homens), que possuem influências de inclinações e desejos que podem ser
obstáculos ou impedimentos para a boa vontade que neles existe. A boa vontade sob
condições humanas é aquela que age, portanto, por dever. Segue abaixo mais alguns
esclarecimentos acerca do termo “vontade” em Kant, de acordo com Höffe (op. cit., p. 164):
19
Vontade é: “[...] a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade com a representação de
certas leis (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Coimbra,
Portugal: Edições 70, 1960, p. 67, grifo do autor).”
46
[...] É verdade que às vezes entendemos a palavra <<vontade>> em outro sentido,
como impulso procedente de dentro, diferente do impulso ou pressão que vem de
fora. Em tal sentido também os seres naturais têm uma vontade enquanto seguem
seus próprios impulsos e necessidades. Mas Kant entende o termo vontade em um
sentido mais estrito, e isto por boas razões.
[ ]
Os impulsos e necessidades têm de fato nos seres naturais o significado de pautas
que regem a conduta necessariamente. Como seu impulso é uma exigência interna,
os seres naturais só possuem vontade em um sentido metafórico. Seguem seus
próprios impulsos, não uma vontade própria, mas a <<vontade da natureza>>.
Apenas a capacidade de agir segundo leis autopropostas permite falar de uma
verdadeira vontade (grifos do autor).20
Para Kant, como veremos abaixo, somente a ação realizada por dever é moral. É
exatamente neste ponto que surge a passagem destacada por Kelsen, em que a ação caridosa
ou compassiva é realizada por um sujeito que tem inclinação imediata a fazê-la, quer seja pelo
prazer que busca na ação ou pelas honrarias (prêmios, elogios, status) que auferirá diante da
comunidade ou da sociedade. Kant afirma não ter valor moral tal ação, por mais conforme ao
dever que seja.
Na Fundamentação da Metafsica dos Costumes, em sua primeira seção, três
proposições apresentam-se relacionadas ao dever: a primeira proposição, obtida com base em
exemplos como os que Kelsen utilizou, é a de que numa ação com conteúdo moral faz-se o
bem não por inclinação, mas por dever. A segunda proposição tem relação com o valor moral
de uma ação, este que não depende da intenção ou do fim a ser alcançado, mas da máxima
(princípio subjetivo do querer21) que o determina. Daqui extraímos uma orientação mais
detalhada: a vontade do sujeito que age fica entre seu princípio “a priori” (formal)22 e seu
20
“[...] Es verdad que a veces entendemos la palabra <<voluntad>> en otro sentido, como impulso
procedente de dentro, a diferencia del impulso o presión que viene de fuera. En tal sentido también los seres
naturales tienen una voluntad en cuanto que siguen sus proprios impulsos y necessidades. Pero kant entiende el
término voluntad en un sentido más estricto, y esto por buenas razones.
[ ]
Los impulsos y necesidades tienen en efecto en los seres naturales el significado de pautas que rigen la conducta
necesariamente. Como su impulso es una urgencia interna, los seres naturales sólo poseen voluntad en un
sentido metafórico. Siguen sus proprios impulsos, mas no una voluntad propia, sino la <<voluntad de la
naturaleza>>. Sólo la capacidad de obrar según leyes autopropuestas permite hablar de una verdadera
voluntad (HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Trad. (espanhol) Diorki. Espanha, Barcelona: Editorial Herder,
1986, p. 164, tradução - para o português - nossa, grifos do autor).”
21
Vale destacar que na filosofia prática kantiana a máxima é o princípio subjetivo do querer e na filosofia teórica
as máximas da razão são os princípios subjetivos inferidos do interesse da razão por certa perfeição possível do
conhecimento de um objeto.
22
Sobre os termos “a priori” e “a posteriori”: “Mas embora todo o nosso conhecimento comece com a
experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. [...] Portanto, é pelo menos uma questão
que requer uma investigação mais pormenorizada e que não pode ser logo despachada devido aos ares que
ostenta, a saber se há um tal conhecimento independente da experiência e mesmo de todas as impressões dos
sentidos. Tais conhecimentos denominam-se a priori e distinguem-se dos empíricos, que possuem suas fontes a
47
móbil (ou inclinação) “a posteriori” (material)23 e, para ser moral, terá de ser determinada
especificamente pelo seu princípio formal (“a priori”) do querer; abstrai-se, assim, o
princípio material (sensível ou empírico - subsistindo o princípio formal) do fundamento de
determinação da ação para que ela tenha o conteúdo moral (cf. KANT, 1960, p. 29 e 30).
Já a terceira proposição kantiana refere-se ao dever como a necessidade de uma ação
por respeito à lei (princípio objetivo do querer), segundo suas palavras:
[...] Só pode ser objecto de respeito e portanto mandamento aquilo que está ligado à
minha vontade somente como princípio e nunca como efeito, não aquilo que serve à
minha inclinação mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do cálculo na
escolha, quer dizer a simples lei por si mesma. Ora, se uma acção realizada por
dever deve eliminar totalmente a influência da inclinação e com ela todo o objecto
da vontade, nada mais resta à vontade que a possa determinar do que a lei
objectivamente, e subjectivamente, o puro respeito por esta lei prática, e por
conseguinte a máxima que manda obedecer a essa lei, mesmo com prejuízo de todas
as minhas inclinações (Ibidem, p. 31).
Ora, onde reside então o valor moral da ação? Certamente não consiste no efeito
esperado dessa ação, nem em um móbil ou inclinação, pois estes valores seriam alcançados
por outras causas (naturais ou instintivas, por exemplo) e sob essas circunstâncias o homem ser racional - não precisaria valer-se da lei que ele próprio representa para determinar a sua
vontade e encontrar o bem supremo e incondicionado. Assim o valor moral da ação, contido
nesta lei que o homem se representa através da razão para determinação da sua vontade,
consiste em: “[...] devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha
máxima se torne uma lei universal. [...] (Ibidem, p. 33, grifo do autor).”
Feita a introdução à boa vontade, ao dever e ao valor moral, além de já termos
apresentado a fórmula do imperativo categórico, seguiremos para os conceitos da moral
kantiana relativos aos pontos debatidos por Kelsen, especificamente os apresentados no
capítulo anterior: a questão das inclinações na ação moral e das máximas no imperativo
categórico, respectivamente.
3.1.1. As inclinações e o método de isolamento de Immanuel Kant
posteriori, ou seja, na experiência (KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Valerio Rohden e Udo
Baldur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 53, grifos do autor).”
23
Ibidem.
48
O primeiro ponto apontado por Kelsen, conforme destacamos em nosso segundo
capítulo, refere-se às motivações (ou inclinações sensíveis) e suas influências sobre a ação
moral em Kant. Reiteremos sua posição: para Kelsen, uma ação no sentido kantiano só teria
valor moral quando realizada contra as inclinações (sensíveis, ou naturais) do sujeito.
O trecho em questão segue agora transcrito abaixo, porém tivemos o cuidado de inserilo em seu respectivo parágrafo da Fundamentação da Metafísica dos Costumes24:
Ser caritativo quando se pode sê-lo é um dever, e há além disso muitas almas de
disposição tão compassiva que, mesmo sem nenhum outro motivo de vaidade ou
interesse, acham íntimo prazer em espalhar alegria à sua volta e se podem alegrar
com o contentamento dos outros, enquanto este é obra sua. Eu afirmo porém que
neste caso uma tal acção, por conforme ao dever, por amável que ela seja, não tem
contudo nenhum verdadeiro valor moral (grifo nosso), mas vai emparelhar com
outras inclinações, por exemplo o amor das honras que, quando por feliz acaso topa
aquilo que efectivamente é de interesse geral e conforme ao dever, é
consequentemente honroso e merece louvor e estímulo, mas não estima; pois à sua
máxima falta o conteúdo moral que manda que tais acções se pratiquem, não por
inclinação, mas por dever [...] (KANT, 1960, p. 28, grifo do tradutor, tradução de
Paulo Quintela).25
Tendo sido apresentada a citação em sua respectiva localização no texto de Kant - que
faz parte da primeira seção da obra: Transição do conhecimento moral da razão vulgar para
o conhecimento filosófico - urge argumentarmos contra a interpretação kelseniana. Precisamos
salientar que quando Kant afirma que as ações são praticadas não por inclinação, mas por
dever, a expressão “não por inclinação” não indica necessariamente uma contrariedade, nem
nos permite deduzir deste trecho que a contrariedade às inclinações seja um elemento da ação
moral.
24
Informamos que optamos por utilizar a mesma edição indicada por Kelsen (publicada em Berlim) nesta
passagem, em língua alemã, sendo que as outras citações da Fundamentação da Metafísica dos Costumes serão
oriundas da tradução de Paulo Quintela, que consta também de nossas referências bibliográficas (para reler as
citações kelsenianas, vide item 2.2. supra).
25
“Wohltätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem gießt es manche so teilnehmend gestimmte Seelen, das
sie auch ohne einen andern Bewegunggrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein inneres Bergungen daran
finden, Freude um sich zu verbreiten, und die sich an der Zufriedenheit anderer, so fern sie ihr Werk ist,
ergötzen können. Aber ich behaupte, das in solchem Falle dergleichen Handlung, so Pflichtmäßig, so
liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahren sittlichen Wehrt habe (grifo nosso), sondern mit andern
Neigungen zu gleichen Paaren gehe, z. E. der Neigung nach Ehre, die, wenn sie glücklicherweise auf das trifft,
was in der Tat gemeinnützig und Pflichtmäßig, mithin ehrenwert ist, Lob und Aufmunterung, aber nicht
Hochschätzung verdient; denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus
Neigung, sondern aus Pflicht zu tun [...] (KANT, 1911, p. 398, tradução nossa).”
49
O fato de uma boa vontade (na ação moral) contrariar ou não as inclinações, tem uma
estrita relação com o conceito de dever: então vejamos como esclarecer esse aparente
problema levantado por Kelsen. De início convém explicar de onde vêm os juízos morais.26
Eles não são originários da experiência sensível, mas são “a priori”. Isso não significa
contudo afirmar que façamos os juízos morais antes da experiência começar e nem que as
crianças já nasçam sabendo julgar “a priori” sem nem antes saberem distinguir as cores ou os
sons. Esses são absurdos atribuídos a Kant. O conhecimento, por isso, não é apriorístico no
tempo e se constrói com a experiência. Além disso, “a priori” significa serem os juízos
morais necessários e universais. Exemplificando com outros tipos de juízos necessários e
universais, podemos dizer que: “- Todo triângulo tem que ter três lados” ou “– Um evento tem
que ter uma causa”; o que é diferente de dizer: -“ Todos os gansos são pretos”, pois neste
último não há uma conexão necessária e universal entre as palavras “preto” e “ganso”, sendo
esta uma generalização empírica que pode vir abaixo com a possibilidade de se encontrar um
ganso branco (cf. PATON, 1971, p. 20 e 21).
Kant considera o dever como um tipo de necessidade e, por isso, conecta dois tipos de
julgamentos (ou juízos) “a priori”: o moral (ou prático) e o teorético (ou científico). Daqui
segue a importância de uma distinção com relação ao dever, seguindo estes exemplos: “- O
homem deve dizer a verdade” e “- O homem tem de dizer a verdade”27; o primeiro é algo no
presente (é um dever moral no sentido kantiano) enquanto o segundo é algo que pode ou não
estar no presente, gerando uma opção ao agente (Ibidem, p. 22).
Kant tenta esclarecer quando uma ação é realizada por dever, quando é realizada por
intenção egoísta ou quando é realizada conforme ao dever (onde há o cálculo de meios e fins)
- esta última modalidade pode também ser realizada por uma inclinação imediata -, o que
torna difícil diferenciar se uma ação foi realizada por dever ou não (cf. KANT, 1960, p. 27).
Paton (op. cit., p. 47) considera que, de início, deve-se entender essa distinção das
ações conforme ao dever, das quais Kant reconhece três tipos: as feitas por inclinação
26
Utilizaremos como referência as lições dadas por Paton (1971), por entendermos que os seus esclarecimentos
são os mais adequados à nossa proposta e por eles possuírem a profundidade suficiente para deslindar de forma
razoável diversas objeções quanto ao assunto debatido, tornando-o acessível.
27
Procuramos seguir o mesmo raciocínio do autor, embora tenhamos trabalhado na língua pátria, portanto a
distinção com relação ao dever é a mesma em inglês entre “ought” e “must” (cf. PATON, Herbert James. The
Categorical Imperative: A study in Kant’s moral philosophy. Philadelphia, EUA: University of Pennsylvania
Press, 1971, p. 22).
50
imediata; as feitas por interesse próprio e as feitas pelo dever. Para termos certeza de que
estamos julgando os valores das ações feitas pelo dever, o que Paton sustenta é que Kant
propõe um método de isolamento através do qual remove-se a inclinação imediata e avalia-se
então o valor da ação em sua ausência (ausência da inclinação). Fica desta forma claro um
outro exemplo apresentado por Kant (op. cit.):
[...] Os homens conservam a sua vida conforme ao dever, sem dúvida, mas não por
dever. Em contraposição, quando as contrariedades e o desgosto sem esperança
roubaram totalmente o gosto de viver; quando o infeliz, com fortaleza de alma, mais
enfadado do que desalentado ou abatido, deseja a morte, e conserva contudo a vida
sem a amar, não por inclinação ou medo, mas por dever, então a sua máxima tem
conteúdo moral (p. 28, grifos do autor).
Höffe (1986, p. 64) tem uma descrição semelhante com relação à vontade: “[...] O
termo <<vontade>> não significa a capacidade de destruir os impulsos naturais, mas de
distanciar-se deles e suspendê-los como motivação última do agir (grifo do autor, tradução
nossa).28” O método de isolamento não significa que uma ação não tenha valor moral só
porque com a presença da vontade coexista uma inclinação. Detalhando mais esse método
Paton (op.cit., p. 49) explica:
[...] A doutrina de Kant diz que o motivo do dever deve estar presente ao mesmo
tempo que a inclinação e ele deve ser o fator determinante, para que nossa ação seja
boa. É, por consequência, uma distorção da visão kantiana dizer que para ele uma
ação não pode ser boa se a inclinação for presente ao mesmo tempo que o motivo do
dever.
Por outro lado, ele certamente defende que, determinando nosso dever, nós não
devemos levar em conta nossas inclinações ou até nossa felicidade (que é a máxima
satisfação das nossas inclinações). Sobre isso, entretanto, ele quer dizer que nós não
podemos afirmar que uma ação seja um dever meramente porque temos uma
inclinação para realizá-la ou porque pensamos que ela iria fazer-nos felizes [...].
Kant reconhece que as inclinações têm, por sua vez, um papel na vida moral [...]. O
que nós temos que evitar é a substituição do motivo do dever pelos motivos de
felicidade ou vantagem pessoal. Fazer isso seria corroer a moralidade [...] (grifos do
autor).29
28
“El término <<voluntad>> no significa la capacidad de destruir los impulsos naturales, sino de distanciarse
de ellos y suspenderlos como motivación última del obrar (HÖFFE, op. cit., p. 64, tradução nossa, grifo do
autor).”
29
“Kant’s doctrine is that the motive of duty must be present at the same time as inclination and must be the
determining factor, if our action is to be good. It is, therefore a distortion of his view to say that for him an
action cannot be good if inclination is present at the same time as the motive of duty.
On the other hand he certainly holds that in determining our duty we must take no account of our inclinations or
even of our happiness (which is the maximum satisfaction of our inclinations). By this, however, he means that
we cannot affirm an action to be a duty merely because we happen to have an inclination to do it or because we
think it would make us happy [...].
Kant recognizes that inclinations have a part to play in the moral life [...]. What we have to avoid is the
substitution of the motive of personal happiness or personal advantage for the motive of duty. To do this is to
undermine the morality [...] (PATON, Herbert James. The Categorical Imperative: A study in Kant’s moral
philosophy. Philadelphia, EUA: University of Pennsylvania Press, 1971, p. 49, tradução nossa, grifos do autor).”
51
Há ainda a necessidade de alguns esclarecimentos pontuais diante da interpretação
feita por Kelsen a respeito das inclinações: pode parecer num primeiro momento que Kant
expõe a sua teoria da moral como se o homem racional desejasse ser livre das inclinações30,
mas somente a vontade perfeita (não humana, divina) não é impelida pelo dever e vê-se livre
de inclinações, que são inerentes aos seres racionais. Como exemplo, a própria inclinação de
ser feliz, nós já seguimos naturalmente (pelos instintos) - portanto, ao menos indiretamente,
temos o dever de assegurar nossa própria felicidade - para evitarmos entrar num estado de
descontentamento que seria favorável à transgressão dos deveres (cf. KANT, 1960, p. 24 e
29).
A razão pura prática31 não exige que renunciemos aos nossos chamados pela
felicidade, mas sim que não os levemos em conta no momento do dever. O bom homem age
somente sob máximas que ele pode ao mesmo tempo desejar que sejam leis universais. Além
do mais, uma inclinação natural que tenha concordância com o dever (a benevolência, por
exemplo) pode facilitar grandemente a efetividade da máxima moral, embora ela (a
inclinação), por si, não possa produzi-la (cf. PATON, op. cit., p. 55 e 56).
Fica evidente diante das colocações feitas que agir moralmente não significa apenas
contrariar as inclinações, agir moralmente significa, em vez disso, não tomar as inclinações
como fator determinante da vontade. Isso porque, se tomado esse critério como regra, incorrese num erro grosseiro: identificar sempre uma contrariedade perante a inclinação para uma
possível afirmação da moralidade (o que não foi o que Kant propôs), afinal não basta termos a
convicção de que pelo fato de termos contrariado uma inclinação a nossa ação será
precisamente moral. Esse critério errôneo, aliás, dificulta entender as diferenças entre os tipos
de ações: as realizadas por dever (autônomas, feitas pelo ser racional e livre); das ações
conforme ao dever (heterônomas, por exemplo, as ações normatizadas pelo direito) e das
ações totalmente contrárias ao dever (objetivamente imorais). Para um juízo mais acurado,
basta utilizar o método de isolamento exposto acima e identificar o fator dominante – o dever
ou a inclinação – para saber se a ação será considerada moral ou não.
30
Reafirmemos: a vontade perfeita (ou divina) é a que está livre de todas as influências das inclinações,
enquanto a vontade influenciada pelas inclinações (ou, em outros termos, patologicamente determinada) é a
própria vontade humana.
31
Consideramos necessário relacionar este conceito de razão pura prática a uma vontade incondicionada (ou
ainda: autonomia da vontade, conforme definição infra).
52
3.1.2. O imperativo categórico kantiano e a máxima
O segundo ponto levantado por Kelsen como problema em Kant refere-se à análise do
imperativo categórico e a sua relação com as máximas morais. Cumpre uma prévia exposição
do imperativo categórico para posteriormente entrarmos na discussão.
Para expor o imperativo categórico, Kant inicia uma explicação preliminar sobre em
que consistem os imperativos, por que eles existem e qual a sua relação com a vontade do ser
racional:
Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir
segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma
vontade. Como para derivar as acções das leis é necessária a razão, a vontade não é
outra senão razão prática. Se a razão determina infalivelmente a vontade, as acções
de um tal ser, que são conhecidas como objectivamente necessárias, são também
subjectivamente necessárias, isto é, a vontade é a faculdade de escolher só aquilo
que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente
necessário, quer dizer como bom. Mas se a razão só por si não determina
suficientemente a vontade, se esta está ainda sujeita a condições subjectivas (a certos
móbiles) que não coincidem sempre com as objectivas; numa palavra, se a vontade
não é em si plenamente conforme à razão (como acontece realmente entre os
homens), então as acções, que objectivamente são reconhecidas como necessárias,
são subjectivamente contingentes, e a determinação de uma tal vontade, conforme a
leis objectivas, é obrigação (Nötigung); quer dizer, a relação das leis objectivas para
uma vontade não absolutamente boa representa-se como a determinação da vontade
de um ser racional por princípios da razão, sim, princípios esses porém a que esta
vontade, pela sua natureza, não obedece necessariamente.
[ ]
A representação de um princípio objectivo, enquanto obrigante para uma vontade,
chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se
imperativo (KANT, 1960, p. 47, grifos do autor).
A classificação que Kant estabelece para os imperativos resume-se em uma ordenação
hipotética ou categórica, ambos os tipos determinam a ação, relacionando-a com a boa
vontade (já explicada anteriormente), mas de formas diferentes. Os imperativos hipotéticos
subdividem-se em dois princípios: o problemático e o assertórico-prático, e relacionam a ação
com uma intenção possível ou real. Os imperativos hipotéticos problemáticos podem ser
chamados de imperativos de destreza ou técnicos (ex.: “- Se quer correr, aprenda antes a
andar.”) e os imperativos hipotéticos assertórico-práticos podem ser chamados imperativos de
prudência ou pragmáticos (ex.: “- Se quer ser feliz, seja honesto.”). Já o imperativo
53
categórico, também chamado de o imperativo da moralidade (valendo como um princípio
apodíctico), declara a ação como objetivamente necessária por si, não tendo condição como
base e nem visando nenhuma intenção; relaciona-se com a forma e o princípio da ação e não
com a sua matéria, por isso não pode ser extraído pela forma empírica ou de exemplos, mas
funda-se somente na razão pura32 (Ibidem, p. 50 a 53).
A principal questão levantada na Fundamentação da Metafísica dos Costumes foi a da
possibilidade do imperativo categórico, decerto que ele não pode apoiar-se em exemplos (não
pode ser demonstrado empiricamente), pois nenhum exemplo nos assegura que a vontade é
determinada exclusivamente pela lei prática. O imperativo categórico é uma proposição
sintética-prática-“a priori”, logo sua possibilidade tem de ser buscada totalmente “a priori”33:
Teremos pois que buscar totalmente a priori a possibilidade de um imperativo
categórico, uma vez que aqui nos não assiste a vantagem de a sua realidade nos ser
dada na experiência, de modo que não seria precisa a possibilidade para o
estabelecermos, mas somente para o explicarmos. Notemos no entanto
provisoriamente que só o imperativo categórico tem o carácter de uma lei prática, ao
passo que todos os outros se podem chamar em verdade princípios da vontade, mas
não leis; porque o que é somente necessário para alcançar qualquer fim pode ser
considerado em si como contingente, e podemos a todo o tempo libertar-nos da
prescrição renunciando à intenção, ao passo que o mandamento incondicional não
deixa à vontade a liberdade de escolha relativamente ao contrário do que ordena, só
ele tendo portanto em si aquela necessidade que exigimos na lei (KANT, 1960, p.
57, grifos do autor).
O imperativo categórico se apresenta sob três formulações34 (porém, ele é um só,
diferentemente dos hipotéticos), sendo a primeira formulação: “Age apenas segundo uma
máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. Já a segunda
formulação tem uma analogia com uma lei da natureza: “Age como se a máxima da tua acção
32
Segundo a definição do próprio autor: “[...] Pois a razão é a faculdade que fornece os princípios do
conhecimento a priori. Por isso a razão pura é aquela que contém os princípios para conhecer algo
absolutamente a priori [...] (KANT, 1999, p. 65, grifos do autor)”.
33
“Eu ligo à vontade, sem condição pressuposta de qualquer inclinação, o acto ‘a priori’, e portanto
necessariamente (posto que só objectivamente, quer dizer partindo da idéia de uma razão que teria pleno poder
sobre todos os móbiles subjectivos). Isto é pois uma proposição prática que não deriva analiticamente o querer
de uma acção de um outro querer já pressuposto (pois nós não possuímos uma vontade tão perfeita), mas que o
liga imediatamente com o conceito da vontade de um ser racional, como qualquer coisa que nele não está contida
(KANT, 1960, nota de rodapé, p. 57, grifos do autor).”
34
Paton (op. cit.) divide o imperativo em cinco fórmulas, desmembrando a primeira em I - “Age apenas naquela
máxima através da qual possas querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal” e Ia - “Age como se a
máxima da tua ação fosse se tornar através da tua vontade uma lei universal da natureza”; enquanto a terceira
fica desmembrada em III – “Então age de forma que tua vontade possa considerar-se ao mesmo tempo como
legislando universalmente através da tua máxima” e IIIa – “Então age como se fosses sempre através das tuas
máximas um legislador e membro num reino dos fins universal” (p. 129, traduções nossas), sendo que a segunda
fórmula restou intacta. Nossa preferência, no entanto, foi seguir o texto kantiano trabalhando apenas com três
fórmulas, que atendem ao nosso propósito.
54
se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza (Ibidem, p. 59, grifo do
autor).”
A terceira formulação do imperativo categórico é extraída somente mediante a
descoberta do nexo entre a lei necessária a todos os seres racionais e o conceito de vontade de
um ser racional em geral. Para chegar até esta terceira formulação, Kant adentra o campo da
metafísica, traçando a diferença: das coisas ou seres irracionais que têm valor relativo (são
meios) e que não dependem da nossa vontade, mas sim da vontade da natureza, e dos homens,
fins em si mesmos, que têm valor objetivo e absoluto, que não podem ser empregados como
meios e que limitam assim a vontade (alheia), sendo um objeto de respeito. Depreende-se
então que sendo a vontade humana (ou do ser racional) autodeterminada pela razão para agir
segundo a representação de certas leis, pode-se admitir que o ser racional (homem), existe
como um fim em si mesmo, ou seja, ele não é apenas um meio para uso arbitrário da vontade
alheia. Partindo desta conclusão Kant chega a um princípio subjetivo das ações humanas - “A
natureza racional existe como fim em si” –, e chega também a uma terceira formulação35 do
imperativo categórico tendo como base o conceito de “fim em si mesmo” - “Age de tal
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio (Ibidem, p. 68, grifos
do autor).”
Em suma, entendemos do imperativo categórico que quando o ser racional vai agir,
deve observar se a máxima (princípio subjetivo) que rege sua ação pode tornar-se ou não uma
lei universal (princípio objetivo), levando em conta os outros seres racionais em uma mesma
situação, para assim saber se age ou não moralmente.
A relação do princípio objetivo - a universalidade da lei prática - com o princípio
subjetivo, - o fim (os homens, fins em si mesmos) -, gera como resultado a vontade de todo
ser racional como uma vontade legisladora universal. O ser racional, enquanto sujeito à
legislação universal emanada da sua própria vontade incondicionada é autônomo e, o ser
racional que tenha a sua vontade obrigada por qualquer outra coisa é heterônomo. O conceito
35
Kant (op. cit., p. 79) justifica: “As três maneiras indicadas de apresentar o princípio da moralidade são no
fundo apenas outras tantas fórmulas dessa mesma lei, cada uma das quais reúne em si, por si mesma as outras
duas [...].”
55
de autonomia36 tem conexão com outro conceito empregado por Kant na obra, que é o de
“reino dos fins”. O reino dos fins é um ideal e consiste numa ligação sistemática de seres
racionais por meio de leis objetivas comuns, onde todos estão submetidos à lei que manda que
cada um jamais trate os outros ou a si mesmo simplesmente como meios e sempre como fins
em si. Neste reino o ser racional é, ao mesmo tempo, membro e chefe: enquanto submete-se à
lei, é membro e enquanto legislador universal com base numa vontade livre, também é chefe
(Ibidem, p. 73 a 76).
Para pontuar a interligação de diversos conceitos esparsos, tais como moralidade,
vontade e dever, utilizaremos as palavras de Kant (op. cit. p, 84):
[...] A moralidade é pois a relação das acções com a autonomia da vontade, isto é,
com a legislação universal possível por meio das suas máximas. A acção que possa
concordar com a autonomia da vontade é permitida; a que com ela não concorde é
proibida. A vontade, cujas máximas concordem necessariamente com as leis da
autonomia, é uma vontade santa, absolutamente boa. A dependência em que uma
vontade não absolutamente boa se acha em face do princípio da autonomia (a
necessidade moral) é a obrigação. Esta não pode, portanto, referir-se a um ser santo.
A necessidade objectiva de uma acção por obrigação chama-se dever (grifos do
autor).
A terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes - a Transição da
Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão Pura Prática - apresenta a liberdade como
um conceito chave para a explicação da autonomia da vontade. Kant (op. cit., p. 93 a 95)
anuncia a vontade dos seres racionais como uma espécie de causalidade, que tem como uma
propriedade a liberdade, esta que pode ser eficiente independentemente das causas estranhas
que a determinem. Em comparação, a necessidade natural é a propriedade da causalidade dos
seres irracionais determinados a agir por influência de causas estranhas (ou alheias). Kant,
além disso, classifica a liberdade sob a forma negativa, que é a saída da causalidade natural
pela razão e também sob a forma positiva (uma ideia da razão), que é a autodeterminação da
vontade pela lei moral, ou ainda, a autonomia.
36
“Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei
(independentemente da natureza dos objectos do querer). O princípio da autonomia é portanto: não escolher
senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei
universal (Ibidem, p. 85).”
56
Bittner (2008) observa que a heteronomia37 tem como base a dependência a um objeto
da vontade, enquanto a autonomia equivale a uma determinação pela máxima a ser aceita e
não por determinação do objeto de um querer a ela correspondente, logo: “[...] há autonomia
quando a forma de uma legislação universal possível pertencente à máxima determina a
vontade para sua aceitação (p. 23)”. Ademais, para Bittner (op. cit.) o sentido kantiano de
autonomia, não repousa sobre o:
[...] fato de que uma vontade tenha em geral máximas, mas que tenha aquelas
máximas cuja aceitação é determinada não pela ‘constituição dos objetos do querer’,
e sim por sua forma, que elas sejam concebidas simultaneamente no mesmo querer
como lei universal. O problema é como essa determinação da vontade pela forma da
lei significa autonomia (p. 22, grifo do autor).
Voltando para o texto da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant expõe na
terceira seção duas colocações regressivas e retributivas entre si: o ser racional é livre porque
se submete à lei moral e, ao mesmo tempo, submete-se à lei moral por que é livre. Isso se
apresenta como um aparente problema que relaciona a liberdade do ser racional e a sua
autonomia da vontade, onde inclusive parece haver um círculo vicioso do qual não seria
possível evadir-se, mas a sua saída para o problema foi diferenciar o ser racional enquanto
pertencente aos mundos inteligível e sensível:
Por tudo isto é que um ser racional deve considerar-se a si mesmo, como
inteligência (portanto não pelo lado das suas forças inferiores), não como
pertencendo ao mundo sensível, mas como pertencendo ao mundo inteligível; tem
por conseguinte dois pontos de vista dos quais pode considerar-se a si mesmo e
reconhecer leis do uso das suas forças, e portanto de todas as suas acções: o
primeiro, enquanto pertencente ao mundo sensível, sob leis naturais (heteronomia);
o segundo, como pertencente ao mundo inteligível, sob leis que, independentes da
natureza, não são empíricas, mas fundadas somente na razão.
[ ]
Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o homem não pode
pensar nunca a causalidade da sua própria vontade senão sob a ideia da liberdade,
pois que independência das causas determinantes do mundo sensível (independência
que a razão tem sempre de atribuir-se) é liberdade. Ora à ideia da liberdade está
inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princípio universal da
moralidade, o qual na ideia [ou idealmente] está na base de todas as acções de seres
racionais como a lei natural está na base de todos os fenômenos (KANT, 1960, p.
102, grifos do autor).
Para tentar tornar clara esta mesma questão, Bittner (op. cit.) divide a autonomia em
moral e natural, destacando as suas diferenças:
37
si.
Seguiremos o entendimento de que heterônomo é o ser racional sujeito às leis que ele próprio não legislou para
57
[...] Autonomia natural significa querer, para minha vida, o princípio da ação no
querer da ação particular e, em contrapartida, querer o particular devido ao
princípio. Isso deve agora ser deslocado à autonomia moral. Ela não diz respeito à
relação da ação com a máxima, mas à escolha da própria máxima. Nessa resolução,
autonomia significa, analogamente, que a vontade, conciliando-se consigo mesma,
quer ao mesmo tempo a máxima particular e a regra universal da mesma, e aquela
devido a esta; portanto quer a máxima enquanto regra universal e com vistas a ela.
Segundo seu conteúdo, a máxima é já da mais alta universalidade, a saber, princípio
de toda uma vida. Ela é um particular apenas por intermédio de sua forma – de valer
apenas em razão de minha decisão para minha vida, portanto por intermédio de sua
subjetividade. [...] Por isso, a legalidade possível não é um critério acrescentado à
máxima, mas de acordo com a expressão de Kant, sua forma: a saber, como aquilo
que é querido.
[ ]
[...] A vontade determina-se para uma lei, da máxima, em virtude de sua autonomia
natural; a [autonomia] moral exige dela exatamente compreender e querer essa
autodeterminação novamente como lei. O que a moralidade (Sittlichkeit) exige da
vontade é, assim, apenas sua reflexão, que se refira novamente ao exercício de sua
autonomia natural como vontade autônoma.[...] A autonomia realiza-se somente
enquanto autonomia moral, na qual a vontade determina como autônomos os
princípios de seu querer autônomo. A “forma da máxima” de Kant – que está
apreendida no próprio querer, ao mesmo tempo, como lei universal – pertencente a
uma vontade cuja autonomia legitima-se exatamente com isso como dotada de
conteúdo (p. 24, grifos do autor).
Podemos ainda elucidar esta solução kantiana em outros termos: pelo seu caráter
empírico, o homem faz parte da natureza e os seus atos sujeitam-se ao determinismo
universal, por outro lado, pelo seu caráter inteligível, o homem escapa ao mundo dos
fenômenos e é livre. Eis que há a seguinte diferença quando nos deparamos com o plano dos
fenômenos (onde o determinismo encadeia os acontecimentos) e com o plano das coisas em si
(onde se pode conceber uma causalidade livre): os nossos atos, enquanto manifestam-se no
mundo dos fenômenos, regem-se pelas leis desse mundo, todavia são livres na medida em que
emanam de um eu que está além do mundo dos fenômenos; concilia-se, assim, a liberdade
humana e o determinismo físico com base na distinção entre os fenômenos e os númenos (cf.
PASCAL, op. cit., p. 102).
Em conclusão, a saída encontrada por Kant (1960, p. 104) para finalmente estabelecer
o imperativo categórico como uma proposição sintética “a priori” fica detalhada a seguir:
E assim são possíveis os imperativos categóricos [apesar de que seja um só38],
porque a ideia da liberdade faz de mim um membro do mundo inteligível; pelo que,
se eu fosse só isto, todas as minhas acções seriam sempre conformes à autonomia da
vontade; mas como ao mesmo tempo me vejo como membro do mundo sensível,
38
Nesta exposição preferimos nos filiar às palavras de Kant (1960, p. 59) constantes da segunda seção
“Transição da filosofia moral popular para a Metafísica dos costumes”: “O imperativo categórico é portanto só
um único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne
lei universal (grifo do autor).”
58
essas minhas acções devem ser conformes a essa autonomia. E esse dever categórico
representa uma proposição sintética a priori, porque acima da minha vontade
afectada por apetites sensíveis sobrevém ainda a ideia dessa mesma vontade, mas
como pertencente ao mundo inteligível, pura, prática, por si mesma, que contém a
condição suprema da primeira, segundo a razão; mais ou menos como às intuições
do mundo sensível se juntam conceitos do entendimento, os quais por si mesmos
nada mais significam senão a forma e lei em geral, e assim tornam possíveis
proposições sintéticas a priori sobre as quais repousa todo o conhecimento de uma
natureza (grifos do autor).
O imperativo categórico retomado a partir da leitura de Kant nos fornece a base
necessária para retornarmos a analisar a interpretação kelseniana, pois dela salta a dúvida
colocada sobre a máxima, um dos elementos da fórmula do princípio supremo da moralidade:
Kelsen vislumbra uma fragilidade no imperativo categórico dizendo que qualquer tipo de
máxima (moral ou imoral) pode ser elevada a uma lei universal39, o que descaracteriza o
imperativo categórico como fórmula da moral, tornando-o assim uma fórmula vazia de
conteúdo. Diz também que o verbo “poder” ([...] querer que uma máxima torne-se uma lei
universal), utilizado por Kant no imperativo categórico traduz-se implicitamente em um
“dever” ([...] querer que uma máxima torne-se uma lei universal), porque é um erro afirmar
que uma máxima imoral se contradiz por si própria, havendo um valor de justiça préconcebido e implícito em contraposição à máxima considerada imoral (cf. seção 2.3 supra).
Não podemos concordar com esta análise de Kelsen, pois parece ter ele subtraído o
imperativo categórico do seu objetivo e não ter levado em consideração o percurso traçado
por Kant em sua obra, na medida em que ele objetivava a investigação do princípio supremo
da moral. Os autores que serão citados adiante também têm restrições com relação à teoria de
Kelsen e, em especial, quanto ao relativismo kelseniano: primeiramente Siches (2008), que
foca seus comentários na metodologia interpretativa kelseniana; em seguida Reale (1983), que
tece uma crítica mais dura à teoria kelseniana como um todo e, por fim, Matos (2006), que
identificou a literalidade interpretativa de Kelsen relacionada ao imperativo categórico
kantiano. Apresentamos também o pensamento de O’Neill (1989), que embora não se refira
diretamente a Kelsen, expõe um entendimento da teoria de Kant oposto ao trazido pela Teoria
Pura do Direito.
39
Relembrando alguns exemplos: de querer o suicídio; fazer uma promessa com a intenção de não cumpri-la;
emprestar dinheiro sabendo não poder restituí-lo; buscar o prazer no lugar de aperfeiçoar as disposições naturais
humanas; e contribuir com o próprio bem-estar sem importar-se com o bem estar alheio (cf. seção supra 2.3).
59
Para Siches (2008, p. 406), apesar dessa primeira aparência de total agnosticismo
quanto aos valores, o pensamento kelseniano não renuncia a uma valoração do Direito.
Segundo ele, o que Kelsen considera é que, embora tenha uma central importância, o
problema axiológico não pode ser levantado em um plano estritamente científico ou objetivo,
devendo sim ser julgado conforme o ponto de vista subjetivo. Entendamos o termo
“subjetivo” não como se cada indivíduo tivesse o seu próprio sistema axiológico, pelo
contrário, esse sistema é resultado da ação recíproca entre os indivíduos que integram um
grupo social (denominamos costume, ou nos termos de Kelsen, sistemas de moral).
Vê-se que Siches (op. cit.) também considera perspicaz, embora temerária, a atitude
kelseniana de encontrar na teoria moral kantiana uma lacuna e examiná-la em apartado, de
uma forma a-histórica. Consideramos ser este método kelseniano de interpretação o fator
facilitador na desqualificação do imperativo categórico na obra A Justiça e o Direito Natural.
Descrevendo o método de interpretação de Kelsen ao expor as teorias de justiça, ele revela:
[...] Kelsen intenta uma crítica de algumas das principais doutrinas da justiça em
relação aos valores implicados por esta ideia. Tal crítica mostra a habitual agudeza e
brilhantismo de Kelsen; mas está determinada por seus preconceitos, os quais
operam como uma espécie de rede, que, dos pensamentos criticados, deixa passar
somente aquelas partes nas quais é fácil cravar objeções, sobretudo quando essas
partes ficam desmembradas de seu contexto total. [...] Considera que o imperativo
categórico de Kant não esclarece quais são os princípios que desejamos estabelecer
a todos os homens, e supõe os preceitos tradicionais da moral e do Direito do seu
tempo (p. 410, tradução nossa).40
Siches prossegue dizendo que Kelsen busca dar uma valoração positiva ao seu
relativismo axiológico, o que não implica numa posição amoral, mas, pelo contrário, atribui
ao seu relativismo um nível moral superior ao das éticas41 objetivas por causa da enorme
responsabilidade que recai sobre o indivíduo quando decide por si mesmo sobre o que é justo
e o que é injusto. Ademais, Kelsen considera seu sistema de valores superior a qualquer outro
pelo fato de o relativismo incluir a tolerância, diferentemente dos modelos morais que ele
considera absolutistas ou totalitários, que não deixam margem para a expressão de
40
“[...] Kelsen intenta una crítica de algunas de las principales doctrinas de la justicia en relación con los
valores implicados por esta idea. Tal crítica muestra la habitual agudeza y brillantez de Kelsen; pero está
determinada por sus prejuicios, los cuales operan como una especie de red, que, de los pensamientos criticados,
deja pasar solamente aquellas partes en las que es fácil clavar objeciones, sobre todo cuando esas partes
quedan desmembradas de su contexto total. [...] Considera que el imperativo categórico de Kant no aclara
cuáles son los princípios que deseamos liguen a todos los hombres, y supone los preceptos tradicionales de la
moral y del Derecho de su tiempo (SICHES, Luis Recaséns. Tratado General de Filosofia del Derecho. 19ª ed.
México, Cidade do México: Editorial Porrúa, 2008, p. 410, tradução nossa).”
41
Leia-se também: “aos tipos, ou aos modelos de moral”.
60
pensamentos dissidentes e diferentes. Por outro lado, a responsabilidade moral que Kelsen
atribui ao indivíduo tem que ter um critério objetivo para ser determinada, para que assim não
seja tomada como um mero capricho ou acaso. Eis que ele observa que Kelsen, mesmo
considerando seu sistema moral melhor, não consegue justificá-lo (trazer evidências) do ponto
de vista científico-racional, ou seja, trata-se de uma justificação inefável, mas que não deveria
fundamentar da parte de Kelsen a geração de desconfiança para com as possibilidades da
mente em encontrar uma saída (Idem, Ibidem).
A posição de Reale, por seu turno, (1983) é a de que Kelsen manteve, com sua teoria
“rigorosamente travada”, um apego às construções lógico-formais correspondente a um
relativismo filosófico, com um caráter de abstração ou a-historicidade, parecendo ter sido
sentida por ele em suas últimas pesquisas. Todavia, não deixa de classificar sua teoria como
“unilateral”:
Empenhado na determinação das estruturas e categorias lógicas da Ciência Jurídica,
Hans Kelsen superou, com reconhecida genialidade, certas concepções estreitas da
Jurisprudência anterior, depurando-a de resíduos jusnaturalistas. A primeira
contribuição inestimável de Kelsen, não obstante a unilateralidade de sua
concepção (grifo nosso), foi no sentido de determinar melhor a natureza lógica da
norma jurídica (p. 457, grifo do autor).
O’Neill (1989, p. 64) não faz uma crítica direta a Kelsen em seu texto, mas podemos
identificar uma clara oposição relacionada à afirmação kelseniana de que Kant estivesse
supondo um valor moral pré-concebido e implícito ao dizer que uma máxima imoral se
contradiz. Quando a autora expressa seu entendimento da teoria kantiana revela que a razão
diferencia-se dos desejos por não ser uma causa externa para a vontade. Os desejos vêm e vão
de forma contingente e só afetam as deliberações do ser racional enquanto duram; a razão, por
sua vez, é fundamentada na autonomia e apresenta-se como um imperativo porque somos
finitos e não porque sua autoridade é externa. Além disso, ela sustenta que ser livre no sentido
moral kantiano significa não fazer nada arbitrário e ininteligível para os outros, nem significa
uma liberdade existencialista radical (fazer tudo o que se quer quando e onde se quer), mas
sim criar valores ou padrões próprios, que sejam válidos para todos os seres racionais, sem
submeter-se à vontade alheia:
[...] A autonomia kantiana não é uma liberdade existencialista radical; nem é uma
versão moderada da liberdade existencialista. No entendimento de Kant tal
liberdade, se encontrada, seria uma liberdade ‘sem lei’, meramente ‘negativa’ e a
antítese da autonomia.
61
[ ]
[...] Segundo Kant, autonomia no pensamento ou na ação é uma questão de
submissão apenas àqueles padrões necessários quando não há submissão a padrões
externos. Por isso, a máxima fundamental da autonomia, como também da
moralidade, é agir apenas sob máximas através das quais se possa ao mesmo tempo
querer que sejam leis universais. Esse pequeno princípio é meramente um
compromisso a não basear a ação em nada contingente ou arbitrário que possa
limitar a sua inteligibilidade 42 (O’NEILL, ibidem, p. 76, tradução nossa).
Com o fim de corroborar nossa objeção, utilizaremos também as palavras de Matos
(2006, p. 156) que constam de uma nota de rodapé cujo número é 47, onde há discordância
quanto ao sentido conferido por Kelsen ao imperativo categórico em sua interpretação:
Não concordamos totalmente com a argumentação de Kelsen na crítica à filosofia
moral kantiana, já que ele parte da análise meramente verbal da expressão poder
querer transformar uma máxima em lei universal. Ele entende, por meio de sua
análise, que todos podem querer que suas ações se tornem leis universais. Por fim,
sustenta que Kant pressupõe uma moral que excluiria certas máximas, enxergandoas como imorais, portanto não aptas a se consubstanciarem em leis universais. Na
verdade, Kant, não pressupõe uma moral, mas antes uma idéia de razão, pois a
verdadeira função do imperativo categórico, conforme o concebe Kant, é garantir a
moralidade das ações humanas. O homem, como sujeito pertencente ao mundo do
ser (Sein) e do dever-ser (Sollen) – natureza e cultura, necessidade e liberdade –
precisa de um guia que o auxilie a deixar o determinismo natural de lado, para que
assim suas ações sejam totalmente morais (livres), o que em Kant somente pode
significar: racionais. Se o homem não estivesse sujeito às afecções sensíveis não
haveria necessidade do imperativo categórico: sua conduta seria totalmente moral.
Mas a realidade é diversa. Faz-se necessário o imperativo categórico para que o ser
humano seja livre e possa construir uma sociedade de justiça (a paz perpétua
kantiana). A verdadeira formulação do imperativo categórico é: ages de tal modo
que a máxima de tuas condutas possa ser sempre querida por ti e por todos como a
lei universal válida para os seres livres (livres por que racionais). Em última
instância, a razão – elemento diferenciador e base primordial do mundo da cultura –
é que será o fundamento da justiça em Kant [...]. Para Kant, justiça é distribuir de
forma igualitária o maior bem da humanidade: a liberdade. Discutir o que é
liberdade e igualdade, elementos centrais da definição acima explicitada, é uma
tarefa à qual Kant dedicou toda a sua existência, chegando a resultados que,
entretanto, não podem ser cientificamente considerados absolutos, imutáveis e
inquestionáveis. Cabe, aqui sim, a crítica kelseniana, pois os conceitos kantianos de
liberdade e igualdade – e principalmente as consequências práticas da aplicação dos
mesmos – podem variar enormemente de pessoa a pessoa e de sociedade a
sociedade. E mais: no momento de concretização da justiça, será um ordenamento
jurídico positivo que determinará explícita ou implicitamente o que é igualdade, o
que é liberdade e as respectivas consequências normativas da utilização de tais
conceitos no mundo do direito (grifos do autor).
42
“[...] Kantian autonomy is not existentialist radical freedom; it is not even a diluted version of existentialist
freedom. On Kant’s understanding such freedom, if found, would be a ‘lawless’, merely ‘negative’ freedom and
the antithesis of autonomy.
[ ]
[…] On Kant’s account autonomy, in thought or in action, is a matter of submitting only those standards that
are required if there is not to be submission to alien standards. Hence the fundamental maxim of autonomy, as of
morality, is to act only on maxims through which one can at the same time will that they be universal laws. This
meager principle is merely a commitment not to base action on anything contingent or arbitrary that would limit
its intelligibility (O’NEILL, Onora. Constructions of Reason: Exploration of Kant’s Practical Philosophy. EUA,
New York: Cambridge University Press, 1989, p. 76, tradução nossa).”
62
A importante questão a ser esclarecida é qual o sentido de máxima que seguiremos
para dar uma melhor interpretação ao imperativo categórico. A máxima, consoante a
definição de Kant, é o “princípio subjetivo do querer” e, o ser racional, ao agir, deve verificar
se sua máxima no momento da ação pode se tornar uma lei universal válida para os outros
seres racionais. Chamemos daqui em diante este exercício racional do agente de “teste de
universalização” da máxima, para facilitar o entendimento. Temos agora que identificar qual é
esse sentido de máxima no imperativo categórico, pois a interpretação literal (“princípio
subjetivo do querer”) possibilitou a Kelsen entender que qualquer máxima pode ser alçada a
uma lei universal.
Se levarmos em consideração a máxima como uma “conduta ou regra de vida”, no
sentido de expressar o ser humano que queremos ser no mundo, veremos que o imperativo
categórico não pode ser resultado de máximas imorais e nem ser considerado vazio:
A máxima que se forma como sabedoria de vida a partir da experiência concreta do
mundo apresenta, com isso, a “moral natural” de um ser humano, em oposição
àquela determinada a partir da razão pura. Pois nela expressa-se a representação
subjetiva de uma boa vida. Máximas são regras de vida: elas expressam que tipo de
ser humano eu quero ser – alguém que ninguém pode insultar impunemente; ou
alguém a quem não interessa nenhuma necessidade alheia; uma vida de avareza, ou
uma vida de gozo. Elas contêm o sentido de minha vida; nomeadamente quando
“sentido” não é entendido como realização transcendente, mas simplesmente como a
maneira pela qual penso a vida como um todo, “sentido” entendido não como fim,
mas orientação. [...] Que os seres humanos já estejam sempre em relações morais
(sittlichen) concretas, e no seu contexto compreendam e determinem suas vidas,
como Aristóteles sabia, não é tampouco esquecido em Kant, está antes na base da
reflexão moral: suas máximas são essa autodeterminação do indivíduo a partir da
experiência de seu mundo (BITTNER, op. cit., p. 13, grifos do autor).
A universalidade da máxima relaciona-se com o sentido de regra de vida, englobando
as diversas ações em situações distintas, sendo este o meio pelo qual se expressa. Uma
universalização demasiada desqualifica a máxima (como exemplo: “- Quero ser feliz”),
porque esse tipo de regra tem sob si projetos (de vida) distintos e não pode ser um princípio
determinante de vida. Para agir de acordo com a máxima é preciso compreender as situações sua aplicação considera a situação particular e seu intento geral, ela não diz como se age de
cada vez -, pois seu emprego não consiste em uma mera subsunção. Importa destacar uma
marca distintiva entre as máximas e os simples propósitos: como máximas são regras de vida,
se acontecer de o homem se conduzir de modo a mudar a regra que tomou para si devido a
uma melhor compreensão das suas condutas, a consequência será que a mudança terá como
63
objeto a orientação da sua vida como um todo, pois máximas repousam em conhecimentos
que têm sentido de experiência de vida; ao passo que a substituição de meros propósitos não
exige o mesmo tipo de consideração que as máximas, pois ela pode acontecer por meros fatos
exteriores e bem particulares (exemplo: quero acordar cedo todos os dias, mas por um certo
motivo não consigo, então resolvo mudar meu propósito) (cf. BITTNER, op. cit., p. 15).
Höffe (1986) mantém conformidade com o conceito de máxima dado por Bittner,
utilizando-se da expressão “âmbito geral da vida”:
As máximas estabelecem para um âmbito vital, por exemplo para todos os casos de
necessidade, o princípio orientador: a disponibilidade ou a indiferença. As normas
de ação contidas em uma máxima especificam por outro lado o princípio orientador
com situações típicas dentro do âmbito geral da vida.[...]
[ ]
[...] Como as máximas versam sobre princípios gerais da vida, evitam que a
biografia de uma pessoa se desagregue em uma série interminável de normas ou em
inumeráveis ações concretas. Elas permitem integrar as diversas porções de uma
vida em unidades de sentido, e o imperativo categórico examina se tais unidades são
morais ou não. [...]43 (p. 175 e 176, tradução nossa).
Vimos que a máxima - “regra de vida” - possui uma amplitude maior que o mero
propósito, por isso sua universalidade pode ser testada sob a fórmula do imperativo categórico
kantiano. O’Neill (1989) também analisa essa diferenciação e acrescenta que máximas,
quando muito restritas a ponto de serem bem específicas, tornam-se simples intenções,
motivando interpretações equivocadas do imperativo categórico, uma vez que sob essa
condição elas também podem ser universalizadas sem apresentar contradições. As intenções,
caracterizadas pela especificidade, apresentam-se como no exemplo “- Manterei escravos se
eu estiver numa posição de poder suficiente” e se adequam aos imperativos hipotéticos, onde
há interesse e condição. Para O’Neill, uma máxima pode apresentar contradições conceituais
(de ideia) ou inconsistências volitivas, no entanto, a universalização de uma simples intenção
sem contradição conceitual não implica numa falha do imperativo categórico: “[...]
Precisamente porque o Imperativo Categórico formula um teste de universalidade que se
aplica a máximas, a não apenas a alguma intenção, ele não é refutado pelo fato de que
43
“Las máximas establecen para un ámbito vital, por ejemplo para todos los casos de necesidad, el principio
directivo: la servicialidad o la indiferencia. Las normas de acción contenidas en una máxima concretan en
cambio el principio directivo con situaciones típicas dentro del ámbito general de la vida. [...]
[ ]
[...] Como las máximas versan sobre principios generales de la vida, evitan que la biografia de una persona se
disgregue en una serie interminable de normas o en innumerables acciones concretas. Ellas permiten integrar
las diversas prociones de una vida en unidades de sentido, y el imperativo categórico examina si tales unidades
son morales o no [...] (HÖFFE, op. cit., p. 175 e 176, tradução nossa).”
64
relativamente intenções específicas geralmente possam ser universalizadas sem contradição
conceitual. […]44 (p. 97, grifo da autora, tradução nossa)”.
Detalhando a explicação anterior, O’Neill observa que em uma contradição conceitual
admitem-se exceções e o agente coloca-se numa situação especial diante da máxima. Por
exemplo, uma máxima como “- Quero ser um senhor de escravos”, não é universalizável
porque ao menos um senhor de escravos deve existir e, neste caso, o próprio agente se coloca
numa posição especial, que não se sujeita à universalização, pois ele não admitirá ser escravo
de outrem. A inconsistência volitiva ocorre em máximas como “- Não deve haver
beneficência”, que não é contraditória, mas também não se sustenta na universalidade porque
a intenção do agente é não auxiliar ninguém que precise de ajuda, contudo exige-se dele o
compromisso de nunca aceitar uma ajuda alheia quando precisar (Ibidem, p. 98 e 99).
Vale adicionar que a inconsistência volitiva relaciona-se com a tentativa de
universalizar máximas negligenciando inteiramente virtudes sociais imprescindíveis para os
seres racionais alcançarem seus objetivos:
[...] Esses argumentos podem revelar as inconsistências volitivas envolvidas em
tentar universalizar máximas negligenciando inteiramente as virtudes sociais –
beneficência, solidariedade, gratidão, sociabilidade e outras semelhantes – para seres
que são racionais e que ainda não estão sempre aptos a alcançar o que intentam sem
auxílio. Segue desse ponto que as virtudes sociais são interpretadas de forma bem
diferente nas éticas Kantiana e heterônoma. Uma teoria ética para agentes não
heterônomos enxerga as virtudes sociais como moralmente necessárias, não porque
são desejadas ou queridas, mas porque são exigências necessárias para a ação num
ser que não é autossuficiente.45 […] (Ibidem, p. 101, tradução nossa).
Agir segundo princípios ou segundo uma vontade (ou ainda segundo a representação
das leis) é agir pela razão prática, como já vimos. O sentido de razão prática auxilia na
compreensão do conceito de máxima, tomando como pressuposto que princípios são
máximas. Desse ponto, inferimos que máximas não são leis objetivas do agir, apresentam
44
“[...] Precisely because the Categorical Imperative formulates a universality test that applies to maxims, and
not just to any intention, it is not rebutted by the fact that relatively specific intentions often can be universalized
without conceptual contradiction. [...] (O’Neill, 1989, p. 97, grifo da autora, tradução nossa).”
45
“[…] Such arguments can reveal the volitional inconsistencies involved in trying to universalize maxims of
entirely neglecting the social virtues – beneficence, solidarity, gratitude, sociability and the like – for beings who
are rational yet not always able to achieve what they intend unaided. It follows from this point that the social
virtues are very differently construed in Kantian and in heteronomous ethics. An ethical theory for
nonheteronomous agents sees the social virtues as morally required, not because they are desired or liked but
because they are necessary requirements for action in a being who is not self-sufficient. [...] (Ibidem, p. 101,
tradução nossa).”
65
apenas uma lei válida do querer para uma ação futura de um ser racional, por isso esta lei é
diferente de uma lei teórica, que tem validade objetiva independentemente de ser ou não
representada. A máxima depende inteiramente de o ser racional querer que ela seja a lei das
suas ações futuras e dele representá-la como lei válida, e é exatamente isso que o faz ser
autônomo, pois a sua lei não provém de um estatuto externo. (cf. BITTNER, op. cit., p. 17).
Aderimos expressamente a este sentido de máxima como regra de vida, pois ele nos dá
a orientação necessária para entender por que não é qualquer máxima que pode ser
considerada válida universalmente: máxima não é mero propósito. Diante das implicações
deste sentido dado à máxima verifica-se que tomar como nossa a máxima de mentir, por
exemplo, pressupõe que todos, em situações semelhantes, queiram para suas vidas que a
mentira seja um princípio ou uma regra e, quem esperaria tirar vantagem querendo uma
máxima universal desse tipo seria também vítima de infinitas e constantes mentiras,
resultando que o proveito esperado pelo agente não seria extraído do seu princípio do querer.
Esse é o motivo pelo qual a máxima imoral se contradiz, é por isso que ela não se sustenta
como uma lei universal. Salientamos também, seguindo a classificação dos imperativos
proposta por Kant, que o cálculo de meios e fins caracteriza imperativos hipotéticos (que não
têm validade universal), não categóricos. Assim, não podemos atribuir ao imperativo
categórico um caráter de vacuidade, pois o alvo de uma mentira ou promessa falsa – o ser
humano -, vinculado ao ideal do “reino dos fins” de Kant, seria usado como meio para atingir
um fim e não considerado um fim em si mesmo. Tal uso do imperativo categórico não se
coaduna com a nossa leitura de Kant e nem com os comentadores que nos auxiliam no
entendimento do texto kantiano, que ratificam não se tratar de uma fórmula vazia de
conteúdo, e que não pode ser preenchida com qualquer querer.
As explicações de Paton (1971, p. 58 e 61) nos auxiliam a reforçar que o valor moral
da ação não existe para satisfazer nenhuma inclinação, nem depende de resultados visados ou
a atingir46 - uma forma de Kant rejeitar qualquer forma de utilitarismo, mesmo tendo ciência
46
E é precisamente neste sentido que Kelsen traz o exemplo, na obra A Justiça e o Direito Natural ([1960],
2009), em que o indivíduo egoísta pode querer que todos ajam tal qual, ou seja, ele deseja que o egoísmo impere
universalmente para que possa (ou com o fim de) renunciar a ajuda ao próximo, tratando os demais seres
racionais como meios para atingir este fim e desejando este resultado final, ou seja, não está agindo pelo dever.
Necessário citar aqui as palavras de Kant: “Para desenvolver, porém o conceito de uma boa vontade altamente
estimável em si mesma e sem qualquer intenção ulterior, conceito que já reside no bom senso natural e que mais
precisa ser esclarecido do que ensinado, este conceito que está sempre no cume da apreciação de todo o valor
das nossas ações e que constitui a condição de todo o resto [...] (KANT, 1960, p. 26, grifo nosso)”. Conjugando
o exemplo kelseniano com esta citação kantiana, vemos que o julgamento moral já reside previamente na razão
66
de que as ações pelo dever também produzirão resultados -, mas o fator distintivo é que o
valor moral independe dos resultados visados ou conseguidos. Através da teoria kantiana,
concebemos as máximas sob dois aspectos: o formal e o material. O último baseia-se nas
inclinações sensíveis, é o aspecto material, ou “a posteriori” das máximas, que depende da
nossa experiência ou desejo; já quando as máximas não se baseiam em inclinações sensíveis,
nem dependem da experiência ou do desejo, estão sob o aspecto formal e são “a priori”47; é
aqui (sob o aspecto formal) que o homem age pelo dever.
A máxima, por ser um princípio subjetivo do querer, não precisa necessariamente
confundir-se com o sentido de realizar os desejos particulares do agente e nem sempre
confundir-se com valores heterônomos. O que Kant propõe com o imperativo categórico é um
teste da aceitabilidade moral do que nos propusermos a realizar, que se concretiza sob a
seguinte reflexão:
Embora máximas sejam princípios da ação de agentes particulares em momentos
particulares, um mesmo princípio tem de ser adotado como uma máxima por muitos
agentes em vários momentos ou por dados agentes em numerosas ocasiões. Este é
um corolário da concepção de Kant de liberdade humana, em que podemos adotar
ou descartar máximas, incluídas aquelas que se referem aos nossos desejos48
(O’NEILL, 1989, p. 84, tradução nossa).
Ressalte-se que as máximas não são meramente princípios que podemos conceber (ou
mesmo desejar), mas sim os que queremos ou adotamos como princípios da ação. Querer não
se trata apenas de desejar algo em um caso, mas envolve um comprometimento para fazer
algo quando a oportunidade surge e é reconhecida. Este conceito advém da posição de Kant
de que quem quer o fim também quer os meios necessários para realizá-lo (cf. O’NEILL,
1989, pág. 90).
vulgar e o que Kant busca é fundamentá-lo na Metafísica dos Costumes, “[...] não só por motivos de ordem
especulativa para investigar a fonte dos princípios práticos que residem a priori na nossa razão, mas também
porque os próprios costumes ficam sujeitos a toda a sorte de perversão enquanto lhes faltar aquele fio condutor e
norma suprema do seu exacto julgamento.[...] (Ibidem, p. 16, grifo do autor).”
47
Não há consenso quanto a esta classificação: “Um conhecimento, que decide a regra do meu agir, será a cada
vez um tipo de experiência – nem máximas nem propósitos podem ser constituídos a priori. Mas, conforme
esclarecido anteriormente, são experiências de tipos distintos (BITTNER, Rüdiger. Máximas. Trad. Mauro Luiz
Engelmann e Rogério Passos Severo, rev. Valério Rohden. In: Studia Kantiana – Revista da Sociedade Kant
Brasileira, n. 5, 2004, p. 13, grifo do autor).”
48
“Although maxims are the principles of action of particular agents at particular times, one and the same
principle might be adopted as a maxim by many agents at various times or by a given agent on numerous
occasions. It is a corollary of Kant’s conception of human freedom that we can adopt or discard maxims,
including those maxims that refer to our desires (O’NEILL, 1989, p. 84, tradução nossa).”
67
Sob uma análise primária e superficial pode-se dizer que o argumento de Kant sobre a
fórmula do imperativo categórico demonstra ter uma fragilidade, certo que a máxima para o
agente moral deve ser formal e excluir a busca pela produção de resultados, mas, se assim
fosse, a única característica de um princípio formal (a máxima com a forma de uma lei) que
tivesse toda a sua matéria excluída seria a sua universalidade, ou mais, seria apenas uma
conformidade com a lei universal. A saída encontrada para esta aparente objeção – idêntica à
objeção levantada por Kelsen, vale lembrar – é excluir da máxima que rege a ação toda a
referência à satisfação das inclinações e à busca por resultados, tomando em tal caso uma
máxima puramente formal e que não esteja a serviço das inclinações, que tenha validade para
todos os agentes racionais (cf. PATON, op. cit., p. 71 e 72).
O formalismo e o legalismo atribuídos à filosofia moral kantiana também são objeto
de defesa para Paton. Segundo ele, isso tem conexão com a crença de que Kant proíba (ou
condene) ações pelos nossos próprios motivos e mande agir em prol de uma vaga abstração
cuja denominação é a lei. Mas segundo Kant, toda ação visa um resultado, fim ou objeto, a
nossa vontade é patologicamente determinada e isso gera interesses no homem para agir
conforme suas inclinações. Quando agimos sob este aspecto temos uma ação mediata, porque
visamos um objeto de desejo ou inclinação, no entanto temos um interesse imediato por ações
morais. Isso significa que quando agimos moralmente não agimos somente por respeito a uma
abstração vazia intitulada a lei, mas, contrariamente, tomamos interesse imediato na ação
quando a validade universal da sua máxima é suficiente para determinar as bases da
vontade.49 Posto que a lei (universal) é o princípio e a forma próprios da ação moral, as
consequências derivam da lei: não se deve fazer o contrário, obedecer a lei por causa das
consequências, estas que não podem ser a base para que uma ação tenha valor moral. O teste
de universalização do imperativo categórico tem a função de observar se a máxima da ação é
compatível com a natureza da lei universal que mantenho para mim e para os outros. (Ibidem,
p. 75).
A máxima (conduta de vida) válida para todos os seres racionais, longe de ser um
mero propósito momentâneo, orienta a ação moral. Conjugar este conceito de máxima com o
que expusemos sobre o método de isolamento das inclinações auxilia no entendimento do
49
É este interesse imediato pela ação moral, também chamado de reverência (ou respeito à lei), que dificulta a
distinção entre a ação moral e a ação movida por inclinações imediatas, como o caso da benevolência e da
compaixão; logo, a lei não é um fim para o qual a ação é um meio, tratando-se sim da forma ou princípio próprio
da ação.
68
conteúdo do imperativo categórico, que não é uma fórmula vazia. Desta forma,
diferentemente do que Kelsen atestou, máximas imorais não podem tornar-se leis universais
válidas para todos os seres racionais. Veremos adiante como máximas podem ser alçadas a
leis universais válidas para todos mediante o uso público da razão e, posteriormente, como
isso possibilita a relação e o convívio de vários agentes autônomos em sociedade, regulados
pelo direito.
3.2. Uma leitura contemporânea de Kant: Onora O’Neill e a importância do uso público
da razão
De acordo com O’Neill (2004), o conceito de autonomia kantiano foi relacionado ao
longo do tempo com outros conceitos como autocontrole, autorrealização ou autolegislação,
todos difundidos contemporaneamente, dando suporte a um individualismo autocentrado e
possessivo, supervalorizador da independência, dissociando a autonomia do sentido de
solidariedade e de um contexto social. Kant então surge neste panorama como o proponente
de uma ética individualista e a maior dificuldade relacionada à autonomia kantiana é saber
como pode haver um conceito coerente que não seja político ou individualista: “[...] Como
podemos dar sentido a uma Fórmula da Autonomia que apela para ‘a ideia do querer de todo
ser racional como uma vontade que legisla universalmente’? (O’ NEILL, 2004, p. 183, grifo
da autora, tradução nossa)”50.
A pergunta anterior é seguida por outras também de interpretação literal: Como
imaginar cada um, na pluralidade de agentes racionais, legislando universalmente para todos
sem haver conflito entre os princípios dos legisladores? Como uma pluralidade de vontades
não harmonizadas previamente pode ser ou se tornar uma legislação universal? A resposta a
estas questões só se encontra se os agentes que legislam universalmente seguirem estritamente
duas condições: primeiro escolher princípios que todo e qualquer ser racional poderia
selecionar e segundo, escolher princípios que todo e qualquer ser racional possa adotar como
50
“[...] How can we even make sense of a Formula of Autonomy that appeals to ‘the idea of the will of every
rational being as a will giving universal laws’? (O’NEILL, Onora. Autonomy, Plurality and Public Reason. In:
New Essays on the History of Autonomy: A Collection Honoring J. B. Schneewind. Natalie Brender e Larry
Krasnoff (org.). EUA, New York: Cambridge University Press, 2004, p. 183, tradução nossa, grifo da autora).”
69
uma base para conduzir suas vidas51, evitando segregações, do contrário, não seria uma
legislação universal (Ibidem, p. 184, tradução nossa).
Numa breve digressão acerca da indagação sobre como várias normas diferentes
podem refletir numa moralidade universal, incluímos aqui Eric Engle (2008, p. 48) que
também propõe, na tentativa de alcançar a resposta, uma análise dos significados de lei e de
direito:
Como diferentes sociedades podem ter regras diferentes que contudo refletem uma
moralidade universal? Enquanto diferentes sociedades têm padrões de justiça
diferentes, aquelas diferenças são funções do seu modo de produção que, devido aos
avanços tecnológicos, está em constante melhora. Dentro de um dado modo de
produção, entretanto, os padrões morais da sociedade são em sua maioria aceitos e
intersubjetivos. Eles refletem o julgamento moral e a capacidade de julgamento da
sociedade dependendo do seu estado de desenvolvimento econômico. Os padrões
são então universais no sentido de que nós não podemos condenar uma sociedade
por sua pobreza quando não havia alternativa para aquela pobreza. [...] Neste
sentido, os direitos humanos fundamentais são como uma roda, sempre movendo-se
para frente. Mesmo fora do sentido intersubjetivo, há padrões morais universais em
que algumas normas, como a proibição de matança ilegal, são atemporais e
universais. Ademais, os princípios morais de uma sociedade tendem a sobreviver às
transições e entrar numa fase seguinte de desenvolvimento. [...] Princípios morais
universais existem – mas eles não são inevitavelmente ou necessariamente
executáveis. As teorias jusnaturalistas, tanto quanto as positivistas, apenas têm a
metade da resposta para a questão ‘qual a relação entre lei e justiça’. Cada uma
deveria reexaminar a outra, preferencialmente sob a perspectiva do materialismo
histórico, para entender suas próprias falhas e as contribuições que a outra
perspectiva pode trazer (grifo do autor, tradução nossa).52
Retornando para as colocações de O’Neill (op. cit., p. 185), vemos que ter como
premissa a perspectiva de pluralidade de agentes aproxima a “fórmula da autonomia” ao
conceito de “reino dos fins” de Kant, não se tratando portanto de uma fórmula incoerente nem
51
É patente que esta definição harmoniza-se com o sentido de máxima sugerido por Bittner (2004), por isso
tratam-se de posicionamentos aos quais nos filiamos.
52
“How can differing societies have differing rules which nonetheless reflect a universal morality? While
differing societies have different standards of justice those differences are functions of their mode of production
which, due to technological advances, is constantly improving. Within a given mode of production however the
moral standards of society are generally accepted and are intersubjective. They reflect the moral judgment and
capacity of judgment of the society depending upon the society’s state of economic development. So the
standards are universal in the sense that we cannot condemn a poor society for its poverty when there was no
alternative to that poverty. […] In this sense, fundamental human rights are like a ratchet, ever moving forward.
Even outside of the intersubjective sense, there are universal moral standards in that some standards, such as
the prohibition of unlawful killing, are timeless and universal. Further, the moral principles of a society at one
phase of development tend to survive its transition as it enters into its next developmental phase. […] Universal
moral principles do exist – but they are not inevitably or necessarily enforced. The naturalist theories of law,
like the positivists, only have half of the answer to the question “what is the relation between law and justice”.
Each should reexamine the other, preferably from the perspective of historical materialism, to understand its
own flaws and the contributions that the other perspective might bring (ENGLE, op. cit., p. 48, tradução nossa,
grifo do autor).”
70
vazia. As leis têm uma estrutura formal e são formuladas como princípios para um certo
campo de domínio; a autolegislação (no sentido kantiano) tem, por sua vez, uma remissão
dupla à universalidade, com a ideia de que a legislação é realizada por todos os agentes e para
todos os agentes. Dessa conclusão percebe-se que o sentido kantiano de autonomia não leva
em conta a vida de agentes individuais, mas as vidas de uma pluralidade de agentes, então a
chave para uma leitura coerente da fórmula da autonomia de Kant é reconhecer que há uma
restrição na exigência de uma legislação universal de todos para todos, pois os legisladores só
podem legislar aqueles princípios que poderiam ser selecionados por todos e que seriam
prescritivos para todos.
Pode-se até objetar dizendo que a autonomia é um princípio que deriva de padrões
eternos da razão previamente estabelecidos ou então da obediência a um conhecimento
precedente do que seria a bondade. Pelo contrário, a moral baseada na autonomia não se
confunde com a irracionalidade ou a insensatez, pois ao fazer do princípio da autonomia o
princípio fundamental da nossa vontade, não nos subordinamos aos padrões anteriores da
razão, mas inventamos (ou construímos) padrões racionais de pensar e agir, que assumem a
forma de autoridade reconhecida em geral e que podem ser considerados como uma exigência
racional. Fica mais fácil esse entendimento sabendo que dois traços marcam todas as
discussões de Kant sobre razão: um é saber que não há nenhum cânone (da razão)
previamente dado para padronizar a razão humana e o outro traço é que, não havendo esses
padrões, devemos construí-los conjuntamente numa pluralidade de agentes. Ocorre que, com
o pressuposto de que não transferimos a fonte da obrigação da nossa vontade para os cânones
da razão, surge o problema de explicar como podemos ter padrões racionais sem submetê-los
a um despotismo moral ou cognitivo, ou seja, como saber se a vontade autônoma é ou não
racional (Ibidem, p. 186 e 187, tradução nossa).
Para responder ao problema acima a autora observa que as demandas (ou exigências)
da razão no querer e pensar (na prática e na teoria) correm em paralelo, ou seja, ambas são
constituídas e construídas pela estrutura específica que tem de ser imposta ao pensamento e à
ação, mas com a condição de que os agentes livres, na pluralidade, estejam aptos a seguir os
pensamentos e as ações uns dos outros. Isso quer dizer que apenas quando os agentes são
livres é que podem disciplinar o seu pensar e agir de forma que os outros possam seguir, além
do que, desta forma, os seus pensamentos e práticas exemplificam as exigências da razão, o
que é fundamental. A autonomia no pensar (falar e escrever) e no agir não é nada mais do que
71
tentarmos nos conduzir com base nos princípios que supomos que os outros se conduziriam
também e a razão é, em primeiro lugar, uma questão de esforço pela autonomia nas esferas do
pensar e do agir. Os textos kantianos mais úteis para entender essa base da razão na
autonomia são: Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?” ([1784], [2008?]) e Que
significa orientar-se no pensamento? ([1786], [2008?]), pois cada um dos textos declara
respectivamente que a concessão da razão às autoridades civis ou eclesiásticas é prejudicial
porque tem de ser livre e, que se o uso livre da razão não for disciplinado, não perdurará
porque não poderá ser seguido pelos outros.
O’ Neill (op. cit., p. 188) explica que, ao buscar seguir uma estrutura de “forma de lei”
– cuja característica é a universalidade - o pensamento ou a ação podem ser racionais,
tomando somente o cuidado de evitar a confusão entre “ter a forma da lei” e “ser legal”, pois
“ser legal” insinua uma fonte da razão ou legitimação inexplicada. Para assegurar que esta
exigência da razão de ter a forma de lei não seja um argumento fraco, nem para que
permaneçam dúvidas quanto a uma possível remissão a uma moralidade de obediência (a
algum tipo de autoridade), o texto Que significa orientar-se no pensamento? expressa a ideia
central de que o pensamento não disciplinado engendra um uso ilegal das nossas capacidades,
guiando-nos para a incoerência, e também a ideia de que sujeitar-se a um uso do pensamento
disciplinado por uma autoridade exterior é anuir com a obediência.
O texto Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?” também tem considerações
sobre razão e autonomia voltadas para a vontade e para a ação como pensar (comunicação
falada, escrita). Tomando parte em concepções iluministas, as ideias remetem-se ao
esclarecimento pressupondo a autonomia na condução do pensamento e da vida, condenada a
sua cessão a qualquer autoridade; tudo ocorre sob um processo de libertação pela
autodisciplina no uso das capacidades pessoais - incompletas no uso privado da razão e livres
no uso público da razão, onde não há interferência da arbitrariedade das autoridades. Segundo
a autora, é possível entender no texto qual é o alcance do uso público e do uso privado da
razão:
O uso privado da razão foi criado para ser seguido apenas por um público restrito:
ele pressupõe ao menos algumas hipóteses arbitrárias, definidas e compartilhadas
por este público restrito. Os princípios da razão privada todavia não podem ser
legislados universalmente. Na medida em que contam com um uso parcial e privado
das nossas capacidades da razão, obedecemos e nos conformamos com a autoridade
dada, para a qual não podemos dar razão, então só podemos oferecer razões que são
condicionadas àquela autoridade. [...] Em alguns contextos da vida, a confiança
72
nesses argumentos de autoridade pode ser o suficiente, mas em outros não será
sustentável. Apenas pensar e querer sem pressupor nenhum tipo de autoridade
arbitrária permite alcançar os outros; apenas este raciocínio é completamente
público e tem a forma de lei. O uso completamente público da razão é criado para
alcançar “o mundo em geral” […] (O’NEILL, op. cit., p. 190, tradução nossa). 53
O uso público da razão demanda a possibilidade de se tornar pública, ou “publicizar”
[sic] a comunicação, o que difere de apenas dar-lhe publicidade. Naquela, a especificidade
reside em que, independentemente dos meios disponíveis, a comunicação falhará se o
interlocutor não seguir valores (ou padrões) interpretáveis pelos outros. O conceito de uso
privado da razão, por seu turno, não tem conotação meramente individual ou pessoal, pois os
exemplos de cargos de oficiais, clérigos e servidores civis, que exigem o uso privado da razão
e aos quais Kant se refere em Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?” têm regras
definidas pelo estado e pela igreja e os meios de expressão dos agentes (atos e opiniões),
enquanto sujeitos a estas regras, não visam a alcançar o “mundo em geral”, mas sim um
público restrito e definido por alguma autoridade (Idem, 1989, p. 33, tradução nossa).
Entendemos com isso que a teoria kantiana não obriga a sermos autônomos no pensar
e agir, nem a fazermos um uso da liberdade na forma da lei, mas, se escolhermos ser
autônomos, nossas escolhas serão de fato autolegisladas. O texto kantiano anteriormente
mencionado também enfatiza que é mais cômodo ser obediente (subserviente) do que ser
autônomo, mas há um preço a se pagar por isso: ter o pensar e o agir cerceados por
arbitrariedades e pela subserviência. É assim que se explica como Kant lança mão da razão,
porquanto se fôssemos perguntados sobre o que esperaríamos que a razão oferecesse, a
resposta seria: que proporcionasse um padrão (ou valor) que fosse acessível, que pudéssemos
organizar e estruturar nosso agir e nosso pensar de modo a que os outros pudessem fazer o
mesmo. Como os valores (ou padrões) não são postos de cima, temos que construí-los com
confiança no fato de que qualquer coisa que for considerada racional tem de ser aproveitável
pela pluralidade de seres livres com quem nós busquemos viver e interagir (Idem, 2004, p.
191).
53
“Private uses of reason are designed to be followed only by some restricted audience: they presuppose at least
some arbitrary assumptions, which define and are shared by that restricted audience. The principles of private
reasoning cannot therefore be universally legislated. Insofar as we rely on partial, private uses of our reasoning
capacities, we conform to or obey some given authority, for which we can give no reason, so can offer only
reasons that are conditional on that authority. […] In some contexts of life, reliance on such arguments from
authority may be enough, but in others it will be question-begging. Only thinking and willing that do not
presuppose any such arbitrary authorities are fit to reach all others; only such reasoning is fully public and fully
lawlike. Fully public reasoning is designed to reach ‘the world at large’ [...] (O’NEILL, op. cit., p. 190, tradução
nossa).”
73
O uso público da razão pode alcançar o mundo em geral desde que sob uma forma
adequada, ou seja, deve apenas assumir uma autoridade que possa ser aceita por um público
irrestrito. Uma vez que o conceito de “mundo em geral” não corresponde à aceitação de uma
autoridade externa, a única autoridade que pode ser assumida tem que ser intrínseca à
comunicação, que para Kant, é a razão (Idem, 1989, p. 35).
É por esse motivo que Kant faz menção à liberdade do pensamento em Que significa
orientar-se no pensamento?, ressaltando o quão necessário é a razão submeter-se às leis que
ela própria se dá e não submeter-se às leis provenientes de autoridades exteriores:
[...] a liberdade de pensamento significa ainda que a razão não se submete a
nenhumas outras leis a não ser àquelas que ela a si mesmo dá; e o seu contrário é a
máxima de um uso sem lei da razão (para assim, como imagina o génio, ver mais
longe do que sob a restrição imposta pelas leis). A consequência que daí se tira é
naturalmente esta: se a razão não quer submeter-se à lei, que ela a si própria dá, tem
de se curvar sob o jugo da lei que um outro lhe dá; pois, sem lei alguma, nada, nem
sequer a maior absurdidade, se pode exercer durante muito tempo. Por conseguinte,
a consequência inevitável da declarada inexistência de lei no pensamento (a
libertação das restrições impostas pela razão) é esta: a liberdade de pensar acaba por
se perder e, porque a culpa não é de alguma infelicidade, mas de uma verdadeira
arrogância, a liberdade, no sentido genuíno da palavra, é confiscada (KANT,
[2008?], p. 16, grifos do autor).
Encontramos na filosofia de Kant uma tentativa de mostrar como o pensar e o agir
podem, não obstante, incorporar valores (ou padrões) autênticos para comunicação e crítica,
que inclusive compreendem restrições. Legislar universalmente implica a imposição de
autolimitações, ou melhor, implica disciplinar o pensar e o agir, assim, O’Neill (2004, p. 192)
descreve a autonomia kantiana:
[...] é a prática de disciplinar o pensamento e a ação de forma que sejam
acompanháveis pelos outros – e se formos completamente autônomos, por todos. A
estrutura de forma de lei e a estratégia que os agentes autônomos incorporam no seu
pensar e agir, considerados em abstrato, são as estruturas e estratégias básicas da
razão, às quais todos os outros princípios racionais se subordinam. As implicações
mais determinadas da ação e da vontade definem o alcance da ação permitida, e os
limites (da vontade) do querer determinam os princípios da ação em que haja razão
para rejeitar, e assim fixam a forma básica dos princípios da obrigação dentre a
pluralidade (grifo da autora, tradução nossa). 54
54
“[...] is the practice of disciplining thought and action in ways that make them followable by others – and if we
are fully autonomous, by all others. The lawlike structure and strategy that autonomous agents incorporate in
their thinking and willing, considered in the abstract, are the basic structures and strategies of reason, to which
all other reasoned principles are subordinate. The more determinate implications of autonomous willing and
action define the range of permissible action, and the limits of autonomous willing determine the principles of
74
Depreendemos desta exposição que em vez de conceber um valor ou juízo moral
anteriormente estabelecido ou, no lugar de sugerir que o imperativo categórico seja vazio
porque não contém um conteúdo pré-definido, podemos racionalmente (fazendo uso público
da razão, na pluralidade de agentes autônomos) chegar a um ou mais valores (ou padrões)
morais que preencham esta fórmula da moralidade, tendo ela a forma de lei válida
universalmente. Passaremos agora para a relação desta concepção de uso público da razão
com o direito feita por O’Neill (1989, 2004), apresentando-se como uma alternativa à
metodologia kelseniana.
3.3. Kant, Kelsen, o direito e a ciência jurídica: uma valoração ponderada
Começaremos este tópico com o objetivo de sugerir alguns desdobramentos da análise
kelseniana sobre Kant, procurando demonstrar ser possível uma valoração sobre o direito e,
para tanto, traremos para discussão a relação existente entre o direito e a moral sob o princípio
universal do direito apresentado no livro A Metafísica dos Costumes, ([1797], 1991), onde se
desenvolve a doutrina jurídica kantiana. Faremos paralelos entre as teorias de Kant e Kelsen
com o suporte das obras de Matos (2006) e Gomes (2004) e de forma concomitante
justificaremos nossa opção teórica, não tão distante da interpretação kelseniana, haja vista
suas importantes contribuições, mas que permita a incidência dos juízos de valor sobre o
direito, trabalhando também com o conceito de uso público da razão trazido por O’Neill
(1989, 2004) e com as críticas à obra de Kelsen feitas por Machado (2009).
Kant, na Metafísica dos Costumes, descreve o direito como “[...] a soma das condições
pelas quais a escolha de alguém pode unir-se à escolha de outro conforme uma lei universal
de validade
55
(KANT, 1991, p. 56, tradução nossa)” e assenta o seu princípio universal:
“Qualquer ação é correta se puder coexistir com a liberdade de todos em conformidade com
uma lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir
action that there is reason to reject, and thereby fix the basic shape of principles of obligation among the
plurality (O’NEILL, op. cit., p. 192, tradução nossa, grifo da autora).”
55
“[...] the sum of the conditions under which the choice of one can be united with the choice of another in
accordance with a universal law of freedom (KANT, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Trad. (inglês) Mary
Gregor. EUA, Nova Iorque: Cambridge University Press, 1991, p. 56, tradução nossa).”
75
com a liberdade de todos em concordância com uma lei universal56 (Idem, ibidem, grifo do
autor, tradução nossa).”
Kant (1991, p. 42) traça a relação da razão prática com as escolhas do ser racional, de
forma que a escolha que pode ser determinada por ela denomina-se livre arbítrio e a escolha
que pode ser determinada somente pela inclinação (incluídos nesta o estímulo e o impulso
sensíveis) denomina-se arbítrio animal (ou bruto). Sobre esta diferença explica ainda que
embora a vontade humana possa ser afetada pelas inclinações, há nela a liberdade de
determinar-se pela razão pura. A consequência dessa liberdade na determinação da vontade é
o estabelecimento da moral como um gênero ao qual pertencem as espécies – direito e ética
(esta no sentido de moral “stricto sensu”) - com suas respectivas leis e campos de atuação57:
[...] Em contraste com as leis da natureza, essas leis da liberdade chamam-se leis
morais. Quando direcionadas meramente a ações externas e à sua conformidade à
lei, são chamadas de leis jurídicas; mas, se elas também requererem que as próprias
leis sejam os fundamentos determinantes das ações, são leis éticas e, então, pode-se
dizer que a conformidade com as leis jurídicas é a legalidade numa ação, e a
conformidade com as leis éticas é sua moralidade. A liberdade à qual as primeiras
leis se referem só pode ser liberdade no uso externo da escolha, mas a liberdade à
qual as últimas se referem é liberdade tanto no uso externo como no interno da
escolha, porquanto é determinada por leis da razão [...] (Idem, ibidem, grifos do
autor, tradução nossa).58
Como doutrina sistemática, o direito apoiando-se somente em princípios “a priori”,
considera-se direito natural, e quando é proveniente da vontade do legislador, é chamado de
direito positivo. Quanto aos deveres, se submetidos à legislação externa, são deveres do
direito e quando não se submetem ao alcance da legislação externa, são deveres da virtude (ou
internos) (Ibidem, p. 63 e 64). Resulta disso que a mera ação conforme ao dever pode
significar uma legalidade, mas não implicar na moralidade, ou seja, a ação pode estar
conforme a uma lei externa (ser legal) e não ser moral; isso ocorre porque na ação moral o
56
“Any action is right if it can coexist with everyone’s freedom in accordance with a universal law, or if on its
maxim the freedom of choice of each can coexist with everyone’s freedom in accordance with a universal law
(Idem, Ibidem, tradução nossa, grifo do autor).”
57
Manteremos nossa interpretação quanto a esta divisão, embora haja a divergência expressa de Gomes (2004):
“Como vimos, a ética kantiana divide-se em Moral e Direito. [...] (GOMES, Alexandre Travessoni. O
Fundamento da Validade do Direito: Kant e Kelsen. 2ª ed.rev., atual., ampl. Belo Horizonte: Mandamentos,
2004).”
58
“[...] In contrast to laws of nature, these laws of freedom are called moral laws. As directed merely to external
actions and their conformity to law they are called juridical laws; but if they also require that they (the laws)
themselves be the determining grounds of actions, they are ethical laws, and then one says that conformity with
juridical laws is the legality of an action and conformity with ethical laws is its morality. The freedom to which
the former laws refer can be only freedom in the external use of choice, but the freedom to which the latter refer
is freedom in both external and the internal use of the choice, insofar as it is determined by laws of reason [...]
(KANT, 1991, p. 42, tradução nossa, grifos do autor).”
76
agente estabelece os princípios que regem a ação (universalmente válidos) e ele próprio os
obedece (se submete) (Ibidem, p. 51).
A teoria de Kant, de acordo com Höffe (1986), por prever a convivência de seres
racionais sob o princípio da moralidade, deve necessariamente revestir-se de um caráter
jurídico. O direito aqui não se trata de um sistema arbitrário no qual os homens creiam, pelo
contrário, implica num critério para julgamento da legitimidade de todas as leis positivas,
doravante não é qualquer prescrição jurídica que pode ser considerada lícita ou obrigatória:
[...] São racionais ou legítimas unicamente aquelas prescrições que tornam
compatível a liberdade de um com a liberdade de todos os outros, conforme leis
estritamente gerais. Este critério é na esfera da teoria jurídica o equivalente ao que é
o imperativo categórico na esfera da ética (teoria da virtude). Obriga a comunidade
livre a cumprir a legalidade geral, exatamente igual o imperativo categórico obriga a
vontade pessoal a cumprir máximas autoimpostas59 (p. 201, grifo nosso, tradução
nossa).
O’Neill (1989, p. 103) sustenta que do imperativo categórico derivam, sem dúvidas,
princípios específicos da justiça em Kant, onde há a necessidade da legislação exterior a partir
do direito. Deste modo, o teste de universalização kantiano tem a função de guiar os seres
racionais em suas deliberações morais e também possibilita compreender que nunca haverá
certeza a respeito das máximas alheias, na avaliação do valor moral das ações a partir dos
aspectos exteriores. Daí pode-se até considerar que a teoria moral kantiana não permita julgar
o valor moral das ações dos outros e, nesse caso, aspectos exteriores da ação não teriam
importância, porém, segundo a autora, inevitavelmente esses aspectos são de interesse público
e o direito existe para regulá-los.
Loparic (2003, p. 8) também contribui no sentido de descrever o propósito último da
metafísica dos costumes:
Vimos que o objetivo último da metafísica da natureza é servir de programa a priori
da pesquisa científica. O propósito último da metafísica dos costumes é análogo:
legislar a priori sobre a práxis humana e, desta feita, possibilitar a priori a resolução
de todos os problemas – jurídicos e outros – que surgem do uso externo da nossa
59
“[...] Son racionales o legítimas únicamente aquellas prescripciones que hacen compatible la libertad de uno
con la libertad de todos los otros, conforme a leyes estrictamente generales. Este criterio es en la esfera de la
teoria jurídica el equivalente de lo que es el imperativo categórico en la esfera de la ética (teoria de la virtud).
Obliga a la comunidad libre a cumplir la legalidad general, exactamente igual que el imperativo categórico
obliga a la voluntad personal a cumplir las máximas autoimpuestas (HÖFFE, op. cit., p. 201, grifo nosso,
tradução nossa).”
77
liberdade (das relações entre os livres arbítrios dos agentes humanos) (grifos do
autor).
O direito em Kant possui definitivamente um princípio moral subjacente em seu
fundamento e é exatamente neste ponto que Kelsen diverge, separando a moral do direito para
analisá-lo sob uma ciência jurídica isenta de interferências. Havíamos começado esta seção
asseverando que optamos por um direito que possa ser valorado, mas deve ser feito de uma
forma ponderada: o que isso significa? Aliás, para podermos extrair uma possível valoração
ponderada dentre essas duas teorias do direito, seria possível fazermos um paralelo no direito
entre Kant e Kelsen?
Gomes (2004) trabalhou exatamente neste estudo comparado e denota que, em Kelsen,
o elemento básico da discussão em Kant - a liberdade - é considerado estático pelo fato de a
razão poder, “a priori”, distinguir algo como bom e a partir daí determinar o conteúdo do
direito e da moral. A teoria relativista de Kelsen não considera haver um bom “a priori”, pois
cada um pode ter um conceito do que seja o bom: “[...] A diferença entre a norma
fundamental e a liberdade kantiana decorre, portanto, da insuperável divergência entre a Ética
kantiana, absolutista na linguagem kelseniana, e o relativismo filosófico que acompanha o
positivismo de Kelsen (p. 288).”
Ocorre que em Kant, respectivamente, à moral e ao direito correspondem a autonomia
e a heteronomia, além de o direito fundamentar-se na moral. O direito, por seu turno, serve
para manter a coexistência das liberdades de todos em sociedade, pelo fato de o ser racional
possuir o livre arbítrio e poder querer agir em desacordo com as liberdades alheias: é desta
forma que o direito se fundamenta na liberdade e na moral, coagindo o ser racional através da
pena a conduzir-se conforme a lei jurídica, uma vez que a moral não coage externamente (cf.
GOMES, op. cit., p. 141 e 143). Em um complemento ao que foi dito anteriormente, vê-se
que a liberdade tem seu valor materializado através da exteriorização das normas jurídicas
positivas, o que permite a coexistência livre dos seres racionais e demonstra que os conteúdos
da lei moral e do direito em Kant não são somente formais, esquema que, aliás, não difere
muito da criação kelseniana:
[...] Os valores da liberdade e da igualdade fundamentam, em Kant, o valor da
justiça, que vincula o direito e a moral. Se é correto que a Filosofia prática kantiana
é formal, não se pode esquecer de que o valor que a fundamenta, a liberdade (que
78
traz também o valor da igualdade), determina o conteúdo da lei moral e do direito,
sendo, nesse sentido, material.
[ ]
Kelsen, repetindo a posição kantiana, afirma que o valor decorre da norma. Mas,
para Kelsen, a ordem normativa não é, ao contrário do que pensa Kant, fundada em
um valor transcendental, mas em uma norma fundamental. A crítica dirigida pela
Axiologia moderna à Filosofia prática kantiana caberia se endereçada a Kelsen, para
quem o valor decorre da norma, não estando a norma fundada num valor
transcendental a priori como em Kant. Em Kant os valores decorrem da lei moral,
mas a lei moral decorre de um valor hierarquicamente superior (liberdade); em
Kelsen, igualmente, os valores decorrem das normas, mas não há, como veremos,
um valor superior que fundamente essas normas (Ibidem, p. 149, grifo do autor).
Todavia, pelo fato de as liberdades serem reguladas exteriormente pelo direito, isso
não significa que esta relação jurídica recaia na individualidade (relações jurídicas baseadas
apenas nos arbítrios dos sujeitos), perdendo seu caráter social, porque se deve manter em foco
o caráter universal regulador das ações humanas:
Contudo, parece-nos que a crítica sofrida por Kant, a de que uma relação jurídica tal
como ele propõe apresenta elementos individualistas, é superada na medida em que
seja compreendido e aceito o caráter universal do princípio regulador das relações
humanas neste âmbito, bem como a capacidade que todos os sujeitos têm de cumprir
este princípio e impor a si mesmos a partir de sua vontade, igual a dos demais, já
que sujeitos racionais e livres (PEDROSO, 2007, p. 94).
Gomes (op. cit., p. 244) adiciona outra diferença entre a norma fundamental de Kelsen
e a liberdade em Kant, que consiste em a Teoria Pura do Direito não justificar de forma ética
e nem de forma política seu fundamento de validade, porque o conteúdo da ordem jurídica
não mantém relação com a norma fundamental, diferente das teorias jusnaturalistas, onde a
ordem posta pela natureza tem uma autoridade superior e fundamenta a validade jurídica.
Segue que a norma fundamental kelseniana origina-se de uma pressuposição a partir do meio
empírico, da experiência da ordem normativa positiva:
A norma fundamental pode, portanto, ser comparada à liberdade em Kant, pois há
uma semelhança evidente entre os esquemas de pressuposição desses fundamentos
de validade. Mas há uma diferença significativa: a liberdade, por ser idéia,
independe da experiência e constitui o fundamento puramente racional: é preciso se
pensar a liberdade para que seja possível a Ética (moral e direito) [sic],
independentemente da experiência de uma moral ou de um direito positivo. A norma
fundamental, ao contrário, é pressuposta a partir de uma ordem positiva (a partir da
experiência) (GOMES, 2004, p. 273).
A posição kelseniana acerca da axiologia jurídica, conforme Machado (2009), envolve
duas circunstâncias: a primeira é o conceito positivista acerca de ciência e o segundo o
preconceito positivista de que todo conhecimento se desdobra no empirismo das ciências
79
naturais ou no conhecimento das ciências formais hipotético-dedutivas (ex. lógica).
Inicialmente a ciência jurídica resumiu-se à sociologia jurídica, baseando-se em fatos
verificáveis empiricamente, mas Kelsen se opôs a esta corrente buscando trazer autonomia
para a ciência jurídica perante a psicologia e a sociologia jurídicas, que segundo ele
ocupavam-se de fatos empíricos. Entende, portanto, a ciência do direito como ciência
normativa (que se ocupa das próprias normas), mais próxima das ciências hipotéticodedutivas e afastada das ciências empíricas, desta forma, sua metodologia procede somente
das normas jurídicas porque não poderia ter esteio nos fatos sociais nem naturais. A pureza
metodológica tornou-se indispensável para garantir a cientificidade e a autonomia do direito,
evitando que “sincretismo metodológico” da jurisprudência tradicional da época informasse o
processo mental do jurista (cientista do direito) no ato da análise:
KELSEN, com efeito, empreendeu uma vez mais superar o velho complexo de
inferioridade da ciência jurídica, fundar o seu carácter científico, determinando-lhe
um objecto: as normas jurídicas e as conexões <<de validade>> entre elas, e
fixando-lhe um método específico: o método normológico, que se caracteriza por
fazer abstracção do substrato sociológico do Direito – dos conteúdos ético-jurídicos,
político-sociais ou político-econômicos e dos fins dos preceitos jurídicos -,
limitando a incidência da sua visualização àquelas conexões <<de validade>> e às
relações lógicas entre conceitos fundamentais de natureza formal. Assim constituída,
a ciência jurídica satisfaz aos postulados da cientificidade, já que opera tão-somente
com conceitos rigorosamente definidos a partir de alguns axiomas fundamentais,
utilizando o instrumento da lógica formal, e exclui por completo todos os conceitos
indeterminados (isto é, insusceptíveis de definição precisa nos quadros de uma
axiomática), assim como todos os juízos de valor (MACHADO, op. cit., p. 11,
grifos do autor).
Japiassu (1975, p. 100) revela que a ciência atual (incluímos neste gênero a ciência
jurídica apresentada acima), gera um profundo hiato entre o conhecimento objetivo a e teoria
dos valores, pois a cientificidade corresponde a ignorar os valores e, com isso torna-se
incapaz de fundar uma ética objetiva. A posição dos cientistas diante desta situação segue
duas vertentes: ou eles aceitam sua alienação como algo natural, perpetuando a dicotomia
entre a responsabilidade de criação e a utilização de seu saber, ou reagem contra,
abandonando a ideia de que a ciência seja positiva e neutra e adotam em relação a ela uma
atitude mais crítica e responsável. Cabe, portanto, a quem se debruça sobre o objeto científico
a fim de estudá-lo, em nosso caso o direito, reconhecer os valores que o permeiam e apontar o
caminho para aprimorá-lo:
[...] Por sua indiferença relativamente à construção de um ‘projeto coletivo’ para os
homens, e por seu ceticismo em face das transformações verdadeiramente humanas
da sociedade, a ‘ciência neutra’ contribui poderosamente para aumentar e reforçar
80
não apenas a alienação dos homens em geral, dos cientistas em especial, mas a
eficácia alienante dos processos naturais e históricos, no quadro das estruturas sócioculturais existentes. Ora, uma sociedade que ‘diviniza’ e privilegia este tipo de
ciência, está privando-se de um grande potencial de consciência crítica. Donde a
necessidade de redefinir os fundamentos epistemológicos da ciência. Porque, na
prática, ela está penetrada pelas normas, pelos valores e pelas ideologias de seu meio
sócio-cultural. E descobrir a importância desses fatores é sumamente importante
para que os cientistas se sintam também responsáveis por aquilo que fazem (Ibidem,
p. 108, grifos do autor).
A principal questão a saber é se esta leitura estrutural (ou leitura lógico-objetivante) do
fenômeno jurídico, que visa o direito apenas como um “dado” - abstraindo os fins das normas
e os conteúdos ético-políticos destas -, é capaz de nos permitir apreender todas as dimensões
do jurídico. Obtendo êxito ao negar o direito como um dado abriremos então caminho para a
valoração na ciência jurídica.
Compartilhamos com a posição de Machado (op. cit.), para quem a tarefa da
jurisprudência (ciência jurídica) é realizar concretamente o direito, fazendo-o operar sobre as
situações da vida, pretendendo dirigir o curso dos aconteceres, moldando a história. A leitura
kelseniana positivista e lógico-objetivante não é suficiente para a apreensão das diversas
dimensões do direito. O direito surge como intencionalidade operatória, pois ele não se realiza
ou cumpre em normas, mas intenta intervir no processo histórico sem deixar-se transformar
em fato (ou dado) inerte; considerar o direito como um dado é vê-lo como mero desenho de
encaixe estrutural: “[...] a jurisprudência não pode bastar-se com a <<leitura>> estrutural do
Direito, com a perspectiva lógico-objectivante – pois que a esta escapa a dimensão vital do
jurídico, o seu sentido modelador da vida. (MACHADO, op. cit., p. 15, grifo do autor)”. E
assegura que: “[...] toda e qualquer ciência só pode manter-se na medida em que consinta uma
abertura dialéctica no seu sistema, por modo a facultar uma adultação <<estratégica>> às
exigências da praxis (Ibidem, p. 37, grifos do autor).”
Pelo exposto acima vemos que a leitura de Kant proposta por O’Neill (1989, p. 47)
atende como método à necessidade de uma ciência jurídica que se adeque continuamente às
exigências dessa intencionalidade operatória do direito, através da construção de uma forma
de comunicação entre os seres a quem não foi dada nenhuma coordenação natural ou préestabelecida, que resulta no desenvolvimento da comunicação entre eles e fundamenta-se nos
princípios da razão. Em conjunto, os seres racionais conviventes em sociedade têm a
capacidade de avaliar e inclusive de testar moralmente, fazendo uso público de sua razão, se
os valores e as normas jurídicas às quais se submetem correspondem às suas necessidades e
81
são válidas universalmente, ou seja, que todos possam adotar e seguir. Esse é o primeiro passo
para a construção racional de princípios que sirvam para reger o convívio social.
Usar publicamente a razão no agir e no pensar é uma mudança importante para evitar
uma recondução à possibilidade do uso instrumental da ciência jurídica, para que ela não se
submeta às manipulações de quem, em suma, deveria ser seu destinatário:
Vê-se, pois, que o Direito tem de transcender a sua fórmula. Na verdade, se o
Direito fosse redutível à sua estrutura formal, como <<dado>> – tal como postularia
aquele tipo de visualização científica responsável pela construção da imagem técnica
do mundo -, ou seja, se ele fosse adequadamente pensável independentemente da
sua intencionalidade operatória, seria legítimo encará-lo como objecto ou
instrumento de uma outra intenção que não a sua própria. Mas não terá o Direito de
sobrepor-se às manipulações de seus destinatários – tal como tem de se sobrepor ao
aleatório do fluxo dos aconteceres do processo histórico -; não tem ele que se erguer
para além do alcance das possíveis manobras combinatórias dos indivíduos que
<<tecnicamente>> o procuram afeiçoar aos seus desígnios, se quer reservar-se o
papel de agente, o lugar de comando? (MACHADO, op. cit., p. 19, grifos do autor).
O motivo de Kelsen não reconhecer cientificidade à sociologia jurídica e ao
jusnaturalismo deve-se ao fato de a sua própria teoria e a sua posição sobre justiça e direito
natural condicionarem-se ambas por um conceito de ciência resultante da teoria
transcendental kantiana que, para o positivismo, traduz o único tipo de conhecimento válido:
A posição de Kelsen, é pois, paralela da do jusracionalismo – só que tem na base
uma razão teorético-gnoseológica: não é possível saltar para fora do plano geral e
abstracto da redução científica (e da formulação das normas) sem abandonar, do
mesmo passo, o terreno da ciência – a qual só pode ter por objecto aquilo que se
revela como denknotwendig: como forma necessária do pensamento. Por essa razão,
KELSEN, aplicando as categorias e esquemas da razão teorética num domínio da
razão prática, deixa escapar o verdadeiro sentido do normativo. Como todo o
positivismo, também o normativismo se dirige à dominação técnica e não à
compreensão do Direito [...]. Decorre das considerações anteriores que uma tal
posição é informada e condicionada por uma concepção idealista e transcendental da
ciência a qual isola o processo científico da praxis, hipostasiando as suas formas
(Ibidem, p. 33, grifos do autor).
Quanto a análise específica do conceito de razão prática kantiana feita por Kelsen,
Machado (op. cit., p. 39) arremata: “[...] cremos que ela não é conforme com a interpretação
tradicional da doutrina kantiana nem com o ethos desta mesma doutrina – se bem que nos
pareça que o próprio KANT deve ser responsabilizado pela crítica que Kelsen agora lhe faz
(grifo do autor).”
82
Valorar de forma ponderada o direito sob a ótica da ciência jurídica é possível, desde
que considerado o conhecimento do homem em relação ao mundo como fundamentalmente
do tipo operatório, através de um “a priori” dinâmico; é sobre este pressuposto que Machado
(op. cit., p. 23) sustenta a sua posição: “[...] Aderimos, pois, ao ponto de vista do que alguns
chamam de <<transcendentalismo aberto>>, elemento motor e constituinte de uma
<<aprendizagem>> no decurso da qual ele próprio evoluciona e se redefine (grifos do autor).”
Esse ponto de vista, por ser aplicado ao direito - o objeto da ciência jurídica -, mantém relação
com o texto O Conflito das Faculdades ([1798], 1993), em que Kant faz uma reflexão sobre o
movimento iluminista e da redefinição dos valores da época, além de seus reflexos para a
posteridade.
Nesse texto, Kant também examina especificamente o conflito entre a faculdade de
direito e a faculdade filosófica, questionando se o gênero humano estaria ou não sob um
constante progresso para o melhor, de forma a perscrutar a “história moral” dos homens
vivendo em sociedade. Nele, Kant admite a existência de uma narrativa sobre um futuro
iminente, sendo uma descrição “a priori”, que se torna possível se “o próprio adivinho faz e
organiza os eventos que previamente anuncia (KANT, 1993, p. 95, grifo do autor).” Além
disso, ele descreve de que forma o homem tem a capacidade de construir seu próprio futuro,
além de, em outras palavras, poder predizê-lo ou profetizá-lo:
Se ao homem se pudesse atribuir uma vontade inata e invariavelmente boa, embora
limitada, ele poderia vaticinar com certeza a progressão da sua espécie para o
melhor, porque ela diria respeito a um evento que ele próprio pode produzir. Mas
face à mescla do bem e do mal na disposição, e cuja proporção ele não conhece, não
sabe que efeito daí pode esperar (Ibidem, p. 100).
A apresentação da leitura kantiana que enfatiza o uso público da razão complementa as
citações acima, pois ela prevê um princípio nuclear na autonomia - a não submissão às
autoridades infundadas (autoridades exteriores), enquanto deve ser fundamentada na razão. A
autonomia kantiana é viver segundo os princípios da razão, não deve ser confundida com
autoafirmação nem independência, mas sim com a procura por agir e pensar de acordo com os
princípios que todos possam, através da comunicação, adotar e seguir livremente (O’NEILL,
1992, p. 299).
Sob o uso público da razão ainda é possível a construção de direitos e obrigações,
levando em consideração requisitos mínimos de racionalidade e condição humana, sem que se
83
siga uma forma arbitrária e nem apelando para uma mera pluralidade de intuições morais sem
ordem. Sua base é análoga ao modelo de construção de um edifício, onde as partes são unidas
visando a coerência e o funcionamento da estrutura, portanto ela deve ser forte o suficiente
para guiar as ações e reflexões de uma pluralidade de seres racionais distintos: “[…] Ela
propõe que construamos uma explicação racional de exigências éticas que pressuponha
apenas sermos seres desagregados cuja interação não é mediada por instintos naturais nem por
programação sobrenatural, mas por processos de razão prática60 (Idem, 1989, p. 194, tradução
nossa).”
Ademais, o caminho para o estudo valorativo do direito não nos parece obscuro, até
porque as contribuições são fundamentais para que haja um acompanhamento e adequação
constantes entre as normas e a sociedade. Há até quem julgue o direito e a ética serem
disciplinas gêmeas:
Há três razões em que a ética é uma disciplina altamente produtiva para pesquisa
jurídica. Primeiro, seu assunto, a moralidade, e a disciplina acadêmica dividem
características importantes com o direito e a pesquisa jurídica, respectivamente.
Segundo, há uma sobreposição no conteúdo, e as disciplinas têm muitos conceitos
centrais em comum, como democracia, direitos humanos e justiça. Terceiro, como o
direito é normativamente uma prática aberta, referências a ideias morais e
consequentemente as preocupações com a ética são inevitáveis. Se advogados ou
juristas querem explorar os limites do direito à privacidade ou o que um ‘homem
razoável’ deve fazer, eles precisam recorrer à ética. Logo, devemos considerar a
pesquisa jurídica e a ética como disciplinas gêmeas: proximamente relacionadas e
em muitos aspectos similares61 (BURG, 2010, p. 2, tradução nossa).
Refutamos a hipótese de que o processo da valoração do direito, o objeto de estudo da
ciência jurídica - atentando à sua redefinição e aprimoramento62 -, não possa ser considerado
ciência, sendo que estará sob a ressalva da submissão ao uso público da razão: “E não se diga
que um tal proceder é incientífico, pois, como vimos, toda e qualquer ciência só pode manter-
60
“[...] It proposes that we construct a rational account of ethical requirements that pressuposes only that we
are separate beings whose interaction is mediated neither by natural instinct nor by supernatural programming,
but by processes of practical reasoning (O’NEILL, 1989, p. 194, tradução nossa).”
61
“There are three reasons that ethics is a highly productive discipline for legal research. First, its subject,
morality, and the academic discipline itself share important characteristics with law and legal research,
respectively. Both disciplines are hermeneutic, normative, argumentative, and interdisciplinary. Second, there is
an overlap in content, and the disciplines have many central concepts in common, such as democracy, human
rights, and justice. Third, as law is a normatively open practice, references to moral ideas and hence to
exercises in ethics are often unavoidable. If lawyers or legal researches want to explore the limits of the legal
right to privacy or what a ‘reasonable man’ should do, they need to have recourse to ethics. Therefore, we may
regar legal research and ethics as twin disciplines: closely related and in many respects similar (VAN DER
BURG, 2010, p. 2).”
62
Incluídos os valores morais e jurídicos.
84
se na medida em que consinta uma abertura dialéctica no seu sistema, por modo a facultar
uma adultação <<estratégica>> às exigências da praxis (MACHADO, op. cit., p. 37).”
Entendemos que as ciências humanas, incluída nelas a ciência jurídica, não podem
prescrever leis da mesma forma que as ciências naturais. Além disso, diferentemente das
ciências naturais, naquelas há o fator da vontade humana, que incide inevitavelmente sobre o
comportamento do homem; assim, podemos dizer que a ciência jurídica não é uma ciência
nomotética, porque quando ocorre o evento X não é certo que o resultado será Y, por isso ela
precisa constantemente se redimensionar. A divergência entre a vontade do legislador e a
vontade do indivíduo sujeito à lei pode ocorrer com frequência, por isso o papel do cientista
jurídico é conciliar a lei prática (positiva) e a lei acadêmica ou erudita (lei nos livros), através
das duas formas de estudo da lei: a lei como descrição e a lei como prescrição (cf. ENGLE,
2008, p. 33 e 47). Evitamos, assim, polarizar o estudo jurídico apenas sob a forma lógicoobjetivante.
Enfim, a exigência de uma ciência jurídica que não se resuma a apenas descrever seu
objeto é iminente e, para que possa adequar-se à volatilidade da convivência humana,
necessita de instrumentos além do que a mera “lente” imparcial e simplesmente descritiva do
jurista. O uso público da razão talvez não seja o único desses instrumentos, mas dentro de
nossa pesquisa ele demonstrou ser adequado à tarefa de integrar através da comunicação, o
pensamento e a ação, tudo sob a direção da teoria moral kantiana que atesta os princípios
práticos da razão. Tendo desconstruído o mito de que a neutralidade isenta a ciência da
responsabilidade, podemos inferir que o cientista jurídico – o jurista – não pode permitir que
seu objeto de estudo seja utilizado para um fim que não a progressão da humanidade para o
melhor, conforme havia já apontado Kant. Fazendo uso desse processo racional, em que todos
podem adotar e seguir princípios válidos universalmente, será possível construir valores
jurídicos e morais que permitam com que as liberdades alheias coexistam em harmonia.
85
CONCLUSÃO
Encerramos esta dissertação com uma leitura de Kant que traz consigo uma mensagem
implícita: a filosofia kantiana não se encerra em seu período. Por isso, julgamos que um
conhecimento considerado pacífico ou inatacável possa ser estudado e reinterpretado sob
outros pontos de vista, como o que fizemos com Kelsen, algo que decerto despertará novas
questões.
Importa salientar que as objeções de Kelsen não se limitam aos dois pontos que
destacamos, mas transitam por várias obras de Kant. O que fizemos, no entanto, foi alternar
entre duas obras principais, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Teoria Pura do
Direito, tarefa que se mostrou árdua pelo fato de envolver vários temas paralelos, como a
justiça, o conceito de bom etc.
Num primeiro momento, buscamos atingir o propósito de explicar como Kelsen
conseguiu inovar com sua teoria jurídica, afastando-a dos princípios da natureza, dos fatos,
fenômenos naturais, do mundo do “ser”, refutando o direito natural com seus fundamentos e
fixando a norma fundamental como fundamento de validade da ordem jurídica. Além disso,
apresentamos as respectivas implicações de toda essa separação, exemplo disso é a
diversidade de interpretações do termo “pureza”, como ele próprio ressaltou em seus prefácios
e em Direito e Natureza.
Em seguida trouxemos passagens importantes de Direito e Ciência, que nos
permitiram expor a forma pela qual Kelsen concebe a ciência jurídica. A ciência jurídica não
admite influências na descrição do seu objeto por parte de outras disciplinas, como a
psicologia, a moral, a política, a sociologia; é uma ciência que busca a neutralidade, fazendo a
mera descrição de seu objeto sem implicar numa sugestão de resultados aplicáveis aos casos
concretos. É este trecho da obra kelseniana que declara a visível diferença entre a sua teoria e
o direito kantiano: na Teoria Pura do Direito não há fundamento moral e a liberdade tem
outro papel, que foge da ligação com a autonomia kantiana, pois Kelsen só prevê a liberdade
86
jurídica (a que a lei confere). O princípio regente do direito em Kelsen é a imputação, bem
diverso do princípio universal do direito anunciado por Kant.
Passamos então a analisar a relação entre direito e moral na obra kelseniana. De início,
o autor nos informa que o único ponto em comum entre a moral e o direito é sua característica
de dever-ser: o Kelsen neokantiano descarta a filosofia prática de seu mentor e inclusive a
considera superada, levantando diversas objeções. Nas duas críticas que destacamos para
análise pudemos identificar falhas de interpretação, pois Kelsen mostrou ter feito um estudo
superficial, ou no mínimo enviesado, da teoria kantiana.
Nossa próxima investida foi demonstrar, com auxílio dos comentadores, que o
imperativo categórico não provou poder abarcar qualquer máxima (mesmo que imoral), como
Kelsen afirmava, e também que a ação moral descrita na Fundamentação da Metafísica dos
Costumes não se concretiza somente quando contraria as inclinações naturais do homem.
Neste momento tivemos que explicar que a interpretação errônea de máxima feita por Kelsen
era o que o fazia entender que a fórmula do imperativo fosse vazia de conteúdo, mas
conseguimos provar que máxima trata de um conceito mais amplo, tendo a natureza de “regra
de vida”, que denota um princípio do querer que conduz o ser racional de uma forma diferente
de um mero propósito. Demonstramos também que o método de isolamento de Kant auxilia a
entender que as inclinações não devem ser contrariadas para que a ação seja moral, mas sim
desconsideradas (ou isoladas) no momento de determinar o princípio da ação.
Por derradeiro, acreditamos que o direito possa ser valorado, diferentemente do
apregoado por Kelsen e, para esta confirmação, em nosso último capítulo, nos serviu a leitura
contemporânea de Kant feita por O’Neill (1989, 2004), que trouxe uma renovação do conceito
kantiano de uso público da razão, um meio de os seres racionais construírem racionalmente
valores através de princípios válidos e adotáveis por todos (ou seja, universais). Machado
(2009) também foi de grande apoio para complementar a ideia da necessidade de superação
deste modelo jurídico “neutro”, contribuindo na desconstrução da teoria kelseniana,
apresentando como saída a “intencionalidade operatória do direito”, que demanda um
transcendentalismo mais dinâmico, diferente do kelseniano, no qual a ciência se redefine e
reconstrói para adequação à praxis.
87
De toda esta exposição, envolvendo o diálogo Kelsen/Kant, restam muitos outros
desdobramentos, mas nos cabe ao menos tentar enumerar o que doravante possa ser objeto de
novas indagações:
1. Não obstante a interpretação de Kelsen em certos aspectos ter sido contestada,
permanece evidente que seu modelo ainda é utilizado na transmissão acadêmica do
conhecimento jurídico, diante de sua inegável contribuição. Como definir, hoje, uma
ciência jurídica que aspira por uma valoração e, ao mesmo tempo, quer firmar-se
como autônoma? Mapeá-la partindo de seus limites provou-se método equivocado,
como vimos... seria o caso então de firmá-la a partir de suas interseções com as outras
áreas do conhecimento: dos pontos em comum?
2. Em que medida podemos saber quais valores são válidos universalmente diante da
diversidade na disposição geográfica e cultural existente, apesar do fato da
globalização? Como proceder a uma interação no pensar e no agir, ou ainda em outros
termos, como exatamente fazer o uso público da razão, visto tratar-se de um
instrumento válido?
3. Como garantir que as minorias tenham voz na construção dos direitos e obrigações
pelo uso público da razão? Haverá uma mediação entre as posições a escolher? O que
fazer para que o uso público da razão não seja também instrumental, tal qual foi feito
com a ciência sob a suposição de sua “neutralidade”?
Urge pensarmos logo nessas considerações, pois o que diz respeito ao direito e à moral
reflete de forma imediata na sociedade e nos indivíduos. Tendo como premissa que diversos
aspectos aqui discutidos permeiam tanto o âmbito individual quanto o social de forma
concomitante, esta investigação filosófica buscou contribuir com reflexões que possam se
aprimorar na dinâmica social, resultando em menos tecnicidade no meio jurídico e mais
eficácia jurídica visível.
88
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BITTNER, Rüdiger. Máximas. Trad. Mauro Luiz Engelmann e Rogério Passos Severo, rev.
Valério Rohden. In: Studia Kantiana – Revista da Sociedade Kant Brasileira, n. 5, 2004, p. 7 25.
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C.J. Santo, 10ª
ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
COELHO, Fábio Ulhoa. Para Entender Kelsen. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.
FASSÒ, Guido. Historia de la Filosofía del Derecho: Siglos XIX y XX. Trad. (espanhol)
José F. Lorca Navarrete. Espanha, Madri: Ediciones Pirámide, 1996. 3 v.
GOMES, Alexandre Travessoni. O Fundamento da Validade do Direito: Kant e Kelsen. 2ª
ed.rev., atual., ampl. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Trad. (espanhol) Diorki. Espanha, Barcelona: Editorial
Herder, 1986.
JAPIASSU, Hilton. O Mito da Neutralidade Científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Valerio Rohden e Udo Baldur Moosburger.
São Paulo: Nova Cultural, 1999.
__________. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Portugal,
Coimbra: Edições 70, 1960.
__________. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Kant’s gesammelte Schriften:
Kant’s Werke. Alemanha, Berlim: Georg Reimer, 1911, p. 385 – 464. 4 v.
__________. O Conflito da Faculdades. Trad. Artur Morão. Portugal, Lisboa: Edições 70,
1993.
__________. The Metaphysics of Morals. Trad. (inglês) Mary Gregor. EUA, Nova Iorque:
Cambridge University Press, 1991.
KELSEN, Hans. A Justiça e o Direito Natural. Trad. João Baptista Machado. Portugal,
Coimbra: Almedina, 2009.
89
__________. O Problema da Justiça. Trad. João Baptista Machado, 3ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
__________. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado, 5ª ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1996.
LOSANO, Mario Giuseppe. Introdução (à edição italiana). In: KELSEN, Hans. O Problema
da Justiça. Trad. João Baptista Machado, 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MACHADO, João Baptista. Nota Preambular. In: KELSEN, Hans. A Justiça e o Direito
Natural. Trad. João Baptista Machado. Portugal, Coimbra: Almedina, 2009.
MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. Filosofia do Direito e Justiça na Obra de Hans
Kelsen. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
O’NEILL, Onora. Autonomy, Plurality and Public Reason. In: New Essays on the History
of Autonomy: A Collection Honoring J. B. Schneewind. Natalie Brender e Larry Krasnoff
(org.). EUA, Nova Iorque: Cambridge University Press, 2004, p. 181 - 194.
__________. Constructions of Reason: Exploration of Kant’s Practical Philosophy.
Reino Unido, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
__________. Vindicating Reason. In: The Cambridge Companion to Kant. Paul Guyer
(org.). Reino Unido, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 280 - 308.
PASCAL, Georges. Compreender Kant. Trad. Raimundo Vier. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2007.
PATON, Herbert James. The Categorical Imperative: A study in Kant’s moral
philosophy. EUA, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 10ª ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1983.
REALE, Miguel. A Visão Integral do Direito em Kelsen. In: KARAM, Munir; PRADO,
Luiz Regis (coord.). Estudos de Filosofia do Direito: uma visão integral da Obra de Hans
Kelsen. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985, p. 15 - 30.
SICHES, Luis Recaséns. Tratado General de Filosofia del Derecho. 19ª ed. México, Cidade
do México: Editorial Porrúa, 2008.
INTERNET:
90
BURG, Wibren van der. Law and Ethics: The Twin Disciplines. In: Erasmus Working
Paper Series on Jurisprudence and Socio-Legal Studies. nº 10 - 02, 2010. Disponível em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1631720>. Acesso em 20/02/2013 (às
10:05).
CLEMENS, Jaboner. Kelsen and his Circle: The Viennense Years. In: European Journal
of International Law, vol. 9, nº 2, Symposium: The Changing Structure of International
Law
Revisited
(Part
4),
1998.
Disponível
em:
<http://207.57.19.226/journal/Vol9/No2/art9.html#pdf>. Acesso em 20/09/2011 (às 22:03).
ENGLE, Eric. Law as Lex v. Ius. In: The Journal Jurisprudence, Volume One, “What is
Law?”. Austrália, Melbourne: The Elias Clark Group, 2008, p. 31 - 50. Disponível em:
<http://www.jurisprudence.com.au/back.htm>. Acesso em 08/01/2013 (às 10:08).
KANT, Immanuel. Que significa orientar-se no pensamento? Trad. Artur Ferreira Pires
Morão.
Portugal,
Covilhã:
Lusosofia
Press,
[2008?].
Disponível
em:
http://www.lusosofia.net/textos/kant_que_significa_orientar_se_no_pensamento__1786_.pdf
. Acesso em: 29/01/2013 (às 08:15).
__________. Resposta à pergunta: “O que é o Iluminismo?” Trad. Artur Ferreira Pires
Morão.
Portugal,
Covilhã:
Lusosofia
Press,
[2008?].
Disponível
em:
http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_iluminismo_1784.pdf. Acesso em: 29/01/2013 (às
08:17).
LAVADAC, Nicoletta Bersier. Hans Kelsen (1881 - 1973) Biographical Note and
Bibliography. In: European Journal of International Law, vol. 9, nº 2, Symposium: The
Changing Structure of International Law Revisited (Part 4), 1998. Disponível em:
<http://207.57.19.226/journal/Vol9/No2/art11.pdf>. Acesso em 20/09/2011 (às 22:05).
LOPARIC, Zeljko. As Duas Metafísicas de Kant. In: Kant e-prints International Journal,
vol.
2,
nº
5,
2003.
Disponível
em:
<ftp://ftp.cle.unicamp.br/pub/kant-eprints/vol.2,n.5,2003.pdf>. Acesso em 20/02/2013 (às 09:50).
PEDROSO, Greici Inticher. A Análise de Kelsen e Bobbio das Distinções Kantiana entre
Direito e Moral. 2007. 110 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia)-Universidade Federal de
Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria, 2007. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obr
a=111876>. Acesso em 20/02/2013 (às 12:31).