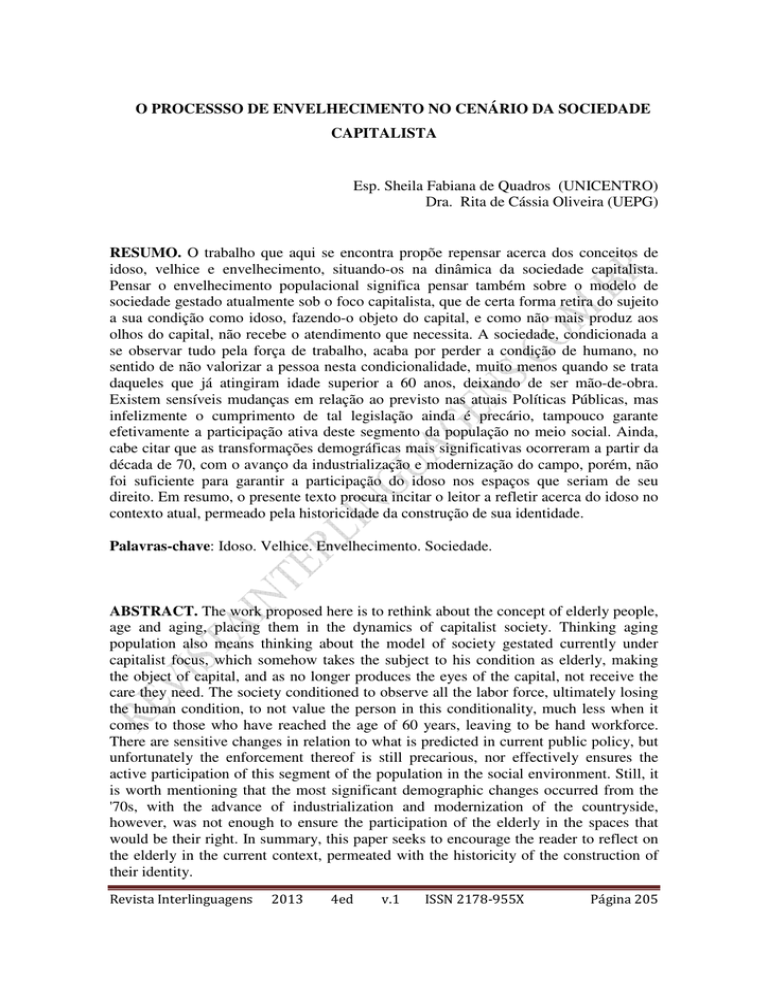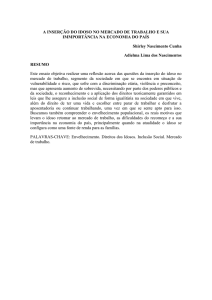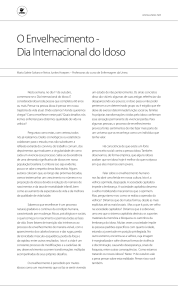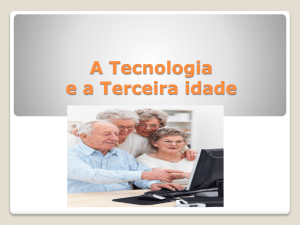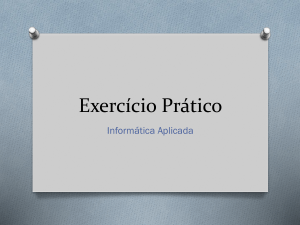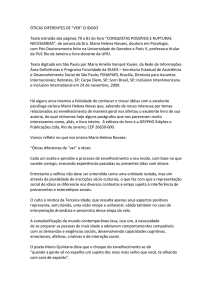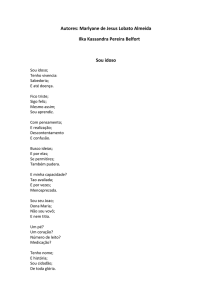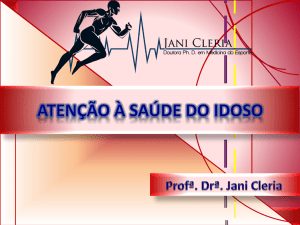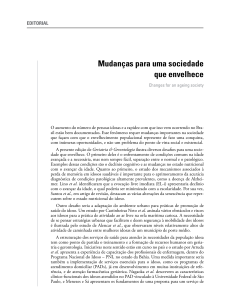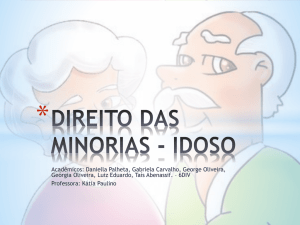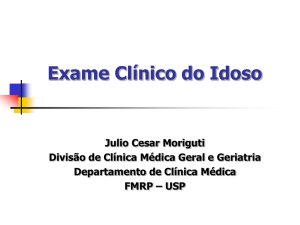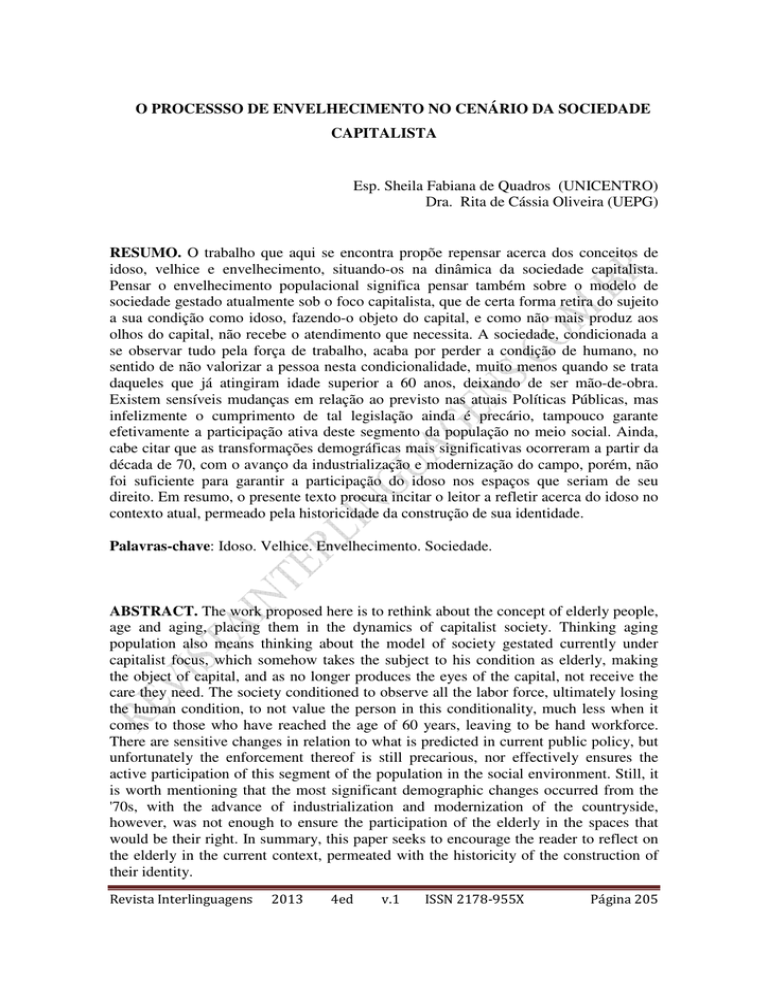
O PROCESSSO DE ENVELHECIMENTO NO CENÁRIO DA SOCIEDADE
CAPITALISTA
Esp. Sheila Fabiana de Quadros (UNICENTRO)
Dra. Rita de Cássia Oliveira (UEPG)
RESUMO. O trabalho que aqui se encontra propõe repensar acerca dos conceitos de
idoso, velhice e envelhecimento, situando-os na dinâmica da sociedade capitalista.
Pensar o envelhecimento populacional significa pensar também sobre o modelo de
sociedade gestado atualmente sob o foco capitalista, que de certa forma retira do sujeito
a sua condição como idoso, fazendo-o objeto do capital, e como não mais produz aos
olhos do capital, não recebe o atendimento que necessita. A sociedade, condicionada a
se observar tudo pela força de trabalho, acaba por perder a condição de humano, no
sentido de não valorizar a pessoa nesta condicionalidade, muito menos quando se trata
daqueles que já atingiram idade superior a 60 anos, deixando de ser mão-de-obra.
Existem sensíveis mudanças em relação ao previsto nas atuais Políticas Públicas, mas
infelizmente o cumprimento de tal legislação ainda é precário, tampouco garante
efetivamente a participação ativa deste segmento da população no meio social. Ainda,
cabe citar que as transformações demográficas mais significativas ocorreram a partir da
década de 70, com o avanço da industrialização e modernização do campo, porém, não
foi suficiente para garantir a participação do idoso nos espaços que seriam de seu
direito. Em resumo, o presente texto procura incitar o leitor a refletir acerca do idoso no
contexto atual, permeado pela historicidade da construção de sua identidade.
Palavras-chave: Idoso. Velhice. Envelhecimento. Sociedade.
ABSTRACT. The work proposed here is to rethink about the concept of elderly people,
age and aging, placing them in the dynamics of capitalist society. Thinking aging
population also means thinking about the model of society gestated currently under
capitalist focus, which somehow takes the subject to his condition as elderly, making
the object of capital, and as no longer produces the eyes of the capital, not receive the
care they need. The society conditioned to observe all the labor force, ultimately losing
the human condition, to not value the person in this conditionality, much less when it
comes to those who have reached the age of 60 years, leaving to be hand workforce.
There are sensitive changes in relation to what is predicted in current public policy, but
unfortunately the enforcement thereof is still precarious, nor effectively ensures the
active participation of this segment of the population in the social environment. Still, it
is worth mentioning that the most significant demographic changes occurred from the
'70s, with the advance of industrialization and modernization of the countryside,
however, was not enough to ensure the participation of the elderly in the spaces that
would be their right. In summary, this paper seeks to encourage the reader to reflect on
the elderly in the current context, permeated with the historicity of the construction of
their identity.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 205
Keywords: Elderly. Age. Aging. Society.
Introdução
Idoso, segundo o Estatuto do Idoso é todo indivíduo que possui idade igual ou acima
de 60 (sessenta) anos. A implantação das Políticas de Atendimento ao Idoso surge para
que esta camada possa participar ativamente da vida em sociedade, respeitadas as
condições próprias para tal.
Remetendo-nos ao Estatuto do Idoso, percebemos que ele visa a normatização dos
cuidados e atendimento para com a pessoa idosa, de maneira a garantir-lhes condições
de qualidade de vida, especialmente diante do pressuposto fundamental da proteção
integral.
A sociedade contemporânea revela uma trajetória histórica e política do atendimento
aos idosos, que prima por uma nova concepção de velhice, bem como a percebe como
uma fase diferenciada, e que, portanto, exige procedimentos para atendê-los ou inserilos em programas específicos.
Assim, evidenciamos que o atendimento a esta demanda se constitui como
preocupação no cenário nacional, e é também a partir do que se orienta e delimita as
ações em âmbito municipal.
Desde o século passado, presenciamos uma nova percepção da velhice enquanto uma
fase da vida bem como do conceito de idoso. A partir de então, uma nova perspectiva
em relação ao idoso se estabelece, é certo, gradativamente, como toda mudança na
esfera social.
Os dados demográficos demonstram o crescimento considerável da população idosa
bem como apontam uma nova forma de atender esta população, visto que os próprios
meios de comunicação de massa enfocam o idoso num novo prisma, visto como uma
categoria social.
Em outras palavras, a velhice começa a assumir um novo espaço
social, que, segundo Barros (2003, p.9) ultrapassa os limites das vidas particulares de
cada um e de cada família, para, com outras tantas questões, atrair a atenção de nossa
sociedade.
Uma nítida constatação do crescimento da população brasileira com faixa etária
acima de 60 (sessenta) anos pode ser comprovada quando observamos os dados dos
sensos demográficos, mas não se limita aos mesmos, podendo ser observados vários
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 206
fatores que intervém consideravelmente no processo de envelhecimento e na forma com
que esta condição vem sendo aceita e trabalhada nesta forma de sociedade da qual
fazemos parte.
Conceituando idoso, velhice e envelhecimento numa perspectiva dialética.
Um dos trabalhos de referência quanto ao conceito de idoso se refere aos escritos de
Beauvior, em sua obra A Velhice, desenvolvido na década de 70 na Franca. Tal obra
considera que
“[...] a imagem da velhice é incerta,confusa, contraditória”
(BEAUVOIR, 1990. p.109).
Assim, historicizando a velhice, podemos apontar algumas maneiras de concebê-la
na dinâmica social, onde podemos encontrar as contribuições de outros autores, tais
como Silva (2003) que ao se referir à dimensão histórico- social da velhice, nos relata
que quando as sociedades começaram a se organizar, a concepção e o papel dos velhos
era determinado por usos e costumes, encontrados em cada cultura, em referência a uma
dada conjuntura histórica.
Para algumas comunidades, eles eram os transmissores da cultura, como por
exemplo, dos valores religiosos. Ainda, poderiam ser os guardiões do saber, os quais se
responsabilizavam por educar os mais jovens.
Desta forma, ocupavam um lugar de
respeito e tinham um determinado status, que os permitia gozar de certos direitos e
privilégios.
Para Magalhães (1987) esse tipo de tratamento é denominado ‘função social da
velhice’, cujas características sofriam variações em relação à cultura e ao espaço de
tempo histórico vivido. Eram tidos como curandeiros, conselheiros, sábios ou
feiticeiros, sempre associados ao respeito pela experiência de vida acumulada.
Já para Burns (2005) o processo de envelhecimento nas sociedades antigas era
basicamente de cunho individual, já que o número de pessoas velhas era insignificante,
fazendo com que, consequentemente, fossem mínimas as possibilidades de se chegar a
reunir um mero grupo cujos integrantes estivessem na faixa etária de 60 anos.
A partir das revoluções, as quais ocorreram de maneira sucessiva, (como por
exemplo, as de ordem comercial, industrial e econômica), desencadeando modificações
consideráveis na estrutura social ao redor do mundo, uma nova maneira de conceber o
idoso começa paulatinamente a assumir um novo perfil na sociedade.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Uma
das
Página 207
consideráveis mudanças foi a diminuição da taxa de mortalidade, a partir do que o
conceito de velhice foi aparecendo e se delineando, historicamente, ainda que de
maneira gradativa.
Dentre outros, encontramos o trabalho sobre serviço social e idosos de Amaral
(1991, p.13), onde considera que “[...] o conceito de velhice difere em cada sociedade, a
partir da significação que o envelhecimento tem, o que acarreta uma pluralidade de
conceituações [...]”.
O que pretendemos não é apenas chamar a atenção para tais conceitos, mas sim,
compreendê-los na construção da identidade do sujeito idoso e das fases em que estes se
encontram, valorizando-os como um segmento social.
Para Beauvior (1990) a velhice se caracteriza como um fenômeno biológico que
acarreta consequências psicológicas, tendo sua dimensão existencial, não sendo estático,
mas sim, o resultado de um processo. Ou seja, para a autora, a velhice se estabelece
numa dinâmica de relações, tais como as de ordem social, e não se concentra meramente
no acúmulo de anos vividos.
Peixoto (2000) considera que a noção de velho é fortemente assimilada à decadência
e confundida com incapacidade para o trabalho, que é o que mais se aproxima da
discussão que propomos neste espaço.
Silva (2003) acredita que a idade constitui um dado importante, mas na realidade não
determina a condição da pessoa. Para essa autora, o essencial é analisar a vida numa
perspectiva individual a partir da influência de fatores econômicos, políticos e sociais.
É importante salientar que o processo de envelhecimento contém em si a fase da
velhice1, mas não se esgota na mesma, pois a qualidade de vida e do próprio processo
de envelhecimento se concentra atrelado aos fatores sociais e econômicos,
principalmente.
A qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do envelhecimento,
relacionam-se com a visão de mundo do indivíduo e da sociedade em que ele está
inserido, bem como com o “estilo de vida” conferido a cada ser, [...] (BRÊTAS, 1997.
p.63).
1
Aqui caberia uma conceituação do significado de velhice, e neste momento seria oportuno citar
Martins (2002), a velhice pode ser considerada um conceito abstrato, porque diz respeito a uma categoria
criada socialmente para demarcar o período em que os seres humanos ficam envelhecidos, velhos, idosos.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 208
Em outras palavras, o que se quer afirmar é que o processo de envelhecimento varia
de sujeito a sujeito, de acordo com as condições individuais.
O envelhecimento é um fenômeno que atinge todos os seres humanos,
independentemente. Sendo caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e
irreversível, ligados intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais (BRITO E
LITVOC, 2004).
Talvez as modificações menos perceptíveis sejam as de ordem social, pois são
verificadas quando as relações sociais tornam-se alteradas em função da diminuição da
produtividade ou isenção desta e, principalmente, do poder físico e econômico, sendo a
alteração social mais evidente em países de economia capitalista, tal como o Brasil
(MORIN apud SANTOS, 2003.)
Dentre outros inúmeros fatores de envelhecimento, percebemos que os mesmos vêm
intimamente articulados e relacionados e, para que o envelhecimento se aproxime de
maneira saudável, os fatores que intervém direta ou indiretamente nesta fase são
primordiais para uma velhice segura, com qualidade de vida.
Aqui cabe salientarmos que qualidade de vida não é sinônimo apenas de saúde, mas
de todos os fatores interligados à vivência de cada um em específico, tal como o âmbito
educacional.
Em geral, a velhice é vista como uma fase de inutilidade, de isolamento e até mesmo
de decadência segundo a percepção social que a circunda.
Em outras palavras, mesmo que existam várias concepções acerca da velhice como
fase vivida pelos sujeitos idosos, estes são parte de um contexto social e protagonizam
suas histórias no cenário real de suas vidas, e assim, com o aumento considerável da
população idosa em termos mundiais, somos convidados a estudar esta temática
contextualizando-a sob aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e educacionais,
pois todos estes fatores são primordiais para que os compreendamos.
Para que possamos situar o sujeito idoso num contexto politico e social, é necessário
primeiramente que se extrapolem os limites de uma concepção simplista, na qual tudo
se explica a partir de fragmentos e se justificam pela ordem natural das coisas, mas ao
contrário, os aspectos de ordem social, econômica, cultural, dentre outros, são
integrantes deste processo, e o constituem na totalidade.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 209
Assim, o idoso precisa ser reconhecido como uma categoria social, sujeito de
direitos, que precisam estar, além de previstos, assegurados diante da lei.
Ora, a população idosa constitui e representa a história da humanidade, das suas
vivências, ações e demais poderes constituídos, que não podem ser silenciados pela
Politica, tampouco continuar sendo reproduzidos pela forma de estrutura social posta,
determinada por aqueles que detêm o poder.
Pensando desta forma, o estado capitalista encontra representatividade pela
hegemonia do poder bem como da produção do capital, o que demonstra de maneira
muito nítida a necessidade de superação desta realidade. Ainda, é também nesta situação
de divergências e contrapontos que encontramos no âmbito social, politico e econômico,
executando as políticas públicas, as quais, vinculadas às esferas dominantes do poder,
apenas corroboram para afirmar a desigualdade e a ausência de direitos assegurados.
Ao contrário, deveriam tais políticas surgir como importantes aliadas à superação da
lógica do capital, e desta forma, não podem estar vinculadas ao discurso da caridade,
solidariedade, e sim, dos direitos.
Mesmo quando se elabora ou se avalia os conceitos de velhice, envelhecimento e
idoso, persiste uma estreita relação destes com a realidade social.
Netto (2002, p.10) elaborou o seguinte conceito de envelhecimento:
O envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o velho ou
idoso (resultado final) constituem um conjunto cujos componentes
estão intimamente relacionados. [...] o envelhecimento é conceituado
como um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam
perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente,
ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos
patológicos que terminam por levá-lo à morte. (PAPALÉO NETTO,
1996). [...] Às manifestações somáticas da velhice, que é a última fase
do ciclo da vida, as quais são caracterizadas por redução da
capacidade funcional, calvície e redução da capacidade de trabalho e
da resistência, entre outras, associam-se a perda dos papéis sociais,
solidão e perdas psicológicas, motoras e afetivas.
Em termos de Brasil, o desafio social do envelhecimento se dá principalmente pelo
fato de que o crescimento da população idosa constitui uma preocupação mundial.
Porém, esse crescimento em países em desenvolvimento causa uma ansiedade um
pouco maior devido aos problemas acentuados de desigualdades sociais.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 210
O Brasil, em específico, apresenta características muito peculiares em relação ao
crescimento e desenvolvimento de sua população idosa, sendo que as mudanças são
muito rápidas e evidentes, ocorrendo numa dinâmica muito mais acelerada,
apresentando alterações visíveis de uma década à outra.
Nestas circunstâncias, é importante mencionar que o aumento da população idosa se
dá em um período onde tudo é muito complexo, pois acentua uma contradição,
enquanto nos orgulhamos da possibilidade de crescimento e expectativa de vida, há uma
preocupação com o aumento da desigualdade social existente no país, perda de direitos,
aumento do desemprego em virtude das transformações do mundo do trabalho, redução
dos gastos públicos a partir de políticas que aprofundam a pobreza.
Segundo Rodrigues & Rauth (2002), o nosso país não conseguiu resolver problemas
clássicos do subdesenvolvimento e já se depara com uma massa de idosos necessitando
de atendimento imediato. Essa mudança populacional, ainda de acordo com as autoras,
produz desafios de toda ordem, ou seja, desafio para a família, a saúde, a pobreza e
principalmente para as políticas sociais.
Analisando os apontamentos acima, chegamos a uma ideia de que as questões de
ordem social e econômica interferem diretamente junto às Políticas Públicas, pois num
país em desenvolvimento as prioridades acabam sendo vinculadas à classe trabalhadora,
deixando a demanda de idosos à mercê do que é possível realizar, como se o
atendimento aos mesmos não fosse prioridade.
As transformações conjunturais se refletem em todas as gerações, mas
é o segmento idoso o que mais sofre as mazelas decorrentes da crise
resultante do Estado Mínimo para as políticas sociais, onerando as
famílias e a sociedade com os ônus decorrentes da velhice,
rincipalmente no que concerne à seguridade social (GOLDMAN,
2004.p.61).
Em âmbito social uma vida longa significa para as esferas sociais uma particular
preocupação para os cofres públicos, em virtude das questões da Previdência Social.
Pela lógica, um idoso que na atualidade possui 60 (sessenta) anos, poderá viver mais 10
(dez) ou 20 (vinte) anos, e estes últimos estarão seguros pelo sistema de Previdência
Social.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 211
Nesta esfera da discussão, encontramos ainda outra problemática que diz respeito às
questões de que o idoso é considerado numa sociedade capitalista como incapaz de
produzir, ou seja, de trabalhar, o que interfere de maneira direta na questão da produção,
típica deste tipo de sociedade.
Segundo Camarano (2004), a maior parte da renda dos idosos provém das
aposentadorias e pensões, tanto para os homens como para as mulheres, principalmente
porque existem mais mulheres viúvas que homens. Embora a renda dos idosos venha
basicamente das aposentadorias e pensões, os valores das mesmas são considerados
muito baixos para quem nessa fase da vida precisa gastar mais.
Mesmo diante das determinações previstas na Política Nacional do Idoso bem como
no Estatuto do Idoso, que é o que preconiza e implementa a legislação específica para a
pessoa idosa, estes não gozam de todos os direitos que lhes deveria ser acessível.
Exemplo desta afirmativa são os destaques da literatura em relação aos idosos, pois a
mesma se concentra em grande parte nas questões de saúde e assistência social,
minimamente na questão educacional, visto que educação do idoso não é, ainda,
prioridade no cenário nacional.
Assim, estando num país de predominância da desigualdade social, o envelhecimento
acaba representando um desafio considerável para as Políticas Públicas, tendo em vista
as questões de proteção integral a este segmento social. Utilizamos neste espaço a
palavra segmento justamente para fins de estudos, e não meramente como recorte desta
demanda social.
Os idosos se constituem novos atores no cenário social, visto as necessidades e
possibilidades de intervenção em relação às controvérsias que podem emergir no
cenário nacional no que tange aos aspectos da educação do idoso.
Em seu estudo Camarano (2002) observou que as famílias brasileiras com idosos
estão em melhores condições econômicas que as demais, isso porque estes contribuem
com mais de 50% do orçamento familiar através dos benefícios da previdência ou da
assistência social.
De maneira resumida, ainda não há um interesse nem objetivo em promover os
direitos dos idosos em sua totalidade, pois seria praticamente romper com os padrões
estabelecidos historicamente, e como a sociedade ainda preserva um caráter
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 212
essencialmente capitalista, seria uma contradição investir na camada social que menos
produz e, assim, não traria lucro aos cofres públicos.
Diante da discussão aqui exposta, podemos concluir que, neste momento, há uma
evidente e intrigante situação de descompromisso diante deste segmento social, e ainda
há necessidade de inúmeras mudanças na maneira de perceber a pessoa idosa em sua
totalidade, superando a lógica da sociedade capitalista.
Considerações Finais
Conceituar e analisar o idoso no contexto da sociedade capitalista contemporânea
requer percebê-lo numa dinâmica impossível de ser separada da situação econômica, e
em particular, daquelas que se referem ao mercado de trabalho, em específico no que se
relaciona às forças produtivas.
Neste ensejo, podemos perceber que existe uma articulação muito estreita entre a
forma com que o idoso é percebido na sociedade com a questão da produtividade para a
mesma.
Assim, o que se pretendeu discutir neste texto são as questões de como o ser humano
chega a um período que não exerça mais funções e estas funções seriam exatamente em
favor de quem?
Ora, diante da sociedade capitalista da qual fazemos parte, só há uma explicação para
tal feito; para que interesse em focar ações numa demanda que não gera lucro e
tampouco produz, ao contrário, por muito tempo não houve algum interesse em suprir
as necessidades dos idosos, que dirá promover ações e demais feitos que promovam sua
inserção em espaços diversificados.
O que precisaria ocorrer de fato é que fosse superada a ideia de que o sujeito idoso é
inativo, e, portanto, improdutivo.
O idoso se encontra num dado contexto social, e assim, tem um papel a ser vivido no
meio social, tanto quanto a criança, o adolescente, o adulto, cada um em um momento
da vida.
Assim, o idoso se encontraria numa situação em que não estaria mais promovendo a
sociedade capitalista, pois por essa lógica, o mesmo estaria causando prejuízos a essa
sociedade. Uma vez que não produz, e em sua maioria está em condição de aposentado,
precisa que os recursos públicos os mantenham.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 213
Complementando, a partir do modelo econômico que nos encontramos, o qual
propõe o trabalho como meio de sobrevivência, uma das premissas em se viver neste
tipo de sociedade é produzir, e assim, o foco passa a ser o sujeito jovem, que dispõe de
condições e capacidade de executar diferentes tarefas. Assim, o então trabalhador,
quando chega à fase da velhice, acaba ficando à margem do mundo do trabalho.
O idoso não pode se limitar a expectador de sua própria vida, percebendo sua
identidade como sujeito social.
Existe urgência em se perceber as determinações que expressam a vida social do
idoso em virtude das inúmeras contradições sociais que permeiam o mundo do capital.
É preciso ir além do conhecimento das Políticas que permeiam os direitos da pessoa
idosa, pois não basta conhecê-las, e sim, compreendê-las na dinâmica da sociedade.
Assim, destacar a Política Nacional do Idoso Lei N° 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
Benefício de Prestação Continuada (BPC – vigente na Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS); Política Nacional de Saúde do Idoso, Estatuto do Idoso, dentre outros,
não é suficiente quando nosso objetivo é compreender a dinâmica onde se estrutura a
sociedade de classes.
Em suma, o que propomos neste texto é refletir acerca do idoso na sociedade
contemporânea, onde presenciamos uma situação bem particular, em que estes sujeitos
não foram respeitados da maneira que deveriam.
O surgimento da Politica Nacional do Idoso ficou de certa forma articulada à
implementação do Estatuto do Idoso, que juntamente aos próprios idosos iniciaram um
processo de mobilização em prol de seus direitos, principalmente enquanto aposentados.
Sabemos que o próprio Estatuto do Idoso tramitou no Congresso nacional a partir de
1997, mas apenas no ano de 2000 é que foi instituída uma comissão para tratar do
mesmo e em 2001 foram realizados dois seminários nacionais, quatro seminários
regionais e mais um promovido pela Comissão de Direitos Humanos.
Poderíamos concluir este primeiro momento dizendo que já houve avanços quanto ao
atendimento ao idoso, porem, há muito que se fazer em prol desta camada social,
principalmente a oferta de espaços educacionais.
A educação tem como função social despertar nos homens a capacidade de
intervenção no mundo, através de conhecimentos que possibilitem às pessoas deixarem
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 214
de ser objetos para se transformarem em sujeitos da sua história, ou seja, o idoso se
perceber fazendo história e participando ativamente desta.
Referências
ANDERY, M. A.../et al./ Para Compreender a Ciência. RJ: Espaço e tempo: EDUC,
1988.
BEAUVOIR, S. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
BOTH, Agostinho. Envelhecimento humano: múltiplos olhares. Passo Fundo: F,
2003.
BOBBIO, N. O tempo da memória: de senectude e outros escritos autobiográficos.
Rio de Janeiro: Campus, 1997.
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Secretaria de Assistência
Social. Plano de ação governamental para o desenvolvimento da Política Nacional
do Idoso. Brasília: 1996a.
CHOPRA, D. Corpo sem idade, mente sem fronteira: a alternativa quântica para o
envelhecimento. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
Estatuto do idoso: Lei Federal nº 10.741, de 01 de Outubro de 2003. Brasília, DF:
Secretaria
Especial
dos
Direitos
Humanos,
2003.
Disponível
em
Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm. Data de acesso: abril de
2013.
CAVALCANTE, Lidiany L. O papel da família frente ao idoso institucionalizado.
In: Congresso Social da Amazônia. Anais... (4.: 2005, PA). Centro de convenções do
Centur – Belém– Pará./ Coordenadores: Edval Bernardino Campos.../Et al./
Belém:GTR, 2005. 378 p.
FERNANDES, F. S. As pessoas idosas na legislação brasileira: direito e
gerontologia. São Paulo: LTr, 1997.
FEIJÓ, M.C.C. (2010). A Aplicabilidade do Estatuto do Idoso junto ao Ministério
Público de São Paulo. Dissertação de Mestrado, PUC-SP.
FRIGOTTO, G. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa
educacional. In: GAMBOA, S.S. (1996): Epistemologia da pesquisa em educação.
Dissertação de Mestrado. (UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas). Campinas.
GONDIM, A. S; COMARU, E. R. Projeto bem Viver. Ceará. 11 p. Disponível em:
<http://www.saudebrasilnet.com.br/saude/trabalhos/019s.pdf> Acesso em: 16 jun. 2010.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 215
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Censo, 2000.
LIMA, M. P. Gerontologia educacional: uma pedagogia específica para o idoso uma nova concepção de velhice. São Paulo: LTr, 2001.
MACHADO, Selma S. L. Pessoas Idosas Responsáveis por Domicílios Familiares e
Novas Faces da Velhice, em Belém-PA. In: Congresso Social da Amazônia. Anais...
(4.: 2005, PA). Centro de convenções do Centur – Belém – Pará./ Coordenadores: Edval
Bernardino Campos.../Et al./ Belém:GTR, 2005. 378 p.
________. A questão social do idoso frente às políticas sociais. In: EVELIN, Heliana
Baía (Org.), Velhice Cidadã: Um processo em construção. Belém, EDUFPA, 2008.
MORAIS, Olga Pantoja. Aspectos Psicológicos: Um olhar sobre a terceira idade. In:
EVELIN, Heliana Baía (Org.), Velhice Cidadã: Um processo em construção. Belém,
EDUFPA, 2008.
ONO, Lúcia. Respeito ao idoso é tradição no Oriente. São Paulo. 1 p. Disponível in:
HTTP://jornal.valeparaibano.com.br/2006/11/30/especial/terceir7.html Acesso em: 16
jun. 2010.
TEIXEIRA, Solange Maria. Envelhecimento e trabalho no tempo de capital:
implicações para a proteção social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008.
Revista Interlinguagens
2013
4ed
v.1
ISSN 2178-955X
Página 216