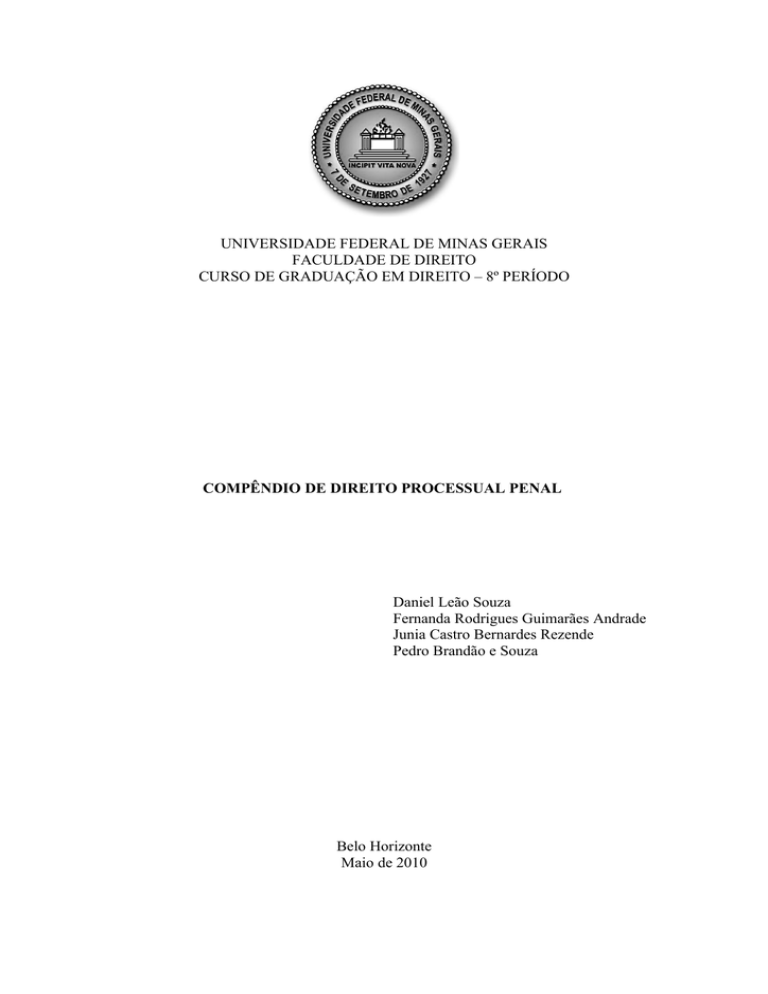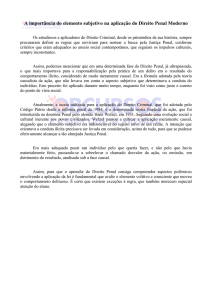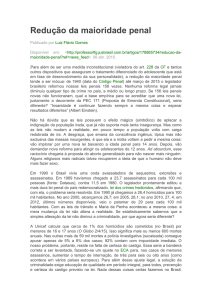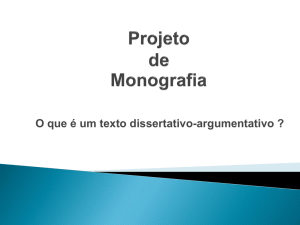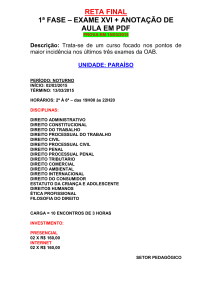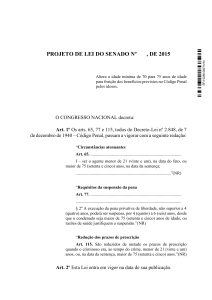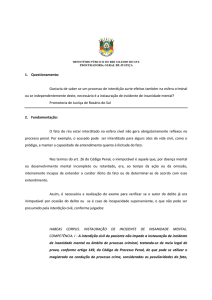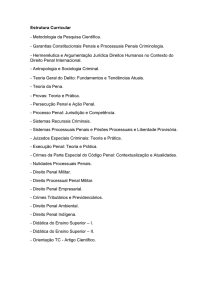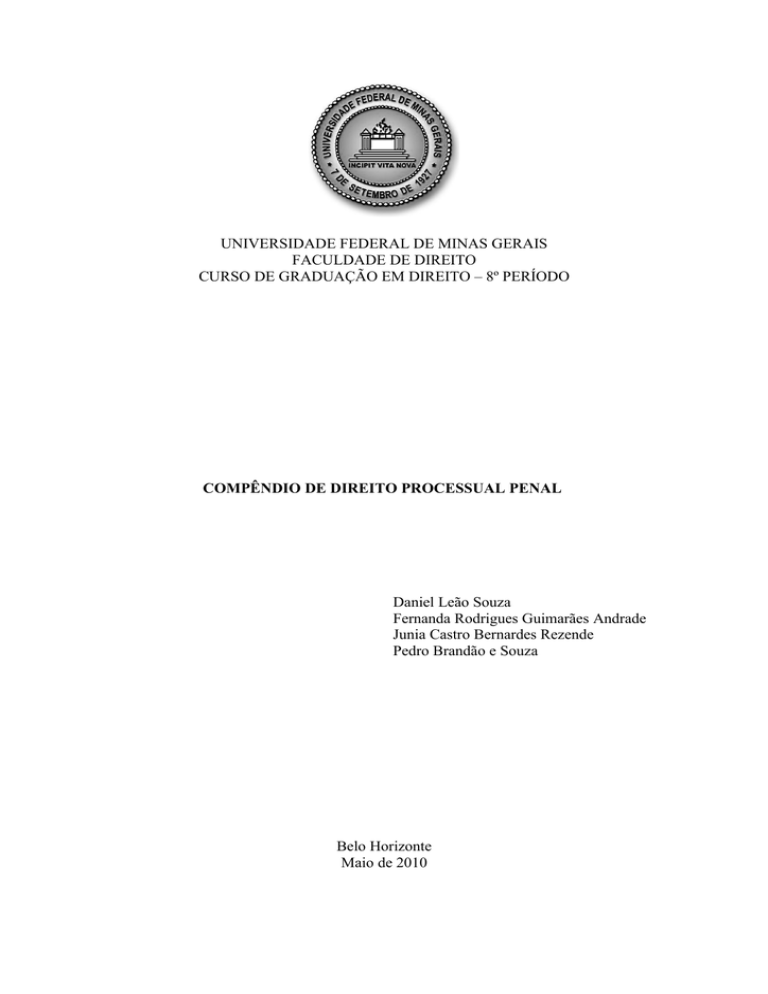
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO – 8º PERÍODO
COMPÊNDIO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Daniel Leão Souza
Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade
Junia Castro Bernardes Rezende
Pedro Brandão e Souza
Belo Horizonte
Maio de 2010
1.
Leiam o livro: “O queijo e os vermes”, de Carlo Ginzburg ou vejam o filme:
“Sombras de Goya”, de Milos Forman. Após, apreciem o sistema judicial de
apreciação da verdade e, com fundamento, na realidade da sociedade punitiva
atual apontem sobrevivências ou persistências no processo penal brasileiro da
atualidade.
- Pai de Inés: “ Você foi intimada pelo Santo Ofício? Você faz
idéia do que pode ser”?
- Inés: “Não”.
Sem saber a razão de sua intimação, Inés comparece
então ao Santo Ofício, onde é levada a uma sala escura em que
se encontra uma pequena mesa de madeira com três cadeiras de
um lado e uma de outro. Após um tempo, entram três membros
da Igreja encapuzados e vestindo longas túnicas. Os que se
sentam nas extremidades da mesa têm uma expressão sóbria,
imutável. Enquanto aquele que se coloca ao centro, e que será o
único a falar durante todo o interrogatório, passa uma
impressão de tranqüilidade, e com uma gentileza quase
amigável se dirige à menina e lhe convida a se sentar:
- Inquisidor: “Temos apenas algumas perguntas a lhe fazer e
esperamos que as responda com a verdade”.
- Inés: “Sim, eu o farei”.
(...)
- Inquisidor: “Serviram-lhe porco”?
- Inés: “Sim, mas eu não comi”.
- Inquisidor: “Por que não”?
- Inés: “Eu não gosto de porco”.
- Inquisidor: “Você pode jurar pela Santa Cruz que diz a
verdade”?
- Inés: Sobre o porco”?
- Inquisidor: “Então, pode”?
- Inés: “Eu juro pelas chagas de Jesus que eu estou dizendo a
verdade”.
- Inquisidor: “E suponho que não fará objeções a que seja-lhe
dada a chance de provar”.
- Inés: “Não, eu ficaria grata. Como gostaria que eu provasse”.
Inés é então submetida à tortura em frente ao seu
inquisidor e dois outros membros do clero que a observam, sem
expressar qualquer emoção, enquanto continuam sua busca
pela “verdade real”. A deixam nua, amarram suas mãos atrás
de suas costas com uma corda e a puxam de modo com que
fique içada do chão e todo o peso de seu corpo seja sustentado
por seus braços que não podem se mover. Com perfeição
técnica os “defensores da fé” repetem diversas vezes a técnica
confessional, imprimindo à interrogada uma dor capaz de criar
realidades irreais sem verter nem mesmo uma gota de sangue.
- Inquisidor: “A senhorita disse a verdade”?
- Inés: “Sim, eu disse”!
- Inquisidor: “Temos motivo para suspeitar o contrário”.
- Inés: “Por quê”?
- Inquisidor: “Suspeitamos que tenha evitado o porco por ser
uma judaizante”.
- Inés: “Uma o quê”?
- Inquisidor: “A senhorita é”?
- Inés: “Que é isso”?
- Inquisidor: “Pratica os ritos judaicos”?
- Inés: “Não, eu não faço isso”!
- Inquisidor: “Se tem algo a confessar, confesse agora”.
- Inés: “Mas eu ... O que quer que eu confesse”?
- Inquisidor: “A verdade”.
- Inés: “Mas eu já disse”!
Recomeçam então o processo de tortura. A dor e o
desespero são evidentes na face de Inés, que com dificuldade se
dirige a seu inquisidor:
- Inés: Diga-me qual é a verdade! Diga-me qual é a verdade”!1
A passagem acima citada, presente no filme “As Sombras de Goya”, demonstra
como se dava a investigação acerca de um possível crime no Sistema Inquisitorial
Moderno realizado pela Igreja Católica durante a Idade Média.
A fase inquisitorial iniciou-se no final do século XII e início do século XIII com
os Concílios de Verona e Latrão e foi finalizada apenas quando os Tribunais do Santo
Ofício foram extintos em Portugal e na Espanha nos anos 1821 e 1834, respectivamente.
A Inquisição começou mais branda (se é que se pode usar tal adjetivo para caracterizar
este sistema) e se tornou mais perversa com o passar do tempo. A chamada Inquisição
Medieval, em geral subordinada ao poder político, era itinerante e tinha como principal
função o fortalecimento do papado. À medida que este sistema se tornava mais
difundido, foram editadas Bulas Papais que o normatizavam, sobretudo a Bula Ad
Extirpanda, e manuais que possibilitaram a aplicação prática do “sistema jurídicocanônico” recém criado, sendo “Directorium Inquisitorum” (1937) e “Malleus
Maleficarum” (1489) os mais importantes destes. “As duas principais obras das
Inquisições (romano-germânica e espanhola) forneceram as chaves de leitura que
instrumentalizaram procedimentos baseados em denúncias anônimas e vagas, em
estruturas probatórias centradas na confissão e na busca da ‘verdade material’, bem
1
Fime: “As Sombras de Goya”, Milos Forma. EUA: 2006
como na prisão processual como regra- um suspeito podia ser preso a qualquer
momento, sem saber o que se queria dele. Nunca ficava conhecendo o nome de quem o
acusou, nem lhe era comunicado o motivo da prisão, nem o lugar em que havia
cometido o crime de que era acusado, nem com quem havia pecado”. 2 Já na Segunda
Fase da Inquisição, denominada Moderna, não se tinham mais as Visitações do Santo
Ofício, que eram itinerantes, e sim os fixos Tribunais do Santo Ofício. Neste período,
coexistiam três jurisdições penais: a central, na qual atuavam os juízes do rei, a locais,
tendo em vista a necessidade de se impor a “justiça” nas diversas regiões do reinado, e a
eclesiástica, responsável pelo julgamento de questões relevantes para a Igreja. A
Inquisição, agora rigidamente sistematizada, estava sob o Poder Estatal, que em
contrapartida a apoiava, legitimava-a e lhe dava enorme grau de autonomia para ditar
suas próprias normas e institutos. Assim, enquanto a legitimação para o “sistema penal
religioso” advinha do Estado, este se fortalecia com o respeito e medo imposto por
aquele. Pode-se dizer então, que o sistema inquisitorial surgiu “no seio da Igreja
Católica, como uma resposta defensiva contra o desenvolvimento daquilo que se
convencionou chamar de ‘doutrinas heréticas’. Trata-se, sem dúvida, do maior engenho
jurídico que o mundo já conheceu e conhece”.3
A estrutura inquisitorial inicia a lógica do direito penal de periculosidade, no
qual todos eram suspeitos e qualquer conduta podia ser um indício de crime. Neste
contexto e seguindo as orientações do “Malleus Maleficarum”, considerado por alguns
autores o primeiro modelo integrado de criminalística com direito penal e processual
penal4, não existia no processo penal a presunção da inocência, o contraditório ou a
ampla defesa; as denúncias eram públicas e podiam ser realizadas por qualquer pessoa,
que teriam, inclusive, sigilo quanto à sua identidade, mesmo em relação ao acusado. O
inquisidor, que poderia ser aquele que realizou a imputação, era também responsável
pela “defesa” (em real, inexistente), pela produção de provas e era ainda, o julgador. O
processo era sigiloso, o que contribuía para fomentar a liberdade de ação dos juízesinquisidores, e escrito, impossibilitando ao réu de acompanhar seu próprio julgamento.
A insuficiência de provas não auxiliava na absolvição do suspeito, uma vez que elas
deveriam mostrar de maneira incontroversa a sua inocência (o que era praticamente
impossível) ou apenas confirmar a imputação realizada pelo inquisidor/juiz/defensor.
A prova suprema do sistema inquisitorial era a confissão, demonstração evidente
da “verdade real”. E para se chegar a esta reconstrução dos fatos era permitida, e muitas
vezes incentivada, a tortura. Os juízes deviam se valer dos meios legais (ou seja, a
tortura em que não fosse vertido sangue) para fazer com que o acusado confessasse seu
crime. Com o fomento de tal prática, aumentaram gradativamente as condenações por
heresia, dada a facilidade de fazer com que um suspeito submetido às dores e angústias
da tortura confessasse um crime cometido ou que jamais existiu. Leciona Cordero sobre
este método de produção de prova: “o instrumento inquisitório desenvolve um teorema
2
CARVALHO, Salo de, Revista à Desconstrução do Modelo Jurídico Inquisitorial. p. 38, e citação de
NOVINSKY, A Inquisição, p. 58-59.
3
COUTINHO, O Papel do Novo Juiz no Processo Penal.
4
ZAFFARONI, BATISTA, SLOKAR E ALAGIA, Direito Penal Brasileiro. p. 511.
óbvio: culpado ou não, o indiciado é detentor das verdades históricas, tenha cometido
ou não o fato; nos dois casos, o acontecido constitui um dado indelével, com as
respectivas memórias; se ele as deixasse transparecer, todas as questões seriam
liquidadas com certeza; basta que o inquisidor entre em sua cabeça. Os juízos tornaramse psicoscopia”.5 Assim, o acusado, ao invés de ser um sujeito de direito, era um mero
objeto de investigação, que detinha a verdade material, e que deveria, a qualquer custo,
expor os acontecimentos (muitas vezes não ocorridos) para que figurassem no papel, e
concluíssem o processo penal, caracterizado por um excessivo formalismo gráfico e por
uma perversa noção de justiça em nome de Deus.
No filme “As Sombras de Goya”, Inés, após ser torturada, confessa ser
praticante de ritos judaicos, apesar de nunca tê-los praticado. É depois deixada em um
calabouço escuro e sujo, onde ficou acorrentada junto a diversos outros acusados, que
também haviam sido submetidos ao “interrogatório”, para esperar seu julgamento, que
até a dissolução da Inquisição espanhola pelas ordens de Napoleão (após 15 anos de sua
prisão) não ocorreu. Os pais de Inés, ricos comerciantes, não conseguiam notícias de
sua filha depois de sua apresentação ao Santo Ofício. Por isso, com o intermédio do
artista Francisco Goya, entraram em contato com um padre de importante posição
hierárquica dentro do tribunal do Santo Ofício. Este padre, Lorenzo, informou-lhes que
Inés deveria aguardar seu julgamento, pois havia confessado o crime pelo qual havia
sido acusada. O irmão da menina pergunta a Lorenzo se ela havia sido torturada e ele
responde que sim, que ela havia sido submetida ao Interrogatório. O pai então,
revoltado, escreve um termo no qual Lorenzo afirma ser o filho de um chipanzé com um
orangotango e pede que este o assine. Diante da negativa do padre, o pai, com a ajuda
de seus serventes e de seus filhos, tortura-o da mesma maneira em que sua filha havia
sido torturada e o instiga a assinar o documento que havia escrito. Após alguns minutos
de submissão ao “Interrogatório” realizado pelo pai de Inés, Lorenzo assina o absurdo
documento, demonstrando a deturpação do método de confissão mediante tortura.
Diante da ameaça de que este termo se torne público, Lorenzo requer ao Bispo,
autoridade máxima do Tribunal do Santo Ofício, que aceite a vultosa doação oferecida
pelo pai de Inés e que permita que ela retorne à sua casa.
-Bispo: “Ela foi submetida ao Interrogatório”?
- Lorenzo: “Sim, padre, ela foi submetida ao Interrogatório”.
- Bispo: “Aceitaremos esse magnânimo presente com a mais
humilde gratidão. Também mandaremos gravar o nome do
doador no convento para celebrizar sua generosidade
eternamente. Quanto à filha, rogo a Deus que lhe conceda
Sua misericórdia mas soltá-la iria contra os princípios da
nossa fé, pois sugeriria que a Igreja duvida do valor do
interrogatório”.
5
CORDERO, Guida alla Procedura Penale. p. 48.
O pai de Inés, após perceber que Lorenzo seria incapaz de interceder pela
liberação de sua filha, vai ao rei e mostra o documento assinado pelo padre, alegando a
impossibilidade de se valorar a confissão obtida com tortura, como fazia o tribunal
eclesiástico. O rei se diverte com a declaração de que o padre seria um macaco e diz que
tomará as medidas cabíveis. O documento é então entregue ao Bispo, que depois de
constatar que Lorenzo havia fugido, realiza a queima pública de uma pintura de sua
imagem, declarando que o padre havia sido “contaminado por forças demoníacas” e
devia ser perseguido, e não modifica em nenhuma medida o sistema inquisitorial
vigente.
Quinze anos após esses acontecimentos, a Espanha (onde se passa todo o filme)
é invadida pela França, agora sob o comando de Napoleão. Com base na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, o Tribunal do Santo Ofício é dissolvido, seus
membros são presos e submetidos a julgamento. Lorenzo é agora promotor e será ele a
promover a acusação, pública e oral, contra o Bispo. Utilizando-se do mesmo discurso
de perseguição feito pela Igreja, falando, porém, em nome da dignidade humana, e não
da supremacia de Deus, afirma o ex-padre, permanente acusador que se adéqua ao
modelo inquisitorial:
- “Eu estou aqui para servir aos ideais da grande Revolução
Francesa! Eles me abriram os olhos como abriram os olhos
dos cegos do mundo inteiro porque eles são irresistíveis. Eles
são lógicos, são justos, universais. Todos os homens nascem
livres. Todos têm os mesmos direitos, e aqueles que se
recusam a ver a luz da liberdade não terão misericórdia. Não
haverá liberdade para os inimigos da liberdade! Padre
Gregorio, não tome isto pessoalmente, no entanto, o senhor
é a encarnação do fanatismo cego e do nepotismo. É o
instrumento pelo qual uns poucos mantiveram muitos
acorrentados. É o exemplo do que há de pior na Espanha, e
por isso será julgado pelos seus feitos”.
Os seis julgadores senteciam por unanimidade o padre à penal capital. Este,
porém, nunca sofreu os efeitos da condenação, uma vez que pouco depois a Inglaterra
expulsou os franceses do território espanhol e restituiu à Igreja o poderio sobre a justiça
penal eclesiástica. O Bispo assumiu então a função de acusador e julgador, e de acordo
com a estrutura processual penal presente em certos aspectos até a atualidade, ou seja, a
estrutura inquisitorial, condenou Lorenzo à morte.
Com o surgimento do humanismo cívico, da Ilustração e do Renascimento, o
Sistema Inquisitorial entra em declínio. O conceito de direitos humanos se espalha para
todos os ramos do direito, que no século XIX começa a ser estudado como ciência, ou
seja, fruto da razão, desvinculado da Igreja e da fé. Contudo, a separação entre direito e
moral não acabou com a lógica inquisitorial presente no sistema penal e processual
penal do Ocidente. “O sistema inquisitório confessional foi substituído por um modelo
laicizado de idêntica natureza autoritária, obstaculizando o desenvolvimento e
consolidação do sistema acusatório”.6 Atualmente, a maior parte dos países
democráticos adotam modelos processuais penais acusatórios. Entretanto, dentre estes é
exceção possuir um sistema puramente acusatório, sem resquícios do autoritarismo
advindo do processo inquisitório.
A.
O PROCESSO PENAL BRASILEIRO NA ATUALIDADE
A maior parte da doutrina considera que o processo penal brasileiro na
atualidade possui natureza mista, ou seja, é um sistema acusatório com traços e aspectos
do sistema inquisitório. No entanto, há doutrinadores que não incluem o inquérito
policial no processo e por isso alegam ser o sistema processual penal nacional somente
acusatório, e não misto. Nesse sentido o Procurador Eugênio Pacelli de Oliveira: “No
que se refere à fase investigativa, convém lembrar que a definição de um sistema
processual há de limitar-se ao exame do processo, isto é, da atuação do juiz no curso do
processo. E porque, decididamente, inquérito policial não é processo, misto não será o
sistema processual, ao menos sob tal fundamentação”. 7 Entretanto ainda que se leve em
consideração a exclusão do inquérito policial do processo, o que para nós seria um
excesso de formalismo e uso de conceitos rígidos como forma de amenizar as mazelas
presente em nosso sistema, tal classificação não procede, uma vez que também em
relação à fase judicial estão presentes em nossa legislação, dispositivos de evidente
caráter inquisitório, como o art. 156 do CPP, sobre o qual dissertaremos à frente.
O Código de Processo Penal brasileiro foi editado em 1941 sob a inspiração da
legislação processual italiana da década de 1930, período em que a Itália se encontrava
sob o regime fascista. Por isso, não é surpreendente que o CPP brasileiro tenha um
aspecto fortemente autoritário, principalmente em sua redação original. O princípio
fundamental do Código era a presunção de culpalidade, o que coadunava com os
ensinamentos de grande parte da doutrina da época, bem representada pelo italiano
Manzini, que dizia ser ilógica a existência de uma ação penal contra quem seria
presumidamente inocente. Pacelli de Oliveira aponta como sendo as mais relevantes
características do originário CPP: 1) a potencial e virtual culpa do acusado, 2) a
prevalência da segurança pública em relação à liberdade individual, 3) a alegação da
busca da verdade real como legitimadora para práticas abusivas e autoritárias por parte
das autoridades públicas, 4) a realização do interrogatório do réu em ritmo inquisitivo,
sem a intervenção das partes, e exclusivamente como meio de prova, e não de defesa.8
Com o passar dos anos, a mudança do contexto histórico, os horrores vistos nas
guerras, nos campos de concentração e nos regimes comunistas, mostraram a
necessidade de se proteger o indivíduo acusado contra outros indivíduos e contra o
poder Estatal. Os diversos ramos do Direito, incluindo o Direito Processual Penal,
foram então sendo modificados para se adequar à nova concepção de justiça. Neste
novo sistema, o processo inquisitorial se mostrava completamente inadequado e o
6
CARVALHO, Salo de, Revista à Desconstrução do Modelo Jurídico Inquisitorial. p 1.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
p. 12.
8
Idem. p. 6.
7
processo acusatório passou a ser incorporado pela legislação nacional. O modelo
acusatório é caracterizado pela distinção entre os órgãos de acusação, defesa (que deve
ser técnica) e julgamento. Além disso, nesse sistema, o processo se inicia somente com
o oferecimento da acusação (não pelo julgador, Princípio da Inércia), e se desenvolve
através do contraditório e da ampla defesa, sob os auspícios de um juiz natural e
imparcial (o que não significa um juiz neutro, já que é impossível não ser influenciado
pela realidade, costumes e contexto histórico no qual se está inserido). Dentro do
sistema acusatório não se busca a qualquer custo a “verdade real”. A verdade judicial é
sempre uma verdade processual e não é do réu o ônus da prova, e sim do órgão
acusador, no Brasil, o Ministério Público. Ademais, a decisão do juiz deve ser sempre
fundamentada, possibilitando à parte sua impugnação, caso julgue necessário. Deve-se
mencionar ainda, que no sistema acusatório estão presentes o direito ao silêncio (art. 5º,
LXII CF/88), que não deve ser valorado positiva ou negativamente e o direito a não
auto-incriminação.
Na década de 1970, o CPP brasileiro passou por inúmeras alterações, e
relevantes mudanças foram realizadas, como a flexibilização de regras restritivas do
direito à liberdade. Foi feito, inclusive, o projeto de um novo Código de Processo Penal,
que, entretanto, jamais foi aprovado. É em 1988, contudo, com a edição da Constituição
da República, que o processo penal no Brasil é radicalmente alterado. A nova
Constituição se baseia nas garantias individuais e na defesa da dignidade da pessoa
humana. E ao contrário do CPP, que presume a culpabilidade do acusado, a
Constituição de 1988 afirma que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII). Em razão da hierarquia de
normas, diversos dispositivos do Código de Processo Penal deixaram de viger por não
terem sido recepcionados pelo Diploma Superior. Ainda assim, atualmente são
aplicados inúmeros dispositivos de clara natureza inquisitória, que vão de encontro com
os princípios norte do nosso sistema constitucional.
Examinemos agora alguns dos artigos do CPP de natureza inquisitória e que são
aplicados na praxe forense:
O art. 5º, II do citado diploma permite que o inquérito policial nos crimes de
ação pública seja iniciado por requerimento da autoridade judiciária. Permissão esta
contrária ao sistema acusatório, no qual o juiz, pelo princípio da inércia, só pode atuar
após ser provocado. O juiz não deve atuar na fase do inquérito policial (“a não ser para
praticar atos de natureza jurisdicionais que tenham por fim assegurar direitos
fundamentais não relacionados, diretamente, com o fato em apuração”)9, por isso
mesmo não pode possuir a prerrogativa de ordenar o seu início. Deveria o juiz ter a
possibilidade de comunicar o possível fato criminoso ao Ministério Público, como prevê
do art. 40 do CPP, que então requisitaria a abertura do inquérito policial se julgasse
cabível. Também permitindo a atuação do juiz na fase do inquérito policial, tem-se o
art. 10, parágrafo terceiro, que permite ao magistrado impor prazo para a realização de
9
HAMILTON, Sergio Demoro, A Ortodoxia do Sistema Acusatório no Processo Penal Brasileiro: Uma
Falácia, in HTTP://amperj.org.br/associados/dalla/artigos41.htm
diligências necessárias para elucidar o inquérito pela autoridade policial, o que se
mostra incoerente, uma vez que, se para quem é o responsável pela investigação tais
providências se mostram difíceis, impossível ao juiz, que ao menos teoricamente estaria
afastado da fase inquisitiva, saber o tempo necessário para que elas sejam realizadas. E
ainda o art.13, II, que permite que o juiz requisite diligências à autoridade policial.
Talvez seja este o dispositivo de maior afronta ao sistema acusatório na fase do
inquérito policial. Ao juiz não cabe investigar e ao conceder a ele a possibilidade de
requerer diligências nessa fase, permite-se que o juiz imagine situações que podem ter
ocorrido e então busque uma forma de prová-las. Isto significa dar ao julgador poder
que tinha o inquisidor na Idade Média, ou seja, a busca da confirmação de um fato que
pensa ser existente.
O art. 127 do CPP dispõe que o juiz, de ofício, pode ordenar o seqüestro de
bens, mesmo antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Ora, se o seqüestro se mostra
necessário, não cabe ao juiz fazê-lo antes de iniciado a fase judicial sem o requerimento
do ofendido ou do Ministério Público, por consubstanciar ofensa direta e explicita ao
devido processo legal e aos demais princípios garantidores presentes na Constituição
Federal.
De todas as previsões de natureza inquisitória presentes no CPP, as que
permitem ao juiz a iniciativa de prova são provavelmente aquelas de demonstram maior
contradição com o modelo processual acusatório. Diz o art. 156:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer,
sendo, porém, facultado juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada ação penal, a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e
relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida.
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de
proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir
dúvidas sobre ponto relevante”.
O inciso II do art. 156 não nos parece desarrazoado uma vez que a iniciativa
probatória do juiz está restrita à necessidade de esclarecimento de dúvidas surgidas a
partir das provas produzidas pelas partes no processo. Já o inciso I é de transparente
caráter inquisitório. Mostra-se novamente presente na legislação a autorização para que
o juiz busque a dita verdade real, ou seja, a verdade que pensa ser real. Como poderá o
juiz saber qual a prova necessária? Se as provas presentes no processo não o permitem
condenar o réu, deveria o juiz concluir pela necessária absolvição e não buscar uma
forma de confirmar a culpa que pensa existir. Na mesma esteira, encontram-se também
os artigos 168, 209, 234 e 242, todos do CPP. Vale lembrar a lição de Hamilton:
“Nunca o juiz, ainda que supletivamente, poderá intervir para buscar prova que
incumbia ao querelante produzir. Nos casos de exclusividade da ação privada, a atuação
do juiz só se dará em favor do querelado, quando este, não importa a razão, deixe de
produzir prova que eventualmente, possa beneficiá-lo. Justifica-se tal atuar em razão do
princípio do favor libertatis”10. O requerimento de provas de ofício em favor do réu não
está em desacordo com o modelo acusatório e justifica-se pela desigualdade de partes
existente no processo penal. Diferentemente do que o ocorre no processo civil, no
processo penal a relação é desigual tendo em vista que de um pólo da relação tem-se o
acusado e do outro o Estado, e não um outro indivíduo.11
Na legislação esparsa também estão presentes diversas previsões contrárias ao
sistema acusatório. A Lei do Crime Organizado (9034/95) e a Lei da Interceptação
Telefônica (9296/96) permitem ao juiz, de ofício, determinar a realização de diligências
na fase do inquérito policial. A Lei de Falências (Decreto-lei 7661/45) prevê um
inquérito presidido pelo juiz, absurdo que nas palavras de Sergio Demoro Hamilton, é
um “velho ranço inquisitorial, mais uma vez, a fazer tabula rasa do sistema acusatório”.
Cumpre dizer que o legislador nacional não se mostra totalmente alheio às
anomalias presentes em nosso sistema processual e vem recentemente promovendo
reformas para retificar algumas das falhas presentes. Merece congratulação a Lei
11689/08 ao modificar o art. 474 do CPP permitindo ao acusado submetido ao tribunal
do júri não comparecer aos procedimentos judiciais se considerar que assim que lhe será
mais vantajoso. E ao estabelecer no art. 384 do CPP que somente ao Ministério Público
cabe aditar a denúncia. Entretanto, como não raro acontece no Brasil, no mesmo
período em que são editadas normas que fazem com que o Direito nacional caminhe
para frente (como deveria ser o processo de acordo com sua etimologia), são também
editadas normas que o fazem caminhar para trás. Dessa forma, vale mencionar que o
desarrazoado art. 156 já comentado, que permite ao juiz tutelar a qualidade da
investigação, é novidade trazida pela Lei 11690/08.
O Processo Penal brasileiro e o inquérito policial, considerando-se ou não que o
segundo está incluído no primeiro, devem sofrer uma reforma radical com o objetivo de
fazer com que qualquer resquício do sistema inquisitorial seja eliminado. Em nome da
dignidade da pessoa humana, em sua concretude e não apenas como retórica, forma em
que muitas vezes esse princípio foi utilizado no curso da história, o Direito deve
formular e extinguir normas com o objetivo de definitivamente acabar com a supressão
das liberdades individuais para assegurar a “segurança pública”. Deve-se exterminar
qualquer resquício, ainda que brando, da reação diabólica existente entre o inquisidor e
o acusado.
“Há uma coisa apenas que excita os animais mais do
que o prazer: é a dor. Sob tortura tu vives como sob o efeito
de ervas que produzem alucinações. Tudo o que ouviste
contar, tudo que leste, volta à tua mente como se fosses
transportado, não ao céu mas ao inferno. Sob tortura dizes
não apenas o que quer o inquisidor, mas também aquilo que
imaginas possa lhe dar prazer, porque se estabelece uma
10
11
Idem. p. 14
relação (esta sim, realmente diabólica) entre tu e ele”.
(Umberto Eco)
2.
Leiam o inteiro teor do AI 762146 RG / PR – PARANÁ/REPERCUSSÃO GERAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO/Relator(a): Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 03/09/2009
(disponível no site: www.stf.jus.br). Respondam: houve ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e do estado de inocência?
O Agravo de Instrumento 762146 que teve como relator o Ministro Cezar
Peluso, e julgou que o recurso que versa sobre a imposição de efeitos de sentença penal
condenatória à transação penal como de repercussão geral não é propriamente o objeto
de analise quanto à ofensa ou não dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e do estado de inocência. No caso em tela é importante analisar se o
acórdão do TJPR que tece analise quanto efeitos da sentença homologatória da
transação penal realizada no 2º Juizado Especial Criminal de Londrina representa
ofensa aos supracitados princípios.
O instituto da transação penal encontra guarida constitucional no art. 98, I da
Constituição da República, que dispõe:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e
os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau;” (grifo nosso)
Posteriormente foi regulado pela lei 9.099 de 1995, que em seu art. 76
estabeleceu que:
“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser
especificada na proposta.”
Todavia, a partir da criação deste instituto, alguns questionamentos foram
trazidos pela doutrina, e em alguns pontos enfrentados pela jurisprudência, relacionados
à natureza do mesmo. Teria a sentença que homologa a transação penal status
equivalente ao da sentença condenatória e por conseqüência os efeitos relacionados a
esta (como o previsto no art. 91 do Código Penal), ou a decisão que venha a homologála teria efeitos apenas declaratórios.
O acórdão da Turma Recursal do Paraná, referente ao caso em tela, que julgou
apelação de Luis Carlos de Almeida quanto à impossibilidade de restituição dos bens
que constituem instrumento ou produto do crime no caso de transação penal, adotou a
posição de considerá-la como de natureza condenatória ainda que sumária ou imprópria
e com os efeitos inerentes de uma sentença condenatória.
Deve-se observar então se o conferimento de tais efeitos à sentença que
homologa a transação penal representa ofensa ou não ao principio do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório. Antes de uma analise mais aprofundado da
questão, cumpre uma breve analise acerca dos princípios acima elencados.
I.
PRINCIPIOS
i. Principio do Devido Processo Legal
Historicamente computa-se o nascimento de tal principio à Carta Magna em seu
capitulo 39 em 1215, como reação às políticas perpetradas pelo Rei João Sem Terra na
Inglaterra. Desde então muito se produziu e se desenvolveu em torno de tal principio.
O devido processo legal é o principio que orienta todo o arcabouço jurídico
processual, dentro da perspectiva procedimental a clausula do devido processo legal,
garante ao cidadão, diante do Estado que as normas existentes e legitimas sejam
aplicadas e asseguradas pelos órgãos públicos. Alem disso, possui também aspecto
material (doutrina desenvolvido principalmente nos E.U.A) que impede que as normas
materialmente ilegítimas ou injustas sejam elaboradas, exercidas ou aplicadas12.
. Tal principio está enunciado como clausula pétrea na Constituição em seu art. 5º ,
LIV, que dispõe:
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;”
Como denota Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz parte da analise de devido
processo legal “que as normas aplicadas quanto ao objeto do litígio não sejam
desarrazoadas e portanto implicitamente injustas”.
Importante ressaltar que com o passar dos anos tornou-se necessário esmiuçar
aspectos mais específicos do que deve ser um processo justo. Assim, outros princípios
ao longo dos anos foram ganhando autonomia e características mais especificas, ainda
que se note em muitos deles grande relação de interdependência. É o caso, por exemplo,
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
I.2 Principio do Contraditório
O principio do contraditório faz parte da rede garantista que advêm do devido
processo legal e não se resume à simples participação das partes autora e ré no processo,
mas está muito ligado à idéia de “paridade de armas” das partes dentro de um
processo13. Deve-se observar se as partes durante o processo têm oportunidades de
12
FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Codigo de Processo Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2004. p. 15
13
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 13. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010. p. 32.
resposta com mesma intensidade e extensão. A idéia de dialética é parte indissociável
de sua compreensão,
. Está enunciado na Constituição Federal, também no art. 5º, inciso LV:
“V - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;”
Alem disso, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos enfatiza tal
princípio em seu art. 8º, dispondo também sobre o principio da ampla defesa:
“Artigo 8º - Garantias judiciais
(...)
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se
presuma sua inocência, enquanto não for legalmente
comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem
direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um
tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a
língua do juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da
acusação formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à
preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser
assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se,
livremente e em particular, com seu defensor;
(...)
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no
Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou
peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os
fatos;”
A jurisprudência em diversas oportunidades teceu considerações acerca do
principio, destacando sua importância fundamental dentro do sistema jurídico pátrio, em
especial no direito processual penal.
“O principio do contraditório pressupõe a igualdade das
partes e se revela na dialética da atividade probatória e das
manifestações processuais, em relação às quais deve haver
necessidade de informação e possibilidade de reação. O seu
limite atinge todos os pontos de fato ou de direito que,
durante o desenvolvimento da causa, se mostrem relevantes
para o seu deslinde”14
Por fim, cabe observar que o principio do contraditório deve ser exercido
de maneira plena dentro da perspectiva do sistema acusatório, podendo ser restringido
em dadas situações de procedimentos inquisitivos15
I.3 Principio da Ampla Defesa
O principio da ampla defesa está relacionado de maneira muito forte com o
principio do contraditório. A alegação fica clara pela própria maneira como costumam
ser tratados em conjunto pelo legislador, como se pode observar nos diplomas legais
supracitados. Todavia ainda que pareça obvia a alegação, deve-se observar que não se
tratam de princípios idênticos.
Enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o principio da ampla
defesa vai alem, impondo a realização efetiva dessa participação. Sendo assim, vem a
se manifestar por meio da autodefesa, da defesa efetiva e por qualquer meio de prova
capaz de demonstrar a inocência do acusado.16
Segundo o Superior Tribunal de Justiça:
“O principio do contraditório enseja contradizer fatos e
alegações da acusação. O direito de defesa, por seu turno, dá
a oportunidade de deduzir considerações, relativas à situação
jurídica do réu”17.
Ao tratar da Ampla Defesa o Supremo Tribunal Federal coloca ainda que esta
significa “dar ao réu todas as oportunidades e meios que a lei lhe propicia para
defender-se”18
Feita breve analise acerca dos princípios do devido processo, do contraditório e
da ampla defesa, volta-se para a analise do caso em tela, mais especificamente dos
efeitos inerentes à sentença que homologa a transação penal, e de sua conformidade ou
não com os princípios acima elencados.
B.
SENTENÇA QUE HOMOLOGA A TRANSAÇÃO PENAL
II.1 Efeitos da Sentença que Homologa a Transação Penal
A discussão em torno dos efeitos da sentença que homologa a transação penal é
uma das mais controversas dentro do Direito Processual Penal atualmente, e apresenta
posições bem diversificadas tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial.
14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO. 1ª Câmara Criminal. Agravo 276.239-3/0-00 – Rel.
Jarbas Mazzoni, 29.11.1999.
15
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p.17
16
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 13. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010. p. 35.
17
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6ª Turma. RHC 3242 – Rel. Vicente Cernicchiaro,
07.12.1993.
18
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC – Rel. Moreira Alves – RT 688/385
Para Ada Pellegrini19 e Lucas Pimentel de Oliveira trata-se de sentença
homologatória de transação penal com eficácia de título executivo. Para Paulo de Tarso
Brandão, Damásio de Jesus trata-se de sentença meramente declaratória. Já Cezar
Bitencourt afirma ser essa decisão uma sentença declaratória constitutiva20.
O Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão tomou posição favorável à
natureza condenatória de tal sentença:
“A sentença homologatória da transação penal gera
eficácia de coisa julgada material, impedindo a instauração
da ação penal no caso de descumprimento da pena
alternativa aceita pelo autor do fato. Assim, tendo a sentença
homologatória da transação penal natureza condenatória, o
descumprimento da pena de multa aplicada pelo Juizado
Especial Criminal deve receber o mesmo tratamento pelo
Juizado Criminal Comum, aplicando-se o art. 51 do CP com a
redação dada pela Lei nº 9.268/96. Após a vigência da
referida Lei, a pena de multa passou a ser considerada tãosomente dívida de valor, sendo revogadas as hipóteses de
conversão em pena privativa de liberdade ou restrição de
direitos. Logo, a pena de multa não cumprida no prazo legal
deve ser inscrita na dívida ativa da Fazenda Pública.”21
Nesse mesmo sentido dispõe decisão do Superior Tribunal de Justiça, (inclusive
citada no acórdão prolatado pelo TJPR, alvo de analise desta dissertação).
“A sentença homologatória da transação penal, por
ter natureza condenatória gera a coisa julgada formal e
material, impedindo, mesmo no caso de descumprimento do
acordo feito pelo autor do fato a instauração de ação
penal”.22
Ainda que exista mais de uma manifestação da jurisprudência de tribunais
superiores apontado para a natureza condenatória de tal sentença seria pretensioso
afirmar que a questão encontra-se pacificada. Tal proposição pode ser demonstrada
justamente pela ampla divergência manifestada por parte de respeitados nomes da
doutrina pátria.
Independentemente da corrente que se adote, no caso em tela é necessário que se
analise as conseqüências que teriam o conferimento de uma ou outra natureza. E, mais
do que isso, se a inclusão da previsão legal do art. 91 do Código Penal dentre elas,
ofenderia princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
19
GRINOVER, Ada Pellegrini. Juizados Especiais Criminais. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1999.
20
BITENCOURT, Cezar Roberto. Juizados Especiais Criminais Federais, São Paulo: Saraiva, 2003. p
20.
21
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 194.637-SP. Rel. José de Arnaldo Fonseca, 20.04.1999.
22
SUPERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 223.315-SP. Rel. Fernando Golçaves, 23.10.2001.
II.2 Aplicação do art. 91 do Código Penal em casos de Sentença que Homologam a
Transação Penal
Dispõe o art. 91 do Código Penal:
“Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção
constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso.
Retomando a discussão do tópico anterior, dentro da perspectiva de que a
decisão que homologa transação penal não representa sentença condenatória, fica claro
que não incidiriam sob a mesma os efeitos previstos no art. 91, que se refere
expressamente a efeitos da condenação.
Todavia, se partirmos da perspectiva que a coloca com natureza condenatória, é
indispensável que seja feita uma analise mais profunda acerca da extensão dos efeitos
dessa natureza condenatória, e quanto à aplicação ou não do art. 91 do Codigo Penal no
rol de tais efeitos.
Deve-se observar que o instituto da transação penal representa termo consensual
entre autor do fato e Ministério Público em que se impõem determinadas penas
restritivas de direito ou multa. Contudo, não há espaço para discussão em tal
procedimento acerca da culpabilidade ou não, comprovação dos fatos ocorridos, analise
de provas, etc.
Com tal afirmação não se busca questionar, neste momento, a legitimidade do
instituto da transação penal em si (que nos parece inclusive ser legitimo - visto que
acolhido pela própria Constituição Federal, e por constituir um direito subjetivo do réu
(ponto também controverso), que deve no momento de sua escolha estar assessorado
por um advogado, dentro de um procedimento próprio estabelecido pela lei 9.099 de
199523, que visa evitar que seja aplicada pena restritiva de liberdade em hipóteses de
cometimento de delitos de menor potencial lesivo).
Contudo, ao pretender estender os efeitos decorrentes da sentença homologatória
e em ultima instancia da própria transação àqueles presentes em uma sentença
23
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p.269
condenatória “ordinária”, isto é, fruto de processo regular que culmina em sentença
prolatada pelo juiz, acaba-se por ofender princípios do contraditório, da ampla defesa e
por conseguinte do próprio devido processo legal.
Isto porque, não há nem mesmo averiguação quanto a incidência ou não do
crime, tornando-se abusivo impor o recolhimento do instrumento que tenha sido usado
para o mesmo. Alem disso, o argumento mais substancial, no caso em tela, refere-se ao
fato do art. 91 não fazer parte do acordo celebrado entre autor do fato e Ministério
Público e posteriormente homologado pelo juiz de Direito. Fica clara a diferenciação da
extensão destes efeitos quando se observa que a transação penal não importa na
caracterização de reincidência nem consta de anotações criminais, registrando-se a
aplicação da penalidade apenas com vistas a impedir que o autor do fato, no período de
5 (cinco) anos, se veja novamente alcançado pela medida benéfica
Nesse sentido ensina Julio Fabrini Mirabete:
Por disposição expressa, a sentença homologatória da
transação não tem os efeitos civis (art. 76, parágrafo 6º),
como previsto para a sentença penal condenatória (art. 91, I,
do Código Penal, art. 63 do Código de Processo Penal). Fica
excluída, também, a possibilidade de invocação do art. 584,
III, do Código de Processo Civil, que considera como título
executivo judicial a sentença homologatória de transação.
Assim, a vítima e os demais interessados deverão propor
ação de conhecimento no juízo cível para obter a reparação
dos danos e outros efeitos civis.
Sendo genérico o dispositivo, ao se referir a 'efeitos civis',
também não gera a sentença homologatória da transação a
perda dos instrumentos ou produto do crime (art. 91, 'a' e 'b',
do Código Penal). Também se pode afirmar que, tratando-se
de sentença condenatória imprópria, não causa a sentença
os efeitos civis e administrativos previstos no art. 92, do
Código Penal, eventualmente aplicáveis ao autor da infração
de menor potencial ofensivo, mesmo porque tais efeitos não
são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na
sentença (art. 92, parágrafo único, do Código Penal)."24
Tal posição é corroborada pela própria jurisprudência, conforme decisão do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, ao estabelecer que:
"A sentença homologatória de transação penal não
pode ter o efeito de condenação do artigo 91, II 'a', porque
não cabe interpretação extensiva contra o réu. Ademais, a
sentença não pode ir além do que foi acordado pelas partes.
(impedir a restituição de arma apreendida)"
C.
CONCLUSÃO
Independentemente da natureza que se coloque para a sentença que homologa a
transação penal, a negativa de restituição de bens apreendidos no caso de transação
penal constitui ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
24
MIRABETTE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais. 4a. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 75.
Para tanto, basta analise aprofundada dos princípios acima enunciados. Diante
de tal situação não se estabelece a possibilidade de ampla defesa, nem de contraditório
pelo autor do fato, uma vez que com a transação opera-se extinção da punibilidade, e
não há espaço para discussão acerca da culpabilidade ou não do autor. Alem disso,
ofende-se o devido processo legal em sentido amplo por não haver previsão especifica
quanto a tal efeito condenatório, que não consta inclusive no próprio termo estabelecido
entre autor e Ministério Público.
3.
. Apreciem os problemas relativos ao moderno garantismo e à mitigação das
garantias individuais processuais – os casos de quebra de sigilo de dados na
internet, em bibliotecas etc. na persecução ao terrorismo e à lavagem de capitais.
“… e tratar de compreender que o imenso organismo
era inatacável…Se alguém, no lugar em que lhe cabia
estar, mudava algo por sua conta, teria tão-somente
removido o chão sob os seus próprios pés e se
desnucaria, enquanto o grandioso organismo facilmente
poderia se ressarcir em outra parte – posto que tudo
estava relacionado – da ferida sofrida em algum ponto”.
(Franz Kafka, O Processo).
O garantismo consiste no conjunto de direitos e garantias de cunho processual
que resguardam o indivíduo contra as arbitrariedades, excessos e abusos do jus puniendi
estatal. No magistério de Aury Celso Lima Lopes Junior,
O processo, como instrumento para a realização do Direito
Penal, deve realizar sua dupla função: de um lado, tornar
viável a aplicação da pena, e de outro, servir como efetivo
instrumento de garantia dos direitos e liberdades
individuais, assegurando os indivíduos contra os atos
abusivos do Estado. Nesse sentido, o processo penal deve
servir como instrumento de limitação da atividade estatal,
estruturando-se de modo a garantir a plena efetividade aos
direitos individuais constitucionalmente previstos, como a
presunção de inocência, contraditório, defesa, etc.
O objeto primordial da tutela não será somente a
salvaguarda dos interesses da coletividade, mas também a
tutela da liberdade processual do imputado, o respeito a sua
dignidade como pessoa, como efetiva parte do processo.25
O autor identifica cinco princípios básicos sobre os quais se assenta o
garantismo: (i) jurisdicionalidade – a aplicação da pena tem como pressuposto o
processo penal, realizado por juiz natural que satisfaça os requisitos de independência e
25
LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima Lopes. A Instrumentalidade Garantista do Processo Penal.
Disponível
em:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/17011/public/1701117012-1-PB.htm. Acesso em: 27 de abril de 2010.
imparcialidade; (ii) inderrogabilidade do juízo; (iii) separação das atividades de julgar e
acusar; (iv) presunção de inocência; (v) contraditório e ampla defesa.26
Atualmente, assiste-se a verdadeiro atentado ao garantismo. Esta tendência, que
se assemelha à reprodução, na realidade fática, de todas as violações retratadas por
Kafka, no clássico da literatura ocidental O Processo, verifica-se de forma
particularmente clara na persecução ao terrorismo e à lavagem de capitais. Passa-se,
agora, a análise pormenorizada de cada uma destas situações.
No tocante às estratégias de repreensão ao terrorismo, concentrar-se-á em três
vertentes, quais sejam: (i) a adoção do Ato Patriótico pelo governo norte-americano; (ii)
a flexibilização da proibição da tortura e de outras modalidades de maus-tratos; (iii) e, o
desrespeito ao devido processo legal pelo Ato das Comissões Militares (Military
Commission Act) de 2006 e pela prática de blacklisting no Conselho de Segurança.
Ressalve-se que outros aspectos são igualmente dignos de atenção. Porém, devido às
limitações da presente proposta pedagógica, decidimos nos ater à questão de forma
abrangente, apresentando apenas os seus contornos principais. Para tanto, as aludidas
vertentes mostram-se suficientes. Importa observar, outrossim, que tomamos os Estados
Unidos como referência, por ter este país se apresentado como o baluarte da luta
internacional contra o terrorismo.
Quanto ao crime de lavagem de capitais, realizar-se-á análise dos dispositivos da
Lei 9.613/98, à luz dos direitos e garantias fundamentais consagradas pela Constituição
da República Federativa do Brasil (CF).
D.
O
GARANTISMO
PROCESSUAL
NA
PERSECUÇÃO
AO
TERRORISMO
ii. O Ato Patriótico
O Ato Patriótico, submetido ao Senado dos Estados Unidos em 24 de outubro de
2001, objetiva, como esclarece a sua ementa, “deter e punir atos terroristas nos Estados
Unidos e em todo o mundo, expandir mecanismos investigativos para o cumprimento da
lei, entre outros propósitos”.27 Para tanto, estabelece uma série de medidas excepcionais,
que, provavelmente não seriam admitidas em outras circunstâncias, por contrariarem o
espírito democrático de que tanto se orgulha a sociedade norte-americana. Sem
26
Ibidem.
H.
R.
3162.
Disponível
em:
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?
dbname=107_cong_bills&docid=f:h3162enr.txt.pdf. Acesso em: 26 de abril de 2010 (tradução livre).
27
pretender realizar estudo pormenorizado das referidas medidas, os títulos do Ato
Patriótico são esclarecedores quanto aos seus contornos: título I – expandindo a
segurança doméstica contra o terrorismo; título II – procedimentos de vigilância
ampliada; título V – removendo obstáculos à investigação do terrorismo; título VIII –
fortalecendo as leis penais contra o terrorismo; título IX – inteligência melhorada.
Igualmente reveladores são os títulos de alguns dispositivos elencados pelo diploma em
tela, dos quais destacam-se: seção 105 – expansão da Iniciativa da Força Tarefa
Nacional contra Crimes Eletrônicos; seção 201 – autoridade para interceptar
comunicações telegráficas, orais e eletrônicas relativas ao terrorismo; seção 202 –
autoridade para interceptar comunicações telegráficas, orais e eletrônicas relativas a
fraude informática e ofensas abusivas; seção 209 – apreensão de mensagens de voz
conforme mandado; seção 217 – interceptação de comunicações de transgressores de
informática. Tais determinações foram recentemente acompanhadas da exigência de que
os servidores de internet forneçam todos os registros de IP e que as bibliotecas
disponibilizem o histórico das obras consultadas por seus usuários.
Destarte, sob a justificativa de perseguir, de forma mais eficiente, a consecução
de seus objetivos e, notadamente, do combate ao terrorismo, o Ato Patriótico elimina,
como obstáculos indesejáveis,
direitos e garantias fundamentais de ordem
constitucional, como a intimidade, a privacidade e a liberdade de expressão.
Esclareça-se que não se está aqui a sustentar que tais direitos devem ser
compreendidos em termos absolutos. Ao contrário, admitem exceções, quando
sopesados com outros direitos e princípios fundamentais, no caso concreto. O que
suscita estranhamento e preocupação no Ato Patriótico é o fato de que, apropriando-se
de discurso embasado na segurança nacional e na defesa do interesse público e bemestar coletivo, justifica genérica e abstratamente restrições ilegítimas a direitos de todos
os cidadãos norte-americanos, mesmo daqueles que nunca estiveram envolvidos em
práticas terroristas.
Além de maléfica em si mesma, a flexibilização em abstrato de direitos e
garantias fundamentais se encontra na origem de problemas mais amplos e graves. Isso
porque pode ser utilizada para legitimar violações a outros direitos, contrariamente ao
que determina o princípio da proibição do retrocesso, para o qual os direitos
historicamente conquistados se incorporam automaticamente ao patrimônio jurídico de
seus titulares, não podendo ser alvo de quaisquer medidas tendentes a anulá-los, revogálos ou aniquilá-los. A título de ilustração, a quebra de sigilo de dados na Internet,
efetuada para investigar e reprimir atos terroristas, pode passar a ser aceita em outros
contextos, e antes que se perceba a proteção à intimidade e à privacidade é
definitivamente banida do cyber espaço. Da mesma maneira, o acesso das autoridades
competentes a livros locados em bibliotecas públicas, inicialmente um elemento da
política anti-terrorismo, pode ser logo generalizado. Rapidamente, até mesmo os livros
didáticos utilizados por crianças para pesquisas escolares, e as obras literárias pegas por
senhoras aposentadas para entreter suas horas vagas, poderão ser registrados nas bases
de dados do governo. A partir daí, já não é tão difícil resignar-se a interceptações
telefônicas, quebra de sigilo bancário, instalação de câmaras de vigilância em espaços
públicos – enfim, à recriação do programa Big Brother no âmbito da sociedade.
Ressalte-se que estes novos mecanismos de controle podem ser explorados pelos
órgãos que compõem o aparato punitivo estatal para obterem provas de condutas
criminosas e enrobustecerem a acusação e as penas aplicadas. Trata-se de releitura de
todo o sistema processual penal, desenvolvido em torno da pessoa do acusado e
assentado em princípios como a não auto-incriminação e a vedação a utilização de
provas produzidas por meios condenados pela moral, a ordem pública, os bons
costumes e as normas jurídicas.
Aliás, a proibição de provas ilícitas já tem sido flexibilizada nos Estados Unidos
e na Alemanha. A Suprema Corte dos EUA – defensora da doutrina dos “frutos da
árvore envenenada” (fruits of the poisonous tree), que veda as provas ilícitas por
derivação – passou a admitir as provas que, apesar de ilícitas, poderiam ser obtidas no
curso das investigações regulares. Já a Corte Constitucional da Alemanha adota a teoria
da proporcionalidade, segundo a qual as provas ilícitas podem ser aceitas, desde que
haja interesse público a esse respeito.
O pior é que os cidadãos muitas vezes não se encontram em condições de se
oporem a este movimento. Sensibilizados pelo discurso oficial, atemorizados com o
terrorismo e outras ameaças, aceitam e apóiam todas as iniciativas aptas a fazer frente a
elas. O que lhes importa é que os “bandidos” sejam detidos e que as suas vidas e de suas
famílias sejam resguardadas, ainda que, para isso, a dignidade da pessoa humana tenha
que ser desrespeitada.
Para concluir, pode-se questionar a compatibilidade entre o Ato Patriótico e o
devido processo legal. Este, em sua dimensão material ou substantiva, orienta a
produção normativa, a fim de assegurar a observância de direitos fundamentais, como o
trinômio vida-liberdade-propriedade, privacidade, intimidade, personalidade e família.28
Como se propõe a sacrificar estes direitos e garantias, em nome de um suposto interesse
maior de segurança nacional, o Ato Patriótico contraria o devido processo legal.
Deve-se atentar para que a lógica do Ato Patriótico não se reproduza no Brasil,
onde já se observa maior rigor na repreensão ao terrorismo. A título de exemplo,
observe-se que o artigo 5º, inciso XLIII da CF o define como crime inafiançável e
insuscetível de graça ou anistia, assim como o faz o artigo 2º da Lei 8.072/90. O artigo
83, inciso V, do Código Penal, por sua vez, impõe requisitos mais severos para a
concessão do livramento condicional àquele que o haja perpetrado. Já a Lei
Complementar 105/2001, em seu artigo 1º, § 4º, admite expressamente a quebra de
sigilo bancário no tocante aos crimes de terrorismo. Todavia, antes que sequer se cogite
de aplicar estes artigos e de punir o terrorismo como crime, no Brasil, é necessário
tipificá-lo, conforme todos os requisitos do princípio da legalidade – v.g. clareza e
precisão. De fato, os diplomas nacionais e tratados internacionais ratificados pelo país
que tratam do assunto são insuficientes para que se possa falar em tipo de terrorismo em
nosso ordenamento jurídico.
I.2 A Flexibilização da Proibição da Tortura e de Outras Modalidades de
Maus-Tratos
Antes de adentrar o mérito da questão, convém distinguir entre as diversas
espécies que compõem o gênero maus-tratos, ou seja: tortura, tratamento desumano
(também denominado cruel) e tratamento degradante. De acordo com a jurisprudência
das Cortes Européia e Interamericana de Direitos Humanos, não se pode definir a priori
quais atos pertenceriam a cada uma destas categorias. Tal somente poderia ser feito
casuisticamente, a partir de uma análise das circunstâncias específicas de cada caso
concreto, com destaque a: “duração do tratamento, os seus efeitos físicos ou mentais e,
em alguns casos, o sexo, idade e estado de saúde da vítima”.29 A conduta vexatória
seria, então, classificada conforme a intensidade do sofrimento infligido e o fim
almejado.30 A tortura seria a forma mais grave de maus-tratos, praticado com o intuito,
28
STONE, Geoffrey R.; SEIDMAN, Louis M.; SUNSTEIN, Cass R.; TUSHNET, Mark V.
Constitutional Law, 4th ed. New York: Aspen, 2001, pp. 710, 810
29
Corte Européia de Direitos Humanos, Case of Ireland v. the United Kingdom., [1978] ECHR 1,
1978, para.162 (tradução livre).
30
Corte Européia de Direitos Humanos, Aksoy v. Turkey., [1996] ECHR 68, 1996, paras.63-64; Corte
Européia de Direitos Humanos, Case of Aydin v. Turkey., [1997] ECHR 75, para.82; Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. Relatório sobre Terrorismo e Direitos Humanos, 22 out. 2002.
OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr., para.158; Caso Luis Lizardo Cabrera. Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, Caso 10.832, 1997, para. 80; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso
inter alia, de obter informação ou confissão da vítima ou de terceiro, castigar, intimidar,
coagir ou discriminar. Já o tratamento degradante, considerado o menos grave entre as
três modalidades de maus-tratos, poderia ser definido como aquele que humilha o
indivíduo “de maneira grave diante de terceiros ou o leva a atuar contra a sua vontade
ou consciência”.31 Finalmente, o tratamento desumano, de nível intermediário, é “aquele
que deliberadamente causa sofrimento físico e particularmente grave, que, dado a
situação particular, é injustificado”.32
Observa-se, contudo, no Direito Internacional, tendência a expandir o conceito
de tortura, de modo que este abarque atos antes definidos como tratamento desumano
ou degradante. Nesse sentido, de acordo com a Corte Européia de Direitos Humanos:
levando em consideração que a Convenção [a Convenção Européia de
Direitos Humanos] é ‘um instrumento vivo que deve ser interpretado à luz
das condições hodiernas’ (...), a Corte considera que certos atos que eram
classificados no passado como ‘tratamento desumano ou degradante’ em
oposição à tortura poderiam ser classificados de forma diferente no futuro.
Ela adere à visão de que os altos e crescentes padrões requeridos na área de
proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, de acordo e
inevitavelmente, requerem maior firmeza na determinação da violação de
valores fundamentais às sociedades democráticas.33
Na contramão do movimento internacional, o governo norte-americano defende
uma definição restritíssima de tortura, que compreenderia apenas as condutas mais
extremas e egrégias, responsáveis por dor física equiparável à falha de órgãos e funções
corporais e à morte. É o que se depreende do Memorandum enviado pelo AdvogadoGeral Adjunto, Jay Bybee ao Conselheiro da Casa Branca Alberto R. Gonzales34:
para um ato constituir tortura (...) ele deve infligir dor que é difícil de
suportar. Dor física correspondente à tortura deve ser equivalente em
intensidade à dor acompanhando sérias lesões físicas, como falha dos órgãos,
prejuízos a funções corporais ou até mesmo a morte. Para sofrimento ou dor
puramente mental corresponder à tortura (...), deve resultar em significativo
Loayza Tamayo. Serie C No. 33, 2000, para.57; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso
Ximenes Lopes v. Brasil. Serie C No. 149, 2006, para.127.
31
Greek Case. Anuário da Convenção Européia de Direitos Humanos, No. 12, 1969, p.186 (tradução
livre).
32
Idem (tradução livre).
33
Corte Européia de Direitos Humanos,Case of Selmouni v. France. [1999] ECHR 66, 1999, para.101
(tradução livre).
34
Ressalte-se que, devido à repercussão negativa que ocasionou junto ao público, o Memorandum de Jay
Bybee foi substituído por Memorandum formulado pelo então Advogado-Geral Adjunto Daniel Levin ao
Vice Advogado-Geral James B. Comey. Porém, apesar de criticar a concepção restritiva de tortura de seu
antecessor, Levin não se afastou da mesma. Com efeito, ilustra, como práticas passíveis de serem
consideradas tortura “espancamentos severos na genitália, cabeça e outras partes do corpo, com canos de
mental, nós de latão, bastões, tacos de baseball e vários outros itens; remoção de dentes com alicates;
chutes no rosto e costelas; fratura de ossos e costelas e deslocamento de dedos” (Office of the Assitant
Attorney General. Memorandum for James B. Comey Deputy Attorney General: Legal Standards
Applicable under 18 U.S.C 2340-2340A, 2004, p. 10 (tradução livre).
dano psicológico de longa duração, e.g. durando por meses ou até mesmo
anos (grifos nossos)”.35
A adoção, por Bybee, do aludido marco teórico não se deu de forma isolada. Ao
contrário, foi acompanhada por manifestações de outras autoridades. A título de
exemplo, o então Vice Advogado-Geral Adjunto, Mark Richard – em discurso perante o
Senado por ocasião da deliberação sobre a adoção da Convenção da ONU contra a
Tortura – esclareceu que “a tortura é compreendida como sendo aquela crueldade
bárbara que se encontra no topo da pirâmide de condutas vexatórias envolvendo os
direitos humanos”. Similarmente, o Comitê de Relações Exteriores do Senado sustentou
que “para um ato ser tortura, deve ser uma forma extrema de tratamento cruel e
desumano, causando dor severa e intencionada a causar dor e sofrimento severos”.36
A veiculação de uma definição restritiva de tortura associa-se ao argumento de
que – ao contrário do que determinam os tratados,37 a doutrina38 e a jurisprudência
internacionais39 - o tratamento desumano ou degradante não caracterizaria violação do
ordenamento jurídico norte-americano. Com efeito, a lei que internaliza a Convenção da
ONU contra a Tortura se limita a criminalizar a tortura, não estendendo qualquer punição ao
tratamento desumano ou degradante. Estas duas espécies de maus-tratos abarcariam
somente “atos que não devem ser cometidos e os quais os Estados devem se esforçar para
prevenir, mas que os Estados não precisam criminalizar, deixando-os sem o estigma das
penalidades criminais”.40 Ainda que assim não fosse, argumentava-se também que, por
força de reserva feita pelo Senado à Convenção da ONU contra a Tortura, não haveria,
sob o artigo 16, qualquer proibição a respeito do uso de tratamento cruel, desumano ou
degradante contra estrangeiros além-mar (inclusive na Baía de Guantánamo que, para
esses efeitos, não era considerada como parte do território norte-americano).41
35
Office of the Assistant Attorney-General. Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel for the
President: Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. 2340-2340A, 2002, p.1.
36
Memorandum Daniel Levin, op.cit., p. 7 (tradução livre).
37
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nova York, 16 Dez. 1966, em vigor 23 Mar. 1976.
999 U.N.T.S. 171, art.7; Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais
(Convenção Européia sobre Direitos Humanos). Roma, 4 nov. 1950, art.3; Convenção Americana sobre
Direitos Humanos. San José da Costa Rica, 22 nov. 1969, em vigor 18 jul. 1978, UNTS 17955, art.5(2):
38
QUIROGA, Cecília Medina. La Convención Americana: Vida, Integridad Personal, Libertad
Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial. San José: Centro de Derechos Humanos, Facultad de
Derecho, Universidad de Chile, 2005, p. 153.
39
A jurisprudência entende mesmo que a proibição de todas as formas de maus-tratos atingiu o status de
norma imperativa de Direito Internacional (jus cogens): C.f. Ximenes Lopes, op.cit., para. 126; Caso
Cantoral Benavides. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Serie C No. 69, 2000, para. 95.
40
Memorandum Jay Bibee, op.cit., p. 15
41
Responses to Senator Richard J. Durbin’s Written Questions for Timothy Flanigan, Nominee to be
Deputy Attorney General. Disponível em http://balkin.blogspot.com/flanigan.durbin.pdf, acesso em: 26
de abril de 2010, p.1.
Apoiando simultaneamente uma concepção restritiva de tortura e a não
criminalização de outras condutas vexatórias, o governo norte-americano pretendia
excluir o maior número possível de situações do espectro de condutas legalmente
proibidas e, portanto, viabilizar práticas que do contrário seriam condenadas.
Nesse sentido, à época em que era Secretário de Defesa, Donald Rumsfeld
elaborou relatório sobre as técnicas de interrogatório oficialmente autorizadas para uso
contra os “combatentes ilegais” (unlawful combatants) detidos em Guantánamo. Dentre
elas, incluem-se: o aumento moderado ou significativo do medo do inquirido; a sua
humilhação; a manipulação de seu regime alimentar e de sono, apta a ocasionar
transtornos biológicos e fisiológicos; o seu isolamento de outros detentos.42
Ademais, até mesmo os atos passíveis de serem definidos como tortura não
seriam peremptoriamente vedados: eles poderiam ser realizados se visassem a fim mais
nobre do que a mera integridade física da vítima. Trata-se de revisita ao velho aforismo
maquiavélico de que os “fins justificam os meios”. Particularmente ilustrativo dessa
perspectiva é o paradigmático caso da ticking bomb. Imagine-se a seguinte situação: o
FBI prendeu suspeito de terrorismo em Nova York, que lhes informa ter instalado
bombas em pontos estratégicos da cidade. Ele já as tinha ativado e em algumas horas,
toda a cidade seria destruída e milhares de pessoas morreriam. Apesar de saber como
desativá-las, ele se recusa a contar a seus captores. Poderiam eles torturá-lo, a fim de
extrair a informação vital que impediria o desastre?
Nesta hipótese excepcional, na qual o problema é colocado em termos simples,
como a escolha entre a integridade corporal de um indivíduo e a preservação da vida de
milhares de pessoas, não seria difícil angariar apoio generalizado à utilização da tortura.
Porém, a realidade fática nunca se apresenta com tamanha obviedade. A maioria das
situações envolve fatores e variáveis que não são contempladas no paradigma da ticking
bomb: o prisioneiro pode nada saber sobre as bombas ou como desativá-las; as próprias
bombas podem ser um mero rumor; a confissão extraída pode ser falsa ou não ser obtida
a tempo de salvar os indivíduos ameaçados. Além disso, é mais provável que os valores
em confronto não sejam tão díspares quanto àqueles apresentados hipoteticamente, e,
então, torna-se ainda mais complicado determinar quem teria a autoridade para decidir
que a integridade física de alguém é menos digna de proteção do que outro direito.
42
Department of Defense of the United States of America – the Secretary of Defense. Memorandum for
the Commander, US Southern Command. Subject: Counter-Resistance Techniques in the War on
Terrorism.
April
16
2003.
Disponível
em
http://www.humanrightsfirst.com/us_law/etn/gonzales/memos_dir/mem_20030416_Rum_IntTec.pdf.
Acesso em: 26 de abril de 2010.
O dilema da ticking bomb é manipulado com o objetivo de priorizar a
perspectiva do torturador em detrimento daquela do torturado e de apresentar a tortura
como ato heróico e não como uma conduta vexatória e degradante. Novamente colocase o risco, já discutido na sessão anterior, de que uma pequena abertura na norma,
permitida para um caso específico e excepcional, transforme-se em um rombo,
representado pela flexibilização generalizada da norma a uma infinidade de outras
circunstâncias.
Atenta a isso, a Suprema Corte de Israel, no caso Public Committee Against
Torture v. Israel enfatizou que o emprego da tortura em estado de necessidade não
implica em autorização indiscriminada para o seu uso no futuro:
a defesa de ‘necessidade” não constitui uma fonte de
autoridade autorizando os investigadores do GSS [General
Security Service – Serviço Geral de Segurança, em sua sigla
em inglês] a fazerem uso de meios físicos durante o curso
das interrogações (...). A defesa de ‘necessidade’ tem o
efeito de permitir aquele que age sob circunstâncias de
‘necessidade’ a escapar de condenação criminal (...). Ela não
autoriza o uso de meios físicos para o propósito de permitir
que investigadores executem os seus deveres em
circunstâncias de necessidade. O próprio fato de que um ato
em particular não constitui um ato criminoso (devido à
defesa da ‘necessidade’) não autoriza, em si, a administração
a conduzir este fato e, em fazendo isso, infringir os direitos
humanos. A Regra do Direito requer que uma infração de um
direito humano seja prescrita por um estatuto, autorizando a
administração
neste
sentido.
A
suspensão
da
responsabilidade criminal não implica autorização para
infringir um direito humano.43
Deve-se estar atento, portanto, para que o terrorismo não seja utilizado para
legitimar a violação de uma das principais garantias individuais contra o poder de
investigação e punição do Estado. Foi à custa de muita luta e esforço que a tortura foi
banida do processo penal e “pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, este
importante
consenso
da
comunidade
internacional
parece
ter
sido
posto
sob
questionamento”.44 Aderir a este entendimento é abrir as portas para um dos maiores
retrocessos da história da humanidade e do garantismo processual penal.
I.3. O Ato das Comissões Militares e a Prática de Blacklisting no Conselho de
Segurança
43
ISRAEL. Corte Suprema de Israel. Public Committee Against Torture in Israel v. The State of Israel
and The General Security Service. HCJ 5100/94, 1999, p. 34.
44
Statement of the Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak to the 61st Session of the UN
Commission on Human Rights apud FOOT, Rosemary. Torture: The Struggle over a Peremptory Norm
in a Counter-Terrorist Era. Thousand Oaks, London, 2006.
Analisadas as ofensas aos direitos à liberdade de expressão, à intimidade, à
privacidade e à integridade física, deve-se examinar como as estratégias de repressão ao
terrorismo violam os direitos e garantias de índole propriamente processual. Para tanto,
cumpre chamar atenção para os dispositivos mais relevantes do Ato das Comissões
Militares de 2006 (Military Commissions Act).
Primeiramente, por serem estabelecidas ex post facto por ato do executivo,45 para
julgarem condutas específicas (violação das leis da guerra e outras ofensas passíveis de
serem julgadas por comissões militares46) perpetradas por um grupo determinado de
pessoas (estrangeiros definidos como combatentes inimigos envolvidos em hostilidades
contra os Estados Unidos47), em 11 de setembro de 2001, ou depois desta data, 48
concluí-se que constituem tribunais de exceção e, por isso, violam o princípio do juiz
natural. Este é corolário do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal e
determina que é competente o juiz constitucionalmente pré-constituído para a causa, por
critérios abstratos previstos em lei. Ele também exige que o juiz seja imparcial e que
não tenha qualquer interesse na resolução da lide.
Em segundo lugar, nos processos perante as comissões militares, observa-se
desrespeito à proibição da apresentação de provas obtidas ilicitamente, sendo admitidas,
em algumas circunstâncias, até mesmo provas produzidas por meio da coerção. Nesse
sentido, o § 948r determina que os depoimentos anteriores ao estabelecimento do Ato
de 2005 sobre o Tratamento de Detentos, em relação aos quais se questiona o nível de
coerção utilizado, poderão ser admitidos se o juiz militar considerar que “a totalidade
das circunstâncias torna o depoimento confiável e portador de valor probatório
suficiente” e “se os interesses da justiça seriam melhor atendidos pela admissão do
depoimento como evidência”. Quanto aos depoimentos de mesmas características que
sejam posteriores ao aludido diploma normativo, eles serão aceitos se satisfeitos aqueles
dois requisitos e se “os métodos de interrogatórios utilizados para obter o depoimento
não constituem tratamento cruel, desumano ou degradante proibido pela seção 1003 do
Ato de 2005 relativo ao Tratamento de Detentos”. Contrario sensu, a interpretação
gramatical do dispositivo sugere que os depoimentos anteriores a este ato seriam
acolhidos mesmo se houvessem decorrido da prática de maus-tratos.
45
Military Commissions Act of 2006, Public Law 109–366—OCT. 17, 2006. Disponível em:
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?
dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ366.109.pdf. Acesso em: 26 de abril de 2010, § 948h.
46
Ibidem, § 948b (a).
47
Idem.
48
Ibidem, § 948d (a).
Há, também, a autorização de que, ao elaborar as regras sobre evidência
aplicáveis as comissões militares, o Secretário de Defesa preveja o seguinte: “a
evidência será admissível se o juiz militar determinar que ela teria valor probatório a
uma pessoa razoável”; “a evidência não será excluída do julgamento pela comissão
militar sob o fundamento de que a evidência não foi apreendida conforme mandado de
busca ou outra autorização”; “um depoimento do acusado que é de outra forma
admissível não será excluída do julgamento por comissão militar sob o fundamento de
suposta coerção ou auto-incriminação compulsória desde que a evidência cumpra os
requisitos da seção 948r”; “a evidência será admitida como autêntica, desde que – (i) o
juiz militar da comissão militar determine que há base suficiente para considerar que a
evidência é o que considera ser; e o juiz militar instruir os membros a considerarem
quaisquer questões de autenticação ou identificação da evidência na determinação do
peso, se algum, a ser dado a ela”.49
Dos dispositivos supracitados, depreende-se que, nas comissões militares, é
acolhida evidência que seria rejeitada como ilícita no trâmite processual regular, além
de haver clara violação do princípio da não auto-incriminação, para o qual ninguém
deve ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Outra característica digna de ser
mencionada é a confusão entre os papéis de acusador e julgador, que afeta a
imparcialidade do mesmo e remete ao sistema inquisitorial. Com efeito, ao juiz são
conferidos poderes significativos no tocante à determinação das provas que serão ou
não apreciadas.
Os artigos do Ato das Comissões Militares também impõem inúmeras restrições
aos direitos à ampla defesa e ao contraditório. Particularmente importantes a este
respeito são as seguintes regras: (i) o acusado deve ser representado por um defensor
militar; se optar por um defensor civil, este deve satisfazer todos os requisitos
enumerados no § 949c (b) (3), inclusive ter sido considerado apto ao acesso a
informação confidencial classificada no nível Secreto ou mais elevado; (ii) o juiz é
autorizado a excluir o acusado de determinados procedimentos, nos termos do § 949d
(3) (e), se considerar que tal é necessário para garantir a segurança física de indivíduos
ou prevenir que o acusado perturbe o trâmite processual; (iii) para proteger informações
definidas como confidenciais pelo chefe de departamento executivo ou militar ou
agência governamental, o juiz pode permitir: a supressão ou substituição de tais
informações de documentos submetidos ao acusado ou apresentados como evidência
49
Ibidem, § 949a (b) (A)-(D).
perante a comissão militar; a substituição de um relato de fatos relevantes que a
informação confidencial se destinaria a provar; (iv) ao juiz militar é dado admitir que a
acusação não revele as fontes, métodos ou atividades pelas quais teve acesso a prova, se
decidir que as referidas fontes, métodos e atividades são confidenciais e que a prova é
confiável; (v) a pedido do Governo, materiais tidos como “privilegiados” não deverão
ser divulgados ao acusado; (vi) são limitadas as normas jurídicas nas quais o réu pode se
embasar; ele não pode, por exemplo, invocar as Convenção de Genebra de 1949.
O acima exposto indica que, além das restrições que sofre no tocante à escolha
de seu advogado e às suas oportunidades de defesa no plano do Direito Material, o
acusado vê limitadas sobremaneira as suas possibilidades de contradizer os fatos e
provas apresentados pela acusação. Basta que uma informação seja considerada
confidencial ou privilegiada – sem que ele possa questionar a sua definição como tal –
para que se torne inacessível. Não restam dúvidas de que tal abre um vasto espectro de
arbitrariedade e abuso pela acusação e pelo julgador.
Finalmente, a seção 7 priva o indivíduo de uma das mais importantes garantias e
ferramentas contra o jus puniendi estatal: o habeas corpus. De acordo com o dispositivo
em comento, “nenhuma corte, justiça, ou juiz, terá jurisdição para ouvir ou considerar
pedido por um writ de habeas corpus interposto por ou em nome de um estrangeiro
detido pelos Estados Unidos que é considerado pelos Estados Unidos como tendo sido
propriamente detido como combatente inimigo ou que esteja aguardando tal
determinação”.50 É de se observar, contudo, que a Suprema Corte do país contradisse o
teor de tal decisão, tendo decidido, no caso Rasul v. Bush, que os detentos de
Guantánamo também são titulares dos direitos assegurados sob a Constituição,
incluindo o habeas corpus, uma vez que os EUA exercem jurisdição sobre a Baía e seus
prisioneiros.51
Sendo o devido processo legal o aglutinador de todos os direitos e garantias
processuais, com destaque ao contraditório e à ampla defesa, é de se concluir que ele é
desrespeitado pelas Comissões Militares norte-americanas.
Outra prática que contraria frontalmente o devido processo legal é levada a cabo
pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e, notadamente,
por seu Comitê de Sanções. Em procedimento conhecido como blacklisting, este pode
elaborar, por conta própria, ou a requerimento de Estados, lista de suspeitos de
50
51
Ibidem, sec. 7 (tradução livre).
Rasul v.Bush [2004] 542 U.S.466, 124 S.Ct.2686, pp.2692-2698.
terrorismo e outras transgressões, a quem serão aplicadas sanções, como o
congelamento de bens e ativos financeiros.52 No entanto, eles não são notificados e não
têm a oportunidade de se defender. Apenas depois de terem sofrido a sanção é que
podem se manifestar pela retirada de seus nomes da lista, procedimento este que, além
de lento e pouco eficaz, depende da boa-vontade dos Estados. Paradigmáticos a este
respeito são os casos Kadi53 e Yusuf54, nos quais estes indivíduos interpuseram ações
perante o Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Européias, requerendo a
supressão de seus nomes da lista do Conselho de Segurança, assim como reparação
pelos danos sofridos. O Tribunal indeferiu os pedidos, tendo concluído que, apesar de
contrariar a exigência de acesso à justiça, o procedimento de blacklisting era válido
como mecanismo de repressão ao terrorismo. Após alvoroço causado pela decisão, Kadi
e Yusuf foram retirados da lista, por iniciativa do governo suíço.
Curioso observar que os procedimentos seguidos pelas Comissões Militares e
pelo Conselho de Segurança não são muito diferentes da descrição de Kafka do
processo a que se submete seu personagem K. em O Processo:
Lamentavelmente, e tinha que se advertir K., poderia ocorrer
que as primeiras alegações não fossem sequer lidas. Eram
anexadas ao expediente porque, de momento, os
interrogatórios e a observação direta do acusado eram mais
importantes que todos os escritos juntos. Quando o
peticionário se mostrava demasiado insuportável, era
informado que, antes da sentença, e quando todo o material
estivesse reunido, estudar-se-iam todas as atas em seu
conjunto e, com elas, naturalmente, também as primeiras
alegações. Porém, lamentavelmente, isso tampouco era de
todo seguro, porque as primeiras alegações quase sempre se
transpapelavam, se não se perdiam por completo; se eram
conservadas até o final, segundo rumores, quase nunca eram
lidas. Tudo isso era penoso, mas não de todo injustificado. K.
deveria levar em conta que não se tratava de um
procedimento público. Se o tribunal o julgasse necessário,
poderia fazê-lo público, mas a lei não o exigia. Devido a isso,
nem o acusado, nem a defesa tinha acesso às atas do
tribunal, e menos à ata de acusação. Por isso, via de regra,
não se sabia ou não se sabia bem o que concretamente se
devia refutar nas alegações iniciais, e era casual que
contivessem algo que pudesse ser de interesse para a causa.
As boas alegações se podiam elaborar muito mais tarde,
quando no curso dos interrogatórios se delineassem ou ao
52
BIANCHI, Andrea. Security Council’s Anti-terror Resolutions and their Implementation by Member
States. Journal of International Criminal Justice, pp 1045-1073, Volume 4, NO. 5, November 2006.
53
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Européias, Yassin Abdullah Kadi v. Council of
the European Union and Commission of the European Communities. Caso T-315/01, 21 de setembro de
2005.
54
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Européias, Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat
International Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European
Communities, Caso T-306/01, 21 de setembro de 2005.
menos se deixassem adivinhar os diversos aspectos da
acusação e seus fundamentos. Nestas condições, a defesa
padecia uma situação desfavorável, difícil. Porém, era
justamente isso o que se buscava. Porque a lei não
estipulava a defesa, unicamente a tolerava, e nem todos
estavam de acordo neste ponto.55
Pedindo perdão pelo truísmo e pela obviedade da constatação, não se pode falar
em garantismo processual nesse contexto.
E.
II. O GARANTISMO PROCESSUAL NA PERSECUÇÃO AO CRIME DE
LAVAGEM DE CAPITAIS
A lavagem de capitais consiste na ocultação da origem ilícita dos ganhos
obtidos, com o objetivo de conferir-lhes aparência de legalidade. Este crime encontra-se
disciplinado na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, que o define, em seu artigo 1º, § 1º,
como a ocultação ou dissimulação dos valores provenientes da prática das condutas
tipificadas no caput, através de: sua conversão em ativos ilícitos; sua aquisição,
recebimento, troca, negociação, dação ou recebimento em garantia, guarda, depósito,
movimentação ou transferência; importação ou exportação de bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros.
O caput do dispositivo em comento, por sua vez, identifica como antecedentes
da lavagem de capitais: o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins; o terrorismo e
seu financiamento; o contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à
sua produção; a extorsão mediante seqüestro; crime contra a Administração Pública,
inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
crime contra o sistema financeiro nacional; crime praticado por organização criminosa;
crime praticado por particular contra a administração pública estrangeira.
A gravidade do crime de lavagem de capitais, assim como de terrorismo,
justifica a atuação mais incisiva da máquina repressiva estatal. De fato, ele produz
resultados em nível macro – capazes de afetar toda a sociedade, e não apenas um único
indivíduo -, como: “concorrência desleal, oscilações nos índices de câmbio, ingresso de
capitais especulativos, instabilidade econômica, precariedade e imprecisão na
delimitação das políticas públicas”.56 Contudo, por mais séria que seja a conduta
55
KAFKA, Franz. El Proceso. Madrid: Narrativa, pp. 112-113 (tradução livre).
LIMA, Vinicius de Melo. Apontamentos Críticos à Lei Brasileira de Lavagem de Capitais (Lei n.
9.613,
de
3
de
MARÇO
de
1998).
Disponível
em:
56
incriminada, não se justificam violações nos direitos e garantias processuais
consagrados pela Constituição Federal e que compõem a essência do garantismo, na
concepção de Ferrajoli. Cumpre, pois verificar, se a Lei 9.613/98 encontra-se em
conformidade com as aludidas exigências.
Uma primeira crítica que se pode fazer a ela diz respeito ao artigo 1º, caput,
inciso VII c/c artigo 1º, § 1º, que tipificam a lavagem de capitais provenientes de
quaisquer atividades ilícitas perpetradas por organizações criminosas. Por ser
demasiado abrangente e não ter contornos bem definidos, a descrição da conduta
incriminada contraria o princípio penal da legalidade. Retratado no brocardo nullum
crimen, nulla poena sine lege, este impõe, como pressuposto da persecução penal, a
previsão da conduta em lei que especifique os elementos que permitam a sua
delimitação com precisão.
Em segundo lugar, o artigo 2º, § 1º da Lei em exame determina que “[a]
denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente,
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento o autor
daquele crime”. Em razão de seu caráter estigmatizante, a admissibilidade da ação penal
requer justa causa, ou seja, lastro probatório mínimo que corrobore a razoabilidade da
suspeita quanto à autoria e à materialidade do delito. Diante disso, a autorização de que
seja interposta ação por lavagem de dinheiro, com base tão-somente em indícios da
ocorrência de crime antecedente – a respeito do qual pode não haver sentença
condenatória transitada em julgado e cuja investigação não tenha sido talvez sequer
iniciada, como se depreende do artigo 2º, caput, inciso II57 – é insuficiente para proteger
o indivíduo dos abusos do jus puniendi estatal. Argumenta Thais Bandeira Oliveira:
Num processo penal onde vigora a presunção de não
culpabilidade, indícios não podem ser levados à categoria de
prova, mesmo que, erroneamente, o critério topográfico do
Código de Processo Penal assim os tenha disposto. Aury
Lopes Júnior adverte, com exatidão: “ninguém pode ser
condenado a partir de meros indícios [...]. Pensar o contrário
significa desprezar o sistema de direitos e garantias previstos
na Constituição”.
É preciso mais do que isso. É preciso prova. E como se falar
em prova, se o delito antecedente não precisa estar
transitado em julgado? Mais uma das mazelas de uma
incriminação feita para não funcionar, cheia de defeitos e
http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/LAVAGEM%20DE%20CAPITAIS.pdf.
Acesso
em: 27 de abril de 2010.
57
“O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: (...) independem do processo e julgamento
dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país”.
brechas, prontas para serem alegadas durante a instrução
criminal, como forma de furtar-se à aplicação da lei penal.58
Em terceiro lugar, o artigo 3º da Lei 9.613/98 esclarece que os crimes por ela
disciplinados “são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória e, em caso de sentença
condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade”.
O princípio do estado de inocência (também denominado princípio da não culpabilidade
ou presunção de inocência) determina que, até a prolação de sentença condenatória
transitada em julgado, o acusado deve ser tratado como se inocente fosse, não podendo
ser juridicamente estigmatizado por inquérito ou processo a que responde. Corolário
deste princípio é a excepcionalidade e indispensabilidade do confinamento provisório: a
regra é a liberdade e o acusado só pode ser preso antes da conclusão do processo, se as
circunstâncias do caso concreto o justificarem. Destarte, ao estabelecer, em abstrato, a
inaplicabilidade da liberdade provisória, o dispositivo em tela contraria as exigências do
estado de inocência.
Igualmente digno de preocupação é o artigo 4º. De acordo com seu caput:
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou
representação da autoridade policial, ouvido o Ministério
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios
suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da
ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou
valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos
crimes previstos nesta Lei, apreendendo-se na forma dos
arts. 125 e 144 do Decreto-lei n. 3.869, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal.
Desta redação, pode-se extrair um resquício do sistema inquisitorial no
ordenamento jurídico brasileiro, a saber: a confusão entre as funções de acusação e
julgamento, já que se faculta ao juiz, de ofício, ou seja, mesmo sem o requerimento do
Ministério Público, determinar o seqüestro ou a apreensão de bens, direitos e valores do
acusado. Ademais, o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que “[o] juiz determinará a
liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando comprovada
a licitude de sua origem”. Tal poderia implicar em inversão do ônus da prova: o
seqüestro e a apreensão poderiam ser realizados com base em simples indícios; caberia
ao acusado provar a licitude da origem dos seus valores, bens e direitos para que estes
fossem liberados.
58
OLIVEIRA, Thais Bandeira. Lavagem de Capitais. (Dis)Funções Político-Criminais no seu Combate.
A Perda de Efetividade do Sistema Penal, a Quebra das Garantias Constitucionais e os seus Prejuízos à
Cidadania. Salvador, 2009. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?
codArquivo=2434. Acesso em: 27 de abril de 2010, p. 154.
Finalmente, o artigo 10 da Lei 9.613/98 impõe às pessoas referidas no artigo
9º,59 as obrigações de: (i) identificar seus clientes e manter cadastro atualizado, nos
termos de instruções emanadas das autoridades competentes; (ii) manter registro de toda
transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de
crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta
expedidas60. O artigo 11, inciso II, determina, ainda, que aquelas pessoas comuniquem,
abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de 24 (vinte e quatro horas),
às autoridades competentes todas as transações (ou suas propostas) constantes do inciso
II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na
forma e condições por ela estabelecidas. Já o artigo 10-A prevê que o Banco Central do
Brasil manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes
de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.
Sendo essas informações sigilosas, em respeito ao direito à intimidade e à
privacidade, assegurado pelo artigo 5º, inciso X, da CF, as pessoas a que se refere o
artigo 9º e o Banco Central do Brasil deverão mantê-las em sigilo. É o que dispõe o
artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001: “[a]s instituições
financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.
59
(i) pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou
acessória, cumulativamente ou não: a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira; a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo
financeiro ou instrumento cambial; a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação,
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários; (ii) as bolsas de valores e bolsas de
mercadorias ou futuros; (iii) as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência
complementar ou de capitalização; (iv) as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de
crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços; (v) as
administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou
equivalente, que permita a transferência de fundos; (vi) as empresas de arrendamento mercantil (leasing)
e as de fomento comercial (factoring); (vii) as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou
quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição,
mediante sorteio ou método assemelhado; (viii) as filiais ou representações de entes estrangeiros que
exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; (ix) as
demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados
financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; (x) as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por
qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas
neste artigo; (xi) as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda
de imóveis; (xii) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos,
objetos de arte e antigüidades; (xiii) as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de
alto valor ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. (Incluído pela Lei
nº 10.701, de 9.7.2003)
60
Nos termos do artigo 10, § 3º, este registro “será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica,
seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa,
conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente”.
Esta lei, entretanto, autoriza a quebra de sigilo quando necessária para apuração
de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial,
especialmente nos crimes, inter alia, de terrorismo e lavagem de dinheiro ou ocultação
de bens, direitos e valores (artigo 1º, § 4º, incisos I e VIII). Particularmente no tocante à
lavagem de dinheiro, dados confidenciais poderão ser disponibilizados ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) (artigo 2º, §6º da Lei Complementar
105/2001), responsável por disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar
e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei 9.613/98
(artigo 14 da Lei 9.613/98).
A retro mencionada quebra de sigilo (tanto nos casos de terrorismo quanto de
lavagem de dinheiro), inclusive ao COAF, só poderá ocorrer, se assim o determinar
ordem judicial. Nesse sentido o artigo 3º, caput, da Lei Complementar 105/2001:
“[s]erão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários
e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário,
preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não
poderão servir-se para fins estranhos à lide”. Deverão ser observados, também, os
demais requisitos da Lei Complementar nº 105/2001. Esta é a interpretação mais
compatível com a CF: embora o sigilo bancário não deva ser protegido de forma
absoluta e inderrogável, é uma garantia fundamental e, portanto, só admite restrições em
situações excepcionais e indispensáveis. Destarte, deve se submeter a controle de
necessidade, proporcionalidade e de legitimidade dos fins a que visa a atender. Em um
Estado Democrático de Direito, tal controle deve caber ao Poder Judiciário.
4.
Os irmãos Grimm, famosos como fabulistas e como estudiosos da
lingüística, apreenderam em vários de seus contos, lendas e fábulas a percepção
popular do certo e do errado. Aprecie a fábula seguinte à luz do princípio da não
auto-incriminação.
A protegida de Maria
Irmãos Grimm
Tradução de Karin Volobuef
“Na orla de uma extensa floresta morava um lenhador e sua esposa. Eles
tinham apenas uma filha, que era uma menina de três anos. Mas eles eram tão
pobres que não tinham mais o pão de cada dia e já não sabiam o que haveriam de
dar-lhe para comer. Certa manhã o lenhador foi com grande preocupação até a
floresta para cuidar de seu trabalho e, quando estava cortando lenha, lá apareceu
de repente uma mulher alta e bela que trazia na cabeça uma coroa de estrelas
cintilantes e lhe disse "Sou a Virgem Maria, mãe do Menino Jesus, e tu és pobre e
necessitado: traga-me tua filha, vou levá-la comigo, ser sua mãe e cuidar dela." O
lenhador obedeceu, foi buscar a filha e entregou-a à Virgem Maria, que a levou
consigo para o Céu. Lá a menina passava muito bem, comia pão doce e bebia leite
açucarado, e seus vestidos eram de ouro, e os anjinhos brincavam com ela. Quando
completou quatorze anos, a Virgem Maria a chamou e disse "Querida menina,
partirei em uma longa viagem; tome sob tua guarda as chaves das treze portas do
reino celestial; tu poderás abrir doze delas e contemplar os esplendores que há lá
dentro, mas a décima terceira, cuja chave é esta pequena aqui, está proibida para
ti: cuidado para não abri-la, pois seria a tua infelicidade." A menina prometeu ser
obediente e, quando a Virgem Maria havia partido, começou a olhar os cômodos
do reino celestial: a cada dia abria um deles, até que todos os doze tinham sido
vistos. Em cada um dos cômodos estava sentado um apóstolo cercado de grande
esplendor, e toda aquela suntuosidade e magnificência dava grande alegria a ela, e
os anjinhos, que sempre a acompanhavam, alegravam-se também. Até que, então,
faltava apenas a porta proibida, e ela sentiu um grande desejo de saber o que
estava escondido atrás dela. Por isso disse aos anjinhos "Não abrirei a porta por
inteiro e também não entrarei, mas vou entreabri-la para olharmos um pouquinho
pela fresta". "Oh, não," disseram os anjinhos, "seria um pecado: a Virgem Maria
proibiu fazer isso, além do mais, isso poderia facilmente trazer-te a desgraça."
Então ela se calou, mas o desejo não silenciou em seu coração, mas, ao contrário,
continuou roendo e corroendo-a com força, não lhe permitindo ficar em paz. E
certa vez, quando os anjinhos haviam todos saído, pensou "Agora estou totalmente
sozinha e poderia olhar lá dentro, afinal, ninguém ficará sabendo o que fiz".
Procurou a chave e, tão logo a apanhou, enfiou-a na fechadura e, uma vez ela
estando lá, sem pensar duas vezes, girou-a. A porta abriu de um salto e ela viu a
Trindade sentada em meio ao fogo e à luz. Ficou parada um momento, observando
tudo com assombro, depois tocou de leve com o dedo aquela luz, e o dedo ficou
totalmente dourado. No mesmo instante foi tomada de intenso pavor, bateu a porta
com força e correu dali. Mas o pavor não diminuía, ela podia fazer o que fosse mas
o coração continuava batendo acelerado e não havia como acalmá-lo: assim
também o ouro continuou no dedo e não saía de jeito algum, não importa o quanto
lavasse e esfregasse.
Não passou muito tempo e a Virgem Maria retornou de sua viagem. Ela chamou
a menina e solicitou as chaves de volta. Quando ela apresentou o molho, a Virgem
olhou em seus olhos e perguntou: "E não abriste mesmo a décima terceira porta?"
"Não", respondeu. Então ela pousou a mão sobre o coração da menina e sentiu
como ele estava batendo sobressaltado, de modo que percebeu que sua ordem tinha
sido desobedecida e a porta fora aberta. Então perguntou mais uma vez:
"Realmente não a abriste?" "Não", respondeu a menina pela segunda vez. Aí a
Virgem avistou o dedo que ficara dourado pelo toque do fogo celestial e teve
certeza de que ela pecara, e perguntou pela terceira vez: "Não a abriste?" "Não",
respondeu a menina pela terceira vez. Então a Virgem Maria disse: "Tu não me
obedeceste e além disso ainda mentiste, portanto não és mais digna de permanecer
no Céu."
Nesse momento a menina caiu em profundo sono e quando despertou jazia lá
embaixo sobre a terra em meio a um lugar agreste. Quis gritar, mas não conseguiu
emitir qualquer som. Levantou-se de um salto e quis fugir, mas para onde quer
que se dirigisse sempre era detida por sebes espinhosas que não conseguia
atravessar. Nesse ermo em que estava encerrada havia uma velha árvore oca que
agora teria de ser sua morada. Era lá para dentro que rastejava quando caía a
noite, e era lá que dormia, e, quando vinham chuvas e tempestades, era lá que
buscava abrigo. Levava uma vida lastimável, e quando recordava como tudo havia
sido tão bom no Céu, e como os anjinhos costumavam brincar com ela, chorava
amargamente. Raízes e frutas silvestres eram seus únicos alimentos, e ela os
procurava ao redor até onde podia ir. No outono juntava as nozes e folhas que
haviam caído no chão e levava-as para o oco da árvore; comia as nozes no inverno
e, quando chegavam a neve e o gelo, arrastava-se como um animalzinho para
debaixo das folhas para não sentir frio. Não demorou muito e suas vestimentas
começaram a se rasgar e um pedaço após outro foi caindo do corpo. Tão logo o Sol
voltava a brilhar trazendo o calor, ela saía e sentava-se diante da árvore e seus
longos cabelos encobriam-na de todos os lados como um manto. Assim foi
passando ano após ano e ela ia experimentando a miséria e sofrimento do mundo.
Uma vez, quando as árvores tinham acabado de cobrir-se outra vez de verde, o
rei que lá reinava estava caçando na floresta e perseguia uma corça, e como esta
havia se refugiado nos arbustos que rodeavam a clareira da floresta, ele desceu do
cavalo e com sua espada foi arrancando o mato e abrindo caminho para poder
passar. Quando finalmente chegou do outro lado, avistou sob a árvore uma
donzela de maravilhosa beleza que lá estava sentada totalmente coberta até os
dedos dos pés pelos seus cabelos dourados. Ficou parado admirando-a com
assombro até que finalmente dirigiu-lhe a palavra e disse: "Quem és tu? Por que
estás aqui no ermo?" Mas ela não respondeu, pois sua boca estava selada. O rei
falou novamente: "Queres vir comigo até meu castelo?" Ela apenas assentiu
levemente com a cabeça. Então o rei a tomou nos braços, carregou-a até seu corcel
e cavalgou com ela para casa, e, quando chegou ao castelo real, ordenou que a
vestissem com belos trajes e tudo lhe foi dado em abundância. Embora não
pudesse falar, ela era afável e bela, e assim ele começou a amá-la do fundo de seu
coração e, não demorou muito, casou-se com ela.
Quando se havia passado cerca de um ano, a rainha deu à luz um filho. Nessa
mesma noite, quando estava deitada sozinha em seu leito, apareceu-lhe a Virgem
Maria, que disse "Se quiseres dizer a verdade e confessar que abriste a porta
proibida, destravarei tua boca e devolverei tua fala, mas se insistires no pecado e
teimares em negar, levarei comigo teu filho recém-nascido." Nesse momento foi
dado à rainha responder, porém ela manteve-se obstinada e disse: "Não, não abri a
porta proibida", e a Virgem Maria tomou-lhe o filho recém-nascido dos braços e
desapareceu com ele. Na manhã seguinte, quando não foi possível encontrar a
criança, começou a correr um murmúrio no meio do povo de que a rainha comia
carne humana e teria matado seu próprio filho. Ela ouvia tudo isso e não podia
dizer nada em contrário, mas o rei recusou-se a acreditar naquilo porque a amava
muito.
Depois de um ano nasceu mais um filho da rainha. Naquela noite voltou a
parecer a Virgem Maria junto dela dizendo: "Se quiseres confessar que abriste a
porta proibida, devolverei teu filho e soltarei tua língua; mas se insistires no
pecado e negares, levarei também este recém-nascido comigo." Então a rainha
disse novamente: "Não, não abri a porta proibida", e a Virgem tomou-lhe a
criança dos braços e levou-a consigo para o Céu. De manhã, quando mais uma vez
uma criança havia desaparecido, o povo afirmou em voz bem alta que a rainha a
tinha devorado, e os conselheiros do rei exigiram que ela fosse levada a
julgamento. Mas o rei a amava tanto que não quis acreditar em nada, e ordenou
aos conselheiros que, se não estivessem dispostos a sofrer castigos corporais ou
mesmo a pena de morte, que deixassem de insistir no assunto.
No ano seguinte a rainha deu à luz uma linda filhinha e, pela terceira vez,
apareceu à noite a Virgem Maria e disse: "Acompanha-me". Tomou-a pela mão e
conduziu-a até o Céu, mostrando-lhe então os dois meninos mais velhos, que riam e
brincavam com o globo terrestre. A rainha alegrou-se com aquilo e a Virgem
Maria disse: "Teu coração ainda não se abrandou? Se confessares que abriste a
porta proibida, devolverei teus dois filhinhos." Mas a rainha respondeu pela
terceira vez "Não, não abri a porta proibida". Então a Virgem Maria a fez descer
novamente à terra, tomando-lhe também a terceira criança.
Na manhã seguinte, quando a notícia correu, todo o povo gritava "a rainha
come gente, ela tem que ser condenada", e o rei não conseguiu mais conter seus
conselheiros. Ela foi submetida a julgamento e, como não podia responder e se
defender, foi condenada a morrer na fogueira. Quando haviam juntado a lenha e
ela estava amarrada a um pilar e o fogo começava a arder a sua volta, então
derreteu-se o duro gelo do orgulho e seu coração encheu-se de arrependimento e
ela pensou: "Ah, se antes de morrer eu ao menos pudesse confessar que abri a
porta". Nesse momento voltou-lhe a voz e ela gritou com força "Sim, Maria, eu a
abri!" No mesmo instante uma chuva começou a cair do céu apagando as chamas
do fogo, e sobre sua cabeça irradiou uma luz, e a Virgem Maria desceu tendo os
dois meninos, um de cada lado, e carregando a menina recém-nascida no colo. Ela
falou-lhe com bondade: "Quem confessa e se arrepende de seu pecado, sempre é
perdoado", e entregou-lhe as três crianças, soltou-lhe a língua e deu-lhe de
presente a felicidade para a vida inteira.”
A análise da fábula “A protegida de Maria” sob a perspectiva do princípio da nãoauto incriminação imprescinde de uma explanação prévia sobre o mesmo, dada a
relevância de sua função no Processo Penal contemporâneo. Portanto, antes de se
proceder ao tratamento contextualizado do princípio, far-se-á uma explanação sobre sua
definição, sua história e sua configuração em alguns ordenamentos jurídicos.
Em poucas palavras, o princípio da não-auto incriminação, também conhecido pela
expressão nemo tenetur se detegere, “assegura que não se pode exigir legalmente de
homens e mulheres que forneçam respostas as quais contribuirão na sua condenação por
um crime.”61 Cabe destacar, a este respeito, a relação existente entre a garantia de não
auto-incriminação e o direito ao silêncio. Segundo Helmholz, autor de estudo autorizado
sobre o tema, o direito de permanecer calado surgiu com o fim preencher de conteúdo o
princípio da não auto-incriminação, compondo o seu significado atual.62 Daí a
necessidade de abordagem do referido princípio à luz do direito ao silêncio na presente
questão – tema este, também, central à compreensão da fábula dos irmãos Grimm, em
que a busca pela confissão dá vida e sentido à história.
Difícil tarefa é determinar, com algum grau de exatidão, a origem histórica do
princípio. Já se disse que alguns sistemas jurídicos da Antiguidade previam-no em uma
forma embrionária, geralmente associada a valores religiosos. O Direito Hebreu, a
exemplo, impedia que um acusado depusesse contra si mesmo. Tal atitude poderia levar
uma disposição, pelo acusado, de seu corpo ou vida, bens pertencentes tão apenas à
entidade divina.63
Afirma-se, ainda, que o Direito Canônico também contém algumas bases do
princípio de não auto-incriminação: em comentário de São João Crisóstomo à Carta de
São Paulo aos Hebreus, datado do século V, afirmava-se a desnecessidade de autoincriminação diante de outros homens, pois revelações dessa ordem eram indispensáveis
apenas perante Deus.64 A exegese medieval do referido comentário teria permitido a
inclusão do princípio em questão no ius commune da Europa Continental, de forma a
que o Speculum Iudiciale, famoso manual de processo compilado em 1296, bem como
61
HELMHOLZ, R.H. et al. The privilege against self-incrimination : its origins and development.
Chicago: University of Chicago Press, 1997. p. 1 (tradução livre) apud ALBUQUERQUE, Marcelo
Schirmer. Extensão e limites da garantia de não auto-incriminação. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
168 p. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
62
HELMHOLZ, R.H. et al. op. cit. apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
63
COUCEIRO, João Cláudio. A garantia constitucional do direito ao silêncio. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004. pp. 30 e 31 apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit..
64
HELMHOLZ, R.H. et al. The privilege against self-incrimination : its origins and development.
Chicago: University of Chicago Press, 1997. p. 26. apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
outras obras jurídicas disseminadas no continente, trouxesse previsão expressa de seus
dizeres.65
Apesar das divergências sobre o nascimento do princípio da não auto-incriminação,
ponto pacífico se refere à sua influência no Direito Inglês – apontado por alguns,
inclusive, como seu verdadeiro berço.66 Naquele país, a garantia, alcunhada privilege
against self-incrimination, nasceu na transição entre os séculos XVI e XVII, em reação
às persecuções religiosas conduzidas por tribunais eclesiásticos contra pessoas acusadas
de heresia. As práticas inquisitoriais realizadas por essas cortes, como os juramentos ex
officio, o exame compulsório de pessoas condenadas por heresia e mesmo a tortura,
recebiam certa rejeição desde aquela época,
“não tanto porque um acusado se via obrigado a depor
contra si mesmo a respeito das acusações específicas
formuladas contra ele, mas sobretudo em razão de que tal
prática permitia a investigação geral sobre a conduta e o
comportamento de uma pessoa, por mais alheios que eles
fossem à acusação em jogo.”67
Não muito tempo após a adoção do princípio nas jurisdições eclesiásticas inglesas,
sua recepção também se daria nos tribunais de common law, aos quais também se
passou a negar a autoridade para o exercício de poderes inquisitoriais quando da
condução de um processo. Assim, os tribunais de direito comum passaram a reconhecer
o princípio primeiro em casos envolvendo a prática de crimes e, após, mesmo em
processos civis. Ao final do século XVII, o princípio já havia galgado tamanha
importância no ordenamento inglês que, aparentemente, o Parlamento teria considerado
redundante sua inclusão no Bill of Rights.68
Importa destacar, ainda, que a não auto-incriminação recebeu contribuições
doutrinárias relevantes, datadas também do século XVII. Thomas Hobbes, por exemplo,
afirma em, Do Cidadão, que “ninguém está obrigado, por pacto algum, a acusar a si
mesmo, ou a qualquer outro, cuja eventual condenação vá tornar-lhe a vida amarga.”69
65
Ibidem, pp. 17 e 18 apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006. p. 432.
67
INBAU, Fred. E. Self-incrimination – What can an accused person be compelled to do? Journal of
Criminal Law and Criminology, Chicago, v. 89, n. 4, p. 1330, verão, 1999. (tradução livre)
68
Idem.
69
HOBBES, Thomas. Do cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 50 apud ALBUQUERQUE,
Marcelo Schirmer. op. cit..
66
Em O Leviatã, o pensador britânico voltaria a se referir ao princípio, dessa vez, com
enfoque processual mais pronunciado:
“Se alguém for interrogado pelo soberano ou por sua
autoridade, relativamente a um crime que cometeu, não é
obrigado (a não ser que receba garantia de perdão) a
confessá-lo, porque nenhum homem, conforme mostrei no
mesmo capítulo, pode ser obrigado por um acordo a acusarse a si próprio.”70
A expansão colonial inglesa à América do Norte se deu no mesmo momento em que
o nemo tenetur se detegere gozava de grande aplicação nos tribunais eclesiásticos, e já
algum reconhecimento nos tribunais de common law. Não surpreende, portanto, que o
mesmo princípio ganhasse espaço também nas Treze Colônias, onde viria a ser,
posteriormente, objeto de importante atenção legislativa e jurisprudencial. A Quinta
Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, datada de 1791, afirma que
“nenhuma pessoa será compelida, em qualquer caso criminal, a ser testemunha contra si
mesma”71. Tal dispositivo recebeu aplicação paradigmática no caso Miranda v. Arizona,
julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nele, o demandante, sob custódia
policial, havia sido questionado em uma sala isolada, sem haver sido previamente
informado de seus direitos. O interrogatório havia conduzido à produção de provas
orais, utilizadas no provimento final de acusação. Quando do julgamento do caso, a
Suprema Corte concluiu, inter alia:
1. A promotoria não pode se valer de declarações obtidas em interrogatório
conduzido enquanto o indivíduo se encontrava sob custódia ou privado de sua liberdade,
a menos que tenham sido respeitados os procedimentos previstos pela Quinta Emenda
para se assegurar o privilege against self-incrimination.
2. Interrogatórios conduzidos sob o modo incommunicado têm o efeito de intimidar o
interrogado, razão pela qual destituem de valor o princípio da não auto-incriminação.
3. O privilege against self-incrimination desempenha função basilar no sistema
acusatório e garante o direito de permanecer calado a não ser que se opte por falar, em
um exercício genuíno da própria vontade, durante interrogatório conduzido sob
70
HOBBES, Thomas.O Leviatã. São Paulo: Rideel, 2005. p. 129 apud ALBUQUERQUE, Marcelo
Schirmer. op. cit..
71
ISRAEL, Jerold H.; LAFAVE, Wayne R. Criminal Procedure: Constitutional limitations. Minnesota:
West Group, 2004, p. 202 (tradução livre) apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
custódia, no âmbito de uma corte ou durante o desenvolvimento de outras investigações
oficiais.
4. Em respeito à Quinta Emenda, é necessário informar ao interrogado sob custódia
de seu direito de permanecer calado. Tal procedimento deve anteceder ao início do
interrogatório.
5. Se o interrogado indicar que prefere se manter em silêncio, o interrogatório deverá
ser interrompido.
6. O fato de que um indivíduo respondeu a algumas questões durante um
interrogatório realizado sob custódia não significa a renúncia de seu direito de
permanecer calado. Portanto, tal indivíduo poderá invocar esse direito a qualquer
momento.72
À luz das considerações supra, a Suprema Corte resolveu que o interrogatório do
caso Miranda havia, portanto, violado os padrões constitucionais de proteção do
privilege against self-incrimination.73
A Décima Quarta Emenda à Constituição estadunidense também já foi aplicada pela
Suprema Corte do mesmo país como fonte do princípio da não auto-incriminação.
Segundo a Corte, no caso Malloy v. Hogan, o mesmo nível de proibição da não
observância do privilege against self-incrimination, incidente sobre o Governo Federal
por força da Quinta Emenda, seria estendido a cada um dos Estados norte-americanos,
pela Décima Quarta Emenda.74
Aspecto interessante é que o princípio da não auto-incriminação, em sua
conformação norte-americana, não inclui o direito do acusado de mentir. 75 A Suprema
Corte dos Estados Unidos também já teve oportunidade de se declarar a respeito do
tema, no caso Janice R. LaChance, Acting Director, Office of Personnel Management v.
Lester E. Erickson Jr. et al. A decisão da Corte, datada de 21 de 1998, rejeita, em
termos expressos, a noção de que a oportunidade de ser ouvido por um tribunal inclui o
72
Supreme Court of the United States. Miranda v. Arizona. Decisão de 13 de junho de 1966. Pontos
resolutivos 1, 1.a, 1.b 1.d, 1.e, 1.g.
73
Ibidem, ponto resolutivo 3.
74
Supreme Court of the United States. Malloy v. Hogan. Decisão de 15 de junho de 1964. Pontos
resolutivos 1, 2 e 3.
75
The New York Times. No constitutional right to lie. 24 jan. 1998.
http://www.nytimes.com/1998/01/24/opinion/no-constitutional-right-to-lie.html?pagewanted=1. Acesso
em: 28 de abril de 2010.
direito de proferir declarações falsas sobre a acusação.76 Contudo, mesmo antes, em
decisão de 1969, a Suprema Corte já havia adotado orientação semelhante, de modo
ainda mais claro:
“Nosso sistema legal oferece instrumentos para se
questionar o direito do Estado de interrogar – mentir não é
um deles. Um cidadão pode recusar-se a responder a uma
pergunta, ou respondê-la honestamente, mas não pode, de
forma consciente e voluntária, respondê-la com falsidade,
sem ser punido por isso.”77
Como se depreende da passagem supra, a prática de declarações falsas por um
interrogado em processo criminal pode até mesmo dar ocasião a punições por parte do
Estado. Tal posição também já foi proferida pela Suprema Corte norte-americana:
“É bem estabelecido que o direito de um acusado de
testemunhar não inclui o direito de cometer perjúria (ex.: Nix
v. Whiteside, 475 U.S. 157, 173, 106 S.Ct. 988, 997, 89
L.Ed.2d
123),
e
que
punições
podem
lhe
ser
constitucionalmente impostas (ex.: United States v. Wong,
431 U.S. 174, 178, 97 S.Ct. 1823, 1825-1826, 52 L.Ed.2d 231)
ou elevadas, se já existentes (ex.: United States v. Dunnigan,
507 U.S. 87, 97, 113 S.Ct. 1111, 1118, 122 L.Ed.2d 445), pela
prática de perjúria”.78
Outros ordenamentos jurídicos, outrossim, contêm previsão expressa do princípio
nemo tenetur se detegere, assimilado, em geral, com o fim de vedar métodos de
interrogatório que resultem na auto-incriminação e que infrinjam a integridade física e
moral do acusado.79
É assim, por exemplo, que o Código de Processo Penal alemão reconhece a
prerrogativa de se manter em silêncio sobre fatos que possam conduzir à incriminação
própria ou de parentes (arts 55.1 e 55.2). Igualmente, em Portugal, o argüido não é
obrigado a prestar declarações, sem que o exercício de seu silêncio possa desfavorecê-lo
(art. 343.1 do Código de Processo Penal daquele país). O direito espanhol, por sua vez,
76
Supreme Court of the United States. Janice R. LaChance, Acting Director, Office of Personnel
Management v. Lester E. Erickson Jr. et al. Decisão de 21 de janeiro de 1998. Opinião do Chief Justice
Rehnquist.
77
Supreme Court of the United States. Bryson v. The United States. Decisão de 8 de dezembro de
1969. Opinião do Mr. Justice Harlan (tradução livre).
78
Supreme Court of the United States. Janice R. LaChance, Acting Director, Office of Personnel
Management v. Lester E. Erickson Jr. et al. Decisão de 21 de janeiro de 1998. Opinião do Chief Justice
Rehnquist (tradução livre).
79
QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo
tenetur se detegere e suas decorrências no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 240 apud
ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
tem alguns elementos da não auto-incriminação erigidos à categoria constitucional: o
art. 24.2 da Carta Política do país prevê aos acusados o direito de não declararem contra
si mesmos, de não se confessarem culpados e de se beneficiarem da presunção de
inocência.
Merece destaque, ainda, o ordenamento argentino, que traz rica disposição a respeito
do tema, dado o seu grau de detalhamento. Por isso, digna de nota:
“O imputado poderá se abster de declarar. Em nenhum caso lhe será requerido
juramento ou promessa de dizer a verdade, nem se exercerá contra ele coação, ameaça
ou outro meio para obrigá-lo, induzi-lo ou determiná-lo a declarar contra sua vontade,
nem lhe serão feitos encargos ou repreensões tendentes a obter sua confissão” (art. 296,
Código de Processo Penal da Nação Argentina – tradução livre).
No Brasil, em semelhança ao que se verifica no ordenamento espanhol, do princípio
da não auto-incriminação decorreu uma norma de status constitucional: o art. 5°, LXIII
da Constituição Federal prevê que “o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado”. Trata-se, como afirmado pela doutrina pátria, de
dispositivo protetor da pessoa física e da dignidade do acusado, vez que veda a pressão
para confessar – presente, por exemplo, nas instituições policiais. Proíbe, também, a
utilização de declarações inverídicas ou distorcidas, proferidas pelo acusado em
situações intimidadoras.80
Ponto de que não se deve descuidar, quando da leitura do art. 5°, LXIII da
Constituição brasileira, é que muito embora seu texto contenha o vocábulo preso, o
direito ao silêncio ali assegurado não deve se restringir a essa figura, mas encontrar
aplicação também para indivíduos não presos e para interrogados. De forma semelhante
entendem Ada Pellegrini, Scarance e Magalhães, ao afirmarem que
“aludindo ao direito ao silêncio e à assistência do
advogado para o preso, a Lei Maior denota simplesmente sua
preocupação inicial com a pessoa capturada: a esta, mesmo
fora e antes do interrogatório, são asseguradas as
mencionadas garantias. Mas isto não pode nem quer dizer
que ao indiciado ou acusado que não esteja preso não seja
80
SOUZA, José Barcelos de. “Bafômetro”, intervenções corporais e direitos fundamentais. In SOUZA,
José Barcelos de. Recursos, artigos e outros escritos: doutrina e prática civil e criminal. Rio de Janeiro:
Lumen Iuris, 2005, p. 142 apud ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
estendida a mesma proteção, no momento
autodefesa, que é o interrogatório.”81
maior da
O Código de Processo Penal brasileiro também traz disposições relativas ao silêncio
do interrogado. O art. 186, em sua redação antiga, dispunha que “Antes de iniciar o
interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a responder às
perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo
da própria defesa”. Em face do texto constitucional transcrito supra, a doutrina
majoritária orientava-se pela não recepção da parte final do art. 186: a ineficiência da
atividade dos órgãos acusatórios em trazer elementos de prova suficientes para a
condenação não devia ser recebida pelo juiz em prejuízo do réu. Nucci afirma, a esse
respeito, que “o processo penal deve ter instrumentos suficientes para comprovar a
culpa do acusado, sem a menor necessidade de se valer do próprio interessado para
compor o quadro probatório da acusação.”82
A jurisprudência, por sua vez, dividia-se acerca do tema, havendo entendimentos
favoráveis a ambas as vertentes interpretativas:
i) “o silêncio do réu é garantia constitucional e de forma
alguma poderá ser prejudicado por isso! (...) O réu pode
permanecer absolutamente inerte, comparecer ou não aos
interrogatórios, responder ou não, sem que essa conduta lhe
prejudique a defesa”83;
ii) “embora sendo um direito constitucional seu, a
apelante permanecera silente na fase inquisitorial, o que se
mostra deveras estranhável, uma vez que devidamente
assistida por advogado, poderia de pronto, oferecer sua
versão exculpatória, justificando seus atos e refutando a
acusação”84.
A dúvida foi suprimida quando a edição da Lei 10.792/2003, que modificou o art.
186, suprimindo-lhe a última parte e introduzindo-lhe um parágrafo único, no qual se lê
que “O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em
prejuízo da defesa.”
81
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães.
As nulidades no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 67. (grifo no original)
82
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit.
83
TJSP. Ap. 286.117-3. São Paulo, 7ª C. Férias de Janeiro de 2000, rel. Celso Limongi, 12.01.2000 apud
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit.
84
TJSP. Ap. 262.056-3/8, Ribeirão Preto, 2ª C. rel. Egydio de Carvalho, 08.02.1999 apud NUCCI,
Guilherme de Souza. op. cit.
Resta ainda, no Código de Processo Penal, o art. 198, que prevê que o silêncio do
acusado, apesar de não importar confissão, poderá ser elemento empregado na formação
do convencimento do juiz. Deve-se reputar tal artigo como portador de clara
inconstitucionalidade: não há sentido em se conceder ao réu o direito de se calar, como
o faz a Constituição, em seu art. 5°, se o silêncio pode ser a base de convencimento do
juiz em uma eventual sentença condenatória.85
No ordenamento brasileiro, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, a mentira
por parte do réu não lhe importa punição.86 O Código Penal, ao prever o crime de falso
testemunho ou falsa perícia (art. 342), elenca como sujeitos ativos a testemunha, o
perito, o contador, o tradutor ou o intérprete, excluindo o imputado de sua abrangência.
No mesmo sentido, afirma Mirabete:
“não há um verdadeiro direito de mentir, tanto que as
eventuais contradições em seu depoimento podem ser
apontadas para retirar qualquer credibilidade das suas
respostas. Mas o acusado não presta compromisso de dizer a
verdade como a testemunha, e sua mentira não constitui
crime, não é ilícita”87.
Também no Direito Internacional Público, o princípio da não auto-incriminação é
assegurado – com enfoque sobre o direito a permanecer em silêncio – por tratados de
grande relevância em matéria de proteção dos direitos fundamentais do homem. A
exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), conhecida como Pacto
de San José da Costa Rica e documento-base do Sistema Interamericano de Proteção
dos Direitos Humanos, prevê, em seu artigo 8°:
“2.Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma sua inocência enquanto não se comprove
legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem
direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
(...)
g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem
a declarar-se culpada;”
85
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 432.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 278 apud
ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. op. cit.
87
MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de processo penal interpretado: referencias doutrinárias,
indicações legais, resenha jurisprudencial. São Paulo: Atlas, 1994. p. 282 apud ALBUQUERQUE,
Marcelo Schirmer. op. cit.
86
Outro sistema regional de proteção dos Direitos Humanos, atuante no continente
europeu, também já teve ocasião de se posicionar sobre o assunto. Naquele sistema,
embora não haja uma previsão convencional expressa sobre a não auto-incriminação, a
Corte Européia de Direitos Humanos estendeu o âmbito de aplicação do artigo 6°
(devido processo legal) da Convenção Européia de Direitos Humanos (1950) com o fim
de nele incluir a garantia do referido princípio. O caso Saunder v. United Kingdom é
paradigmático neste sentido:
“A Corte destaca que, embora não especificamente
mencionado no Artigo 6 da Convenção (art. 6), o direito ao
silêncio e o direito a não se auto-incriminar são standards
internacionalmente reconhecidos, nucleares à noção de um
processo justo sob o Artigo 6 (art. 6).”88
De forma análoga, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), atinente
ao sistema protetivo conduzido pelas Nações Unidas, possui norma semelhante em seu
artigo 14.3.g.
Recente previsão internacional da não auto-incriminação pode ser encontrada, ainda,
no Estatuto de Roma (1998), fundamento jurídico da criação do Tribunal Penal
Internacional. O Estatuto dispõe, em seus artigos 55.1.a, 55.2.b – fase de inquérito – e
67.1.g – fase de julgamento –, o direito de não depor contra si mesmo ou declarar-se
culpado e de manter silêncio, sem que tal atitude seja considerada para efeitos da
condenação ou da absolvição.
Realizada a análise do princípio nemo tenetur se detegere em sua definição, história
e tratamento em distintos sistemas de Direito – sobretudo sob a perspectiva do direito ao
silêncio –, passa-se, agora, à sua aplicação à fábula “A protegida de Maria”, de autoria
dos irmãos Grimm.
A história delineia, na Virgem Maria, uma figura essencialmente inquisitória. Ao
voltar de sua viagem, havendo ordenado à criança que não abrisse a décima terceira
porta, Maria procede a um interrogatório. Nele, assume postura deveras investigativa:
olha fixamente nos olhos da garota ao proferir as perguntas; pousa-lhe a mão no
coração, a fim de perscrutar seu estado de nervosismo e, daí, realizar inferências sobre
seu comportamento prévio; procura por outros sinais de desobediência, como o dedo
dourado da garota; e, por fim, insiste em perguntar-lhe a mesma questão repetidas
88
European Court of Human Rights. Saunders v. The United Kingdom. Decisão de 17 de dezembro de
1996, § 68. (tradução livre)
vezes, em claro exercício de um poder de intimidação sobre a menina, tendente a que
ela confessasse sua falta.
Trata-se, com efeito, da representação de uma entidade religiosa onisciente e feitora
de justiça, a quem se deve prestar contas e que detém o poder de aplicar sanções pelo
descumprimento de preceitos morais e religiosos. A relação estabelecida entre a Virgem
e a criança, neste ponto específico, atinge o domínio da superioridade religiosa e do
respeito, mas não só: envolve também, e principalmente, o medo.
Diante desses elementos – autoridade religiosa da Virgem, função inquisitória e
ameaça da aplicação de sanções – seria materialmente impossível à garota permanecer
em silêncio, em exercício de um eventual direito a não se declarar culpada. É esta, a
propósito, uma situação próxima à registrada nos tribunais eclesiásticos europeus da
Idade Média, baluartes do modelo inquisitorial e porta-vozes de uma figura divina
opressora e vingativa. Não surpreende, por isso, que a versão mais aceita pela doutrina
identifique o nascedouro do princípio da não auto-incriminação justamente nas cortes
eclesiásticas inglesas dos sécs. XVI e XVII, como afirmado em momento anterior.
Ademais, percebe-se que o convencimento da Virgem Maria sobre a conduta
pecaminosa da garota havia se dado com base em provas produzidas contra a vontade
desta última, obtidas a partir da análise de seus batimentos cardíacos e de seu dedo, sem
a sua autorização. Vejam-se as seguintes passagens a esse respeito:
“Então ela pousou a mão sobre o coração da menina e
sentiu como ele estava batendo sobressaltado, de modo que
percebeu que sua ordem tinha sido desobedecida e a porta
fora aberta. (...) Aí a Virgem avistou o dedo que ficara
dourado pelo toque do fogo celestial e teve certeza de que
ela pecara”. (grifos nossos)
Tal atitude, por parte da Virgem, pode ser interpretada como afronta ao princípio
nemo tenetur se detegere, vez que a própria garota foi utilizada como fonte das provas
analisadas em seu desfavor.
Um terceiro elemento digno de nota é que a Virgem Maria, no decurso da narrativa,
parece obedecer à lógica segundo a qual a resposta do acusado deve corresponder
obrigatoriamente à verdade dos fatos. Não haveria, portanto, um direito do acusado à
mentira, estando ele sujeito a sofrer punições caso opte por dizer inverdades.
Como já visto, trata-se da postura assumida hodiernamente no Direito norteamericano, para o qual o acusado não pode, voluntariamente, fornecer respostas
inverídicas de forma impune. Tal é a orientação exposta por Maria, na fábula: “Tu não
me obedeceste e além disso ainda mentiste, portanto não és mais digna de permanecer
no Céu.” A esse episódio, o leitor vê seguir-se a sanção imposta à garota por sua
infidelidade: do Céu, onde recebia alimentação e vestimentas de qualidade, na afável
companhia de anjos, a garota é transportada a uma floresta inócua, em que se vê
sozinha, obrigada a se alimentar de raízes e frutas silvestres, sujeita às intempéries do
tempo e destituída de roupas.
Quando do nascimento de seus três filhos, a garota, agora rainha, também viria a
sofre sanções por mentir perante a Virgem Maria. Ao insistir em negar sua
desobediência, a Rainha viu cada um de seus bebês ser levado ao Céu, sendo privada de
sua companhia.
O silêncio imposto à garota também foi, efetivamente, uma última forma de punição.
Apesar de não lhe ser permitido falar desde que voltara do Céu, o silêncio, em um
primeiro momento, não havia impedido a garota de conquistar o amor do rei e de ser por
ele esposada. Essa punição adquire relevância na narrativa, contudo, a partir do
momento em que a rainha é acusada pelo povo de se alimentar de seus próprios filhos.
Não podendo se defender – ou, em outros termos, sendo obrigada a manter silêncio
acerca de sua inocência – a rainha é levada a julgamento e condenada após o
desaparecimento de seu terceiro filho. A relação de causalidade entre o silêncio da
rainha e sua condenação fica clara na seguinte passagem: “Ela foi submetida a
julgamento e, como não podia responder e se defender, foi condenada a morrer na
fogueira.” (grifo nosso).
Importa destacar, aqui, que uma análise rigorosa do princípio da não autoincriminação – sob a perspectiva do direito ao silêncio – impediria a condenação da
rainha. Não havendo provas que conduzissem a uma certeza acerca das acusações
contra ela – os rumores dos súditos não seriam suficientes para tal fim –, a condenação
seria destituída de razões. Como afirma Nucci, em trecho já citado supra, o processo
penal deve conter elementos suficientes para a condenação, sem se valer do acusado
para tanto. A ausência de defesa da rainha, portanto, não deveria ter sido interpretada
em seu desfavor. Tal atitude é, obviamente, contrária ao princípio nemo tenetur se
detegere. Como já bem se disse “não teria o menor sentido dar ao réu o direito de se
calar, ao mesmo tempo em que se usa tal ato contra sua própria defesa. Ninguém, em sã
consciência, permaneceria em silêncio, sabendo que, somente por isso, o juiz poderia
crer na sua culpa.”89
Daí afirmar-se que o silêncio, em um sistema no qual sua interpretação é
desfavorável ao réu, como na fábula em análise, foi também uma forma de punição
imposta pela Virgem Maria à rainha.
Por fim, a história passa a mensagem final de que a confissão, como expressão de
arrependimento da prática de um ato indevido, é o meio idôneo para a expiação da culpa
e, ademais, conducente à felicidade posterior de quem lhe pratica. De fato, pode-se
cogitar que caso a garota tivesse confessado suas atitudes quando do primeiro
interrogatório conduzido pela Virgem, não teria sido submetida, talvez, às agrúrias da
floresta, ao rapto de suas crianças e ao julgamento dos súditos. É o que se pode
depreender da frase final da fábula: “Ela falou-lhe com bondade: ‘Quem confessa e se
arrepende de seu pecado, sempre é perdoado’, e entregou-lhe as três crianças, soltoulhe a língua e deu-lhe de presente a felicidade para a vida inteira.”
Situação diversa acontece por ocasião de um processo criminal. Nele, a confissão,
ainda que represente o alívio de consciência do acusado, pode acarretar em sua
condenação.90 De fato, “a confissão do réu (...) constitui uma das modalidades de prova
com maior efeito de convencimento judicial, embora, é claro, não possa ser recebida
como valor absoluto.”91 A condenação e a pena privativa de liberdade que se lhe segue,
bem se sabe, são diametralmente opostas à expiação da culpa e à “felicidade para a vida
inteira”, experimentadas pela rainha após a confissão de seus atos pregressos. Tal
afirmativa adquire sentido quando da simples constatação de que uma sentença
condenatória apenas corrobora o efeito de estigmatização social já sofrido no transcorrer
do processo, o qual, certamente, perseguirá o indivíduo mesmo após o cumprimento de
sua pena.
89
NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 432 (grifo no original).
O art. 197 do Código de Processo Penal brasileiro prescreve, por exemplo, que o juiz confronte a
confissão com as demais provas existentes no processo, a fim de verificar a existência de compatibilidade
daquela para com estas. Não há, portanto, uma relação necessária entre confissão e condenação, embora
ela possa se concretizar, eventualmente. Cf. NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. p. 431 e OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 13. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.
425.
91
OLIVEIRA. Eugênio Pacelli de. op. cit. p. 424.
90
Não menos importantes são as condições de encarceramento a que se submeterá o
acusado, caso lhe seja aplicada a pena privativa de liberdade: superlotação, privações de
água e alimentos, enfermidades e um sem-número de outras circunstâncias próximas à
barbárie são de conhecimento geral, inclusive daqueles que respondem a um processo
criminal.
Seria possível exigir-lhe, portanto, atribuir valor honorífico à confissão ou a qualquer
outra prova produzida com a participação próprio acusado, tal qual o fez a fábula
analisada? A resposta mais provável é negativa: pertence à natureza humana fugir à
incriminação e às suas conseqüências. Não se deve exigir de alguém – nem mesmo o
Direito deve fazê-lo em relação a um acusado da prática de condutas criminosas – o
exercício de forças sobre-humanas. O Direito é feito por homens e se destina aos
homens, e não a heróis.
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/"><img alt="Creative
Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png"
/></a><br /><span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"
property="dc:title" rel="dc:type">Compêndio de Direito Processual Penal</span> by <span
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" property="cc:attributionName"> Daniel Leão Souza
Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade Junia Castro Bernardes Rezende
Pedro Brandão e Souza
</span> is licensed under a <a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 Unported
License</a>.