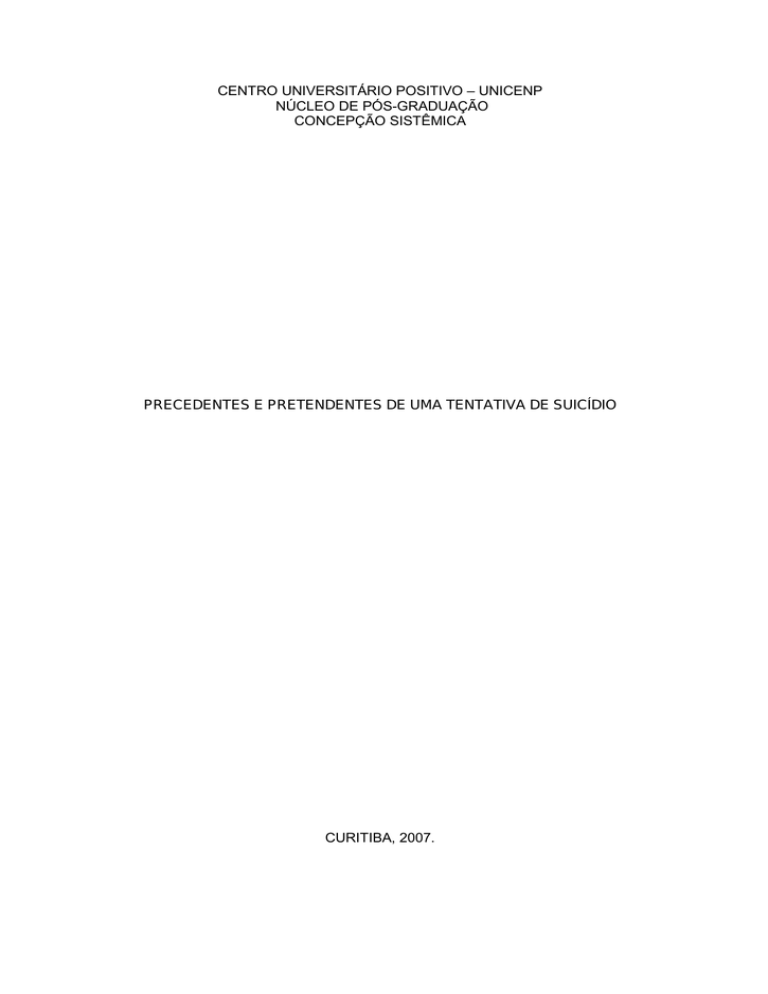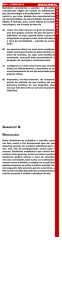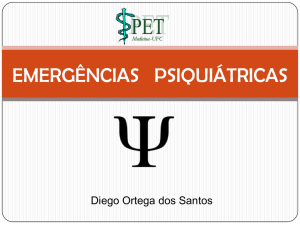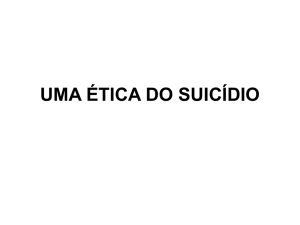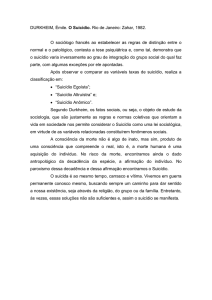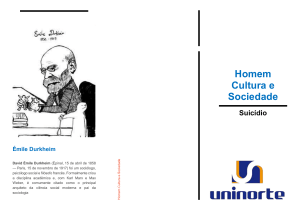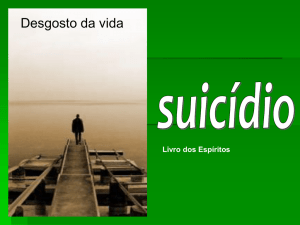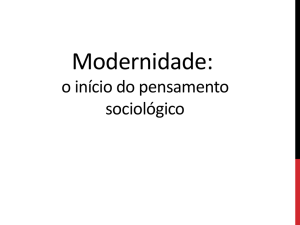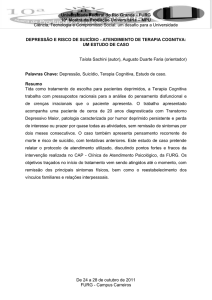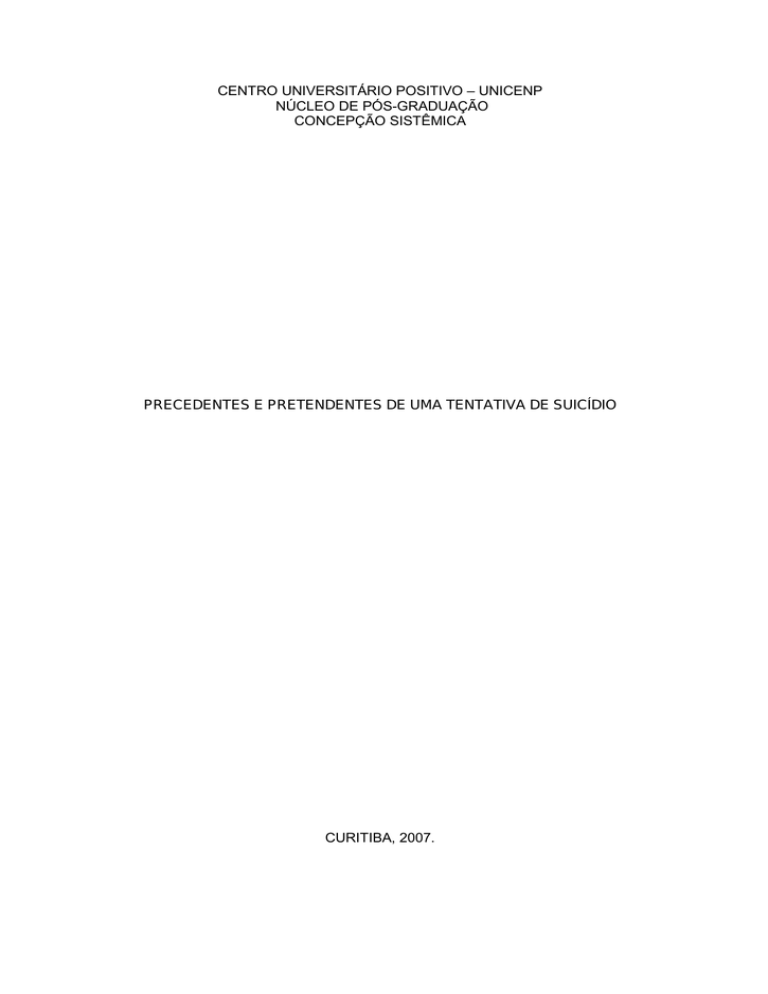
CENTRO UNIVERSITÁRIO POSITIVO – UNICENP
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CONCEPÇÃO SISTÊMICA
PRECEDENTES E PRETENDENTES DE UMA TENTATIVA DE SUICÍDIO
CURITIBA, 2007.
1
LETÍCIA CONSTANTINO ASSUMPÇÃO MEISTER
PRECEDENTES E PRETENDENTES DE UMA TENTATIVA DE SUICÍDIO
Trabalho de monografia elaborado pela
psicóloga Letícia C. A. Meister como
conclusão do curso de especialização em
Psicologia - Abordagem Sistêmica, sob
orientação da professora psicóloga Vera
Regina Miranda.
CURITIBA,
NOVEMBRO DE 2007.
2
Agradeço sempre à possibilidade que minha profissão me
proporciona de estar junto às pessoas, conhecer mais de
suas histórias e principalmente ajudá-las na dor que não
se vê, mas a que mais se sente.
Aos meus colegas de profissão, à minha orientadora Vera
e a todos com quem aprendi algo nesta jornada.
Dedico em especial às pessoas que me
compreenderam e reconheceram com este trabalho.
Letícia Constantino Assumpção Meister
3
SUMÁRIO
Resumo e Abstract.................................................................................................01
1. Introdução...........................................................................................................02
2. Considerações Teóricas Sobre Psicologia e Abordagem Sistêmica..................06
3. Considerações Teóricas Sobre Suicídio e Tentativa de Suicídio.......................13
4. Algumas Considerações Teóricas Sobre a Morte..............................................25
5. Suicídio, uma questão de Saúde Pública...........................................................29
6. A Pesquisa..........................................................................................................32
7. Resultado da Pesquisa e Análise dos Dados.....................................................46
8.Considerações Finais..........................................................................................71
9.Bibliografia...........................................................................................................77
Anexos....................................................................................................................81
4
RESUMO
O número de ocorrências de suicídio e tentativas de suicídio vem crescendo em
todo o mundo, e há fortes evidências de que as tentativas de suicídio ocorrem
vinte vezes mais do que os suicídios consumados. O presente estudo aborda a
tentativa de suicídio como uma mensagem desesperada, como um sintoma. A
partir do estudo de quatro mulheres que cometeram tentativa de suicídio por
intoxicação medicamentosa, investiga-se a complexidade dessa situação por meio
de uma metodologia qualitativa. Foi aplicada uma série de quatro entrevistas semiestruturadas, complementadas por testes psicológicos. Analisados por uma
perspectiva da psicologia sistêmica, os dados revelaram que a tentativa de
suicídio não é uma ocorrência isolada, mas está interligada com toda a história de
vida do indivíduo, desde a infância e as conseqüências na vida adulta, permitindo
delinear um perfil das mulheres que apresentam risco para a tentativa de suicídio,
possibilitando a prevenção deste ato.
Palavras-chaves: tentativa de suicídio; rejeição na infância; relação de
dependência.
ABSTRACT
The number of suicide occurrence keep growing in the world, and there are strong
evidences about suicide attempt occurrences is twenty times more than
consummates suicides. The present study considers a suicide attempt like a
desperate message, like a symptom. Through the study of four women who
committed a suicide attempt by medical intoxication, resource the complexity of
this situation through a qualitative methodology. It was carried four semiconstructed interviews, complemented by a psychology test. The data was
analyzed by a systemic psychology perspective and revealed that the suicide
attempt is not a isolate occurrence, but is interligated with whole life history, since
the childhood and the consequences on the adult life time, allowing write a profile
of the women that appears suicide attempt risk, understanding prevention factors.
Key-words: suicide attempt; childhood rejection; dependence relationship.
5
1. INTRODUÇÃO
O suicídio é um fenômeno complexo que tem atraído a atenção de filósofos,
teólogos, médicos, sociólogos, psicólogos e artistas através dos séculos. Porém,
escrever sobre suicídio ainda não é uma tarefa fácil e infelizmente é motivo de
constrangimento e dificuldade para equipes de saúde e para a sociedade em
geral. Diante da humanidade que se move em direção da manutenção da vida e
perpetuação da espécie, alguém que deseja tirar a própria vida causa mal-estar e
repúdio.
No entanto, os números de casos de pessoas com ideação suicida, que
cometem tentativas ou suicidam-se vêm crescendo em algumas regiões do Brasil
e do mundo. Aos poucos este tema vem despertando o interesse da comunidade
científica e alguns estudos vêm sendo realizados acerca do assunto. Atualmente,
suicídio é uma questão de Saúde Pública e diversos programas de prevenção e
controle vêm sendo desenvolvidos em todo o mundo.
O presente estudo surgiu a partir da experiência da pesquisadora com
indivíduos que cometem tentativas de suicídio sem sucesso. Em diversas
instituições públicas de saúde, seja em pronto-atendimentos ou em Unidades
Básicas de Saúde, uma grande quantidade de pacientes com estes sintomas são
atendidos.
Neste trabalho serão focados estudos de quatro casos de tentativas de
suicídio por intoxicação medicamentosa em mulheres. O objetivo é desenvolver o
conhecimento acerca desses indivíduos que cometem um ato com um significado
drástico, mas que não culmina em morte, mas sim, com o retorno ao ambiente em
que vivia e à convivência com as pessoas.
Em termos gerais, apesar dos indicadores de mortalidade revelarem a
importância do suicídio propriamente dito, estima-se que as tentativas de suicídio
sejam vinte vezes mais freqüentes do que os suicídios consumados. Ao avaliar os
dados de ocorrências toxicológicas notificadas entre 1996 e 2005, observa-se que
mais de 50% dos casos foram relativos a tentativas de suicídio, havendo uma
6
tendência crescente no número de casos. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CURITIBA, 2006).
Especificamente as tentativas de suicídio por intoxicação medicamentosa
são de interesse nesta pesquisa, pois esta modalidade parece ser a mais branda e
que atinge menor índice de sucesso, ou seja, quando a tentativa se faz por
ingestão de medicação, tem menor índice de morte. A intoxicação medicamentosa
sugere um tempo relativamente lento até que as medicações produzam efeitos no
organismo, diferentemente dos suicídios por arma de fogo, enforcamento ou
precipitação de queda de alto nível. É durante o tempo entre a ingestão da
medicação e seu efeito no organismo que ocorre a grande possibilidade de
salvamento. Além disso, em muitos casos o tipo da medicação ou a quantidade
ingerida não são fatores suficientes para levar o indivíduo a óbito.
Segundo o estudo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba
(2006), o índice de suicídio por auto-intoxicação é o mais significativo entre as
mulheres, sendo que 70% dos casos, na faixa etária de 20 a 29 anos, com a
utilização de medicamentos.
O estudo coloca que, diferente dos suicídios por arma de fogo,
enforcamento e precipitação de lugar elevado, em que a maioria das tentativas
leva à morte, as auto-intoxicações são, de um modo geral, menos letais. A
diferença entre o número de suicídios consumados por auto-intoxicação e as
tentativas de suicídio por este método aponta um grupo prioritário para a atenção
numa proposta de ação preventiva de enfrentamento do problema. Em média, no
período de 1996 e 2004, para cada óbito por suicídio por meio da autointoxicação, houve cerca de 55 tentativas de suicídio na mesma modalidade.
As observações anteriores a esta pesquisa levaram a pesquisadora a
questionar, com orientação da psicologia sistêmica, qual o significado deste ato na
vida do indivíduo que o comete, bem como quais são os fatores precedentes a
este fato, trazendo a tona, como possíveis conseqüências, formas de detectar e
prevenir.
O presente estudo traz, então, informações sobre a história de vida de
pessoas
que
cometeram
uma
tentativa
de
suicídio
por
intoxicação
7
medicamentosa, apontando para questões desde a infância que puderam
ocasionar relativa desestrutura emocional e ocorrências na vida adulta que
precederam tal ato. Isso significa que a tentativa de suicídio é uma decorrência de
sentimentos vivenciados, que vão guiando o indivíduo por um caminho de
desespero e desesperança.
Uma tentativa de suicídio não é uma ocorrência pontual e isolada, mas sim
algo que envolve diversos aspectos. Segundo Werlang e Botega (2004), o ato
suicida se constitui no evento final de uma complexa rede de fatores que foram
interagindo durante a vida do indivíduo, de formas variadas, peculiares e
complexas. Dessa complexidade fazem parte fatores genéticos, biológicos,
psicológicos, sociais, históricos e culturais.
Assim, no presente estudo, considera-se a tentativa de suicídio como uma
mensagem desesperada do indivíduo para seu ambiente, e revela-se o que esta
mensagem pretende comunicar.
Primeiramente o leitor encontra algumas considerações acerca de suicídio
como questão de Saúde Pública, seguidas de considerações teóricas sobre a
morte, sobre o suicídio e tentativa de suicídio e sobre a psicologia e a abordagem
sistêmica, que nortearam a pesquisa.
Então é relatado como foi realizada a pesquisa, a metodologia utilizada e a
síntese dos casos estudados. Estes dados são seguidos de uma breve análise
quantitativa e um aprofundado estudo qualitativo dos casos e das correlações
possíveis entre eles. Finalizando, encontram-se as considerações finais sobre o
tema aqui abordado.
Em anexo estão a fotocópia do Parecer Consubstanciado de Projeto de
Pesquisa Analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Unicenp, cópia do
modelo da Carta e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi
assinado pelas participantes, fotocópia das Escalas de Beck utilizadas neste
trabalho, sendo a Escala de Desesperança de Beck e a Escala de Ideação Suicida
e cópia do modelo da entrevista semi-estruturada.
Não é possível anexar as entrevistas preenchidas e nem tampouco as
Cartas e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, pois estes materiais
8
contêm informações que devem ser mantidas em sigilo para preservar a
identidade das participantes.
9
2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE PSICOLOGIA E A ABORDAGEM
SISTÊMICA
A psicologia passou a desenvolver uma abordagem sistêmica a partir do
ano de 1950. Até então o meio psicoterapêutico era psicanalítico. Os terapeutas
atuavam com enquadre, técnica, referencial teórico e postura de acordo com as
propostas da psicanálise. Freud, em 1909, com o caso Hans e o caso Dora, voltou
a atenção para os pais dos pacientes, e deu espaço para que estes falassem de
seus filhos. Em 1923, Moreno, atuante do psicodrama, passou a intervir na
estrutura de relação de um casa, com o caso Bárbara. Ambos os autores não
trabalhavam com a terapia familiar, mas abriram um espaço para pensar o
tratamento do indivíduo através da importância do envolvimento da família.
Em 1950, Bateson apresentou suas conclusões acerca da pesquisa
realizada nos Estados Unidos da América, com pacientes esquizofrênicos. Neste
estudo, identificou que quando as mães visitavam os pacientes, eles pioravam. O
que existia na relação era o duplo vínculo, ou seja, uma dupla mensagem na
comunicação, uma ambigüidade entre o falar, o sentir e o agir. Percebe-se que os
pais eram omissos, e no relacionamento entre pais, os problemas conjugais
coincidiam com episódios psicóticos, pois ocorriam ciclos, ou seja, assim que
havia surtos o casal estabelecia uma trégua para cuidar do filho.
Outros estudos identificaram dificuldades não do sujeito, mas do modo
como os sujeitos interagiam dentro de um contexto familiar, em que a família foi
considerada como uma totalidade, uma estrutura, um sistema. O sujeito que se
mostrava como ponto frágil no sistema foi considerado o paciente identificado, o
“bode expiatório”, que significa que não era ele o portador do problema, mas ele
estava denunciando que naquele contexto havia um problema.
Em 1951, desenvolve-se a teoria da comunicação, que também teve grande
influência na prática sistêmica da psicologia. Por volta dos anos setenta, a ótica
sistêmica baseia-se na Teoria Geral dos Sistemas e mais tarde nas idéias de Frijot
Capra.
10
Os conceitos básicos da Teoria Geral dos Sistemas, segundo Bertalanffy
(1975), são o sistema como um conjunto de elementos que interagem entre si e
com o meio de modo organizado e o subsistema, que são partes que compõe o
sistema. Todo o sistema compõe-se de subsistemas que podem ser vistos como
sistema e todo sistema é subsistema de um sistema maior (supra sistema) que é
elemento de um supra (sistema maior).
O mesmo autor desenvolve conhecimento sobre os sistemas inanimados,
que são fechados e não realizam trocas com o meio ambiente e os sistemas vivos,
que são abertos, realizam trocas com o ambiente, como por exemplo o ser
humano. (BERTALANFFY, 1975)
Bertalanffy (1975) afirma que os sistemas também possuem fronteiras que
delimitam cada sistema permitindo ou não trocas com o ambiente. As funções das
fronteiras são delimitar o sistema, contendo partes em seu interior, proteger o
interior do sistema da ação desordenada do ambiente e estabelecer trocas entre o
sistema e o meio. Para tal, é imprescindível que a fronteira tenha certo grau de
permeabilidade para permitir entradas e saídas ou impedi-las.
O autor coloca alguns enunciados sobre os sistemas, que afirma que não
há como alterar uma parte do sistema sem alterar o todo; as regras do todo são as
regras das partes e o inverso também é verdadeiro e o funcionamento do todo é
muito mais do que a soma das partes. (BERTALANFFY, 1975)
Enfim, pensar sistemicamente é uma forma diferente de compreender a
realidade e lidar com um sistema implica em sair do reino das verdades absolutas.
Assim já afirmou Capra (1982), diferenciando o pensamento linear do pensamento
sistêmico.
O pensamento linear deriva da visão mecanicista e dentro deste enfoque
pergunta-se o “por que”, valoriza-se o passado, entende que toda causa tem um
efeito considerando as partes. Também se valoriza o conteúdo verbal, o que o
indivíduo vai contar da sua história. Tende a enquadrar o sujeito dentro de um
contexto psicopatológico. Diferencia acirradamente a saúde da doença, sendo a
saúde a ausência da doença. (CAPRA, 1982)
11
O modelo biomédico, descrito por Capra (1982) coloca o organismo vivo
como uma máquina composta de peças que devem funcionar bem e a doença é o
mau funcionamento desta máquina. Assim, o indivíduo não é visto como um todo,
como um ser humano em que há interação entre os aspectos físicos, psíquicos,
sociais e ambientais.
Toda esta concepção mecanicista é muito reducionista, afirma o autor. Mas
a concepção sistêmica inverte a situação, e embasa-se na concepção do todo.
Focando-se nas mudanças, interações, relações, valoriza o momento presente e
questiona-se, principalmente, sobre o que está acontecendo com as formas de
relação do indivíduo. Os comportamentos patológicos são vistos como crises
evolutivas funcionais ou disfuncionais. O individuo é responsável por contribuinte
de sua história, ações e episódios que lhe acontecem. (CAPRA, 1982)
Assim a psicologia foi evoluindo com essa nova concepção e uma nova
forma de abordagem. Os terapeutas familiares sistêmicos tradicionalmente
evitaram teorias da personalidade e construírem modelos de funcionamento
humano baseados nas relações das interações familiares
Então a família passou a ser vista como um sistema. Em acordo com
Minuchin (1990), a família é um grupo natural que através dos tempos tem
desenvolvido padrões de interação. Estes padrões constituem a estrutura familiar,
que por sua vez, governa o funcionamento dos membros da família, delineando
sua gama de comportamento e facilitando sua interação. Uma forma viável de
estrutura familiar é necessária para desempenhar suas tarefas essenciais e dar
apoio para a individuação ao mesmo tempo que provê um sentido de pertinência.
Assim, a principal função da família é fazer o indivíduo pertencer e ao
mesmo tempo ter capacidade de ser um ser em separado. Minuchin (1990) ainda
descreve a família de acordo com os diversos subsistemas.
O subsistema conjugal é formado pelos papéis de marido e esposa. Suas
funções são de refúgio para o estresse ocasionado pelo meio externo, são uma
matriz para contatos com outros sistemas sociais, favorece aprendizagem,
criatividade e crescimento, além da troca sexual. Neste subsistema deve haver
habilidade de complementariedade, de apoio mútuo e também de ser
12
individualmente para sempre retornar ao casal (novamente autonomia e
pertencimento). (MINUCHIN, 1990)
O subsistema parental é formado pelos papéis de pai e mãe e tem como
funções a nutrição, cuidados físicos, proteção e controle dos filhos. Os pais
ensinam aos filhos os limites, ensinam atividades produtivas e recreativas, além
de como se dão as relações familiares, tudo isso através da própria relação, suas
ações mostram como se faz. É importante que este subsistema tenha a habilidade
de diferenciar-se do subsistema conjugal, de desempenhar tarefas socializadoras
das crianças, adapte as exigências à idade dos filhos, permita acesso aos pais e
não ao casal e use de autoridade diante dos filhos. (MINUCHIN, 1990)
Os irmãos, em uma família, formam o subsistema fraternal, que tem as
funções da aprendizagem da competição, da negociação, cooperação, fazer
amigos e aliados, compartilhar, vivenciar a exclusão, ser reconhecido em suas
habilidades, lidar com críticas, entre outras. (MINUCHIN, 1990)
Carter e McGoldrick (1995) trazem a idéia de que os relacionamentos com
pais, irmãos e outros membros da família passam por estágios, na medida em que
a pessoa se move ao longo do ciclo de vida. Como um sistema movendo-se
através do tempo, a família possui propriedades diferentes de todos os outros
sistemas. Diferentemente de todas as outras organizações, as famílias incorporam
novos membros apenas pelo nascimento, adoção ou casamento, e os membros
podem ir embora somente pela morte, se é que então.
Duvall (1977, in CARTER e MCGOLDRICK, 1995) separou o ciclo de vida
familiar em oito estágios, todos referentes aos eventos nodais relacionados às
idas e vindas dos membros da família: casamento, o nascimento e a educação
dos filhos, a saída dos filhos do lar, aposentadoria e morte.
Para Carter e McGoldric (1995), existem muitas evidências de que os
estresses familiares, que costumam ocorrer nos pontos de transição do ciclo de
vida, freqüentemente criam rompimentos neste ciclo e produzem sintomas ou
disfunções. E também existem crescentes evidências de que os eventos de ciclo
de vida possuem um efeito continuado sobre o desenvolvimento familiar durante
13
longo período de tempo. Portanto é necessário rever o passado da família para
compreender o momento presente.
Aprofundando mais este conhecimento, consideramos o fluxo de ansiedade
em uma família como sendo tanto vertical quanto horizontal. O fluxo vertical em
um sistema inclui padrões de relacionamento e funcionamento que são
transmitidos para as gerações seguintes de uma família principalmente através do
mecanismo de triangulação emocional. Ele inclui todas as atitudes, tabus,
expectativas, rótulos e questões opressivas familiares com as quais nós
crescemos. Poderíamos dizer que esses aspectos de nossa vida são como a mão
que nos maneja: eles são dados. O que fazemos com eles é problema nosso.
(CARTER e MCGOLDRICK, 1995, p. 11)
O fluxo horizontal no sistema inclui a ansiedade produzida pelos estresses
na família conforme ela avança no tempo, lidando com as mudanças e transições
do ciclo de vida familiar. Isso inclui tanto os estresses desenvolvimentais
predizíveis quanto os eventos impredizíveis, “os golpes de um destino ultrajante”
que podem romper o processo de ciclo de vida. Dado um estresse suficiente no
eixo horizontal, qualquer família parecerá extremamente disfuncional. Mesmo um
pequeno estresse horizontal em uma família em que o eixo vertical apresenta um
estresse intenso irá criar um grande rompimento no sistema. (CARTER e
MCGOLDRICK, 1995, p.12)
As mesmas autoras supracitadas colocam que o estresse familiar é
geralmente maior nos pontos de transição de um estágio para o outro no processo
desenvolvimental familiar, e os sintomas tendem a aparecer mais quando há uma
interrupção ou deslocamento no ciclo de vida familiar em desdobramento. Muitas
vezes, é necessário dirigir os esforços terapêuticos para ajudar os membros da
família a se reorganizarem.
A compreensão do sintoma, para a psicologia sistêmica é principalmente de
um sintoma como algo útil e revelador. É a expressão das relações e serve a
algum propósito. Ele mantém a coesão do grupo às custas da perda da
individuação. Ele pode ser compreendido como um sinal de que algo não está
14
bem, e surge como um paradoxo, uma dupla função, pretendendo que nada
mude, mas para que algo seja feito para mudar.
Assim, Minuchin (1990) coloca a família como um sistema complexo,
diferenciado em subsistemas hierarquicamente organizados. Uma disfunção em
um subsistema pode ser expressada analogicamente em outro; em particular, a
organização dos membros da família em torno do sintoma é tomada para ser um
enunciado análogo de estruturas disfuncionais.
O paciente identificado é visto como o portador do sintoma para proteger a
família. Ao mesmo tempo, o sintoma é mantido por uma organização familiar na
qual seus membros ocupam hierarquias incongruentes. (MINUCHIN, 1990, p. 73)
O problema não é o paciente identificado, porém, certos padrões de
interação da família. As soluções que estas tem tentado são repetições
estereotipadas de transações ineficazes, que podem gerar somente afetos
extremados sem produzir mudança. O sintoma vem como uma solução protetora,
sendo que o portador do sintoma se sacrifica para defender a homeostase familiar.
O sintoma é uma reação de um organismo sob tensão. (MINUCHIN, 1990, p. 75)
A perspectiva do ciclo de vida familiar vê os sintomas e as disfunções em
relação ao funcionamento normal ao longo do tempo, e vê a terapia como
ajudando a restabelecer o momento desenvolvimental da família. Ela formula
problemas acerca do curso que a família seguiu em seu passado, sobre as tarefas
que está tentando dominar e do futuro para o qual está se dirigindo. A família é
mais do que a soma de suas partes. O ciclo de vida individual acontece dentro do
ciclo de vida familiar, que é o contexto primário de desenvolvimento humano.
Consideramos crucial esta perspectiva para o entendimento dos problemas
emocionais que as pessoas desenvolvem na medida em que se movimentam
juntas através da vida. (CARTER e MCGOLDRICK, 1995, p.08)
Segundo Carter e McGoldrick (1995), as famílias, caracteristicamente, não
possuem uma perspectiva temporal quando estão tendo problemas. Elas
geralmente tendem a magnificar o momento presente, esmagadas e imobilizadas
por seus sentimentos imediatos; ou elas passam a fixar-se num momento futuro
que temem ou pelo qual anseiam. Elas perdem a consciência de que a vida
15
significa um contínuo movimento desde o passado e para o futuro, com uma
continua transformação dos relacionamentos familiares.
Além de enfatizar a questão relacional da família, a abordagem sistêmica,
de acordo com as colocações de BREULIN, SCHWARTZ e KUNE-KARRER
(2000), considera também o individual, com o metaconceito dos Sistemas
Familiares Internos. Esse metaconceito tem destaque pois permite compreender
claramente os aspectos de cada membro da família envolvido nas interações
familiares problemáticas. Tal modelo baseia-se na visão da mente como uma
coleção de submentes ou subpersonalidades, cada uma delas operando com
relativa autonomia e cujas características, intenções e sentimentos são diferentes
das outras.
A abordagem sistêmica tem muito a contribuir com a psicologia, havendo
outros fatores bastante importantes para considerar. Mas o fundamental é
considerar, como Capra (1982), que o pensamento sistêmico é pensamento de
processo e, por conseguinte, a visão sistêmica encara a saúde em termos de um
processo contínuo. A concepção sistêmica de saúde baseia-se no pressuposto
que os organismos vivos são sistemas auto-organizadores que exibem alto grau
de estabilidade. Essa estabilidade é profundamente dinâmica e caracteriza-se por
flutuações contínuas, múltiplas e interdependentes. Para ser saudável, tal
organismo precisa ser flexível, dispor de um grande número de opções para
interação em seu meio ambiente.
16
3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O SUICÍDIO E TENTATIVAS DE
SUICÍDIO
Procurando compreender essa maneira de morrer e, mais especificamente,
as causas que levam um sujeito a terminar com sua vida, o suicídio tem sido
estudado e interpretado sob vários ângulos e múltiplos enfoques, tendo
possibilitado muitas discussões teóricas e gerado um número significativo de
publicações. (CUNHA, 2002, p. 196)
Segundo Werlang e Botega (2004), são consideradas suicídios apenas as
mortes em que o indivíduo, voluntária ou conscientemente, executou um ato ou
adotou um comportamento que ele acreditava que determinaria sua morte. Porém,
a voluntariedade do ato, do ponto de vista consciente e estrito não é tão claro. Na
verdade o suicida se defronta com um dilema: ele quer morrer e viver ao mesmo
tempo, e o resultado - morte ou sobrevivência - será determinado pela força
desses desejos e por circunstâncias como a intencionalidade do ato, o método
utilizado, a possibilidade de socorro, a resistência física e as condições de saúde
prévias.
Desta forma, a melhor definição para suicídio é “dano feito a si mesmo,
intencional e conscientemente, mesmo que de modo ambíguo e vago” (STEGEL,
1970 citado por WERLANG e BOTEGA, 2004, p.22).
Em Baptista (2004) está a definição de suicídio de acordo com a
Organização Mundial de Saúde: “ato deliberado, iniciado e levado a cabo por uma
pessoa com pleno conhecimento ou expectativa de um resultado fatal”. Já a
tentativa de suicídio pode ser considerada como um ato com um resultado não
fatal, no qual o indivíduo inicia um comportamento não habitual que, sem a
interação de outros, poderá causar prejuízo para si próprio. A tentativa de suicídio
também pode ocorrer quando o indivíduo ingere uma substância em excesso
(quando comparado com a prescrição) em tem consciência da conseqüência
desta ingestão.
Deve-se afirmar, antes de tudo, que o gesto suicida é, sobretudo, próprio do
ser humano, visto ser o único animal que em vida revela comportamentos
17
especiais em relação à sua própria morte e aos mortos. Não há nada mais
específico do ser humano que o suicídio, visto que apenas o ser humano é capaz
de refletir sobre sua própria existência e de tomar a decisão de prolongá-la ou de
dar-lhe fim. (MELEIRO, TENG, WANG, 2004)
Suicídio é um fenômeno multidimensional que ocorre no ser humano como
um evento individual e próprio da sua existência. Elementos biológicos,
psicológicos, lógicos, conscientes e inconscientes, interpessoais, sociológicos,
culturais, filosófico-existenciais coexistem neste evento.
A conceituação do suicídio é muito mais complicada do que um simples ato
intencional de autodestruição. Douglas (1967, in MELEIRO, TENG, WANG, 2004),
sustenta que as pesquisas devem focalizar os seguintes aspectos de suicídio: a
iniciação do ato que deflagrou a morte, o ato em si que levou à morte, o desejo ou
a intenção de autodestruição, a perda da vontade de viver, a motivação para estar
morto, a compreensão de que ato produzirá um fim. Assim, formular uma teoria
psicológica geral do suicídio é especialmente difícil, haja vista a complexidade
deste ato extremamente pessoal. (MELEIRO, TENG, WANG, 2004)
Tem sido muito difícil compreender as características pessoais dos sujeitos
que realmente cometem suicídio, por não serem passíveis nem de avaliação
direta, nem de tratamento de qualquer espécie. (CUNHA, 2002, p. 196). Porém, a
autora continua afirmando que, segundo a literatura, há uma possibilidade de
chegar à compreensão do suicídio através de exames retrospectivos. Esta análise
retrospectiva tem possibilitado identificar comunicações prévias da intenção de se
matar do falecido. Sabe-se assim, que 75% ou 90% dos casos comunicam
previamente a intenção suicida a familiares e amigos, o que demonstra que, num
significativo número de casos, o suicídio não é resultado de um ato repentino e
impulsivo, e sim, de um plano premeditado, desenvolvido gradativamente.
Tal método de pesquisa retrospectiva chama-se autópsia psicológica, e
permite compreender os aspectos psicológicos de uma morte específica,
esclarecendo o modo da morte, refletindo a intenção letal ou não do falecido.
(CUNHA, 2002, p. 197)
18
Assim, entendendo o suicídio como o ato de se matar intencionalmente e a
autópsia psicológica como uma forma de avaliar, após a morte, o que estava na
mente da pessoa antes da morte, pode-se conceitualizar a autópsia psicológica
como um tipo de estratégia de avaliação retrospectiva, que tem como finalidade
reconstruir a biografia da pessoa falecida por meio de entrevistas com terceiros e
da análise de documentos. (CUNHA, 2002, p. 197)
De acordo com esses estudos, a motivação poderá ser compreendida pela
identificação das razões psicológicas para morrer, enraizadas na conduta, no
pensamento, no estilo de vida e na personalidade como um todo. A avaliação do
grau de lucidez, ou seja, do papel consciente do próprio indivíduo, no
planejamento, na preparação e na objetivação da ação autodestrutiva,
estabelecerá a intenção do sujeito. (CUNHA, 2002, p. 198)
O grau de letalidade será medido através da identificação da escolha do
método. Os precipitadores e/ou estressores são os fatos ou circunstâncias que
acionariam o último empurrão para o suicídio.
Outros estudos vem sendo desenvolvidos na área, sendo que um dos
principais é o estudo de sobreviventes de suicídios (atos não fatais), que tem sido
uma grande proposta para aprofundar conhecimentos acerca do tema. (MELEIRO,
TENG, WANG, 2004)
O que é importante considerar é que na verdade, a mente do suicida não é
diferente da mente de qualquer pessoa: apenas alguns mecanismos se tornaram
mais intensos, ou interagem entre si de forma tal que causa um sofrimento que
pode ser sentido como insuportável. (CASSORLA, 2005, p. 9-10)
Todas as pessoas, durante a vida, têm períodos que julgam difíceis e
algumas pessoas passam por períodos relatados como insuportáveis. É
importante citar que os problemas de cada um são diferentes e específicos, e a
maneira como cada um avalia e interpreta tais eventos é fundamental para
explicar o que se chama de crise. (BAPTISTA, 2004, p. 4). Segundo Reinecke
(1995, in BAPTISTA, 2004), o suicídio é, por si só, caracterizado e conseqüência
de uma situação de crise.
19
Muitas pessoas têm um potencial para tornar-se suicida quando
confrontadas com uma situação que produz dor emocional e acredita ser incapaz,
interminável e intolerável. Quando a pessoa acredita que não é forte suficiente
para resolver o problema, torna-se incapaz. Quando não há expectativa de que a
situação mudará se ele próprio de maneira nenhuma resolver, o problema tornarse-á interminável. Quando o indivíduo não pode tolerar a dor emocional que a
situação está produzindo, o problema é intolerável. (MELEIRO, TENG, WANG,
2004, p. 31).
Aguilera (1993, in BAPTISTA, 2004), define crise psicológica como a
inabilidade individual de resolver os problemas, associada a um estado de
desequilíbrio emocional, geralmente proporcionado por grandes mudanças, que
podem ser inclusive positivas. O indivíduo encara os problemas como impossíveis
de serem resolvidos, mesmo utilizando as estratégias de resolução de problemas
do passado, que foram eficazes em resolver outros confrontos em situações
anteriores, mas não são eficazes com a situação atual. O resultado deste impasse
é, geralmente, o aumento de ansiedade e o aumento da percepção de
insolubilidade do problema. Quando a situação estressante e a interpretação
anterior permanecem, o indivíduo tende a experimentar desamparo e tristeza, que
o impedem de pensar de formas alternativas ou de tomar atitudes que modifiquem
o curso da situação.
Seguindo Meleiro Teng e Wang (2004), há dois protótipos desta situação. A
primeira é por circunstância externa, a qual a presença é muito natural às pessoas
que passam por mudanças pessoais: perder o trabalho, bancarrota da empresa, a
morte da esposa ou filhos, etc; a pessoa se vê diante de problemas negativos. A
segunda é mais pervasiva e ocorre quando a pessoa necessita de habilidades
específicas para endereçar a demanda da situação que não é irresistível, mas
quando combinada com as habilidades pessoais deficientes, torna-se um desafio
maior. Esse tipo de situação pode estar impedindo uma separação conjugal, ação
disciplinar sobre o trabalho, subemprego crônico ou conflito familiar.
Por uma razão ou outra, a pessoa não está resolvendo bem esses
problemas particulares. Há uma propensão de ação para solução através do
20
suicídio. Segundo Meleiro, Teng e Wang (2004), a pessoa quase sempre olha
para o suicídio como uma opção no vácuo da solução. Em outras palavras, a
pessoa suicida acredita verdadeiramente que todas as outras razões para resolver
o problema têm sido tentadas e falhadas. Como estas opções são removidas da
lista de probabilidades, novas opções tornam-se mais e mais extremas,
particularmente se há uma idéia de grande dor emocional associada com o
problema. Importante ressaltar que estes indivíduos gostariam de ver outras
opções, mas suas condições emocionais não permitem.
Diversos fatores internos (características psicológicas e de saúde) e
externos (características do problema) acabam por afetar o processo de resolução
dos problemas, como por exemplo, a experiência passada relacionada ao
problema atual, o quanto o indivíduo teve sucesso em resolver problemas em sua
vida, o tipo de informação disponível no momento, o quanto que o problema
afetará a vida do indivíduo e de pessoas a sua volta, a capacidade em avaliar o
problema de diversos ângulos, a capacidade em separar pontos relevantes e
irrelevantes do problema, como o problema é proposto, a motivação em resolver a
situação, as características culturais e do rol social a que pertence o individuo, as
regras religiosas e morais, o tipo de suporte familiar e social, dentre outros.
(AGUILERA, 1993 e WEITEN, 2002 in BAPTISTA, 2004, p.4)
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2000), as pessoas que pensam
em suicídio em geral falam sobre isso. Entretanto, existem alguns sinais que se
pode procurar na história de vida e no comportamento das pessoas. Esses sinais
indicam que determinada pessoa tem risco para o comportamento suicida.
Observa-se que os principais sinais são o comportamento retraído, inabilidade
para se relacionar com a família e amigos, pouca rede social. Outros sinais
observáveis são doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança
na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança no
hábito alimentar ou de sono, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de
culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, uma perda recente importante
(morte, divórcio, separação, etc.), história familiar de suicídio, desejo súbito de
concluir os fazeres, organizar documentos, escrever um testamento, sentimentos
21
de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doença física crônica,
limitante ou dolorosa, menção repetida de morte ou suicídio.
Em 2006, a OMS revelou alguns fatores de risco para o suicídio. Os
principais são transtornos mentais, fatores sociodemográficos, fatores psicológicos
e condições clínicas incapacitantes.
As questões sociodemográficas apontam para fatores de risco como: ser do
sexo masculino, faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos, estratos
econômicos
extremos,
residentes
em
áreas
urbanas,
desempregados
(principalmente perda recente do emprego), aposentados, isolamento social,
solteiros ou separados e migrantes.
Já a respeito das condições clínicas incapacitantes, observa-se maior risco
de suicídio em pacientes com doenças graves orgânicas, com dor crônica, lesões
desfigurantes perenes, epilepsia, trauma medular, neoplasias malignas e aids.
Estudos em diferentes regiões do mundo têm mostrado que, na quase
totalidade dos suicídios, os indivíduos estavam padecendo de um transtorno
mental. (OMS, 2006)
Segundo a OMS, aproximadamente 10% dos indivíduos que possuem
esquizofrenia falecem por suicídio. Os momentos de maior risco para estes
pacientes são no momento intercrise, quando percebe e não elabora todas as
limitações e os prejuízos que a doença acarretou à sua vida; durante a crise,
quando segue vozes de comando que mandam se matar e no período logo após a
alta de uma internação psiquiátrica.
Outro transtorno mental muito associado ao suicídio é a depressão. Entre
os gravemente deprimidos, 15% se suicidam. É muito comum que a pessoa que
inicia o tratamento medicamentoso da depressão sinta uma pequena melhora e
sua volição seja direcionada ao ato suicida, normalmente com a própria
medicação.
Há ainda o transtorno afetivo bipolar associado ao risco de suicídio
especialmente nas fases de depressão e nos casos de ciclagem rápida.
22
Por fim, a dependência ou uso nocivo de álcool e outras drogas também é
bastante associada ao comportamento suicida. O álcool e outras drogas
aumentam a impulsividade, e esse é o grande risco para o suicídio.
Os transtornos de personalidade têm, segundo Kurt Schneider citado pela
OMS (2006), o elemento central que é: o individuo sofre e faz sofrer a sociedade e
não aprende com as experiências. Embora, de modo geral, produzam
conseqüências muito penosas para a própria pessoa, familiares e pessoas
próximas, não é facilmente modificável por meio de experiências da vida.
Para estes pacientes, a adaptação ao estresse ou aos problemas mais
sérios torna-se crítica. As defesas psicológicas usadas são consideradas mais
primitivas, geradoras de problemas. Geralmente há maior risco de comportamento
suicida pessoas com transtorno de personalidade borderline, narcisista e antisocial.
De acordo com Dalgalarrondo (2000), a personalidade borderline
caracteriza-se por relações pessoais muito instáveis, atos autolesivos repetitivos,
humor muito instável, impulso explosivo, sentimentos intensos de vazio,
transtornos de identidade. A personalidade narcisista é aquela que quer
reconhecimento como especial ou único, considera-se superior, fantasia grande
sucesso pessoal, requer admiração exclusiva e é freqüentemente arrogante. Já a
personalidade anti-social tem características de frieza, insensibilidade e sem
compaixão, é irresponsável e inconseqüente, não sente culpa ou remorso, é
agressivo e cruel, mente de forma recorrente e aproveita-se dos outros.
Em se tratando de aspectos psicológicos do comportamento suicida, a OMS
coloca que fatores de risco são perdas recentes, perdas de figuras parentais na
infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, reações de aniversário,
personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade, humor
lábil.
Existem estágios no desenvolvimento da intenção suicida, iniciando-se
geralmente
com
a
imaginação
ou
a
contemplação
da
idéia
suicida.
Posteriormente, um plano de como se matar, que pode ser implementado por
meio de ensaios realísticos ou imaginários até, finalmente culminar em uma ação
23
destrutiva concreta. Contudo, não se pode esquecer que o resultado de um ato
suicida depende de uma multiplicidade de variáveis que nem sempre envolve um
planejamento. (OMS, 2006, p. 53)
Continuando com as proposições da Organização Mundial da Saúde,
existem três características próprias do estado em que se encontra a maioria das
pessoas sob risco de suicídio. A primeira delas é a ambivalência, que é uma
atitude interna característica das pessoas que pensam ou que tentam suicídio.
Quase sempre querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. O
predomínio do desejo de vida sobre o desejo de morte é o fator que possibilita a
prevenção do suicídio. Muitas pessoas em risco de suicídio estão com problemas
em suas vidas e ficam nesta luta interna entre os desejos de viver e de acabar
com a dor psíquica.
Outra característica bastante típica é a impulsividade, sendo que o suicídio
pode ser também um ato impulsivo. Como qualquer outro impulso, o impulso de
cometer suicídio pode ser transitório e durar alguns minutos ou horas.
Normalmente, é desencadeado por eventos negativos do cotidiano.
Por fim pessoas com risco de suicídio apresentam certa rigidez ou
constrição, que é um estado cognitivo em que a consciência da pessoa passa a
funcionar de forma dicotômica: tudo ou nada. Os pensamentos, os sentimentos e
as ações estão constritos, quer dizer, constantemente pensam sobre suicídio
como única solução e não são capazes de perceber outras maneiras de sair do
problema.
A OMS e seus pesquisadores afirmam que a maioria das pessoas com
idéias de morte comunica seus pensamentos e intenções suicidas. Elas,
freqüentemente, dão sinais e fazem comentário sobre querer morrer, de
sentimento de não valer de nada e assim por diante. Esses pedidos de ajuda não
podem ser ignorados.
De acordo com Cassorla (1991), o ato suicida tem várias funções, que vão
depender de cada indivíduo e situação. De uma forma geral, o suicida está
tentando fugir de uma situação de sofrimento que chega às raias do insuportável.
24
Este sofrimento é, geralmente, indescritível, sendo uma angústia imensa somada
à desesperança.
Baptista (2004) coloca subtipos de motivações para o suicídio, sendo
separados em: suicídio desesperado, psicótico, racional e histriônico ou
compulsivo.
O suicídio desesperado se caracteriza pela intolerabilidade e falta de
esperança que a situação oferece ao indivíduo, sendo a fuga da situação a
maneira avaliada como mais adequada para resolver problemas. Geralmente,
nesses casos, a decisão é ambivalente, porém, a percepção de desesperança,
impotência, a crença de que nada podem fazer diante da situação, além da
percepção de um futuro sem esperança e pior do que o presente, acabam
favorecendo o desfecho. (BAPTISTA, 2004, p 7)
Os suicidas psicóticos seriam pacientes que experimentam alucinações,
como por exemplo, esquizofrênicos, e a recorrência dos episódios, a
desmoralização a que são submetidos socialmente e a própria cronicidade da
doença, gerando pessimismo e baixa percepção de auto-eficácia, seriam os
principais fatores na execução do ato. (BAPTISTA, 2004, p 7)
Os suicidas racionais geralmente sofrem de doença terminal ou
progressiva, e a necessidade de alívio de sintomas físicos e incapacitação seriam
os principais motivadores deste grupo de indivíduos, também associados a
sintomas depressivos, conseqüência do estado de saúde. (BAPTISTA, 2004, p 7)
Por fim, o tipo histriônico, compulsivo ou manipulador que teria como
motivador o desejo de atenção ou vingança, ao contrário do alívio da situação,
desespero ou pessimismo, presente nos grupos anteriores. Neste sentido, por se
constituir um ato compulsivo, os profissionais de saúde, familiares e amigos não
devem deixar de dar atenção, pois há a possibilidade do desfecho. As pessoas
que pedem atenção constantemente, consideradas histriônicas, podem realmente
chegar a se suicidar. (BAPTISTA, 2004, p 7)
É importante considerar uma proposta: o suicida não quer morrer. Na
verdade, seu objetivo é fugir do sofrimento e substituí-lo por uma “vida” após a
morte, prazerosa, e isto independe de crença religiosa. (WERLANG e BOTEGA,
25
2004). Cassorla (1991) vai ao encontro desta idéia colocando que a tortura que
vive o suicida é principalmente interna, vem de dentro da mente do indivíduo e tem
a ver com a imensidão de fatores que compõe a subjetividade humana. O autor
afirma que o suicida não quer morrer, na verdade ele nem sabe o que é a morte.
O que ele deseja é fugir do sofrimento. As fantasias inconscientes são o desejo do
encontro de uma vida cheia de paz, sem sofrimento e vingança dos que ficam e
vão sofrer com sua morte.
Meleiro, Teng e Wang (2004) citam Kreitman e cols. (1970) que
recomendaram o emprego do termo parassuicídio para referir a qualquer ato
deliberado que resulta em autolesão e com desfecho não fatal, banindo a noção
de intenção de morte de suas definições. Thompson e Bhugra (2000), citados
pelos mesmos autores supracitados, colocam o parassuicídio como equivalente à
tentativa de suicídio, englobando comportamentos que variam desde autolesão
sem intenção suicida até sérias tentativas de se matar.
Segundo a Classificação Internacional das Doenças, versão número 10
(CID 10), citada por Thompson e Bhugra (2000), o parassuicídio é definido como
um ato de evolução não fatal no qual o indivíduo inicia deliberadamente um
comportamento não habitual, que sem intervenções causaria uma autolesão ou
ingesta deliberada e excessiva de substâncias. Esse ato tem como objetivo
promover mudanças que o sujeito deseja. (MELEIRO, TENG, WANG, 2004, p.
21).
Continuando com os mesmos autores acima, Ayd (1995), definiu a tentativa
de suicídio como qualquer ato com ameaça à vida que requer atenção médica e
foi cometido com a intenção consciente de terminar com a própria vida.
Representa uma ação potencialmente letal, mas não bem-sucedida. É fator de
risco para suicídio completo e indicador de problemas de saúde bio-psico-social.
Englobam atitudes e comportamentos variados, desde os atos mais simples de
auto-agressão e que não necessitam de atenção médica até atitudes mais graves
que requerem hospitalização.
Avaliar o grau de gravidade de uma tentativa de suicídio é uma tarefa difícil,
pois são atos intencionais de auto-agressão que não resultam em morte, desde
26
atos discretos e velados de ameaça à própria vida, alguns deles talvez com o
objetivo de ganhar atenção, até situações graves que necessitam de atendimento
médico-hospitalar. Muitas vezes o componente manipulativo é predominante e a
intenção suicida é quase nula. (MELEIRO, TENG, WANG, 2004, p. 22)
Cassorla (2005) esclarece sobre o componente agressivo contra o
ambiente que aparece intensamente em tentativas de suicídio ou em suicídios
efetivos. Trata-se de uma necessidade de vingança, de causar sofrimento nos
outros, em revide por algo real ou suposto.
É comum ao ser humano, fantasiar a reação dos vivos à sua morte e essa
fantasia implica mais vida do que morte: na verdade, a fantasia é que a pessoa
morta pode “ver” a reação dos vivos, pode “perceber” os sentimentos de tristeza,
remorso, culpa dos sobreviventes, como se ela ainda estivesse viva. Em verdade,
esta “visualização” predomina e submerge, domina quase que totalmente a noção
de realidade da morte, de finitude. O suicida elimina sua vida e paga com o prazer
de tornar “real” sua fantasia de vingança, de causar sofrimento aos outros (ainda
que não tenha consciência disso), mas, nessa fantasia, ele como que permanece
vivo. (CASSORLA, 2005, p. 34-35).
Esse prazer de imaginar como será a reação dos outros à própria morte se
acentua em momentos de frustração, impotência e raiva. Como já foi citado, o
suicida não deseja a morte, mas sim uma nova vida, em que a pessoa se sinta
querida e importante. Quase todas as pessoas são transformadas em
maravilhosas após sua morte, como se os sobreviventes receassem uma
vingança dos mortos. Muitas vezes os elogios são proporcionais à culpa sentida
por sentimentos negativos em relação ao morto e pelo alívio proporcionado pela
sua morte. O autor coloca que o final fantasiado, se fosse possível, é que aquelas
pessoas de quem se imagina que vieram os maus-tratos se sintam culpadas e
com remorso; então, o suicida como que ressucitaria, todos se desculpariam e a
vida continuaria, num final feliz. (CASSORLA, 2005, p. 36 ).
Cassorla (2005) coloca que é evidente que isso não ocorre, mas poderia
ser possível, quando se trata de ameaças ou tentativas de suicídio em que o
indivíduo sobrevive. No entanto, a reação do ambiente é bem mais complexa. Na
27
experiência relatada pelo autor, raramente a tentativa de suicídio tem, em si,
capacidade de modificar muita coisa. O ambiente e a relação indivíduo-ambiente
estão comumente estruturados de forma tal que as reações serão apenas
imediatas, em pouco tempo voltando ao esquema anterior. Em algumas ocasiões,
portanto, o sentimento de culpa é mobilizado intensamente, e o suicida em
potencial pode manipular e controlar os outros, ameaçando nova tentativa de
suicídio. Neste caso, ocorre apenas uma mudança de forças, uma troca de poder,
com a estrutura ambiental continuando perturbada, atingindo todos os membros
da família.
Cada suicídio é um evento único, idiossincrático e particular. É impossível
afirmar algo universal, absoluto sobre o suicídio, tampouco o funcionamento dos
indivíduos que o cometem. O melhor que se pode alcançar é discutir quais são as
características mais freqüentes e comuns destes indivíduos. Segundo Shneidman
(1986, in MELEIRO, TENG, WANG, 2004), os dez lugares comuns de suicídio
são: 1) o propósito comum do suicídio é encontrar uma solução. 2) o objetivo
comum do suicídio é cessar a consciência. 3) o estímulo comum do suicídio é dor
psicológica intolerável. 4) as necessidades psicológicas frustradas são o estressor
comum do suicídio. 5) a emoção comum do suicídio é desesperança e
desamparo. 6) a atitude interna comum do suicídio é a ambivalência. 7) o estado
cognitivo comum do suicídio é a constrição. 8) a ação comum do suicídio é o
escape. 9) o ato interpessoal comum do suicídio é a comunicação de sua
intenção. 10) a consistência comum do suicídio é com o padrão de enfrentamento
da vida.
28
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A MORTE
Talvez por envolver diretamente a morte, o suicídio ainda seja tão
repudiado na sociedade. Aparentemente nenhum ser humano está preparado para
aceitar a morte, muito menos quando se trata da própria morte deliberada por
alguém. Suicídio, traduzindo a palavra é morte de si mesmo. Cassorla (2005)
coloca que é a morte que alguém provoca a si mesmo, de uma forma deliberada,
intencional, isto é, os suicídios conscientes. Se o suicida consciente está
realmente procurando a morte, o que é a morte para o suicida?
Se indagarmos a um grupo de pessoas o que elas acreditam que ocorra
após a morte, teremos respostas contaminadas por mecanismos emocionais, e
comumente intelectualizadas. O que o indivíduo responderá pode ser o que ele
deseja ou uma teoria racional. (CASSORLA, 2005, p.28)
Não se tem uma resposta clara para tal questionamento. “Não podemos
representar imaginativamente a nossa morte, como também não temos
experiência da morte real e do que se passa após a morte, quer se trate da nossa
morte ou da de outros.” (MARANHÃO, 1990, p.66)
Na verdade, as idéias ou sentimentos do nada após a morte, um nada que
não se contrapõe à coisa alguma, pois não existe conhecimento (nem de algo e
nem do nada), mal podem ser imaginados, menos ainda descritos. Podemos
apenas supor algo, como uma não vida, também indescritível. A investigação da
fantasia inconsciente mostra, em quase todos, o desejo de uma vida pós-morte.
(CASSORLA, 2005, p. 29)
Para todos, a morte é um fenômeno desconhecido e segundo Cassorla
(2005), a angústia diante do desconhecido, do incontrolável, é tão intensa que, se
não utilizarmos mecanismos que nos consolem ou que nos proporcionem a
fantasia de controle, poderemos até enlouquecer. A maioria dos seres humanos
vive como se fosse imortal.
Para Kübler-Ross (2000), quando retrocedemos no tempo e estudamos
culturas e povos antigos, temos a impressão de que o homem sempre abominou a
morte e, provavelmente, sempre a repelirá. Do ponto de vista psiquiátrico, isto é
29
bastante compreensível e talvez explique melhor pela noção básica de que em
nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. É
inconcebível para nosso inconsciente imaginar um fim real para nossa vida na
terra e, se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção
maligna fora do nosso alcance.
Kovácz (1992), traz uma visão histórica da morte na sociedade desde a
época medieval. Explica que idade média, o homem passou a se preocupar com o
que vem depois de sua morte, temendo pelo seu destino. Surgiram, assim, ritos e
absolvições como busca de garantias para o além. Dessa forma, pode-se dizer
que a sociedade se organiza na morte, pois, para a espécie humana, a morte está
presente durante toda vida e se faz acompanhar de ritos. A religião, por exemplo,
tem o papel de socializar e dirigir os ritos da morte, como forma de lidar com o
“terror”.
A mesma autora coloca que os corpos dos mortos passam a ser
escondidos em túmulos e caixões, pois é insuportável vê-los em apodrecimento,
além de funcionar como forma de conservar viva a imagem do morto, constituindo
uma forma de negação da morte. Rituais e cerimônias, como os velórios, surgiram
para atrasar o enterro, por causa do medo da catalepsia. Além disso, o uso da cor
preta no luto é uma manifestação da tristeza e ocorrência de uma perda, e teve
início no temor pelos mortos, por medo que o fantasma do morto viesse levar os
vivos para a morte, usavam o preto como disfarce, sentindo-se protegidos.
A morte, no século XIX, é a morte romântica. A morte passa a ser desejada.
É uma morte bela, de sublime repouso, que representa a possibilidade de
reencontro no além de todos os que se amavam. O século XIX marca, também, o
surgimento do espiritismo. O medo predominante, neste período, relaciona-se com
as almas do outro mundo, que vêm molestar os vivos e com isso são criados
vários rituais para afastar esses seres. (KOVÁCZ, 1992)
O século XX traz a morte que se esconde, a morte vergonhosa. Neste
século há uma supressão do luto, escondendo-se a manifestação ou até mesmo a
vivência da dor. Numa sociedade de classes não se permite que se estabeleça
uma consciência igualitária da morte. Também não há igualdade ao se considerar
30
que a morte se adianta ou se atrasa segundo relógios que se chamam sociais,
econômicas e políticas.
A sociedade ocidental está cada vez mais tornando o homem inconsciente
e privado de sua própria morte. A arte de morrer é pouco conhecida e raramente
praticada. Já no oriente, há orientações seguras para o momento da morte e o
pós-morte. A morte é uma iniciação numa outra forma de vida, um estado de
transmissão e evolução. Sendo assim, é correto afirmar que todas as
representações de morte estão imersas num contexto cultural.
Maranhão (1990) retoma algumas considerações filosóficas sobre a morte.
As considerações de Martin Heidegger sobre a morte são de uma morte humana
como um caminho para a descoberta do ser. A morte pertence à própria estrutura
essencial da existência. Ela não é um acidente, não vem de fora. A existência
humana é um ser-para-a-morte. Assim que um homem começa a viver, tem idade
suficiente para morrer. Não caímos de repente na morte, porém caminhamos para
ela passo a passo: morremos a cada dia. A única maneira de o homem se realizar
autenticamente, assumindo a responsabilidade da própria vida, é enfrentar fria e
corajosamente a sua finitude e contingência, isto é, a sua inevitável morte.
Conhecer e assumir esta radical caducidade constitui a suprema libertação.
Segundo Heidegger, cada homem tem que morrer a sua própria morte. É a única
coisa que ninguém pode fazer no lugar do outro.
Para Jean-Paul Sartre, a morte revela o caráter absurdo da existência
humana, já que interrompe radical e violentamente todo o projeto existencial, toda
a liberdade pessoal, todo o significado da vida.
Kübler-Ross (2000), coloca que há muitas razões para se fugir de encarar a
morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste
demais sob vários aspectos, sobretudo é muito solitário, muito mecânico e
desumano.
Para Kovácz (1992), a consciência da própria morte é uma importante
conquista constitutiva. O homem é o único ser consciente de sua finitude, e por
isso, está sempre buscando a imortalidade. A pressão que a morte faz sobre a
vida causa mecanismos de defesa, que muitas vezes impedem que o indivíduo
31
viva, o que pode equivaler a morrer. Maranhão (1990) complementa, afirmando
que ao tomar consciência da possibilidade imediata de sua própria morte, o
homem é levado a rever as prioridades e os valores de sua existência,
relativizando o que até então era considerado absoluto.
Em acordo com Cunha (2002), o mundo em que vivemos está voltado para
o progresso e para a produtividade. Neste contexto, a morte por suicídio
estabelece um contra-senso, um paradoxo. É algo que choca e impressiona mais,
porque coloca em evidência uma situação psicológica mais difícil de se aceitar –
que é o fato de o indivíduo optar livremente pela sua própria morte. Constitui-se
assim um dos fenômenos mais intrigantes, para psicólogos e psiquiatras,
demonstrando certamente, que ainda “um dos maiores enigmas continua sendo a
relação do homem com sua vida e, conseqüentemente, com sua morte, já que
começamos a nos convencer de que a morte é parte da vida, e a maneira de
morrer é parte integral da maneira de viver de um indivíduo.” Farberow e
Shneidman (1969 in CUNHA, 2002, p. 196)
32
5. COMPORTAMENTO SUICIDA, UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2006), o comportamento
suicida vem ganhando impulso em termos numéricos e, principalmente, de
impacto. O número de mortes por suicídio, em termos globais, para o ano de 2003
girou em torno de 900 mil pessoas. Em 2000, este número ficou próximo de um
milhão. A OMS também contabilizou que 1,4% do ônus global ocasionado por
doenças no ano 2002 foi devido a tentativas de suicídio, e estima-se que chegará
a 2,4% em 2020.
O Brasil, apesar de se enquadrar no grupo de países com taxas baixas de
suicídio, tem números variantes entre 3,9 a 4,5 para cada 100 mil habitantes ao
ano, entre 1994 e 2004. No entanto, como se trata de um país populoso, está
entre os dez países com maiores números absolutos de suicídio, que chegou a
7987 casos em 2004. (OMS, 2006).
Alguns estados brasileiros apresentam taxas de suicídio comparáveis aos
países apontados com de freqüência média a elevada. A região sul apresenta a
maior taxa de suicídio no ano 2004, e o estado do Paraná está em segundo
colocado, com 6,75 suicídios por 100 mil habitantes, sendo superado apenas pelo
Rio Grande do Sul, com taxa de 9,88, a maior de todo o país. (OMS, 2006)
Segundo um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba em 2006, a cidade apresenta uma aparente tendência de aumento nos
últimos dois anos de mortes por suicídio, enquanto outras capitais nacionais
mostram tendência à redução deste índice ou pouca variação.
Desta forma, toma a atenção de profissionais envolvidos estudos sobre este
tema, englobando fatores como o que leva uma pessoa ao suicídio e que sinais
ela apresenta antes de cometer o ato, o que poderiam sugerir uma intervenção no
sentido de vir a evitá-lo, e ações que poderiam ser tomadas como preventivas.
Todos estes dados tornam o suicídio uma grande questão de Saúde
Pública em todos os países. No Brasil, o Ministério da Saúde, através das
Coordenações de Saúde Mental vem construindo a Estratégia Nacional de
Prevenção do Suicídio. Esta proposta visa reduzir as taxas de suicídios e
33
tentativas e os danos associados com os comportamentos suicidas, assim como o
impacto traumático do suicídio na família, entre companheiros e nas instituições.
A proposta da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio tem como
princípio geral a compreensão de que o suicídio é uma questão de saúde pública,
afeta sociedade e pode ser prevenido. Os principais eixos desta proposta são
informar e sensibilizar a sociedade de que o suicídio é um problema que pode ser
prevenido, dar maior visibilidade ao problema, implementar treinamento para o
reconhecimento de comportamento de alto-risco e promover tratamentos efetivos,
apoiar tecnicamente a implantação de Programas ou Planos regionais com ênfase
na organização dos serviços de atenção, promover e apoiar estudos e pesquisas
em suicídio e sua prevenção, promover esforços para reduzir o acesso aos meios
letais e métodos auto-destrutivos e apoiar as iniciativas de regulação dos meios,
apoiar as organizações da sociedade que vem trabalhando na área de prevenção
do suicídio e melhorar os sistemas de informações de suicídios e tentativas.
Em geral, é preciso sensibilizar equipes de saúde e familiares quanto às
questões do suicídio para ser possível uma prevenção. É necessário o
envolvimento de toda a sociedade. Para tal, é preciso destruir alguns mitos a
respeito do suicídio e das tentativas de suicídio, como por exemplo “pessoas que
ficam ameaçando suicídio não se matam”, “quem quer se matar, se mata mesmo”,
“suicídios ocorrem sem avisos”, “melhora após a crise significa que o risco de
suicídio acabou”, “nem todos os suicídios podem ser prevenidos”, “uma vez
suicida, sempre suicida”. De acordo com a OMS (2000), a maioria das pessoas
que se matam deu avisos de sua intenção, e a grande parte dá ampla indicação
de sua intenção. Também a maioria dos que pensam em se matar tem
sentimentos ambivalentes, e mesmo após a crise, pensamentos suicidas podem
retornar, mesmo não sendo permanentes.
Em termos bastante gerais, a OMS preconiza alguns sinais de alerta para
identificar na história de vida e no comportamento das pessoas, como por
exemplo, comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e
amigos, pouca rede social. Outros sinais observáveis são doença psiquiátrica,
alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade,
34
pessimismo, depressão ou apatia, mudança no hábito alimentar ou de sono,
tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor
ou com vergonha, uma perda recente importante (morte, divórcio, separação,
etc.), história familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os fazeres, organizar
documentos, escrever um testamento, sentimentos de solidão, impotência,
desesperança, cartas de despedida, doença física crônica, limitante ou dolorosa,
menção repetida de morte ou suicídio.
Quando se afirma que um tema refere-se à Saúde Pública sugere-se o
evidente crescimento em número de casos, tornando-se um risco de epidemia. É
assim que casos de comportamento suicida vêm sendo abordados e estudados
atualmente. Porém, não se pode esquecer que se tratam de casos que envolvem
profundamente a subjetividade do indivíduo e portanto é fundamental que cada
caso seja sempre considerado em particular.
35
6. A PESQUISA
A pesquisa realizada para a elaboração do presente trabalho teve como
objetivo geral levantar o significado que a tentativa de suicídio por intoxicação
medicamentosa obtém na vida do indivíduo que a cometeu. Os objetivos
específicos da pesquisa consistem em verificar a ocorrência de mudanças na vida
do indivíduo após a tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa,
identificar comportamentos que precedem uma tentativa de suicídio por
intoxicação medicamentosa, relacionar os comportamentos precedentes à
tentativa de suicídio como a sinalização da necessidade de mudanças.
Para que tais objetivos fossem alcançados, a pesquisa adotou o método
descritivo, utilizando-se do estudo de caso. A princípio, conforme Projeto de
Pesquisa, cinco mulheres entre 20 e 30 anos seriam as participantes, mas isto não
foi possível devido à indisponibilidade de algumas participantes que atenderiam a
este critério e também ao curto tempo designado para a coleta de dados. Foram
então, selecionadas quatro mulheres, entre 25 e 45 anos, que cometeram uma
tentativa de suicídio há no máximo dois anos. Estas mulheres foram selecionadas
através de uma notificação de intoxicações medicamentosas realizada pela
Secretaria Municipal da Saúde, onde trabalha a pesquisadora. A pesquisa foi
realizada no município de Curitiba, sendo que a aplicação dos instrumentos foi
feita individualmente na própria residência das participantes, através de visitas
domiciliares, prática comum no trabalho da pesquisadora.
Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados necessários à pesquisa
foram a Carta de Consentimento Esclarecido, o Inventário de Ideação Suicida de
Beck (BSI), o Inventário de Desesperança de Beck (BHS) e entrevista clínica
semi-estruturada. Todos constam em anexo a este documento.
O acesso à população participante da pesquisa foi através das Unidades
Municipais de Saúde onde trabalha a pesquisadora, que recebem uma notificação
da Secretaria Municipal da Saúde sobre atendimentos prestados a pacientes que
sofreram intoxicação medicamentosa. A pesquisadora, como funcionária de tal
Secretaria, teve livre acesso a estas notificações e aos pacientes notificados,
36
inclusive fazendo parte de sua função realizar avaliação psicológica e
encaminhamentos a estes pacientes. Desta forma, após recebimento de tal
notificação, foi realizada uma triagem, verificando a intenção suicida da
intoxicação medicamentosa. Entre os casos de confirmação de ideação suicida
ligada à ocasião da intoxicação medicamentosa, foram escolhidas aleatoriamente
as participantes, respeitando apenas os critérios da pesquisa em relação ao sexo,
idade e tempo da última tentativa de suicídio. As participantes foram convidadas a
participar da pesquisa e assinaram um termo de consentimento esclarecido,
autorizando sua realização.
De início, foram aplicadas as Escalas de Beck, sendo primeiramente a
Escala de Ideação Suicida (BSI). Caso a participante revelasse um resultado
positivo neste instrumento, a pesquisadora interromperia imediatamente a coleta
de dados de modo que recebesse imediato encaminhamento para tratamento
psicológico ou psiquiátrico. Ressalta-se que esta interrupção se faz necessária à
pesquisa devido ao objetivo desta, que consiste em confirmar se houve mudança
após a tentativa de suicídio, sendo que se a ideação suicida permanece, constatase que os sentimentos negativos e necessidade de mudança permanecem, e o
risco de morte é intenso.
Em nenhum dos casos foi necessária a interrupção da pesquisa, mesmo
naqueles em que o escore foi relativamente alto, pois o próprio manual do
instrumento utilizado indica uma investigação clínica mais profunda para confirmar
estes dados. Nesta investigação mais aprofundada foi possível avaliar que a
pesquisa poderia continuar. O manual das escalas de Beck também afirma que “a
identificação da mera presença de ideação suicida não revela o grau de
intencionalidade, mas envolve a suspeita de risco de suicídio, mesmo porque o
sujeito pode ocultar sua intenção real.” (Beck, Steer e Trexler, 1989, in CUNHA,
2001). Deste modo, segue o manual recomendando que a administração do BSI
seja feita juntamente com a aplicação do BHS (escala de desesperança para
investigar a existência ou não de pessimismo). É sugerido também que seja feita
uma investigação clínica para complementar os instrumentos. (CUNHA, 2001, p.
20).
37
A escala de ideação suicida de Beck é uma escala de auto-avaliação usada
para detectar e avaliar a intensidade da ideação suicida nos pacientes. Esse
questionário apresenta 19 itens, cuja pontuação por item é de 0 a 2, que avaliam
três dimensões da ideação suicida: ativa, passiva e tentativa prévia de suicídio.
Caso a pontuação seja equivalente a 6 ou mais, a ideação suicida é considerada
clinicamente significante. (CUNHA, 2001).
Seguindo a aplicação de instrumentos de pesquisa, foram aplicadas as
Escalas de Desesperança de Beck (BHS) para medir o nível de esperança ou
pessimismo da participante. Caso este resultado também se revelasse com escore
relativo à gravidade de desesperança e pessimismo, a pesquisa também seria
interrompida, pois não seria possível atingir seu objetivo. Apenas uma pesquisada
apresentou nível grave nesta escala, mas a investigação clínica revelou que ela
poderia continuar participando da pesquisa.
A Escala de Desesperança de Beck foi conferida no momento de sua
aplicação, mas melhor analisada posteriormente através de crivo específico e
trouxe noções de como estão os sentimentos da pessoa em relação a novas
expectativas de vida e disponibilidade de mudança. De acordo com o manual
deste instrumento, o escore total é a soma dos itens marcados na direção crítica
de pessimismo: são nove afirmações assinaladas como erradas e 11 como certas.
Existe um crivo para correção, onde todas as respostas passíveis de serem
assinaladas na direção crítica, isto é, indicando desesperança, aparecerão nos
círculos. As respostas assinaladas têm pontuação 1, e as demais 0. Deste modo,
o escore total de desesperança varia de 0 a 20, sendo o mínimo de 0 a 4, o leve
de 5 a 8, o moderado de 9 a 13 e o grave de 14 a 20.
Em seguida, iniciou-se a entrevista clínica semi-estruturada, instrumento
que coletou os principais dados da pesquisa. Esta entrevista foi registrada de
forma manuscrita pela pesquisadora durante sua realização, com permissão das
entrevistadas.
O
material colhido
através
das
entrevistas foi analisado
individualmente e também de forma comparativa entre os casos, para maior
riqueza de informações.
38
É importante colocar que todas as participantes foram encaminhadas para
tratamento psicológico e psiquiátrico após a realização da pesquisa e serão
acompanhadas pela pesquisadora, como atribuição de seu trabalho na Secretaria
Municipal da Saúde.
Qualquer registro referente a esta entrevista e a testagem psicológica foi
destruído após sua utilização para a análise dos dados, para manter o sigilo
indispensável.
SÍNTESE DOS CASOS
Caso 1:
V. A. S., 32 anos, casada, 1 filho de 13 anos, doméstica, 1° grau completo.
Resultados das Escalas de Beck:
BSI – escore total: 11
Considerado paciente com ideação suicida leve, sem planos de fazer nova
tentativa.
BHS – escore total: 15
Considerado
grave,
ou
seja,
indicando
grandes
sentimentos
de
desesperança e pessimismo. Porém a análise clínica mostra que a participante
teve condições de continuar a pesquisa.
Dados de história de vida:
V. é uma mulher casada há 17 anos e tem um filho de 13 anos. Relata que
durante sua infância sua mãe era muito doente e por isso não tem boas
lembranças daquela época. Logo cedo teve que trabalhar e assumir algumas
responsabilidades. Quando adolescente não podia contrariar a mãe devido à sua
doença, era necessário seguir todas as regras e ordens. O pai é falecido há
muitos anos. Sentia-se muito cobrada e tinha a impressão de que as pessoas a
julgavam por não ter pais presentes e predominava um sentimento de indefesa,
como se não tivesse ninguém para defendê-la. Tios e outros parentes e vizinhos
39
falavam que ela e os irmãos tinham tudo para dar errado na vida. Quando
conheceu seu marido não se apaixonou por ele, mas decidiram ficar juntos pois
havia a suspeita de que estava grávida. Para V., o marido também representava
uma forma de se estabelecer na vida. A família dela foi contra o casamento pois
tinham muita dificuldade financeira. A família dele também não aceita o
relacionamento. Porém, entre os dois foi sempre tudo muito bem. Não estava
grávida como suspeitava quando se casou, e a primeira gravidez, em que teve seu
filho, foi muito desejada. Há alguns anos faz uso de fluoxetina devido às dores
ocasionadas pela artrite reumática. Sempre confiou muito no esposo, mas há
cerca de um ano teve uma grande decepção, quando descobriu que ele a estava
traindo.
Sobre a tentativa de suicídio:
Relata que o motivo que a levou a cometer a tentativa de suicídio foi a
traição do marido. Lembra que tiveram um final de semana agradável, bom. À
noite ela viu que o marido recebeu uma mensagem de texto no celular e ficou
desconfiada. Começou a procurar provas nas coisas do marido e entrou em
desespero. Nesse momento lembrava muito de episódios de sua infância,
principalmente quando os parentes diziam que sua vida ia dar errada. Para V. foi
uma grande surpresa desagradável, pois confiava muito no esposo. Quando
confirmou o relacionamento do esposo com outra mulher sentiu-se profundamente
decepcionada. Tentou conversar com ele, falava que estava desconfiada, mas ele
ria e chegou ameaçar sair de casa. Ela arrumou as malas dele para que ele fosse
e não queria mais vê-lo. Ele não saiu de casa e dizia que ela estava louca. Foi
quando ele admitiu que estava tendo um relacionamento extraconjugal. A partir
deste episódio a relação dos dois mudou muito, passou a ser constituída de
muitas discussões e cobranças. Ele deixou de ser carinhoso e atencioso com ela e
ela sentiu como se tivesse perdido as esperanças, pois ele sempre foi sua única
esperança de vida. Quando chegou o dia dos namorados achou-o frio e como se
estivesse fazendo as coisas por obrigação. Ela encontrou um comprovante de
compra de flores no cartão de crédito, porém passou o dia e não recebeu as
40
flores. Teve certeza de que eram para outra mulher. Nesta hora não pensou em
mais nada e fez a tentativa de suicídio. Tomou uma dose alta de fluoxetina
juntamente com a ritalina do filho e com várias outras medicações (paracetamol,
sedilax). Sempre leu bula de medicação e sabia que estas causariam efeitos fortes
e a fariam apagar. Chegou a ficar ansiosa para que os efeitos da medicação
ocorressem rápido.
V. relata que no momento em que estava preparando os remédios para
consumir veio toda a sua história de vida em mente, todo o sofrimento que tinha
na infância e o fato de o marido ter sido eleito como sua expectativa de melhora
de condições de vida e de repente tudo isso desabou. Veio um sentimento
extremo de desesperança, sentiu que não poderia mais confiar em ninguém.
Achou que não poderia mais ser feliz e de repente não pensou em mais nada.
Queria apagar, se desligar de tudo e fugir dos pensamentos que passavam em
sua cabeça. Não pensava em conseqüências e não sentia medo de nada, como
se tivesse uma força maior que ela. Ela nunca havia falado sobre a possibilidade
de cometer um ato suicida e na ocasião não deixou nenhum bilhete ou aviso. Foi
acudida pelo filho que estava em casa e ligou para o pai, mesmo ela pedindo para
que não o fizesse. Foi levada ao pronto-atendimento, foi feita a desintoxicação e
lembra que os profissionais de saúde trataram-na muito mal. Viu que estava
mesmo sozinha e que ninguém estava para lhe ajudar. Quando voltou para casa
sentia-se muito carente emocionalmente. Não teve vontade de voltar para a casa,
pensava em sair sem destino, fugir. Foi encaminhada para tratamento psicológico
e o médico receitou fluoxetina novamente.
Avaliando as mudanças ocorridas após este episódio, considera que as
coisas ficaram piores. As pessoas cobram mais e julgam mais ainda. O que ela
fala não é mais levado a sério ou considerado. Tem a impressão de que as
pessoas não acreditam mais no que ela fala. Sente-se menos que os outros. Às
vezes sente ainda vontade de sair pela rua sem rumo, de fugir de tudo, mas
procura trabalhar e ocupar a cabeça, mesmo quando o corpo está cansado.
Não se comenta sobre a tentativa de suicídio na família, com exceção do
irmão que mora junto, que às vezes faz comentários em tom de brincadeira,
41
friamente. A família do marido não ficou sabendo. Seus colegas se mostram
bastante preocupados e querem sempre que ela desabafe, mas ela não sente
confiança em ninguém.
Um ano após a tentativa de suicídio, está com a cabeça mais tranqüila,
acha que não valeu a pena, não quer fazer novamente e gostaria de ter forças
para garantir que não ocorra. Em alguns momentos de ansiedade pensa em fazer
mas já não pelos mesmos motivos, mas sim pelas dores ocasionadas pela artrite
reumática. Pede ajuda às pessoas por estas dores, mas elas não acreditam,
acham que é manha. Chega a pensar que quando morrer de dor é que as pessoas
irão acreditar.
Caso 2:
S. F., 25 anos, solteira, 1 filha de 2 anos, manicure e cabeleireira, estudou até a 5ª
série.
Resultados das Escalas de Beck:
BSI – escore total: 03
Considerado sem ideação suicida.
BHS – escore total: 01
Considerado leve mínimo, ou seja, sentimentos de esperança e otimismo
predominam na vida da participante.
Dados da história de vida:
S. é uma mulher solteira que tem uma filha de 2 anos e atualmente mora
com a irmã de 28 anos. Quando fala de sua infância lembra que nunca teve muita
oportunidade para brincar, relaxar e até mesmo estudar. Sempre foi muito cobrada
no sentido de trabalhar e ter o próprio sustento. Seus pais sempre tiveram uma
condição financeira razoável, mas exigiam muito das filhas. Sempre agiram muito
pela razão e nunca pela emoção. A mãe xingava muito as filhas e era bastante
grosseira. Na adolescência, S. trabalhava de doméstica e panfleteira e assim que
42
pôde foi morar sozinha. Casou-se aos 18 anos com o pai de sua filha, mas aos
quatro anos de relacionamento separou-se pois ele era alcoólatra. Fez um curso
de manicure e cabeleireira nesta época e gostou muito, passando a ter motivação
para o trabalho. Conheceu um namorado alguns anos mais jovem com quem
passou oito meses e morou junto por dois meses. Separou-se dele mas foi muito
difícil para ela ficar distante e pediu para retomar o relacionamento. Foi quando ele
não aceitou voltar e ela cometeu a tentativa de suicídio. Quando ele soube disso
decidiu resgatar o relacionamento. Ela aceitou e ficou mais quatro meses com ele,
quando então ela mesma decidiu terminar a relação, considerando-o muito
imaturo e alguém que não proporciona nada para ela e que só queria se divertir e
se aproveitar dela e das condições sociais e financeiras que o relacionamento
propiciava. Em todo o tempo de relacionamento, seja antes ou depois do episódio
da tentativa de suicídio, ela só saia de casa para ir ao trabalho, enquanto ele saía,
para festas, encontrava amigos e até mesmo mantinha outros relacionamentos
amorosos. Isso sempre foi muito doloroso para S.
Sobre a tentativa de suicídio:
Havia três meses que o namoro tinha acabado e S. ainda não havia
superado a dor da perda. Sentia muita falta dele e chorava muito, apesar de
durante todo o relacionamento ter tido diversas decepções com o namorado. No
dia da tentativa de suicídio estava muito mal, chorava desesperadamente e não
sabia ao certo o que lhe fazia chorar tanto. Saiu do trabalho no meio do
expediente e foi procurá-lo, tentando uma reconciliação. Ele não aceitou. Então, S.
sentiu-se muito fraca e incapaz e não merecedora de estar viva. Pensava que
tinha que acabar com aquela pessoa tão fracassada que era ela mesma. Foi para
casa e escreveu uma carta suicida, explicando suas razões de estar cometendo
tal ato e se despedindo. Estava sozinha. Pegou uma caixa de medicação para dor
de estômago e tomou todos os comprimidos. Não pensou muito quando decidiu
tomar a medicação e não avisou ninguém. Queria sumir, desaparecer e acabar
com aquela dor. Nada mais importava, não pensava em ninguém, nem mesmo na
filha, só mesmo na dor. Já estava quase na hora de uma irmã chegar em casa,
43
mas mesmo antes disso chegou a ligar para uma amiga enquanto passava mal.
Foi quando se arrependeu do que fez, tentou vomitar a medicação mas começou
a ficar transtornada e desmaiou. A família chamou uma ambulância e ela foi
levada ao pronto-atendimento, onde fez lavagem estomacal e passou muito mal.
A mãe, que nunca foi muito presente em sua vida, foi até o hospital visitá-la
e conversaram muito, chegando a se aproximar. Sua mãe sempre foi muito
grosseira e distante e sempre teve muita mágoa dela. Eram muitos sentimentos
envolvidos e a mãe deu muita força. Quando voltou para casa estava muito feliz
por estar bem, viva e sem seqüelas. Ficou muito tempo com a filha, com a mãe e
as irmãs, tendo a impressão de que a família se reaproximou.
Em um período de tempo após esse episódio, passou a ter ideações
suicidas novamente. Conversou com a irmã sobre tais idéias e a irmã decidiu
alugar uma casa para que as duas morassem juntas.
Hoje pensa que não resolveu os problemas através da tentativa de suicídio,
mas tudo isso teve um lado muito positivo, pois aprendeu a lidar melhor com as
situações difíceis e evolui como pessoa. Considera que mudou muito, que antes
só vivia para o namorado, sua vida girava em torno dele e agora ela sabe dar
atenção à filha e à família. Vê as coisas mais claras, cortou totalmente o
relacionamento com ele e se voltou mais à família. Está mais controlada, mais
reflexiva e deixou de ser radical e impulsiva, evitando conflitos e medindo melhor
os sentimentos.
A tentativa de suicídio foi um marco não só na vida de S., mas de toda sua
família. Todos ficaram mais próximos, mais calmos. Ela nunca imaginou que isto
aconteceria um dia e sente-se muito feliz.
Caso 3:
R. A. F. P., 25 anos, casada, 1 filho de 4 anos, caixa de supermercado, estudou
até a 6ª série.
Resultados das Escalas de Beck:
44
BSI – escore total: 04
Considerado sem ideação suicida.
BHS – escore total: 10
Considerado moderado, ou seja, com sentimentos de desesperança e
pessimismo, mas que ainda passageiros e possíveis de lidar.
Dados da história de vida:
R. é uma mulher casada há 5 anos e mora com o marido e o filho de 3 anos
e 10 meses. Seus pais são seus vizinhos e a irmã mora na casa nos fundos de
seu terreno. É a filha mais nova da prole e por isso foi a que mais brincou e
aproveitou a infância. Sempre que lembra de tal época da vida recorda de um
vizinho que morreu ainda criança e que ela chorou muito por conta deste fato.
Lembra também que vendia ou dava suas próprias roupas para as amigas e
chegava a roubar coisas da mãe para tal. Parou de estudar quando estava na 6ª
série devido a uma briga com colegas de classe, na qual apanhou muito e ficou
com medo de voltar às aulas. Aos 13 anos fugiu de casa pois considerava o pai
muito rígido; ficou um dia fora. Quando relata esta fase, R. considera que nunca
foi muito sensata, por isto sempre esteve em tratamento psicológico e psiquiátrico,
tendo inclusive histórico de internamento psiquiátrico.
Sempre teve a sensação de que as pessoas não gostavam muito dela,
nunca durou muito em nenhum emprego e o momento em que se sentia melhor
era quando estava dormindo, pois não precisava ter contato com ninguém.
Conheceu seu marido no mercado onde os dois trabalhavam. Um ano
depois decidiram se casar. R. não gosta muito do seu casamento, pois há muitas
brigas e discussões, sendo o principal motivo o alcoolismo do marido. Há pouco
mais de um ano descobriu que o marido a traía, mantendo outro relacionamento
amoroso. Quando soube disso sentiu-se extremamente transtornada e andava
com uma faca na mão para matá-lo. Ele negava a traição, mas ela perdeu
completamente a confiança. R. insistia muito no assunto e todos os vizinhos e
parentes confirmavam para ela, até que um dia o próprio marido confirmou.
45
Sobre a tentativa de suicídio:
Quando soube que o marido tinha outras mulheres, ficou durante um mês
tentando saber quem eram. Via mensagens que ele recebia no telefone celular e
ligava para as mulheres para xingá-las. Sentia-se extremamente ansiosa e o
pensamento era “onde foi que eu errei!” (sic), com o sentimento predominante de
culpa. Chegou a ir ao terminal de ônibus, onde suspeitou que ele estaria a espera
de outra mulher. Quando ele a viu lá ameaçou ir embora de casa, mas ela queria
que ele ficasse, mesmo com toda a situação ocorrida.
A partir deste episódio não tinha mais sentimento por nada, perdeu o amor
por tudo e queria morrer, pois a vida não tinha mais graça. Não tinha mais ânimo
para nada e não saía da cama. Chorava muito e queria acabar com tudo. Tentou
por várias vezes conversar com o marido, mas ele não a ouvia e saía de casa, o
que a fazia sentir pior.
Em uma destas ocasiões, estava sozinha em casa e decidiu tomar uma
grande quantidade de medicação. A medicação utilizada foi imipramina, na
quantidade de três cartelas e frontal. Já havia feito outras tentativas de suicídio da
mesma forma, e esta parecia apenas mais uma. Falou para a mãe que queria
morrer e que se acontecesse alguma coisa pediu para a mãe cuidar de seu filho.
Tinha uma idéia boa da morte, como a resolução de tudo.
Após tomar a medicação deixou as cartelas de remédio jogadas no chão
para que o marido visse quando chegasse em casa. Foi à casa da vizinha que
entrou em contato com a Unidade de Saúde, que encaminhou R. para o prontoatendimento. Fez lavagem estomacal e fugiu do centro médico. Nos dias
seguintes foi internada no hospital psiquiátrico.
Após 40 dias de internamento, voltou para a casa. Ficou hospedada na
casa dos pais por dois meses. Continuou o tratamento psicológico e psiquiátrico
em Caps II, onde faz terapia de grupo. Não se arrepende de ter feito a tentativa de
suicídio, pois naquele momento não queria mais viver, não tinha forças. Voltou a
morar com o marido, mas não sente amor por ele e sente-se tão irritada com o
filho que chega a duvidar de seu amor por este.
46
Atualmente tem dias que se sente bem, mas em outros fica muito mal. Tem
vontade de sumir, desaparecer. Anda muito irritada e tem necessidade de falar do
que sente. Antes costumava guardar seus sentimentos, mas com o tratamento
aprendeu a falar mais. Tem medo do que ainda pode fazer se souber que o
marido está traindo novamente, acha que pode perder o controle novamente e
agredir alguém. Sente que quando quer fazer faz, não pensa nem mede as
conseqüências.
Pensa que não conseguiu nada com a tentativa de suicídio e que seria
melhor se tivesse morrido mesmo. A única mudança ocorrida foi em relação ao
seu pai, que antes era distante e achava que todos os problemas dela eram
“frescura” e agora está mais compreensivo e próximo. O marido não compreende
nada.
Caso 4:
T. M. P. M., 45 anos, divorciada, 2 filhos de 19 e 21 anos, vendedora, 2° grau
completo.
Resultados das Escalas de Beck:
BSI – escore total: 10
Considerado com ideação suicida leve, sem planos de fazer nova tentativa.
BHS – escore total: 13
Considerado moderado, ou seja, com sentimentos de desesperança e
pessimismo, mas que ainda passageiros e possíveis de lidar.
Dados da história de vida:
T. é uma mulher de 45 anos, divorciada há 2 anos de um casamento que
durou 20. É a primeira filha de uma prole de três mulheres. Não comenta muito
sua infância mas lembra que sempre foi muito apegada ao pai. Por ser a irmã
mais velha, sempre foi vista pela família como uma pessoa forte, batalhadora,
independente e que vai atrás das coisas.
47
Considera que sempre foi muito carente afetivamente e esta é sua principal
característica, sendo que às vezes é um defeito e às vezes uma qualidade. Por
isso tem o “coração mole”, não nega ajuda a ninguém, não agüenta ver os outros
sofrendo e por isso se envolve muito fácil. Chega a dar o seu salário todo a
alguém que lhe peça ajuda.
Há pouco mais de um ano seu pai faleceu de câncer. Nos últimos meses de
vida deste, quem cuidou em tempo integral dele foi T. Ela estava extremamente
envolvida com a doença do pai um pouco antes de sua morte, chegando a pedir
dispensa do emprego para cuidar dele. Também não dava muita atenção aos
filhos e ao marido.
Foi neste período que o marido começou a traí-la, mantendo outros
relacionamentos amorosos. Todos os vizinhos, amigos e a família a alertavam
para este fato, mas a doença do pai a fazia não se importar com nada. Logo que o
pai faleceu, decidiu se divorciar. Foi uma separação tranqüila, sem brigas nem
sofrimento. Os dois mantêm contato até hoje e estão bem em relação a isso.
Pouco depois de ter e separado, conheceu um rapaz de 28 anos, amigo de
seus filhos. Estava se sentido carente desde a morte do pai e do divórcio e se
apaixonou por tal rapaz. O relacionamento durou onze meses e durante este
período T. considera que se envolveu demasiadamente com ele e com sua
família. O jovem namorado não era muito presente na vida de T. e sempre pedia a
ela dinheiro emprestado e carro, que usava para sair com outras mulheres. Por
estar envolvida em um relacionamento como este, os filhos de T. saíram de casa e
foram morar em um apartamento no mesmo edifício, pois não admitiram que a
mãe fosse tão ingênua e se deixasse enganar tanto.
Em uma determinada altura do relacionamento, o namorado não apareceu
mais em sua casa e não atendeu mais aos telefonemas, tendo ficado com seu
carro e seu dinheiro.
Sobre a tentativa de suicídio:
Como sempre trabalhou muito, não sentia tanta falta do namorado. Mas em
um sábado, após ter arrumado a casa, sentiu-se profundamente sozinha,
48
abandonada e magoada. Não tinha nem o namorado e nem os filhos. Tomou 30
comprimidos de lexotan. Dormiu por quatro dias seguidos e ninguém estranhou,
pois ninguém viu e nem sentiu sua falta. T. lembra que o namorado ligou muitas
vezes no seu telefone celular nesse período, mas ela não tinha condições de
atender. Supõe que ele estava preocupado, apesar de o namoro já ter terminado.
Após este episódio voltou a encontrar o rapaz, mas já não como
namorados. Ele aparecia em seu condomínio para visitar amigos e às vezes
levava moças que aparentavam serem suas namoradas. No dia em que T. fez
outra tentativa de suicídio, o rapaz estava na frente da janela de sua sala,
conversando com amigos e ela o ouviu falando sobre outras mulheres. Estava
sozinha, mas o filho já estava para chegar. Decidiu tomar diversas medicações,
além de lexotan, remédios da época em que o pai estava doente, analgésicos
bastante fortes. Ela desmaiou. Logo que o filho chegou, encontrou-a caída no
chão e a levou ao pronto-atendimento, onde fez lavagem estomacal.
Desde então, algumas coisas mudaram. Os filhos decidiram voltar a morar
com ela, estão se reaproximando e têm conversado muito com a mãe. Levaramna ao shopping recentemente e lhe deram muitos presentes. Ela tem se sentido
feliz com tudo isso, mas às vezes tem a impressão de que não se importa muito.
Tem se sentido como se nada importasse e acha que pode perder o
controle a qualquer momento. Pensa muito ainda no ex-namorado e mantém
contato com a família dele diariamente, com a desculpa de ser madrinha da
sobrinha dele, mas o que quer é obter notícias a seu respeito. Ele sempre a
procura e às vezes se encontram. Hoje percebe o quanto ele é interesseiro,
manipulador e aproveitador e o quanto ele precisa de alguém para se realizar, não
buscando as conquistas sozinho. Mesmo assim, ela ainda tem vontade de estar
com ele e de reatar o relacionamento. Todos dizem a ela que ela tem tudo, é
jovem e bonita, mas ela ainda sente falta de algo que não sabe bem o que é, e
acha que é ele.
Hoje é vista pela família como uma irresponsável inclusive cortando laços
com uma das irmãs.
49
7. RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente é possível traçar o perfil das entrevistadas, utilizando seus
dados de identificação e de critérios para a participação na pesquisa, conforme
tabela 01.
Tabela 01: Perfil das participantes
Idade
Filhos
25 anos
25 anos
32 anos
Um menino de
4 anos
Uma menina
de 2 anos
Um menino de
13 anos
Estado Civil
Escolaridade
Casada
6ª série
Separada
5ª série
1° grau
Casada
completo
Profissão
Caixa de
supermercado
Cabeleireira e
manicure
Doméstica
Dois rapazes,
45 anos
um de 19 e
outro de 21
Divorciada
2º grau
incompleto
Vendedora
anos
Na tabela acima mostrada é possível verificar que as participantes da
pesquisa têm idades entre 25 e 45 anos, sendo que duas delas têm 25 anos.
Todas elas têm filhos de idades variáveis. Além disso, um dos aspectos
importantes para a pesquisa é que todas estão em um relacionamento estável ou
estiveram. A escolaridade destas mulheres varia entre a 5ª série e o 2º grau
incompleto e todas exercem profissões fora de casa.
Também é possível ter uma perspectiva das participantes em relação às
tentativas de suicídio, conforme tabela 02. Esses dados condizem ao número de
tentativas de suicídio de cada participante e há quanto tempo foi a última tentativa
em relação à data da entrevista.
50
Tabela 02: Tentativas de suicídio
Número de tentativas
Há quanto tempo foi a última tentativa
01
1 ano e 3 meses
01
7 meses
“perdeu as contas” (sic)
8 meses
02
1 mês
A tabela 02 revela que duas participantes fizeram apenas uma tentativa de
suicídio durante a vida, outra participante cometeu o ato duas vezes e a outra
relata que já perdeu as contas de quantas vezes o fez. O tempo passado do
ocorrido da tentativa de suicídio varia entre as participantes, sendo entre 1 ano e 3
meses até a apenas 1 mês da entrevista para a pesquisa.
A tabela número 03 mostra os dados obtidos através das Escalas de Beck
sobre quantas participantes ainda permanecem com ideação suicida e qual a
gravidade desta ideação e também qual o grau de desesperança revelado em
cada uma.
Tabela 03: Resultados das Escalas de Beck
Escala de desesperança
Participante
Escala de Ideação Suicida (BSI)
V. A. S
11
Ideação suicida leve
15
S. F.
03
Não há ideação suicida
01
R. A. F. P.
04
Não há ideação suicida
10
T. M. P.
10
Ideação suicida leve
13
(BHS)
Grave
desesperança
Mínima
desesperança
Moderada
desesperança
Moderada
desesperança
Visualizando-se a tabela 03 percebe-se que duas das participantes
apresentam ideação suicida leve, segundo a aplicação da Escala de Ideação
51
Suicida de Beck (BSI), com um índice de 13 e 15 no escore total. Já as outras
duas não apresentam ideação suicida, segundo a mesma escala, com escores 03
e 04. Em relação à aplicação da Escala de Desesperança de Beck, duas
participantes apresentam moderada desesperança, com pontuação referente a 10
e 13. Uma participante apresenta mínima desesperança, com pontuação 01. A
outra participante apresenta grave desesperança, com escore 15.
Dando início à análise mais aprofundada dos dados colhidos na entrevista
clínica
semi-estruturada,
foram
encontradas
dezessete
categorias
de
comportamentos, sentimentos ou pensamentos descritos pelas participantes. A
análise categórica é uma forma de analisar dados subjetivos de diversas pessoas,
através de comparação das respostas. São encontradas e definidas categorias, de
acordo com os próprios dados analisados, e pode-se ter a perspectiva de
sentimentos, comportamentos ou pensamentos coincidentes ou não.
A tabela número 04 evidencia as dezessete categorias definidas e a
quantidade de participantes que se enquadra em tal dado. As categorias são
definidas aqui por uma frase, que sintetiza a expressão utilizada pela participante.
Tabela 04: Categorias de análise
Categoria
Número de
Quais participantes
participantes
V.
S.
R.
3
*
*
*
Pais rígidos
2
*
*
Excesso de cobrança e responsabilidades
3
*
*
*
Desejo de mostrar aos outros que é capaz
3
*
*
*
Casamento precoce
4
*
*
*
3
*
*
*
3
*
*
Sentimento de abandono e não pertença na
infância
Casamento como tentativa de sair da família
de origem
Apego demasiado a alguém, como se fosse
a única perspectiva de vida
Relacionamento amoroso não recíproco –
3
*
T.
*
*
*
*
52
só ela se dedicava à relação
Casos de alcoolismo nos parceiros
2
Traída no relacionamento amoroso
4
Desejo de perdoar a traição e deixar tudo
como está
Pedidos de ajuda ou avisos de que o
suicídio poderia ocorrer
Estava sozinha no momento da tentativa de
suicídio
Não pensou muito no momento da tentativa,
queria sumir, acabar com a dor
Teve maior atenção e proximidade das
pessoas após a tentativa de suicídio
*
*
*
*
*
*
4
*
*
*
*
3
*
*
*
4
*
*
*
*
4
*
*
*
*
*
*
*
3
Nada mudou após a tentativa de suicídio
2
*
*
Ainda tem vontade de sumir, desaparecer
3
*
*
*
A tabela 04 mostra as categorias de dados obtidas no estudo através da
aplicação da entrevista semi-estruturada, organizados em ordem cronológica no
decorrer da vida das participantes. Evidencia-se que três participantes apresentam
sentimentos de abandono e não pertença durante a infância, duas relatam ter pais
extremamente rígidos na mesma época e três relatam excesso de cobranças e
responsabilidades quando crianças. Três participantes revelam um desejo de
provar aos outros suas capacidades de vencer.
Todas as participantes tiveram casamentos precoces e três delas revelam
este casamento como estratégia para sair da família de origem. Três participantes
apegaram-se demasiadamente ao parceiro, como uma única perspectiva de vida e
três delas apresentam um relacionamento não recíproco, com apenas a dedicação
da parte delas. Duas delas revelam problemas de alcoolismo no parceiro. Todas
as participantes foram traídas pelo companheiro, que mantinha relacionamento
extra-conjugais, e todas revelaram desejo de perdoar este fato e permanecer na
relação como sempre foi.
53
Três participantes revelam terem pedido ajuda ou tentado resolver o
problema antes de cometer a tentativa de suicídio, mas sentiram que foi em vão.
Todas elas estavam sozinhas no momento da tentativa de suicídio e todas
revelam que o único desejo era acabar com a dor emocional que estavam
sentindo.
Após o episódio da tentativa de suicídio, três consideram que tiveram mais
proximidade das pessoas, e duas consideram que nada mudou. Três participantes
revelam que ainda têm vontade de desaparecer do mundo.
De acordo com as categorias de dados descritas acima, pode-se iniciar um
estudo sobre tais fatores. É possível, através de tais categorias, descrever por que
as mulheres participantes da pesquisa se tornaram pretendentes de uma tentativa
de suicídio, bem como analisar quais foram seus precedentes. O significado da
tentativa de suicídio na vida de cada uma delas também pode ser descrito.
Em relação às questões precedentes da tentativa, é necessário avaliar a
história de vida de cada uma delas. Não é possível colocar que a tentativa de
suicídio ocorreu devido a uma situação pontual, apesar de ser assim que todas as
participantes descreveram o fato. A participante T. nem ao menos quis relatar sua
infância detalhadamente, pois considerou que não haveria nada naquele tempo
relacionado ao momento presente. Porém, nas respostas das outras três
participantes aparece um fator extremamente importante, que é o sentimento de
abandono ou de não pertença na família de origem. Isso apareceu fortemente em
frases como “sentia que não havia ninguém para me defender” (sic), “minha mãe
xingava muito a mim e minhas irmãs e era muito grosseira” (sic), “sempre tive a
sensação de que as pessoas não gostavam muito de mim” (sic).
A questão do desenvolvimento infantil é extremamente importante na
formação do indivíduo. Os estudos psicodinâmicos revelam que são as primeiras
relações infantis que colocam a criança em contato com o mundo externo e que,
portanto, irão definir sua forma de relação futura com o ambiente. Tais relações
devem proporcionar segurança e conforto, caso contrário ocasionarão um
indivíduo que formará sempre vínculos angustiados. Kanner (1972) enfatiza que
deve-se prestar atenção principalmente aos estados afetivos que formam o
54
essencial da personalidade. A segurança é um dos estados emocionais mais
significativos e a articulação afetiva na infância une a pessoa total com sua
situação de vida, total e acumulativa.
Viscott (1982) afirma que as crianças tendem a se sentir inseguras e
vulneráveis por serem pequenas e relativamente indefesas e dependentes da
força de outrem. Elas têm de estar em paz com o seu benfeitor, o que implica em
não fazer nada que as afaste de seu relacionamento de proteção. Os jovens não
se sentem donos de si mesmos. Não sentem que podem ser eles mesmos sem
algum risco de perderem sua proteção.
De acordo com as afirmações dos autores supracitados, pode-se pensar
que, nos casos aqui em questão, as mulheres não tiveram alguém na infância que
lhes proporcionasse segurança e proteção, na fase em que eram extremamente
dependentes de outras pessoas para tal. Desta forma, desenvolveram-se em
busca desses sentimentos não obtidos em tempos anteriores, desenvolvendo
relações angustiosas. Elas passam a vida em busca da aceitação de outras
pessoas, consideram-se carentes emocionalmente e fazem muito para agradar
aos outros.
Segundo Marcelli (1998), a carência afetiva é múltipla, tanto em sua
natureza quanto em sua forma. É impossível defini-la de maneira unívoca, pois é
necessário levar em conta três dimensões na interação mãe-filho: a insuficiência
de interação que remete à ausência da mãe ou substituto materno, a
descontinuidade dos laços que coloca em cena as separações, quaisquer que
sejam seus motivos e a distorção que presta contas da qualidade do aporte
materno (mãe caótica ou imprevisível).
Segundo Bowlby (1998), as pessoas predispostas a estabelecer apegos
angustiosos e ambivalentes apresentam muito maior probabilidade de que as
pessoas que crescem com segurança de terem tido pais que, por motivos
relacionados às suas próprias infâncias e/ou dificuldades no casamento,
consideraram um peso o desejo de amor e de cuidados de seus filhos, e reagiram
a isso com irritação – ignorando-os, censurado-os, ou pregando moral. Além
disso, as pessoas angustiadas apresentam maior probabilidade do que outras de
55
terem sofrido também experiências desequilibrantes. Por exemplo, algumas terão
recebido cuidados cotidianos de uma sucessão de pessoas diferentes; outras
terão passado períodos limitados em creches residenciais, onde receberam pouca
ou nenhuma assistência substitutiva dos cuidados maternos; e outras ainda terão
pais separados ou divorciados. Outras, finalmente, terão sofrido alguma perda na
infância.
Observando os casos estudados, tem-se a experiência de uma criança que
teve de ser cuidada por pessoas substitutivas aos pais, pois o pai morreu
precocemente e a mãe era muito doente e veio a falecer mais tarde. Esta mulher
relata que os cuidados recebidos pelos tios não eram, de forma alguma, algo que
lhe proporcionava tranqüilidade e bem estar. Outra participante teve pais irritados
e indispostos a proporcionar o afeto exigido pelos filhos. Tem-se também a
experiência de uma mulher que teve perdas na infância, de um colega da mesma
idade, fato este que a marcou muito. Todas sentiam-se extremamente cobradas
desde crianças.
Continuando com o mesmo autor, afirma-se que nos estudos mais antigos
das experiências infantis que levaram a uma ansiedade muito intensa, dá-se a
ênfase especial às ameaças dos pais de abandonarem o filho ou de se
suicidarem. Diante dessas ameaças, feitas muitas vezes deliberadamente por uma
mãe exasperada numa tentativa de controlar o filho, a criança fica muito ansiosa
com a possibilidade de perdê-la para sempre. Há também a possibilidade de que a
criança sinta raiva dela, embora até a adolescência não expresse essa raiva
aberta e diretamente. (BOWLBY, 1998, p. 227)
Esse sentimento de ansiedade intensa em relação à possibilidade
constante de perder o dos pais aparece no relato das participantes desde suas
infâncias. Nessa ameaça de se não agradar não será amada é que se desenvolve
a ansiedade e angústia, e principalmente é nessa forma de funcionamento entre
pais e filhos que se desenvolve a insegurança, o sentimento de incapacidade e de
menos valia. Quando adultas, elas estabelecem relação amorosas repetindo este
mesmo funcionamento. O medo constante de perder o amor do outro é bastante
evidente nas participantes deste estudo e será tratado mais adiante.
56
Em acordo com Marcelli (1998), a repetição de separações na infância
também parece muito nociva, pois a criança rapidamente desenvolve uma
extrema sensibilidade e uma angústia permanente que se traduz por uma
expressiva dependência ao seu meio. Há razões para pensar que o sujeito
permanece
vulnerável
às
ameaças
de
separação
que
podem
intervir
posteriormente. São efeitos muito danosos à personalidade.
Nos casos aqui estudados, percebe-se que as relações infantis não
proporcionaram segurança ou confiança. A família de origem não foi contingente,
não propiciou sentimento de pertença, nem de autonomia de formas equilibradas.
Percebe-se que a saída dos filhos de casa precocemente e o desejo de não ter
mais responsabilidade sobre eles predominava nos pais destas mulheres.
Segundo Minuchin e Fishman (1990), a estrutura familiar governa o funcionamento
dos membros da família, delineando sua gama de comportamentos e facilitando
sua interação. Uma forma viável de estrutura familiar é necessária para
desempenhar suas tarefas essenciais e dar apoio para a individuação ao mesmo
tempo em que provê um sentido de pertença.
As participantes deste estudo, ao lembrarem de seu passado referem-se a
pais rígidos, que impuseram excesso de cobranças e responsabilidades,
carecendo de uma relação afetiva de aceitação e pertencimento, conforme
afirmativas: “eu não podia contrariar a minha mãe, tinha sempre que seguir as
regras e a ordem” (sic), “nunca tive muita oportunidade de brincar, relaxar ou
estudar... tive que trabalhar muito cedo” (sic), “eles (os pais) tinham condições
financeiras razoáveis, mas exigiam que a gente trabalhasse” (sic), “quando eu
tinha 13 anos fugi de casa pois meu pai era muito rígido e não aceitava minhas
coisas” (sic), “por ser a mais velha, sempre tive de ser batalhadora, independente
e correr atrás das minhas coisas” (sic). Kanner (1972) enfatiza que as crianças
não se preocupam com a segurança econômica nem profissional e que as
principais fontes de segurança são o afeto e a aceitação.
Diante da exigência que essas mulheres vivenciaram muito cedo, não lhe
restou outro caminho que não buscar sua independência. Segundo Minuchin e
Fishman (1990), todo o ser humano se vê como uma unidade, um todo e pouco se
57
conhece como parte de uma estrutura familiar, porém, sabe que influencia sobre o
comportamento de outros indivíduos e que eles influenciam o seu. Quando
interage dentro da família, experiencia o mapeamento do mundo da família,
conhecendo regras, sinais, territórios e marcas. Quando se atravessa estes
limites, o membro da família encontrará algum mecanismo regulador, com os
quais concordará ou os desafiará. Porém, existem áreas proibidas na família, e
quando ocorre a transgressão destas, as conseqüências são sentimentos de culpa
e ansiedade e ainda o medo de ser banido.
Assim, dentro de um funcionamento familiar, dificilmente o indivíduo, como
parte desta estrutura, conseguirá desobedecer tal padrão. O que as mulheres
deste estudo buscaram fazer foi procurar precocemente sua independência da
família de origem. Nestas decisões percebe-se que a princípio há o desejo de
buscar em alguém um afeto, que na família não se encontrou, e também o
funcionamento da família que empurra forçosamente tal membro para a busca da
autonomia.
A saída dos filhos de casa é uma etapa esperada dentro do ciclo de vida
familiar descrito por Carter e McGoldrick (1995). Duvall (1977, in CARTER e
MCGOLDRICK, 1995) separou o ciclo de vida familiar em oito estágios, todos
referentes aos eventos nodais relacionados às idas e vindas dos membros da
família: casamento, o nascimento e a educação dos filhos, a saída dos filhos do
lar, aposentadoria e morte.
Porém, quando estas etapas não ocorrem de maneira natural ou funcional,
ocorrem forçosamente, como nos casos aqui vistos, os objetivos parecem um
pouco turvos ou equivocados. Casar-se para sair de casa e livrar-se de uma
condição que se aproxima do insuportável não fará alguém se livrar de tal
condição. As relações estabelecidas na infância não desaparecerão pelo
afastamento físico dos pais, elas deixam marcas na formação do indivíduo que
serão levadas eternamente.
Os relacionamentos com os pais, irmãos e outros membros da família
passam por estágios, na medida em que a pessoa se move ao longo do ciclo de
vida, exatamente como acontece com os relacionamentos progenitor-filho e
58
conjugal. Entretanto, é extremamente difícil pensar na família como um todo, em
virtude da complexidade envolvida. Como um sistema movendo-se através do
tempo, a família possui propriedades basicamente diferentes de todos os outros
sistemas. Diferentemente de todas as outras organizações, as famílias incorporam
novos membros apenas pelo nascimento, adoção ou casamento, e os membros
podem ir embora somente pela morte, se é que então. Embora as famílias
também tenham papéis e funções, o seu principal valor são os relacionamentos,
que são insubstituíveis. (CARTER e MCGOLDRICK, 1995, p. 09)
Todas as quatro mulheres aqui estudadas tiverem casamentos precoces,
independente de ser a relação atual ou anterior. Elas relatam casamentos aos 15,
18, 20 e 25 anos. A idade em que ocorreu o casamento não ganha tanta
importância diante do significado dessas uniões em sua vida e da forma como
ocorreram. Fica bastante evidente na maioria dos relatos o casamento como
estratégia para sair da casa dos pais.
Duas participantes relatam que não se apaixonaram pelo marido, mas que
acharam interessante se casar: “não me apaixonei, mas casamos porque eu
achava que estava grávida!” (sic), “conheci ele no mercado onde trabalhávamos e
um ano depois nos casamos. Não gosto muito do meu casamento, pois temos
muitas brigas e discussões. Ele bebe.” (sic). São justamente as participantes que
ainda permanecem com o primeiro companheiro.
As outras duas mulheres pesquisadas casaram-se mas separaram-se.
Porém, logo após esta separação encontraram outra pessoa pela qual tiveram um
grande sentimento amoroso.
Todas elas, seja no primeiro relacionamento ou em relacionamento após a
separação, buscam uma espécie de salvação em outra pessoa. Parecem estar
buscando ainda aquele apego que não puderam ter quando crianças. Segundo
Viscott (1982), a condição infantil de ser vulnerável também implica em estar
aberto. Mas a maioria das pessoas não pode suportar por muito tempo esta
condição sem logo se tornarem defensivas. Para aceitar a vulnerabilidade sem se
tornar defensivo, precisa-se de uma crença básica na própria bondade e força
interior, a crença de que se tem o controle da situação. O grande momento
59
decisivo para a grande maioria das pessoas é aceitar sua insegurança e parar de
tentar ocultá-la.
Aqui não se observa uma aceitação da vulnerabilidade, mas sim uma
tentativa de ocultação da insegurança, com a escolha de um outro individuo, que
deverá suprir todas as necessidades emocionais de quem a escolheu. É como
uma sentença, uma condenação: “você e eu deveremos permanecer juntos para
toda a vida, eu dependendo de você e você suprindo minhas necessidades”.
O depósito de todas as expectativas de felicidade em um outro ser humano
é um comportamento típico de pessoas que não tiveram experiência de afeto e
segurança em tempos anteriores. Repetem então, na vida adulta, a posição de
vulnerável e a necessidade de alguém que as proteja e supra. Viscott (1982, p. 32)
afirma sobre o desenvolvimento saudável que o indivíduo, “ao crescer, aprende
que, por mais poderosa que fosse a pessoa que o protegia, nem sempre podia-se
contar com ela para o proteger e, mesmo que ela pudesse, nem sempre essa
pessoa sabia o que é que o ameaçava, do que é que o deveria proteger.” Estas
mulheres não tiveram tal experiência, permanecem a procura de alguém poderoso
que as proporcione afeto, segurança e proteção. O pensamento apresenta-se na
fantasia e não na realidade.
Segundo Minuchin (1990), quando acontece a formação de um novo casal,
este deve definir novos padrões de se relacionar. O holon conjugal deve aprender
a lidar com conflito, que ocorre inevitavelmente, quando duas pessoas estão
formando uma nova unidade. O desenvolvimento de padrões viáveis de expressar
e resolver o conflito é parte crucial desse período inicial.
Bowlby (1998) afirma que desde Freud, os psicanalistas têm ressaltado a
tendência das pessoas, que tiveram uma falta real de afeto, a estabelecer, desde
a infância, relações angustiosas e ambivalentes com as pessoas de que gostam.
Freud as descreve como personalidades que combinam “uma forte fixação ao
objeto de amor” com reduzida capacidade de resistência à frustração e ao
desapontamento.
Pois é frustração e desapontamento que todas as mulheres desta pesquisa
descrevem sobre seus relacionamentos amorosos. A sensação de não ser
60
correspondida e de ser a única que se dedica à construção da relação é bastante
evidente em suas falas. Alguns exemplos são “ele era muito imaturo e só queria
se aproveitar de mim” (sic), “ele sai do trabalho e vai para o bar, encontrar os
amigos, demora para vir para a casa” (sic), “ele não era muito presente na minha
vida, só me pedia dinheiro e o carro” (sic).
Mesmo com esta situação conjugal, estas mulheres não desenvolveram
nenhum comportamento em destino à mudança. Não era confortável estar nesta
relação, mas mesmo assim, deveriam continuar, queriam permanecer com aquele
homem. Segundo Rosset (2005, p. 95), “ser independente numa relação amorosa
de parceria significa também ter o direito e a responsabilidade de tomar decisões
pessoais sem consultar o parceiro ou até sem a aceitação dele. Independência
pressupõe responsabilidade, escolhas, preços e riscos.”
Não foi a conquista destas mulheres, que são dependentes desta relação,
justamente por sofrerem uma falta de afeto tão essencial na infância, como já foi
descrito anteriormente.
Em acordo com a abordagem sistêmica, o princípio de complementariedade
coloca que existem relações baseadas na igualdade, com uma relação simétrica,
onde os parceiros tendem a refletir sobre o comportamento um do outro. E há
também a relação complementar, baseada na desigualdade, em que o
comportamento de um parceiro complementa o do outro. Em todas as relações
estão contidas as permutas comunicacionais simétricas ou complementares,
segundo se baseiam na igualdade ou na diferença. (WATZLAWICK, BEAVIN e
JACKSON, 2000).
Nos casos estudados no presente trabalho, houve uma disfuncionalidade
na relação, ou seja, uma única forma de relação e comunicação foi cristalizada.
Assim, quando um membro da relação é extremamente apegado e dependente, o
outro tende a afastar-se, tornar-se independente e até mesmo desinteressado.
Segundo Rosset (2005), a relação amorosa é a relação que mais traz à
tona as dificuldades e as aprendizagens necessárias ligadas às questões de
independência e dependência. Uma relação amorosa não consegue se
estabelecer se não houver um movimento de dependência emocional dos
61
envolvidos, pois se cada um se interessa só pela sua vida e suas questões, não
haverá uma construção conjunta de relação.
A mesma autora afirma que o grande desafio, então, é reorganizar as
questões de dependência conforme a relação vai acontecendo, estruturando-se e
modificando-se. A dependência é necessária, pois a vida em comum força os
parceiros a assumirem decisões quanto ao que farão juntos ou a que irão partilhar,
ao mesmo tempo, eles precisam ser independentes e assumirem o que não farão
juntos ou o que não irão partilhar. (ROSSET, 2005, p. 94)
A independência garante riqueza e diversificação do casal. Mantendo
aspectos individuais, cada um dos cônjuges terá experiências e aprendizagens
únicas, ao voltar para o casal, ambos trarão novos itens para a relação. (ROSSET,
2005, p. 94)
Nas mulheres estudadas, a independência do cônjuge é extrema, bem
como a dependência que elas apresentam em relação a eles, colocando-se em
uma posição que chega a ser próxima do masoquismo. Aceitam tudo que eles
fazem, fecham os olhos para aspectos negativos, e mesmo diante de tanto
sofrimento, permanecem na relação. “A masoquista coloca a dor na posição
central. É a própria masoquista quem perpetua a norma de sofrimento em sua
vida, sobretudo mediante processos de comunicação que alertam outras pessoas
para sua inclinação à submissão e seu medo do poder que exercem sobre ela.”
(SHAINESS, 1991, p. 10)
A dependência do parceiro por elas desenvolvida em suas relações
também é temperada com o forte medo de perdê-lo. Voltando na questão do
desenvolvimento infantil e da tese afirmada neste estudo de que as relações, na
vida adulta, estabelecidas por estas mulheres são uma tentativa de resgate de
uma relação afetiva na infância que não ocorreu, Bowlby (1998) tem a contribuir
quando coloca que não obstante, embora as pessoas que estabelecem apegos
angustiosos e ambivalentes tenham, provavelmente, sofrido interrupções da
assistência paterna ou materna e/ou muitas vezes tenham sido rejeitadas pelos
pais, é mais provável que essa rejeição tenha sido intermitente e parcial do que
total. Conseqüentemente as crianças, ainda na esperança de obter amor e
62
cuidado e ao mesmo tempo profundamente angustiadas com a possibilidade de
serem esquecidas ou abandonadas, aumentam suas exigências de atenção e
afeto, recusando-se a ficar sozinhas e protestando com raiva quando isso
acontece.
Estas mulheres apresentam uma maior exigência afetiva e de atenção e
dependem disso, temendo fortemente perder a pessoa escolhida para lhes
proporcionar tais fatores. Quando na infância, de acordo com o mesmo autor
supracitado, a falta de atenção e afeto traz um comportamento resultante de
conformismo angustiado ou rebeldia com raiva, com um verniz de indiferença, isso
depende, em parte, da existência de uma afeição maternal autêntica, além das
ameaças, e, em parte, do sexo, da idade e temperamento da criança. De qualquer
modo a pessoa é levada a acreditar, de maneira inquestionável, que, se a mãe
desaparecer, a culpa será totalmente sua. Não é de se espantar, portanto, que
quando a mãe morre, ou mais tarde a esposa ou o esposo, a pessoa se culpe por
isso. (BOWLBY, 1998, p. 230)
Assim, além da dependência de outrem, do medo de perder, elas ainda
apresentam sentimento de culpa, caso essa perda ocorra. Por isso, mantém-se
comportadas passivamente diante dos acontecimentos, e sempre em acordo com
o desejo do parceiro, para não perdê-lo e principalmente, para não sofrerem a
culpa de ter perdido. Elas se encontram, novamente, na mesma situação que
estavam enquanto crianças.
Com a descrição realizada sobre os relacionamentos estabelecidos pelas
mulheres estudadas, um cônjuge afastado demasiadamente de sua parceira
apresenta a possibilidade de sentir-se disposto a iniciar outros relacionamentos, e
ocorre a traição, a comprovação da traição e em seguida, o fim do relacionamento
ou a ameaça de que este se acabe, fatores descritos por absolutamente todas as
participantes como causa da tentativa de suicídio.
A infidelidade é a quebra de confiança, a traição de um relacionamento, o
rompimento de um acordo. A infidelidade traz conseqüências para o cônjuge, para
o que traiu, para a relação e para os filhos. Tais conseqüências envolvem dores,
inseguranças, mágoas, vinganças e culpas. (ROSSET, 2005, p. 101 e 104)
63
Para as participantes, a traição tomou uma dimensão ainda maior.
Descrevem sentimentos como se seu mundo tivesse acabado, como se nada mais
restasse se não tentar resgatar aquela relação ou deixar de viver. As frases
marcantes são: “me senti sem nenhuma esperança, ele sempre foi minha única
esperança de vida” (sic), “eu tinha que acabar com aquela pessoa fracassada,
incapaz e não merecedora que era eu mesma” (sic), “eu não tinha mais
sentimento por nada, perdi o amor por tudo e minha vida não tinha mais graça”
(sic). Esses sentimentos decorrem do tipo de relação estabelecida por elas, de
acreditar que aquela pessoa supriria todas as suas necessidades.
Marcelli (1998) afirma que episódios posteriores à infância de insuficiência,
de distanciamento ou de descontinuidade das relações interpessoais podem fazer
com que reapareçam alterações que, de outra forma, teriam sido mais ou menos
totalmente reversíveis.
Mesmo com toda essa gama de sentimentos, a ambivalência apresentada
pelas participantes faz com que apresentem também um desejo de permanecer na
relação e perdoar a traição. Retomar a pseudo-segurança que viviam, deixar as
coisas como estavam. Este tema será abordado mais detalhadamente em
seguida.
Como o objetivo do comportamento de apego é manter um laço afetivo,
qualquer situação que parece colocar em risco esse laço provoca ação destinada
a preservá-lo. E quanto maior parecer o risco de perda, mais intensas e variadas
serão as reações para evitá-la. Nessas circunstâncias, todas as formas mais
poderosas de comportamento de apego são ativadas – agarramento, choro e
talvez coação raivosa. Essa é a fase de protesto e de tensão fisiológica aguda e
de aflição emocional. Quando essas ações são bem-sucedidas, o laço é
restabelecido, as atividades cessam e os estados de tensão e aflição são
aliviados. Quando, porém, o esforço para restabelecer o laço é mal-sucedido, mais
cedo ou mais tarde o esforço esmorece. (BOWLBY, 1998, p. 41 - 42)
Marcelli (1998) que relata as três fases de reação à separação, descrito
também por Bowlby (1998), como o protesto, o desespero e o desapego.
64
Psicodinamicamente interpreta-se como a expressão da dor e do sofrimento, a
manifestação da depressão e do luto e o trabalho psíquico e de reconstrução
A forma de tentativa de resgate do relacionamento descrito pelas
participantes constituiu-se de conversas com os parceiros, conversas com outras
pessoas, mas sempre havendo predomínio do sentimento de desespero. Elas
enfatizam que tanto para as pessoas que acompanhavam a situação, como para o
cônjuge, o desespero que apresentavam era muito extremado e chegavam a
serem incompreendidas. De acordo com Viscott (1982, p. 32) “todo mundo já
passou por uma mágoa na vida. Muitas vezes as perdas mais óbvias, mesmo para
um observador casual, são difíceis de se reconhecer, porque ficamos mais
magoados especialmente onde nossas defesas operam.” E estas mulheres, pela
sua própria história de vida, apresentam uma falta afetiva primordial, da qual
sempre precisam defender-se.
Mesmo diante da sensação que relatam estas mulheres, de não terem sido
ouvidas e compreendidas, de acordo com Watzlawick, Beavin e Jackson (2000),
todo o comportamento, numa situação interacional, tem valor de mensagem, é
comunicação, por mais que o indivíduo se esforce, é-lhe impossível não
comunicar. Atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de
mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua vez, não podem não
responder a essas comunicações e, portanto, também estão comunicando. Isso
explica que estas mulheres comunicaram seus sentimentos, e mesmo a falta de
reação dos cônjuges foi uma forma de comunicação deles em resposta ao que
elas estavam mostrando. E, possivelmente, diversas outras formas de
comunicação dos sentimentos em relação à traição e ao que seria feito com o
ocorrido aconteceram, mas de forma subliminar, que dificilmente seriam captadas
conscientemente por estas mulheres a ponto de relatarem verbalmente suas
emoções.
Qualquer comunicação implica um cometimento, um compromisso; e, por
conseqüência, define a relação. Isto é outra maneira de dizer que uma
comunicação não só transmite informação mas, ao mesmo tempo impõe um
comportamento. (WATZLAWICK, BEAVIN e JACKSON, 2000, p. 47)
65
O que ocorre é que diante de uma crise, de um conflito, cada pessoa reage
de acordo com seu funcionamento e seus mecanismos psíquicos. Deve ser outra
vez frisado que o conflito, quer intrapsíquico, quer entre o organismo e o meio
ambiente, é um fenômeno ubíquo na vida humana. A natureza e a intensidade
desses conflitos variam de pessoa para pessoa, assim como de ocasião para
ocasião, dentro do espaço vital do indivíduo. Já foi posto em relevo que durante o
desenvolvimento psicológico, desde a infância até a maturidade, o conflito é
inevitável. De fato, em quantidades ideais e na idade apropriada, o conflito serve
para estimular o desenvolvimento do ego em termos de domínio ou de capacidade
de adaptação e tolerância à frustração. (DEWALD, 1981, p. 70-71)
Os mecanismos de adaptação a uma nova situação e de enfrentamento de
conflitos e crises estão bem descritos por Dewald (1981). A presença de reações
emocionais não é patognomônica de psicopatologia ou de formação de sintomas
neuróticos. A resolução e a adaptação não-neurótica de um conflito implicará, pelo
menos parcialmente, o conhecimento consciente da existência de tal conflito, seja
intrapsíquico, seja de relacionamento com o meio ambiente. Além disso, deverá
haver na resolução a utilização de lógica e do pensamento do processo
secundário, o que será empreendido dentro da estrutura do princípio de realidade.
Deverá haver um uso mínimo de mecanismos de defesa do ego, uma
ocorrência mínima de regressão fixada, assim como de restrição e inibição de
outras funções do ego. De acordo com esta afirmação de Dewald (1981), quando
diante de um conflito ou crise, o ser humano regride a pontos anteriormente
vivenciados na busca de uma resolução. A dimensão de tal conflito para as
mulheres desta pesquisa as leva a lembranças, ainda que inconscientes, da
rejeição que sofreram enquanto crianças. Sem dúvida estas lembranças trazem
sentimentos
de
desespero,
desamparo
e
desesperança,
justamente
os
sentimentos apontados como tipicamente antecedentes de um episódio de
tentativa de suicídio.
Dewald (1981), coloca que, em outras palavras, num nível descritivo, isso
implicará a intenção, orientada para a realidade, de resolver e modificar a
situação, de maneira que o conflito seja eliminado; ou de usar um controle e
66
repúdio consciente dos impulsos internos inaceitáveis ou seus derivados; ou de
tolerar a frustração desses impulsos até que se apresentem oportunidades de
satisfação orientadas para a realidade. Um conflito pode ser temporário ou
permanentemente insolúvel. Neste último caso, o indivíduo normal aceitará seu
conflito e aprenderá a lidar com ele sem elaboração secundária nem regressão
que dirija para a formação de um sintoma neurótico, ainda que possa sentir-se
infeliz no estado presente.
Mas, para as participantes do presente estudo, houve formação de sintoma,
que pode ser analisado de formas diferentes e complementares, com auxílio da
psicanálise e da psicologia sistêmica.
Segundo a teoria psicanalítica, sintomas são resultados de um conflito entre
desejo e censura, que entram em acordo através deste sintoma, que se torna uma
nova forma de satisfação da libido, sustentada por ambas as partes. Porém, são
entendidos como atos prejudiciais, ou pelo menos inúteis à vida da pessoa que
deles se queixa como sendo indesejados e causadores de desprazer. (FREUD,
1916)
Aprofundando mais a questão do sintoma para a psicanálise, por muitas
situações na vida de um sujeito a libido torna-se insatisfeita, ao entrar em contato
com a realidade intransigente. Os sintomas criam um substituto para a satisfação
frustrada, permitindo a regressão da libido a épocas anteriores, um retorno a
estádios anteriores de escolha objetal ou de organização, onde há tempos
encontrou satisfação, mas que já havia abandonado. Porém, o ego não permite
que esta realização ocorra, não concorda com esta regressão, e causa mais um
conflito, em que a libido encontra-se duplamente frustrada. Mas a libido procura
escapar do ego, para encontrar descarga, e em direção do princípio do prazer,
retira-se, torna-se inconsciente e assim encontra as fixações já reprimidas pelo
ego. Agora está sujeita aos processos de deslocamento e condensação e pode
repetir este tipo de satisfação infantil, de uma forma totalmente deformada e
distorcida e muitas vezes transformada em sensação de sofrimento. (FREUD,
1916)
67
Importante ressaltar o que Freud sempre descreveu como fantasia no
sintoma. As experiências infantis de satisfação nem sempre são verdadeiras e por
vezes são fantasias que o sujeito cria para preencher lacunas no seu inconsciente
para fatos para os quais não tem uma explicação.
Tomando o pensamento psicodinâmico em acordo com o descrito acima
por Freud (1916), o sintoma das mulheres desta pesquisa seria seu
comportamento de formar vínculos angustiosos com homens que não se dedicam
à relação, pelo contrário, não lhes fornece o afeto, atenção e segurança de que
necessitam. Neste sentido, o sintoma é uma repetição, um retorno ao ponto de
fixação. Aquele ponto infantil em que queriam afeto, atenção e proteção e não o
tinham, e sobre o qual provavelmente desenvolveram uma fantasia defensiva que
as faz crer que aquilo era satisfatório. Esta fantasia é um mecanismo necessário
no sentido de proteger o sujeito de uma situação intolerável que é a rejeição
infantil.
Sendo assim, na busca deste ponto de fixação que fantasiosamente é um
ponto de satisfação, estas mulheres buscam relações que as proporcione a falta
de afeto, de segurança e proteção, bem como tinham nas primeiras experiências.
Tudo de forma bastante inconsciente, como descrito anteriormente.
Tomando um olhar mais sistêmico sobre o sintoma, teremos outras
considerações. Para a teoria sistêmica, o sintoma é útil e revela algo que está
acontecendo e quais as aprendizagens necessárias. Minuchin e Fishman (1990),
descrevem o sintoma sempre em relação à família do indivíduo. Para a escola
estratégica, o sintoma é uma solução protetora e o portador do sintoma se
sacrifica para defender a homeostase familiar. Já para a escola estruturalista, que
olha para a família como um organismo, esta proteção não é uma resposta
intencional “auxiliadora”, mas sim a reação de um organismo sob tensão.
A perspectiva do ciclo de vida familiar vê os sintomas e as disfunções em
relação ao funcionamento normal ao longo do tempo, e vê a terapia como
ajudando a restabelecer o momento desenvolvimental da família. Ela formula
problemas acerca do curso que a família seguiu em seu passado, sobre as tarefas
que está tentando dominar e do futuro para o qual está se dirigindo. A família é
68
mais do que a soma de suas partes. O ciclo de vida individual acontece dentro do
ciclo de vida familiar, que é o contexto primário de desenvolvimento humano.
Consideramos crucial esta perspectiva para o entendimento dos problemas
emocionais que as pessoas desenvolvem na medida em que se movimentam
juntas através da vida. (CARTER e MCGOLDRICK, 1995, p.08)
O sintoma, segundo o pensamento sistêmico, é a expressão das relações e
serve a algum propósito. Ele mantém a coesão do grupo às custas da perda da
individuação. Ele pode ser compreendido como um sinal de que algo não está
bem, e surge como um paradoxo, uma dupla função, pretendendo que nada
mude, mas para que algo seja feito para mudar.
Pensando por este viés, o sintoma das mulheres aqui estudadas seria o
episódio da tentativa de suicídio. Compreende-se que estavam atravessando a
mais forte crise de suas vidas, enfrentando um conflito demasiadamente
significativo em acordo com suas histórias de vida. Devido a toda sua estruturação
familiar na família de origem, que se repetiu na formação da nova família ou do
casal elas não têm possibilidades de solucionar o problema de maneira funcional,
somente através de um sintoma.
A teoria da comunicação concebe um sintoma como uma mensagem nãoverbal: não sou eu quem não quer (ou quer) fazer isto, é algo fora do meu
controle; por exemplo, os meus nervos, a minha ansiedade, a minha doença, a
minha vista deficiente, o álcool, o modo como fui criado, os comunistas ou a minha
mulher. (WATZLAWICK, BEAVIN e JACKSON, 2000, p. 73). No caso do presente
estudo, costumam acusar o marido, como quem que lhe fez despertar a vontade
de morrer.
Continuando com as idéias de Watzlawick, Beavin e Jackson (2000), o
truque torna-se perfeito uma vez que a pessoa se convenceu de que está à mercê
das forças acima do seu controle e, por conseguinte, se libertou tanto da censura
dos outros significantes como dos seus próprios rebates de consciência. Isto é um
sintoma.
Assim, elas pretendem manter tudo como está com o sintoma. A
possibilidade de o cônjuge sentir-se extremamente culpado pela sua quase morte
69
seria uma forma de fazê-lo voltar, arrependido. Assim, a relação permaneceria a
mesma. Elas também pretendem provocar mudança com este comportamento
sintomático, talvez arrependido, ele volte a ser carinhoso, atencioso e proporcione
a segurança de que tanto necessitam.
Portanto, o interessante é observar que a reação das pessoas ao
comportamento suicida nem sempre é a esperada. Analisando os casos, observase que em dois casos não houve mudança significativa, mas sim a manutenção da
situação. Nos outros casos, houve grandes mudanças após a tentativa de suicídio.
A primeira entrevistada revela que absolutamente nada mudou em sua vida
após a tentativa de suicídio, a não ser o fato de se sentir menos valorizada pelas
pessoas próximas. O marido ameaçou sair de casa, mas não foi. Ela ameaçou se
matar, mas não conseguiu, e absolutamente nada ocorreu.
Assim como para a terceira participante da pesquisa, a tentativa de suicídio
também não provocou mudanças, mas manteve a situação. A ameaça do marido
de sair de casa pareceu uma situação insustentável, e foi preferível mantê-lo
próximo. Chegou a ter uma reaproximação dos pais após a tentativa de suicídio,
mas esta mudança não durou por muito tempo. Logo voltou ao lar com o marido e
filho, e tudo permaneceu como estava. Esta mulher já cometeu diversas tentativas
de suicídio, sendo que se pode afirmar que este sintoma já está operando como
uma constante, e possivelmente neste caso somente um tratamento psicoterápico
possa ajudar esta família.
Segundo Carter e McGoldrick (1995), as famílias, caracteristicamente, não
possuem uma perspectiva temporal quando estão tendo problemas. Elas
geralmente tendem a magnificar o momento presente, esmagadas e imobilizadas
por seus sentimentos imediatos; ou elas passam a fixar-se num momento futuro
que temem ou pelo qual anseiam. Elas perdem a consciência de que a vida
significa um contínuo movimento desde o passado e para o futuro, com uma
continua transformação dos relacionamentos familiares.
As mesmas autoras supracitadas trazem algumas explicações sobre os
ciclos de vida familiar coerentes com esta pesquisa. Colocam que o estresse
familiar é geralmente maior nos pontos de transição de um estágio para o outro no
70
processo desenvolvimental familiar, e os sintomas tendem a aparecer mais
quando há uma interrupção ou deslocamento no ciclo de vida familiar em
desdobramento. Muitas vezes, é necessário dirigir os esforços terapêuticos para
ajudar os membros da família a se reorganizarem.
Já para a segunda participante, ocorreram diversas mudanças após sua
tentativa de suicídio. A princípio seu pensamento era de que nada mais na vida
importava se o namorado não estivesse com ela. A ameaça de morte até o trouxe
de volta, reataram o relacionamento e mantiveram as coisas como estavam. Mas
as mudanças provocadas foram mais fortes, sendo que houve uma reaproximação
da família de origem. Os relacionamentos primordiais foram revistos, houve
momentos de afeto, de retificação subjetiva. Isto proporcionou um resgate de um
lado saudável do funcionamento emocional desta mulher, pois a partir destes
acontecimentos, foi sentindo-se cada vez mais segura de si, independente e
protegida. Ela sente que tem a quem recorrer em momentos mais difíceis e
portanto foi capaz de desmanchar o relacionamento e perceber que aquele rapaz
não a correspondia no que necessitava. Uma nova força interior foi desenvolvida,
novas aprendizagens foram realizadas.
Finalmente a quarta participante revelou que houve mudanças significativas
após sua segunda tentativa de suicídio. Lembrando que no primeiro episódio,
ninguém a viu nem foi comunicado. Já na segunda vez, os filhos posicionaram-se
extremamente preocupados, e reaproximaram-se, dando-lhe atenção e carinho na
intenção de que ela não repetisse o ato.
Interessante observar que para as duas, a mudança só veio com a
resolução de um conflito anterior ao fato que as levaram à tentativa de suicídio.
Um conflito que se estabeleceu muito anteriormente do término do relacionamento
ou da traição do cônjuge. Para a segunda entrevistada, foi o resgate dos laços
com os pais e irmãs, e para a quarta participante foi o resgate dos laços com os
filhos rapazes, que a haviam julgado e abandonado. Para as duas entrevistadas
em que a mudança não ocorreu, o desejo de morrer, sumir e acabar com sua dor
permanece. O sintoma permanece, o problema permanece.
71
Para Carter e McGoldric (1995), existem muitas evidências de que os
estresses familiares, que costumam ocorrer nos pontos de transição do ciclo de
vida, freqüentemente criam rompimentos neste ciclo e produzem sintomas ou
disfunções. E também existem crescentes evidências de que os eventos de ciclo
de vida possuem um efeito continuado sobre o desenvolvimento familiar durante
longo período de tempo. Portanto é necessário rever o passado da família para
compreender o momento presente.
Aprofundando mais este conhecimento, consideramos o fluxo de ansiedade
em uma família como sendo tanto vertical quanto horizontal. O fluxo vertical em
um sistema inclui padrões de relacionamento e funcionamento que são
transmitidos para as gerações seguintes de uma família principalmente através do
mecanismo de triangulação emocional. Ele inclui todas as atitudes, tabus,
expectativas, rótulos e questões opressivas familiares com as quais nós
crescemos. Poderíamos dizer que esses aspectos de nossa vida são como a mão
que nos maneja: eles são dados. O que fazemos com eles é problema nosso.
(CARTER e MCGOLDRICK, 1995, p. 11)
O fluxo horizontal no sistema inclui a ansiedade produzida pelos estresses
na família conforme ela avança no tempo, lidando com as mudanças e transições
do ciclo de vida familiar. Isso inclui tanto os estresses desenvolvimentais
predizíveis quanto os eventos impredizíveis, “os golpes de um destino ultrajante”
que podem romper o processo de ciclo de vida. Dado um estresse suficiente no
eixo horizontal, qualquer família parecerá extremamente disfuncional. Mesmo um
pequeno estresse horizontal em uma família em que o eixo vertical apresenta um
estresse intenso irá criar um grande rompimento no sistema. (CARTER e
MCGOLDRICK, 1995, p.12)
Para melhor visualização dos casos, tem-se abaixo a Figura 01, que mostra
o ocorrido e as conseqüências vividas pelas mulheres aqui pesquisadas. Diante
de todas as considerações acima descritas sobre os casos estudados no presente
trabalho, serão tomadas algumas conclusões, descritas a seguir.
72
Figura 01: Representação esquemática dos casos e suas conseqüências.
INFÂNCIA
Não proporcionou experiência afetiva, segurança ou proteção
VIDA ADULTA
Repetição da busca de segurança infantil ainda em uma posição de vulnerável e
extremamente dependente
TENTATIVA DE SUICÍDIO
Percepção de que não havia conquistado a segurança e proteção que buscava.
Sentimento de desespero, desesperança e desamparo. “Tudo de novo não! Se
não tenho a segurança e aceitação de que preciso prefiro morrer.”
Sobrevivência à tentativa de suicídio. Quais as conseqüências disso?
Nada ocorre. A
família de origem
nem sequer fica
sabendo do fato.
O desejo de
morrer
permanece,
aparecem outros
sintomas, desta
vez somáticos. O
cônjuge
permanece com
a esposa.
A família de
origem
apresenta
mudança,
reaproxima-se
da vítima e há
experiências de
retificação
subjetiva. A
separação do
cônjuge torna-se
possível.
O cônjuge sentese responsável
pelo fato e decide
ficar com a
esposa. As coisas
permanecem
como sempre
foram. A família de
origem se
reaproxima em um
primeiro momento,
mas esta mudança
não dura mais de
dois meses.
Os filhos se
reaproximam e
proporcionam
mais segurança
e proteção à
vítima. A
experiência a
princípio não lhe
parece suficiente
e o desejo de
morrer
permanece.
Tempos depois
esquece tal
idéia.
73
A figura número 01 resume todos os casos aqui estudados de uma forma
esquemática, possibilitando clareza na percepção de que todas as participantes
apresentam fatores em comum em relação às suas histórias de vida,
principalmente relativos ao tempo da infância e às conseqüências desta época,
como os casamentos até chegarem no episódio da tentativa de suicídio. Porém,
as conseqüências destas tentativas de suicídio foram diferentes para cada uma
delas, o que evidencia que a questão do suicídio é bastante particular. É
plenamente possível realizar-se estudos em que se evidenciam fatores comuns
entre pessoas que cometem o suicídio ou a tentativa, mas nunca se pode
esquecer que estas ocorrências abrangem histórias de vidas e subjetividades
únicas e conseqüências únicas também, havendo sempre a necessidade de não
generalizar e de manter a individualidade de cada caso.
74
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para melhor compreensão, e aproximação de uma conclusão, em termos
gerais, pode-se evidenciar sobre cada uma das pesquisadas no presente estudo
que sua infância, que não lhe proporcionou segurança ou afeto, lhe fez repetir a
busca por tais fatores na vida adulta, ainda em uma posição infantil, vulnerável e
dependente. Quando ocorre a compreensão de que a conquista de segurança e
proteção não foi possível, é gerada uma frustração intolerável referente não só
àquele momento, mas a toda a vida da pessoa, que perde o sentido e a leva a
uma tentativa de suicídio. Novamente a percepção de que não havia ninguém por
ela, que a pudesse defender e em quem pudesse confiar não foi sustentada.
Mas o interessante é que não ocorre um suicídio, e sim uma tentativa de
suicídio, ou seja, a vida continuou, não houve morte nem seqüelas físicas. Uma
grande questão que surgiu, a princípio, com este estudo, é se estas mulheres
cometeram uma tentativa de suicídio para definitivamente acabar com sua vida,
que já não fazia mais sentido, ou se foi uma forma manipulativa de provocar
mudança na relação com o parceiro.
Sabe-se, pela literatura que um ato suicida tem várias funções que vão
depender de cada indivíduo e situação. De acordo com Cassorla (1991), de uma
forma geral, o suicida está tentando fugir de uma situação de sofrimento que
chega às raias do insuportável.
Frankl (1989) coloca o termo suicídio-balanço, explicando que uma pessoa
só poderia decidir por uma morte voluntária baseando-se em um balanço que fez
de sua vida inteira. Esse balanço é baseado no prazer, que em geral é o sentido
da vida, mas tem de ser forçosamente negativo, tão negativo que o continuar
vivendo chegue necessariamente a afigurar-se sem valor. O autor coloca como
duvidoso que a pessoa esteja em condições de fazer tal balanço com objetividade
suficiente a ponto de afirmar que não existe outra saída que não o suicídio.
Muitas pessoas, ao tomarem conhecimento do episódio de tentativa de
suicídio relatado por estas mulheres podem pensar em um caráter manipulativo
bastante óbvio. Mas aqui, tem-se que ir mais a fundo. Ouvindo simplesmente o
75
relato das entrevistadas nota-se que tentaram o suicídio porque o marido ou
companheiro não estava mais com elas ou ameaçava ir embora. Após o episódio,
houve ganhos secundários, que variam desde a volta do companheiro até a
reaproximação da família e dos amigos.
A própria literatura a respeito das tentativas de suicídio mostra-se bastante
ambivalente, com opiniões bastante variadas. Meleiro, Teng e Wang (2004) citam
Kreitman e cols. (1970) que recomendaram o emprego do termo parassuicídio
para referir a qualquer ato deliberado que resulta em autolesão e com desfecho
não fatal, banindo a noção de intenção de morte de suas definições. Este ato seria
o equivalente às tentativas de suicídio e, segundo Thompson e Bhugra (2000),
citados pelos mesmos autores supracitados, esse ato tem como objetivo promover
mudanças que o sujeito deseja.
Continuando com os mesmos autores acima, Ayd (1995), definiu a tentativa
de suicídio como qualquer ato com ameaça à vida que requer atenção médica e
foi cometido com a intenção consciente de terminar com a própria vida.
Representa uma ação potencialmente letal, mas não bem-sucedida.
Já Cassorla (1991) afirma que até mesmo em casos de suicídio consumado
o suicida não quer morrer, na verdade ele nem sabe o que é a morte. O que ele
deseja é fugir do sofrimento. As fantasias inconscientes são o desejo do encontro
de uma vida cheia de paz, sem sofrimento e vingança dos que ficam e vão sofrer
com sua morte.
Ou seja, a intencionalidade fatal é ainda uma dúvida para os estudiosos do
suicídio, e principalmente para os casos de tentativas de suicídio e,
possivelmente, deve ser sempre investigada particularmente em cada caso.
Analisando as entrelinhas dos discursos das mulheres pesquisadas,
percebendo mais profundamente os detalhes de todo o episódio, considerando-o
não como um fato isolado, mas como algo dentro do contexto de toda a história de
vida da pessoa, há outras considerações a serem feitas.
O caráter manipulativo passa a fazer parte dos bastidores do episódio. De
fato, o que ocorre é a revivência das frustrações infantis, que tanto marcaram a
vida e constituíram estas mulheres. Fica bastante compreensível que a vida perca
76
o sentido, que a dor seja tão imensa e insuportável a ponto de nada mais importar
e nada mais ser capaz de fazê-las parar e pensar. A dor emocional toma conta e
as leva a apenas um objetivo, que é acabar com tudo.
Ressalta-se que a dor emocional não é decorrente dos desentendimentos
com o companheiro, mas do significado que estes desentendimentos ganham no
contexto de vida das mulheres. É como se elas tivessem novamente sendo
rejeitadas pela única pessoa que poderia lhes proporcionar segurança e
aceitação, como se fosse uma reedição da cena infantil.
Porém, não se pode negar que houve ganhos secundários em todos os
casos. O interessante é que as duas participantes que tiveram como ganho a
manutenção de tudo como estava, ou seja, a permanência do marido e a
manutenção da relação, continuam apresentando sintomas no momento. Uma
delas possui uma artrite reumática que lhe causa dores tão fortes, que chega a ter
vontade de morrer. Este sintoma mostra que, se a dor emocional não foi
considerada importante, tem-se dores físicas que a fazem pensar em matar-se. A
outra participante continua com ideação suicida (apesar de isto não aparecer nas
escalas aplicadas), com diagnóstico de depressão, realizando tratamento
psicológico e psiquiátrico em CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
As outras duas participantes, que não tiveram a permanência ou volta do
companheiro para a casa, tiveram ganhos de reaproximação da família de origem
e resgate de auto-confiança e segurança, em um dos casos. No outro, a
reaproximação dos filhos, que a proporcionou mais atenção e findou o sentimento
de solidão.
Em acordo com a literatura o principal tipo de motivação para os suicídios
presentes neste estudo seria o suicídio desesperado, que se caracteriza pela
intolerabilidade e falta de esperança que a situação oferece ao indivíduo, sendo a
fuga da situação a maneira avaliada como mais adequada para resolver
problemas. Geralmente, nesses casos, a decisão é ambivalente, porém, a
percepção de desesperança, impotência, a crença de que nada podem fazer
diante da situação, além da percepção de um futuro sem esperança e pior do que
o presente, acabam favorecendo o desfecho. (BAPTISTA, 2004)
77
Assim, respondendo à pergunta proposta para tal estudo sobre qual o
significado que uma tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa obtém na
vida da pessoa que a comete, têm-se as seguintes reflexões ainda a tecer.
A tentativa de suicídio destas mulheres foi um ato decorrente do extremo
desespero vivido pela possibilidade de perda de algo considerado como único
fator de aceitação que possuíam. A ingestão da grande quantidade de medicação
foi uma tentativa de acabar com a dor emocional que viviam, independente se
pensaram claramente em morrer, ou se esta idéia era vaga. Elas utilizaram o
método suicida mais brando e principalmente mais lento, em que poderiam
plenamente ter tempo de serem salvas.
O que não aparece no relato destas mulheres, mas que fica claro quando
se analisa mais profundamente os casos, é que este desespero não era apenas
referente à perda do companheiro, mas sim, referente à confirmação de que
nunca tiveram um espaço, nunca foram aceitas pelas pessoas e por isto não
pertenciam ao mundo. Este sentimento, decorre, como já foi explanado neste
estudo, da forma de relação que foi estabelecida na infância.
Então, o significado que a tentativa de suicídio obteve na vida das
pesquisadas é de uma forma desesperada de solucionar o problema vivido. O que
elas parecem não ter clareza é que o problema não é a perda do companheiro,
mas sim uma rejeição, e justamente a rejeição da pessoa escolhida para suprir
suas faltas.
Isso explica por que outras pessoas em uma mesma situação, não se
comportam da mesma forma. Esse comportamento depende da história de vida da
pessoa, e da maneira como ela foi constituída em suas relações.
Talvez, para estas mulheres, a tentativa de suicídio possa representar uma
aproximação
de
todo
esse
conhecimento
sobre
a
sua
subjetividade,
principalmente para aquelas que decidiram por um tratamento psicológico após o
fato.
Mas, o que de mais importante esta pesquisa revela é que a reaproximação
da família de origem, proporcionando uma retificação subjetiva, uma revisão
destas relações infantis pode ser a oportunidade de mudança em seu
78
comportamento sintomático de buscar relações em uma posição de dependência,
e pode gerar a busca por relações mais funcionais ou até saudáveis, em que a
pessoa não esteja tão vulnerável aos acontecimentos externos ou ao
comportamento de com quem ela se relaciona.
O presente estudo então trouxe a possibilidade de aprofundar o
conhecimento acerca do suicídio e principalmente no que diz respeito às tentativas
de suicídio no gênero feminino. Estudando as respostas às perguntas, em alguns
casos, pôde-se hipotetizar sobre fatores individuais, relacionais, história de vida e
motivações pessoais, tecendo algumas correlações possíveis entre os casos.
Nesta pesquisa não foi possível contemplar de forma satisfatória a questão
da intencionalidade fatal dos casos, ou apenas do caráter desesperado de findar o
sofrimento. Também não se contemplou com profundidade a questão manipulativa
da tentativa de suicídio.
Recorda-se, porém, que estas não são conclusões nem mesmo atingidas
pela ampla literatura revisada para a realização deste estudo, e portanto, seria
necessário focalizar pesquisas somente nestes fatores.
De modo geral, a pesquisa aqui apresentada atingiu os objetivos propostos,
tomando conhecimento dos precedentes de uma tentativa de suicídio, conhecendo
quem são algumas das pretendentes e também os conhecimentos em relação às
necessidades de mudanças e suas comunicações e principalmente sobre o
significado da tentativa de suicídio na vida destas mulheres não como um fato
isolado ou um episódio pontual, mas como algo que vem se processando desde
os primórdios da infância.
Porém, esta forma de pesquisa limita-se na quantidade, sendo de extrema
dificuldade, através desta metodologia, chegar a conclusões generalistas a
respeito do tema tratado.
Assim, fica aqui a sugestão de continuidade do estudo, podendo-se através
de equipes e com maior disponibilidade de tempo ampliar a amostra da pesquisa,
para investigar de forma mais abrangente as questões subjetivas envolvidas em
uma tentativa de suicídio.
79
De qualquer forma, a pesquisa cumpre a intenção preventiva e deixa um
alerta às pessoas, principalmente às mulheres, sobre o quanto a insegurança
afetiva na infância possa ser um dos fatores contribuintes para a escolha de um
companheiro que dificilmente supre as necessidades básicas de afeto e proteção.
Um alerta sobre o quanto é arriscado delegar ao outro a responsabilidade sobre a
sua segurança emocional e sua proteção e afeto, e até mesmo delegar ao outro o
desejo pessoal de viver ou de morrer.
Rever as experiências de vida, aceitar a própria história e procurar
estabilidade, investindo em si mesmo, compreendendo que aspectos positivos e
negativos são contribuintes para a formação de qualquer pessoa é fundamental
para o indivíduo que pretende seguir saudável na sua caminhada, já que a vida
muitas vezes pode ser algo que insiste em prosseguir.
80
9. BIBLIOGRAFIA
ARZENO, Maria Esther Garcia. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
ASSUMPÇÃO, Letícia Constantino. A fantasia no sintoma. in: Terceira Jornada de
Cartéis da Escola da Coisa Freudiana. Curitiba: Escola da Coisa Freudiana, 2005.
BAPTISTA, Makilim Nunes (e cols.). Suicídio e depressão: atualizações. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
BERTALANFFY, Ludwig Von Teoria geral dos sistemas. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
1975.
BOWLBY, John. Apego: a natureza do vínculo. Vol. 1 da trilogia Apego e Perda.
São Paulo: Martins Fontes, 1990.
____________. Perda: tristeza e depressão. Vol. 3 da trilogia Apego e Perda. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
BRASIL, Ministério da Saúde. Prevenção do suicídio: manual dirigido a
profissionais das equipes de saúde mental. Campinas, 2006.
BREULIN, Douglas C.; SCHWARTZ, Richard C. e KUNE-KARRER, Betty Mac.
Metaconceitos: transcendendo os modelos de terapia familiar. 2.ed.Porto Alegre:
Artes Médicas, 2000.
CARTER, Betty. e MCGOLDRICK, Mônica e cols. As mudanças no ciclo de vida
familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas,
1995.
81
CASSORLA, Roosevelt M. S. (coord.). Do suicídio: estudos brasileiros. 2.ed.
Campinas: Papirus, 1991.
_________________. O que é suicídio. São Paulo: Brasiliense, 2005.
COODENAÇÃO GERAL DE SAÚDE MENTAL. Saúde Mental no SUS: informativo
da saúde mental. Edição especial para novos gestores. Ano IV, Nº 18. Brasília,
2005.
CUNHA, Jurema Alcides e cols. Psicodiagóstico – R. 4.ed.Porto Alegre: Artes
Médicas, 1993.
___________________ e cols. Manual da versão em português das Escalas de
Beck. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.
____________________ e cols. Psicodiagnóstico – V. 5.ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2002.
CURITIBA, Secretaria Municipal da Saúde de. Perfil do suicídio em Curitiba.
Curitiba: Centro de Epidemiologia, 2006.
_______________________________________________. Protocolo integrado de
saúde mental em Curitiba. Curitiba, 2002.
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.
Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
DEWALD, Paul. Psicoterapia, uma abordagem psicodinâmica. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1981.
82
ESPÍRITO SANTO, Alexandre. Delineamentos de metodologia científica. São
Paulo: Loyola, 1992.
FRANKL, Viktor E. Psicoterapia e sentido da vida. 3.ed. São Paulo: Quadrante,
1989.
FREUD, Sigmund. Fixação em traumas – o incosnciente (1916) in: Edição standart
das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. Vol. XVI.
______________. Os caminhos da formação dos sintomas (1916) in: Edição
standart das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
Vol. XVI.
______________. O sentido dos sintomas (1916) in: Edição standart das obras
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. Vol. XVI.
KANNER, Leo. Psiquiatria infantil. 4.ed. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1972.
KOVÁCZ, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1992.
KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer. 8.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
MARANHÃO, José Luiz de Souza. O que é morte. 4.ed. São Paulo: Brasiliense,
1999.
MARCELLI, Daniel. Manual de psicopatologia da infância de Ajuriaguerra. 5.ed.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
83
MELEIRO, Alexandrina; TENG, Chei Tung e WANG, Yuan Pang (coord.). Suicídio:
estudos fundamentais. São Paulo: Segmentofarma, 2004.
MINUCHIN, Salvador e FISHMAN, H. Charles. Técnicas de terapia familiar
sistêmica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Prevenção do suicídio: um manual para
profissionais da saúde em atenção primária. Genebra, 2000.
PARRA FILHO, Domingos. e SANTOS, João Almeida. Apresentação de trabalhos
científicos: monografia, tcc, teses e dissertações. 10.ed. São Paulo: Futura, 2000.
ROSSET, Solange Maria. O casal nosso de cada dia. 2.ed. Curitiba: Sol, 2005.
SHAINESS, N. Doce sofrimento. 3.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1991.
VISCOTT, David. A linguagem dos sentimentos. 7.ed. São Paulo: Summus, 1982.
WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick e JACKSON, Donald de Ávila.
Pragmática da comunicação humana. 11.ed. São Paulo: Cultix, 2000.
WERLANG, Blanca Susana Guevara e BOTEGA, Neuri José. (e cols.).
Comportamento suicida. Porto Alegre: Artmed, 2004.
84
ANEXOS