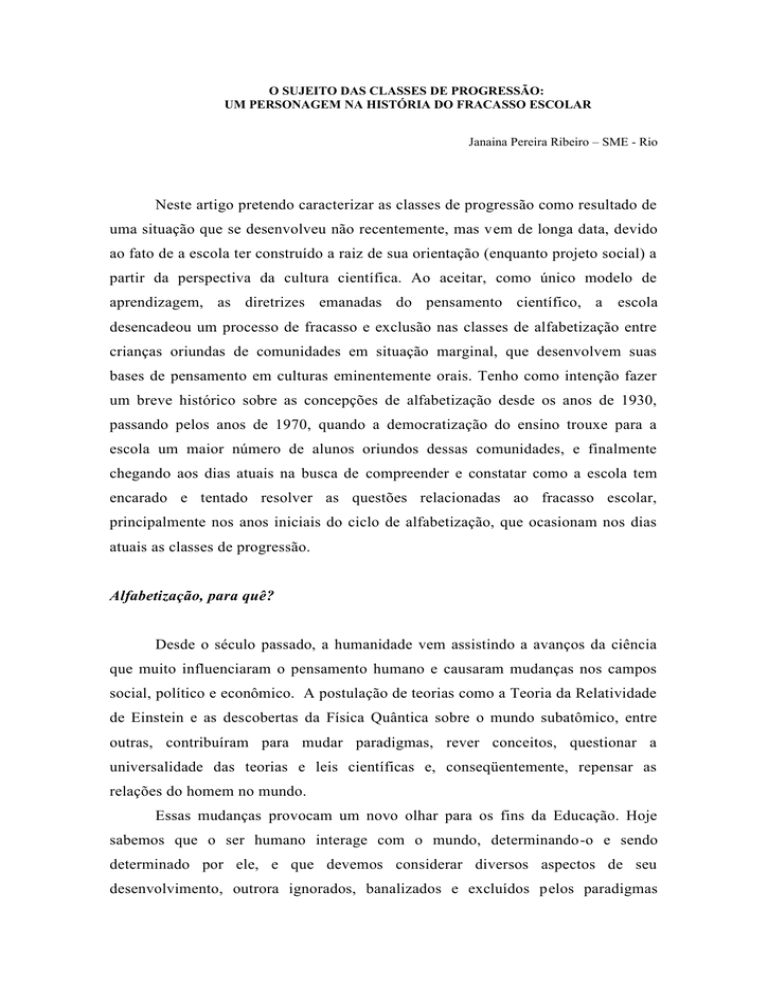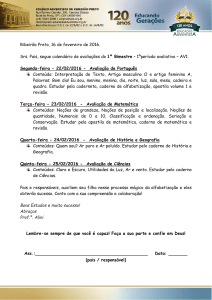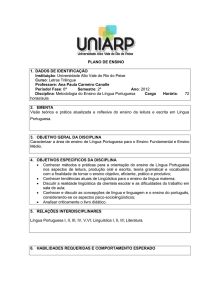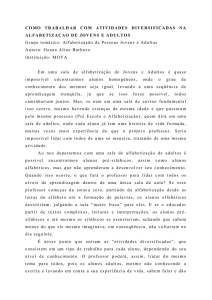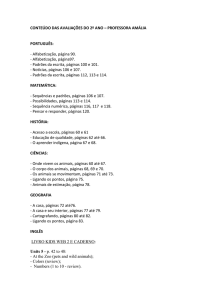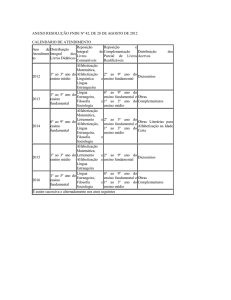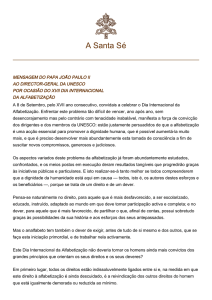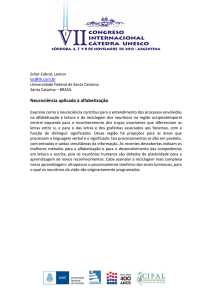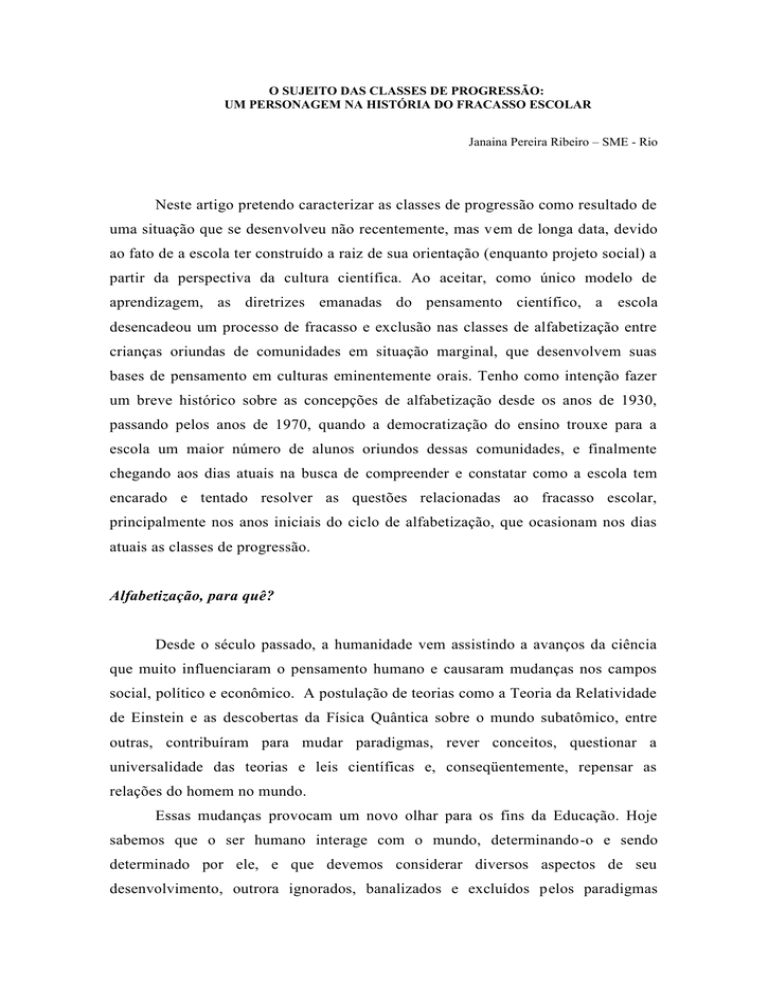
O SUJEITO DAS CLASSES DE PROGRESSÃO:
UM PERSONAGEM NA HISTÓRIA DO FRACASSO ESCOLAR
Janaina Pereira Ribeiro – SME - Rio
Neste artigo pretendo caracterizar as classes de progressão como resultado de
uma situação que se desenvolveu não recentemente, mas vem de longa data, devido
ao fato de a escola ter construído a raiz de sua orientação (enquanto projeto social) a
partir da perspectiva da cultura científica. Ao aceitar, como único modelo de
aprendizagem, as diretrizes emanadas do pensamento científico, a escola
desencadeou um processo de fracasso e exclusão nas classes de alfabetização entre
crianças oriundas de comunidades em situação marginal, que desenvolvem suas
bases de pensamento em culturas eminentemente orais. Tenho como intenção fazer
um breve histórico sobre as concepções de alfabetização desde os anos de 1930,
passando pelos anos de 1970, quando a democratização do ensino trouxe para a
escola um maior número de alunos oriundos dessas comunidades, e finalmente
chegando aos dias atuais na busca de compreender e constatar como a escola tem
encarado e tentado resolver as questões relacionadas ao fracasso escolar,
principalmente nos anos iniciais do ciclo de alfabetização, que ocasionam nos dias
atuais as classes de progressão.
Alfabetização, para quê?
Desde o século passado, a humanidade vem assistindo a avanços da ciência
que muito influenciaram o pensamento humano e causaram mudanças nos campos
social, político e econômico. A postulação de teorias como a Teoria da Relatividade
de Einstein e as descobertas da Física Quântica sobre o mundo subatômico, entre
outras, contribuíram para mudar paradigmas, rever conceitos, questionar a
universalidade das teorias e leis científicas e, conseqüentemente, repensar as
relações do homem no mundo.
Essas mudanças provocam um novo olhar para os fins da Educação. Hoje
sabemos que o ser humano interage com o mundo, determinando-o e sendo
determinado por ele, e que devemos considerar diversos aspectos de seu
desenvolvimento, outrora ignorados, banalizados e excluídos pelos paradigmas
2
clássicos. Assim como a ciência se rendeu à Relatividade, a escola precisa ter em
conta a individualidade e a diferença como propriedades inerentes e irrecorríveis da
condição humana, para repensar a alfabetização e os processos de inclusão e
exclusão do cidadão brasileiro.
Em uma sociedade letrada, somos bombardeados, por todos os lados, por
palavras escritas, através de letreiros de lojas, anúncios publicitários, caixas de
correios, sinais de trânsito, jornais etc. A leitura e a escrita se tornam condições
privilegiadas de interação sócio-cultural, permitindo um contato com o acervo de
experiências/conhecimento produzidos socialmente. Diante deste contexto social, o
sujeito privado das habilidades da leitura e da escrita está de certa forma impedido
de integrar-se e de significar-se plenamente. Faz-se necessário, então, que a escola
torne-se plenamente capaz de prover condições de alfabetização a todos os alunos,
sob pena de deixar à margem da experiência social, sobretudo, os sujeitos oriun dos
das classes populares, já que grande parcela das crianças com dificuldades na
aquisição da leitura e da escrita vem de contextos onde impera a pobreza.
A alfabetização e suas concepções
No período denominado tecnicista que abrange desde a década de 20 até ofim
dos anos de 1970, dominava a educação o paradigma mecanicista que, segundo
Senna (1995),
(...) assume que a prática da alfabetização
concentra-se exclusivamente no desenvolvimento das
habilidades específicas de codificar e decodificar,
concentrando a prática alfabetizadora exclusivamente
no desenvolvimento do domínio sobre o código escrito,
que por sua vez é encarado como capaz de associar
diretamente a fala a uma representação gráfica.
Este período compreende duas etapas: a 1ª entendida como a fase mais
tradicional, onde impera a concepção de que palavras são formadas por letras que
representam, cada uma delas, um som da fala, derivando daí os métodos fônicos e a
palavração, que se juntam à silabação. Na 2ª fase (a partir da década de 70), onde os
estudos da lingüística constatam que a língua escrita não equivale à língua oral e que
ambas guardam distinções estruturais e pragmáticas, surgem a teoria variacionista
(LABOV;1972) concebendo língua e fala como sistemas independentes,
,
3
considerando a fala como um fenômeno em eterno processo de transformação
evolutiva e as teorias do discurso, que tratam língua e fala como fenômenos
aplicáveis cada qual em seu caso na comunicação. Desta perspectiva derivam os
métodos lingüísticos ou naturais que evoluem, tão somente, para utilização da
escrita em frases e textos, rompendo com a tradição que alfabetizava com sílabas,
fonemas ou palavras soltas. No entanto, apesar da inclusão de textos na
alfabetização, em busca de contextualização do processo alfabetizador à vida da
criança, não acontece um rompimento efetivo com os métodos tradicionais.
A partir dos anos de 1980 surgem as idéias construtivistas de Emília Ferreiro
buscando aplicar Piaget nas práticas de alfabetização. Em sua psicogênese da língua
escrita trabalha com a tese de que a aprendizagem encontra-se subordinada ao
desenvolvimento biológico-cognitivo do indivíduo, logo a criança traria em si um
ferramental
que
a
tornaria
competente
para
desenvolver
o
grafismo
e
conseqüentemente a escrita como forma de grafismo.
Segundo Senna (1995), o paradigma semiótico critica esta postura partindo
do pressuposto que o sujeito, antes de tudo se comunica, mas não necessariamente
através da escrita. Sendo a escrita um produto cultural estabelecido a partir de regras
impostas e determinadas culturalmente, não existiria a possibilidade de haver uma
psicogênese que levasse seres humanos a construírem um único tipo de escrita a
partir de referenciais inatos.
Apesar de todo esforço que se fez ao longo do tempo e continua sendo feito
atualmente para se chegar a compreender o fenômeno da aprendizagem da escrita,
existe um fator que tem sido desprezado e não legitimado em todas as esferas que
envolvem os estudos sobre a alfabetização, que é o fato de que as culturas orais
empregam um conceito de escrita de forma diferente das culturas científicas, sendo
provavelmente este um fator determinante para o fracasso na alfabetização destas
crianças.
O resultado disso tem sido o fato de que continuamos nós, professores, a
construir e abrigar em nossas escolas o fracasso escolar principalmente nas classes
iniciais de alfabetização. Atualmente, a Secretaria de Educação tenta minimizar este
problema através das classes de progressão.
A democratização do ensino
,
4
A partir da Lei 5.692/71, a educação brasileira abriu suas portas às comunidades
em condição marginal na sociedade. Naquele momento, duas concepções educacionais
complementares aliavam-se: a crença no desenvolvimento das potencialidades do
indivíduo
e
a
exaltação
das
técnicas
instrucionais
que
permitissem
esse
desenvolvimento. A educação, neste contexto, possibilita a adaptação do indivíduo em
seu meio, o que a torna necessária para o progresso da sociedade. Houve, então, a
expansão da rede pública de ensino, e a escola teve, portanto, que manter dentro de seus
muros uma parcela cada vez maior da população, com a qual não estava preparada para
lidar. Esta clientela, que lhe foi imposta, contrariava o sentido de tudo aquilo que a
escola pública até então pensava ser útil e socialmente adequado: sua função
fundamental seria a de manter as expectativas da sociedade pela preparação de suas
elites intelectuais.
Antes da referida Lei, o sistema escolar bania, pelo instrumento da jubilação, os
alunos que apresentassem problemas em seu desempenho. A grande maioria de crianças
envolvidas com o fracasso escolar pertencia às camadas pauperizadas da população.
Com o advento da obrigatoriedade escolar, esses alunos que sempre existiram, não
puderam mais “ser jogados fora”, eles permaneceriam necessariamente na escola dos 7
aos 14 anos.
À medida que aumentou a participação das camadas populares na escola, cresceu
também o processo de sua exclusão. Apesar de passarem pela escola e nela
permanecerem, as crianças oriundas desses extratos populacionais pouco conseguiam
aprender, como indicavam os níveis de repetência das classes iniciais do ensino
fundamental. Substituia-se, assim, a exclusão por meio da jubilação, pela exclusão por
meio da retenção.
Considerável parte desta população compôs em nosso país a massa potencial a
ser encaminhada para o ensino especial, referenciada como “deficiente mental leve” ou
“portadora de distúrbios de linguagem ou de aprendizagem”. Desta maneira, a escola
preservou sua função de excluir e selecionar, colocando no âmbito das potencialidades
individuais o problema do rendimento escolar.
Os alunos que não respondiam aos métodos de alfabetização (treinamento
mecânico) oferecidos pela escola, não mais podendo ser jubilados, eram então
colocados em classes especiais, pois eram vistos como sujeitos portadores de algum
problema ou doença que os impedia de responder adequadamente aos estímulos
oferecidos pela escola. Até hoje encontramos muitos professores de classes de
,
5
alfabetização impregnados dessa teoria. Continuam buscando justificativas patológicas
para o que, na verdade, é apenas diferença.
As turmas de alunos especiais (classes EE ou AE) eram compostas desde a
década de 70 por crianças que em sua maioria tinham uma maneira de interagir com o
mundo diferente da lógica cartesiana em que a escola se encontrava pautada
(SENNA,2003). Em suas experiências cotidianas realizadas no seu meio de origem,
essas crianças não se organizavam da forma sistemática ou planejada como a presente
nas condutas tradicionais adotadas pela escola para ensinar e para avaliar a
aprendizagem.
Oriundos de uma cultura onde prepondera a oralidade e suas formas de
organização, esses alunos enfrentaram, e enfrentam ainda hoje, a dificuldade de se
adaptarem ao mundo escolar completamente diverso ao seu meio original.
(SENNA,2003)
A escola, fundamentando sua ação em uma perspectiva mecanicista, em que o
homem é concebido como um ser passivo determinado pelo meio, e que pode ser
manipulado e controlado por forças externas, encarava o aluno como alguém capaz de
ser condicionado, treinado. E o desenvolvimento seria conseqüência da reação do
sujeito aos estímulos oferecidos pelo meio e reflexo mecânico dos processos de
aprendizagem. A educação seria um programa de formação ou descoberta de hábitos, e
o desenvolvimento e a aprendizagem, frutos do condicionamento do meio, seja por
condutas behavioristas, seja pelas experiências cientificamente planejadas, como nas
práticas piagetianas. É com esse pensamento, referendado na teoria mecanicista, que os
métodos educacionais de alfabetização tomaram força. Acreditava-se que, ao se
oferecerem métodos alfabetizadores que aliassem a perspectiva indutiva e dedutiva,
estariam sendo oferecidas oportunidades de aprendizagem a todos os alunos, pois isto
atenderia às suas diferentes características de aprendizagem, sem se levar em conta o
fato de que ambos os estilos de aprendizagem (dedutivo e indutivo) podem ser
empregados em diferentes modos de pensamento desprezados pela escola.
A escola nunca quis encarar de fato quem era esse aluno, não admitindo que ele,
vindo de uma cultura que em nada se assemelhava à cultura escolar, constituía-se em
sujeito cognoscente não assemelhado às características intelectuais de alunos
consagrados na cultura do ensino. Ao eleger o modelo científico como a única forma de
conhecimento e de conduta social existente, cria um abismo na relação/interação com
este aluno que não consegue atribuir valor à lógica do pensamento cartesiano, uma vez
,
6
que este nunca fez parte dos valores agregados à sua experiência cotidiana. As
conseqüências, ainda hoje, têm sido, entre outras, o fracasso, a evasão, ou a retenção.
Classes de progressão – O início...?
Podemos dizer que a formação das classes de progressão é uma iniciativa
relativamente nova, devido ao fato de terem sido implantadas a partir de 2001, com a
criação do ciclo de alfabetização dentro da Rede Municipal de Ensino do Rio de
Janeiro. Estas turmas foram criadas como alternativa para atender a crianças com nove
anos ou mais, que não tivessem consolidado seu processo de alfabetização. Como nos
explica Spala (2005:5):
(...) as turmas de progressão reúnem alunos que,
efetivamente não conhecem e não decifram as letras;
alunos que, apesar de conhecerem e decifrarem as letras
são incapazes de compreender ou redigir um texto, ou
seja, alunos que apresentam um comportamento frente à
escrita que não se reconhece compatível ao de um sujeito
alfabetizado...
Estes alunos da progressão fazem parte daquela camada da população que a
escola, apesar do discurso de inclusão, continua, através de suas práticas, excluindo.
Uma análise mais cuidadosa da história da alfabetização na cidade do Rio de
Janeiro nos leva a constatar que na verdade sempre existiram as classes de alunos
renegados, aqueles alunos que “não aprendiam” e para os quais a escola de alguma
maneira mantinha um lugar de segregação, garantindo a seletividade social muito mais
do que criando possibilidades de sucesso e superação das dificuldades apresentadas
frente à cultura cartesiana da escola.
Resgatando da cultura da educação especial problemas, como distúrbios de
linguagem, de aprendizagem ou de comportamento, a escola mais uma vez propiciava a
discriminação e exclusão das camadas mais pobres da população. Apesar da
intensificação do processo de participação das camadas marginais na ordem estrutural
da escola, criou-se outro mecanismo de exclusão: as classes de progressão.
As crianças mais pobres fazem parte de um grupo cultural onde a ausência da
escrita não representa uma lacuna, mas é parte integrante do modo de funcionamento
,
7
predominante nessa cultura. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento envolve processos
simultâneos de imersão na cultura e afloramento da individualidade; o sujeito se faz
como ser diferenciado do outro, mas formado na relação com o outro e, do seu modo
concreto de vida, depende o desenvolvimento de seus processos psicológicos. A
aprendizagem se inicia muito antes de a criança entrar na escola. A aprendizagem e o
desenvolvimento estão interrelacionados e acontecem desde o primeiro dia de vida da
criança. Antes de entrar na escola, a criança vive uma série de experiências: ela aprende
a falar, nomeia objetos, conversa com outras pessoas, adquire informações, imita
comportamentos etc. Esses conceitos espontâneos, que determinam as bases de seu
pensamento são formados pela criança em sua experiência cotidiana, no contato com as
pessoas do seu meio, de sua cultura, em confronto com uma situação concreta. É neste
processo que a criança vai se formando como indivíduo, desde uma educação informal
não planejada previamente. É a cultura que fornece a todo indivíduo os sistemas de
representação e interação com os quais constrói os conceitos relativos à realidade, e
através dessas representações cria todo um universo de significações que lhe permitem
construir, ordenar e interpretar os dados do mundo real.
As questões de linguagem e de aprendizagem deveriam ser vistas pela escola
como uma maneira diferenciada de interagir e compreender o mundo, o que não
significa nenhum déficit cultural (segundo Bernstein, in SOARES,1986) ou, muito
menos, cognitivo. Isto apenas nos denuncia que os alunos chegam à escola com um
modelo de comportamento social e intelectual (desenvolvido para interagir com um
grupo social) que se construiu legitimamente, ainda que à margem da cultura científica.
Esses alunos se caracterizam por: organizar a ação à medida que agem sobre o mundo,
ter um esquema de atenção multidirecional, privilegiar acordos orais, centrados na ação
presente, desprezar o futuro e dar pouca atenção à análise do passado, e por ser
profundamente marcados sócio-afetivamente, centralizando a experiência intelectual no
sujeito (SENNA,2003)
Este é o aluno que, pertencendo às parcelas mais pobres da população, tem sido
ao longo do tempo discriminado e banido socialmente pela escola. Este é o sujeito que
ainda hoje encontramos em processo de inclusão/ exclusão nas classes de progressão e
que persiste desconhecido pela escola, enquanto potencial intelectual.
Concluindo...
,
8
O mundo escolar é um mundo completamente diverso do mundo em que a
criança interage cotidianamente. A escola, da forma como está constituída, não leva em
conta as propriedades que caracterizam a lógica do pensamento em comunidades de
base oral, não dialogando com a identidade cognitiva destes alunos. A escola tem
estado presa a uma concepção de modelo intelectual construído a partir da cultura
científica, o que exige do aluno um comportamento intelectual centrado na percepção de
uma parcela da realidade de caráter ideal e abstrato. A escola privilegia a ação
planejada, despreza o contexto para centrar a atenção em apenas um foco, exige que o
aluno se mantenha em repouso, silencioso e calmo, padrões de comportamento que
colidem com os padrões adotados pela maioria das culturas orais.
Para atender aos alunos da progressão, é necessário legitimar e reconhecer na
oralidade do aluno uma forma de organização, compreensão, relação e ação no mundo,
para tornar a escola um espaço de diálogo e negociação entre a cultura do aluno e a
cultura científica, permitindo que o mesmo incorpore, ao seu esquema de pensamento,
ferramentas intelectuais da cultura científica, a fim de que eles possam analisar, segundo
suas próprias expectativas, a realidade para além das impressões empíricas.
Bibliografia:
AGUIAR, Vera Teixeira de. “Leitura e cidadania”. In: HENRIQUES, Cláudio Cezar &
SIMÕES, Darcilia (orgs.). Língua e cidadania: novas perspectivas para o ensino.
Rio de Janeiro: Europa, 2004.
AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
BUENO, José Geraldo Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do
aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993.
CUNHA, Maria de Fátima Gonçalves da (pesq. e org.). Instituto Helena Antipoff – 25
anos de história. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de educação, 1999.
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização: Trad. Horácio Gonzáles (et. al.). 24
ed. atualizada. São Paulo: Cortez, 2001.
SENNA, Luis Antonio Gomes. “O planejamento no ensino básico & o compromisso
social da educação com o letramento”. In: Educação e linguagem. São José dos
Campos: 7 200-216. 2003.
,
9
_____“Psicogênese da língua escrita, universais linguísticos e teorias da alfabetização.”
In: Alfa, São Paulo, 39: 221-241, 1995.
SOARES, Magda. Linguagem e sociedade. São Paulo: Ática, 1986.
SPALA, Fátima Terezinha. Políticas de inclusão dos professores alfabetizadores da
Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fac. Educação- UERJ, 2005.
WERNER, Jairo. Saúde & educação: desenvolvimento e aprendizagem do aluno.Rio de
Janeiro: Gryphus, 2000.
,