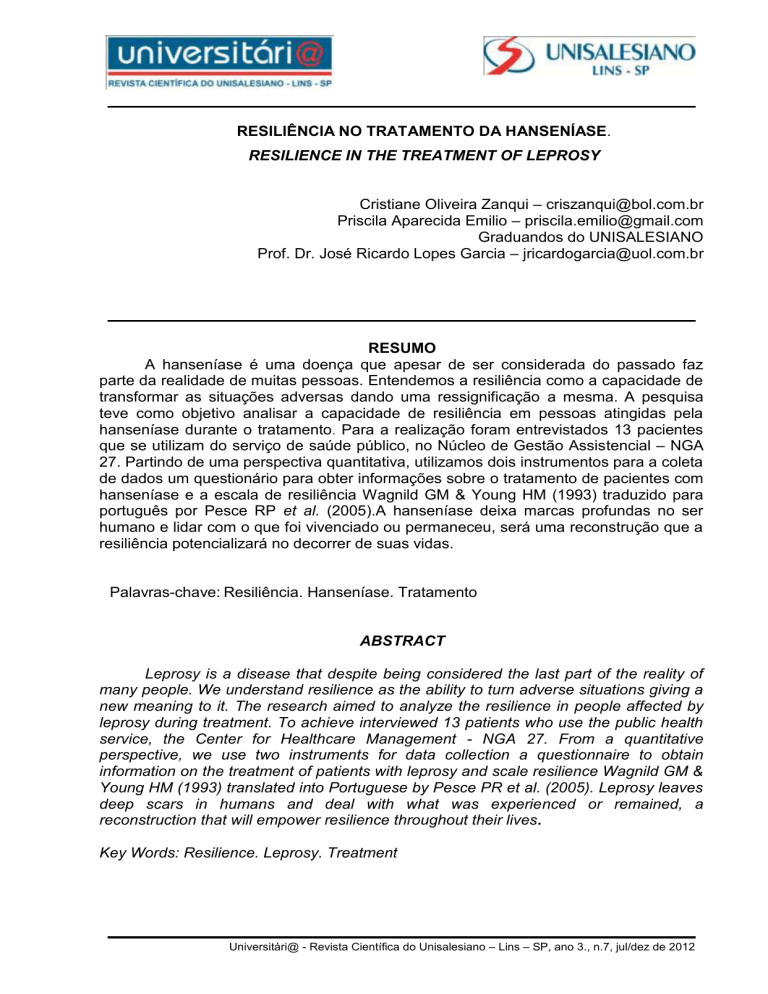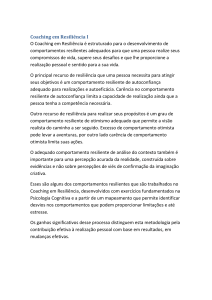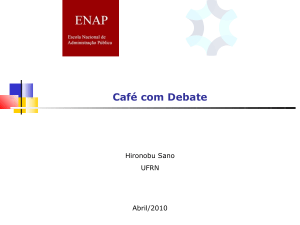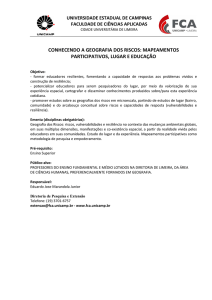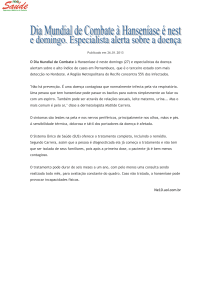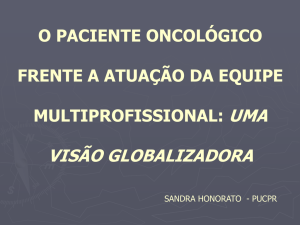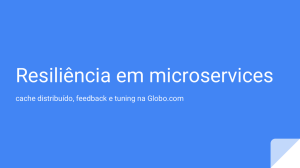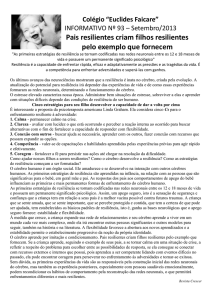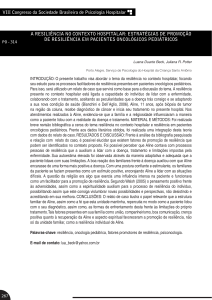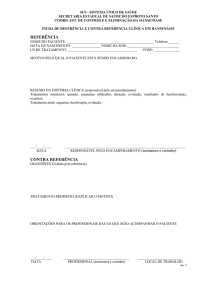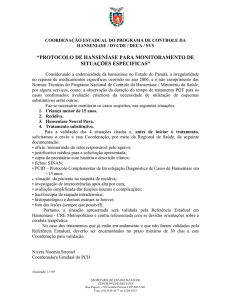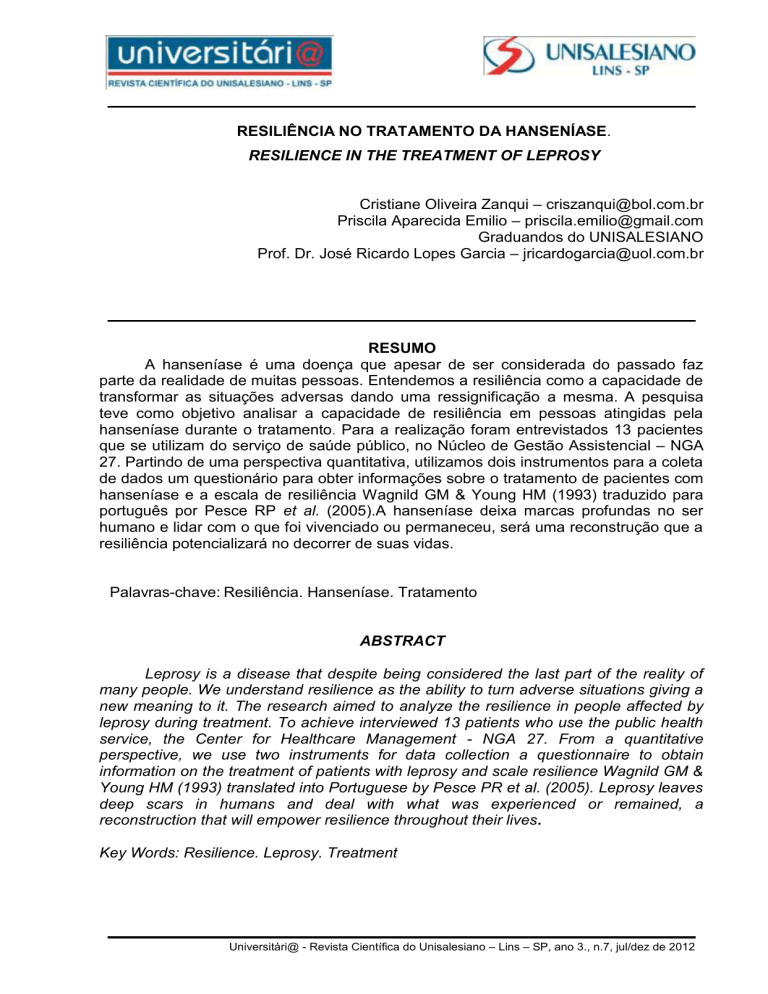
RESILIÊNCIA NO TRATAMENTO DA HANSENÍASE.
RESILIENCE IN THE TREATMENT OF LEPROSY
Cristiane Oliveira Zanqui – [email protected]
Priscila Aparecida Emilio – [email protected]
Graduandos do UNISALESIANO
Prof. Dr. José Ricardo Lopes Garcia – [email protected]
RESUMO
A hanseníase é uma doença que apesar de ser considerada do passado faz
parte da realidade de muitas pessoas. Entendemos a resiliência como a capacidade de
transformar as situações adversas dando uma ressignificação a mesma. A pesquisa
teve como objetivo analisar a capacidade de resiliência em pessoas atingidas pela
hanseníase durante o tratamento. Para a realização foram entrevistados 13 pacientes
que se utilizam do serviço de saúde público, no Núcleo de Gestão Assistencial – NGA
27. Partindo de uma perspectiva quantitativa, utilizamos dois instrumentos para a coleta
de dados um questionário para obter informações sobre o tratamento de pacientes com
hanseníase e a escala de resiliência Wagnild GM & Young HM (1993) traduzido para
português por Pesce RP et al. (2005).A hanseníase deixa marcas profundas no ser
humano e lidar com o que foi vivenciado ou permaneceu, será uma reconstrução que a
resiliência potencializará no decorrer de suas vidas.
Palavras-chave: Resiliência. Hanseníase. Tratamento
ABSTRACT
Leprosy is a disease that despite being considered the last part of the reality of
many people. We understand resilience as the ability to turn adverse situations giving a
new meaning to it. The research aimed to analyze the resilience in people affected by
leprosy during treatment. To achieve interviewed 13 patients who use the public health
service, the Center for Healthcare Management - NGA 27. From a quantitative
perspective, we use two instruments for data collection a questionnaire to obtain
information on the treatment of patients with leprosy and scale resilience Wagnild GM &
Young HM (1993) translated into Portuguese by Pesce PR et al. (2005). Leprosy leaves
deep scars in humans and deal with what was experienced or remained, a
reconstruction that will empower resilience throughout their lives.
Key Words: Resilience. Leprosy. Treatment
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
INTRODUÇÃO
O Brasil é o segundo país em números de casos de hanseníase no mundo,
sendo considerado no continente americano o maior responsável pela endemia, o que
se pode observar no número de casos em diversas regiões do país, trata-se de um
grande problema de saúde pública.
Considerando este cenário preocupante atribui-se a necessidade de estudos que
visem auxiliar na qualidade de vida e compreensão das experiências vividas por uma
população estigmatizada, devido à própria doença, as incapacidades produzidas, ao
preconceito e a discriminação.
Este estudo pretende analisar a capacidade de resiliência em pessoas atingidas
pela hanseníase durante processo de tratamento.
Atualmente, embora com os significativos progressos, a hanseníase continua
sendo uma doença estigmatizante, que ocasiona transtornos físicos, psicológicos às
pessoas em tratamento. Desta forma, nos motivamos a estudar a hanseníase, com o
objetivo de avaliar a capacidade do paciente de suportar as dificuldades durante o
tratamento da hanseníase e deste modo verificar a vivência de um sofrimento comum
entre os pacientes hansenianos desde o diagnóstico e durante o tratamento, portanto,
podermos identificar as possíveis contribuições da resiliência.
O presente estudo será realizado no Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-27),
no município de Lins, que atende aos portadores de hanseníase em tratamento
poliquimioterápico, objetivando averiguar a problemática: A resiliência influencia no
processo de tratamento da hanseníase?
Adotaremos uma pesquisa quantitativa, utilizaremos dois instrumentos que
deverão ser analisados estatisticamente: 1 questionário e a Escala de Resiliência Wagnild GM & Young HM (1993) traduzido para português por Pesce RP et al. (2005),
com a finalidade de avaliar o potencial individual de resiliência
1. RESILIÊNCIA COMPREENDENDO O CONCEITO E SEUS EFEITOS NO
CAMPO DA PSICOLOGIA.
Segundo Yunes e Szymansky (2001), discorrer sobre resiliência, um constructo
novo, ainda sendo desenvolvido e conquistando espaço nos estudos e meios
acadêmicos, em especial nos últimos 20 anos, na Psicologia, remete a preocupação
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
com a definição do termo, principalmente com a exatidão dos conceitos, uma vez que
neste contexto deve-se observar a riqueza, a complexidade e a multiplicidade de
fatores e variáveis que precisam ser levados em conta no estudo dos fenômenos
humanos.
Pode-se definir a resiliência como a capacidade que alguns indivíduos
desenvolvem e os ajudam a passar por situações adversas na vida, a superá-las e
saírem mais fortes ou transformados, ou seja, a capacidade que um ser humano tem de
se recuperar quando enfrentam adversidades, violências, doenças ou outro tipo de
catástrofes.
Quando se fala sobre resiliência, fala-se sobre a capacidade do ser humano de
enfrentar situações adversas, de encontrar recursos e ainda sair fortalecido destas
experiências, talvez a definição mais simples de resiliência seja recuperar-se.
O grande número de pesquisas sobre resiliência nos últimos anos trouxe a
necessidade de operacionalizar o constructo resiliência. A resiliência é definida
como um processo dinâmico, no qual os indivíduos mostram adaptação positiva
apesar de experiências de adversidades ou tramas significantes. Tem-se um
constructo bidimensional, que implica a exposição à adversidade e a
manifestação de uma evolução de ajustamento positivo. (GROTBERG; 2005,
p.10)
A resiliência sofre grande influencia do meio em que o indivíduo esta inserido, ou
seja, da família, dos relacionamentos e do contexto cultural de cada comunidade.
Atualmente a resiliência não pode ser definida apenas como uma capacidade
individual uma vez que envolve diversos processos individual, ambiental e social.
O conceito de resiliência pode ser considerado como uma resposta
complementar á abordagem da vulnerabilidade, mas não corresponde por isso
á idéia de invencibilidade ou sensibilidade, remete, pelo contrario, para idéia de
flexibilidade e de adaptação. Se considerarmos que a resiliência se baseia nas
experiências relacionais precoces, e na possibilidade de estabelecer laços
sociais posteriores, isso confere-lhe um caráter variável, no mesmo individuo,
ao longo do seu desenvolvimento ( LARANJEIRA; 2007, p.330)
A resiliência é um potencial positivo presente em todas as pessoas, na cultura e
em todas as ocasiões, que se atualiza de acordo com esses fatores e ultrapassa o
superar-se e passa a existir a ação de reconstrução de si mesmo percebendo que há
fatores internos e externos que admitem a potencialização das capacidades.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Resiliência não é caráter que se encontre ou exclua, a priori, em um individuo.
Tampouco manifesta-se como atributo fixo, imutável ou perene, ao contrario,
revela-se uma potencialidade no desenvolvimento humano. É mutável,
podendo mostrar-se mais efetiva ou menos presente em dadas circunstancias
ou situações.·(MENEGATTI-CHEQUINI,2007 p.91)
É importante ressaltar que a resiliência não pode ser vista como um escudo
protetor no qual a pessoa estará imune à adversidade e que nenhum problema a
atingirá.
Segundo Godas (2010), a Psicologia não deve se restringir apenas a reparar o
que está "errado ou ruim" no comportamento humano, indo de encontro à díade médica
saúde-doença, mas propiciar entendimento do que adoeceu, e (re)construir qualidades
positivas que possam ser fonte de enfrentamento pessoal diante das adversidades.
Diversas circunstâncias relacionadas ao desenvolver-se do sujeito podem ser
consideradas risco ou proteção no processo da resiliência e esses precisam ser
avaliados levando em consideração os aspectos biopsicossociais (dimensão física,
psíquica, social e espiritual) do sujeito em questão.
Rutter (1983) alerta para o fato de que os riscos devem ser pensados sempre
como um processo e não como uma variável isolada, pois os riscos não são estáticos
mudam de acordo com as situações da vida.
Os fatores de risco estão relacionados a todos os eventos adversos da vida, mas
sabe-se que a proporção do risco é extremamente variável de individuo, de grupo para
grupo. (ARAUJO, 2010).
De forma geral, os fatores de risco são de caráter pessoal, ambiental, social que
podem influenciar a maneira como o indivíduo age diante das situações adversas.
Desta forma, a maneira como cada um visualiza, caracteriza se um evento
negativo pode ser considerado fator de risco. O tempo e o contexto que esse indivíduo
esteve exposto ao risco devem ser também levados em consideração.
Algumas variáveis podem ser classificadas como fatores de risco: a pobreza e o
empobrecimento, as rupturas familiares, as doenças, a perdas de outros significativos,
a violência física e psicológica. (Rutter, 1987).
Ações discriminatórias e preconceituosas também têm sido apontadas como
aspectos negativos que geram risco ao desenvolvimento.
Agindo mutuamente aos fatores de risco, estão os fatores de proteção em que
são analisados atributos potenciais na promoção da resiliência e que propicia
alternativas na decisão de dificuldades vivenciada na rotina perante o risco.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Segundo Grotberg (2005), os fatores de proteção que funcionam para neutralizar
o risco são identificados como imunidade ao perigo. Um indivíduo protegido em uma
determinada situação seria imune ao risco.
Em vários estudos foram confundidos o conceito de fatores de resiliência com
fatores de proteção, diante disso surge a necessidade de uma definição para o termo.
Rutter (1987) definiu fatores de proteção como influências que modificam,
melhoram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação.
Neste sentido, a proteção aborda a maneira como o sujeito vai lidar com a
situação adversa, o sentido que o mesmo vai dar a esta situação, o modo como ele lida
com as modificações e age.
Rutter (1993) alerta que o importante para se compreender a resiliência é tentar
compreender como as características protetoras se desenvolveram e de que modo
modificaram o percurso pessoal do indivíduo.
Assim, pode-se dizer que “o conceito de coping permeia os estudos de fatores
de risco e proteção e mecanismos de vulnerabilidade e resiliência” (ZANINI; FORNS,
2005, p.72), pois para que haja coping, é necessária a vivência de uma situação
potencialmente difícil ou estressora que coloque o bem-estar do indivíduo em risco de
tal forma que, dependendo dos recursos disponíveis para este indivíduo ou fatores de
proteção que este possua, apresentará um enfrentamento mais adaptativo e, portanto,
resiliente, ou menos adaptativo e, consequentemente desenvolverá uma psicopatologia
(ZANINI; FORNS, 2005).
Em Psicologia, o estudo do coping é especialmente feito nas relações com o
estresse, eventos estressantes da vida que sempre ocorrem na vida das pessoas, entre
elas, congestionamentos, demora em atendimentos, porém também ocorrem situações
de estresse positivo, por exemplo: elogio, aprovação em concurso, um encontro
especial.
Os conceitos de resiliência e coping estão relacionados, porque a resiliência
refere-se à capacidade das pessoas se adaptarem e superarem as adversidades e
coping refere-se às estratégias empregadas pelos indivíduos frente às adversidades.
Atualmente a sociedade passa por várias alterações sociais e econômicas, entre
outras, afetando diretamente os indivíduos que nela estão inseridos em seu
desenvolvimento e em suas relações.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Ao longo de sua vida o indivíduo pode deparar-se com inúmeras situações que
podem influenciar sua vida de forma negativa ou positiva, mas o que tem chamado a
atenção é que embora grande parte das pessoas que se encontram nesta situação não
apresenta sequelas ou danos graves. São pessoas que demonstram uma capacidade
extraordinária de produzir saúde, mesmo em ambientes adversos, evidenciando desta
forma, a complexidade de seu viver. (SILVA, et al, 2005).
Devido às mudanças que a sociedade sofre na atualidade percebe-se uma nova
visão do conceito de saúde onde existe uma construção de forma coletiva.
De acordo com a Carta de Ottawa (1986),
a saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de
viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos
sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da
saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um
estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. (WORLD HEALTH
ORGANIZATION-WHO, 1986)
A maneira como cada sujeito lida com as situações adversas está de acordo com
sua subjetividade, com o contexto no qual está inserido e com o potencial para
ressignificar ou transformar o que está vivenciando.
Segundo Bianchini e Dell’ Aglio (2006), o sujeito passa por diversas situações na
vida em que se deve apresentar a resiliência, mas a principal delas é a situação de
doença.
No caso da enfermidade, a resiliência seria a forma como esse indivíduo lida
com a doença, aceita o tratamento e as limitações de forma positiva.
Partindo deste princípio, percebe-se o individuo como ser único no sentido de
que sua trajetória de vida irá determinar a forma como ele enfrentará a doença.
Desta forma, é possível compreender que nenhuma doença é a mesma para
diferentes pessoas, ou seja, as reações vão depender da singularidade de cada um.
2. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA HANSENÍASE E OS ASPECTOS
PSICOSSOCIAIS
A trajetória histórica que acompanha a hanseníase traz consigo questões
polêmicas a serem discutidas, pois ao seu redor permeiam valores socioculturais
contraditórios.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Para Garcia et.al. (2003):
A hanseníase é uma patologia que ultrapassa a necessidade de um olha
apenas médico ou biológico sobre ela. As consequências sociais e psicológicas
as quais todo esse processo se remete, a expõe à necessidade de uma
atenção que possa abrangê-la de maneira mais global, de forma não unilateral.
Não podemos mais entender a hanseníase apenas como um bacilo, mesmo
sabendo que os conhecimentos de microbiologia sejam de extrema
importância, porém a compreensão do ser humano como um todo se faz
necessária. ( p.25)
O contexto da hanseníase aborda questões relacionadas ao estigma, a
segregação, o isolamento e muitas vezes até o medo, dizer que esses fatores podem
ser ignorados, seria um erro, diante deste cenário ocorre a necessidade de uma
mudança de olhar, no sentido de ver esse sujeito nas diversas dimensões, em que o
mesmo se insere.
As reações ao falar em hanseníase podem ser diferentes, por um lado o
desconhecimento e por outro a associação com a lepra e o contexto sociocultural.
Os pacientes portadores de hanseníase têm a necessidade de entender as
perdas que ocorrem em sua vida, podendo ser elas físicas, sociais, psicológicas,
fazendo assim com que os indivíduos vivenciem uma situação de insegurança, que
pode torná-los fragilizados ou rígidos.
Além do fato que o tratamento de hanseníase faz com que o sujeito tenha uma
série de mudanças em sua rotina, o que muitas vezes é uma condição para a qual o
mesmo não está preparado.
Muitos pacientes podem considerar a doença como uma frustração, impotência,
pois dificulta a satisfação de suas necessidades, fantasias e desejos.
Segundo Garcia et al. (2003), torna-se importante que o paciente possa
desenvolver atitudes positivas no enfrentamento de seus problemas, buscando áreas
de satisfação e interesse
Ao tentarmos buscar o que significa a doença para o paciente, qual o seu
sentido ou até mesmo a compreensão do que ele está tendo no momento
poderemos ajudá-lo, muitas vezes, a restabelecer seu plano de vida. É nosso
papel, estimular, dialogar, colocar-se e participar de seu tratamento. Essas
atitudes nunca são inúteis.. (Garcia et al., 2003, p . 27).
A pessoa atingida pela hanseníase vivencia uma doença carregada de forte
estigma e preconceito, devido ao histórico desta doença milenar que é relacionada a
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
preceitos bíblicos, ainda hoje é contemplada pelo desconhecimento e ignorância quanto
à sintomatologia e o tratamento pessoal.
A
hanseníase
é
uma
doença
infecciosa,
contagiosa,
causada
pelo
Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-acido, foi descoberto em 1873 pelo médico
norueguês Amaneur Hansen e em sua homenagem o bacilo é chamado de Hansen.
A hanseníase apresenta sinais e sintomas neurológicos e dermatológicos que
atingem a pele, os nervos periféricos (facial, auricular, radial, ulnar, mediano, fibular
comum e tibial), os olhos, a mucosa do trato respiratório superior.
Com todos os avanços no tratamento da hanseníase percebe-se que ainda
grande parte da população portadora encontra-se ocultada, optando por não procurar
os serviços de saúde.
O diagnóstico da hanseníase é clinico baseado em lesões na pele compatíveis
com uma das formas da hanseníase, sendo elas: Tuberculóide (MHT), Indeterminada
(MHI), Dimorfa (MHD) ou Virchowiana (MHV), com alteração da sensibilidade com
comprometimento do sistema nervoso periférico.
O tratamento da hanseníase é feito nos serviços públicos de saúde por meio de
poliquimioterapia (PQT), conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza a
combinação de três medicamentos. Segundo Ministério da Saúde (2012), os
medicamentos utilizados consistem na associação de antibióticos, conforme a
classificação operacional, sendo: Paucibacilares: rifampicina, dapsona - 6 doses em até
9 meses; Multibacilares: rifampicina, dapsona e clofazimina – 12 doses em até 18
meses.
Dentre os estudos relacionados à resiliência, a hanseníase ou uma doença
crônica, poucos são os que procuram entender a experiência a partir da sua história da
doença.
O paciente é capaz de descrever sua situação, como lida com a doença, suas
dificuldades, o preço para sua família e para si diante de uma situação desgastante,
mas também como alguns aspectos desta experiência sejam enfrentados e tragam
fortalecimento da pessoa.
Segundo Damião e Pinto (2007), o sofrimento para a pessoa resiliente não a
torna um ser humano cheio de autocomiseração, com pena de si mesmo, ou revoltado
contra tudo e contra todos porque as coisas não saíram como esperado.
Falar sobre a resiliência na hanseníase não é uma tarefa fácil uma vez que são
poucos os trabalhos desenvolvidos sobre estes conceitos.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Segundo Godas (2010), em sua pesquisa sobre a possível relação entre
resiliência e comportamento de autocuidado em hanseníase a mesma constata uma
possível relação visto que a resiliência é um processo complexo e dinâmico, não
apresentando um resultado estático.
Partindo deste pensamento, a resiliência poderia vincular os indivíduos com seu
mais profundo sentido de ser e relacionar-se seja consigo, com sua história, valores,
ética, possibilitando, assim, o lidar e adaptar-se as adversidades com que se depara.
Segundo Safra (2004), o ser humano adoece na medida em que perde sua
referência e contato com a natureza e com a sua história. A resiliência pensada nesta
dimensão inclui a reflexão sobre a corporeidade e a necessidade de uma ancoragem
do processo em nossa natureza mais profunda.
3. A PESQUISA
O presente estudo foi realizado no Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-27), no
município de Lins, que atende aos portadores de hanseníase em tratamento
poliquimioterápico.
Os sujeitos da pesquisa foram 13 pacientes, usuários do Núcleo de Gestão
Assistencial (NGA-27), na faixa etária dos 26 aos 69 anos, atingidos pela hanseníase e
que se encontram em tratamento nesta instituição.
Na sequencia, os pacientes deste serviço foram convidados a participar,
iniciando-se através do esclarecimento dos objetivos e da importância da pesquisa para
a área da saúde e dos procedimentos da coleta das informações, foi solicitado o
consentimento, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
sendo garantido aos mesmos o anonimato e o sigilo sobre as informações pessoais
coletadas. A aplicação do questionário e da escala foi realizada individualmente, numa
sala reservada,
A coleta dos dados foi realizado no período de Julho a Agosto de 2012, no
Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-27), na cidade de Lins, as entrevistas tiveram
duração média de 1 e 50 minutos, uma vez por semana.
Houve a necessidade de leitura e explicação com relação aos questionários para
melhor entendimento dos pacientes.
Destes pacientes 8 tinham a hanseníase classificada como virchoviana (MHV), 3
paciente com a forma multibacilar (MB) e 2 pacientes com a forma tuberculóide (MHT).
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Posteriormente todas as informações coletadas, os dados foram examinados e
transcritos para uma base de dados no Microsoft Excel e em seguida SSPS (Statistical
Package for the Social Sciences) 15,0, for Windows e após realizou-se a análise
estatista a fim de obter os resultados do estudo.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Podemos ressaltar que os fatores I (resoluções de ações e valores que dão
sentido a vida) e III (competência pessoal) apresentam valores superiores ao fator II
(aceitação de si e da vida). Segundo Godas (2010, p.30) ao analisar os fatores da
resiliência pode-se observar quais estarão com escores fortes ou fracos, e avaliar quais
necessitam investir na sua vida pessoal. Com isto é possível potencializar suas
posições de "excelência" e, minimizar suas áreas de "vulnerabilidades” (fracas) no que
se refere à resiliência.
Esses resultados comparam-se à literatura consultada, em que vários autores
identificam como características individuais dos resilientes a capacidade de resoluções
de problemas, no sentido de uma atitude positiva diante as dificuldades e por outro lado
autodeterminação e perseverança perante a adversidade. (Masten, Coasworth, 1998;
Pesce et al, 2004; Werner, 2005; Bonano, 2007)
Essas características potencializam a tomada de decisão nas situações adversas
favorecendo a capacidade de enfrentamento e superação frente adversidades.
Com relação ao Fator II - aceitação de si e da vida, observa-se certa fragilidade
dos sujeitos da pesquisa perante este fator. Neste sentido Angst (2009, p.255), ao fazer
referência à (PINHEIRO, 2004; ASSIS, PESCE & AVANCI, 2006) diz que nenhuma
pessoa é permanentemente resiliente, mas sim que se está, naquele momento,
resiliente, evidenciando assim, que a resiliência é dependente de uma relação dinâmica
entre o meio e o indivíduo, e é esse processo que determina a posição do ser em dada
situação.
Comparando o fator I - resoluções de ações e valores que dão sentido a vida, da
escala de resiliência com o questionário observa-se a correlação de equivalência da
resiliência apontada no mesmo com as respostas encontradas no questionário, nas
categorias mostrando a significativa relação de ambos os instrumentos.
Já no fator II - aceitação de si e da vida, percebe-se certa fragilidade, o que pode
ser relacionado com as categorias mudanças na vida após o diagnóstico, no qual se
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
percebe uma parcela significativa com dificuldades de aceitação devido à conotação
negativa da hanseníase, aos efeitos do tratamento medicamentoso ou a própria
situação que retira o indivíduo de sua zona de conforto e o remete ao desconhecido.
Pode-se correlacionar ainda com a categoria sentimentos presentes, que
apresenta um valor relevante com relação à forma com que o sujeito lida com seus
conteúdos internos no sentido de utilizar alguns mecanismos de defesa para não lidar
com os sentimentos emergentes que o levam a situações que o deixam vulnerável.
A categoria crenças sociais tem também valores negativos significativos que
podem ser relacionados com o fator II - aceitação de si e da vida, no sentido que o
outro tem certa influência no modo de agir e pensar das pessoas, colocando os
pacientes em situações nas quais as crenças e toda a história da hanseníase ainda
permeiam o imaginário destes indivíduos contribuindo para a criação de fantasias e
sentimentos e medos na maioria das vezes inexistentes.
E por último, a categoria apoio de outras pessoas, também pode ser comparada
ao fator II -aceitação de si e da vida, onde as crenças, os sentimentos presentes e as
mudanças fazem com que o indivíduo se isole com medo, seja do preconceito ou
mesmo contaminar os familiares, não querer vivenciar o depender do outro. Partindo
destes dados podemos nos reportar a resiliência com relação às influências do
ambiente em que o indivíduo está inserido, ou seja, da família, dos relacionamentos e
do contexto cultural de cada comunidade.
Segundo Yunes (2002), a resiliência é um fenômeno que procura explicar os
processos de superação de adversidades, mas não se confunde com invulnerabilidade,
porque não se trata de resistência absoluta às adversidades. “A questão não é ser ou
não ser, mais ou menos resiliente”.
Diante disso, podemos perceber que em certos momentos de sua vida, o
indivíduo pode desenvolver sentimentos de insegurança em relação a algumas
situações, o que pode fazer com que se torne uma pessoa frágil ou rígida.
Já o fator III - competência pessoal, pode-se relacioná-lo com a categoria 5:
enfrentamento e aceitação e perspectiva de futuro, nos quais os pacientes mostram a
sua capacidade encarar a vida de uma forma positiva apesar das dificuldades com que
se depara e tem que enfrentar perante as sequelas e incapacidades que os
acompanham.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
CONCLUSÃO
A partir do estudo da resiliência no tratamento da hanseniase concluiu-se que o
ser humano ao olhar as situações com que se depara focando os aspectos positivos
dando um novo significado a sua história passa a ver o processo saúde/ doença como
uma forma de superação utilizando-se de suas potencialidades neste contexto para
produzir saude.
Confirma-se a hipótese de que a resiliência enquanto um potencial positivo para
a melhora na qualidade de vida e das condições de enfrentamento dos vários fatores
que implicam no tratamento, traz importante condição favorável no caso da hanseníase.
A pesquisa constatou a importância da resiliência na hanseniase auxiliando os
pacientes a ressignificarem suas vidas dando um novo sentido as situações adversas
com as quais se deparam.
Os objetivos deste trabalho foram atendidos e obteve-se bons resultados com
relação a temática pesquisada no sentido de enaltecer sua relevância na área da saúde
como forma de potencializar as vivências dos sujeito em situação de doenças.
Quando nos deparamos com um tema como a hanseníase e a resiliência temos
a necessidade de parar e refletir sobre, pois estamos diante de um ser humano que
precisa estar se construido ao longo deste processo no sentido de se aceitar e ser
aceito pelo mundo que o cerca
As pesquisas sobre resiliência e hanseníase são de grande importância para a
área da psicologia, bem como, na interface com outras áreas da saúde, pois permite o
conhecimento sobre ambos os temas e nos mostram as adversidades vivenciadas por
estes sujeitos e a forma de enfrentamento utilizados pelos mesmos para seguir em
frente em suas vidas.
Os resultados desta pesquisa nos mostram que o sofrimento faz parte do
desenvolvimento humano, mas o que vamos fazer com ele é que vai ter um grande
significado em nossas vidas.
A resiliência surge como uma forma de potencializar as pessoas no sentido de
ser desenvolvida atraves de estrátegias de coping para dar um sentido diferente na vida
das pessoas que a desconhecem e não sabem de sua presença em suas vidas.
No contexto da hanseníase, a resiliência permite um novo olhar sobre o humano
e capacidade de produzir saúde no lugar da doença, voltando-se para os aspectos
positivos e contando com o apoio das pessoas que nos cercam.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
Fato este que nos faz vislumbrar a necessidade de uma maior atenção nos
programas de saúde no sentido de encontrar estratégias promotoras das condições
que façam emergir possibilidades de vida mais favoráveis às pessoas envolvidas.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
REFERÊNCIAS
ARAUJO. C.A. A resiliência. In SPINELLI, M. R. (org). Introdução à Psicossomática.
São Paulo: Atheneu, 2010.
ANGST, Rosana. Psicologia e Resiliência: Uma revisão de literatura, Curitiba, v.27,
n.58, p.253-260, jul./set. 2009. Disponível em:<http://www2.pucpr.br/reol/index.
php/PA?dd1=3252&dd99=pdf>. Acesso em 15 jun/2010.
BIANCHINI, D. C. S; DELL’AGLIO, D. D. Processos de resiliência no contexto de
hospitalização: um estudo de caso. Paidéia, v.16, n.35, 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/paideia/v16n35/v16n35a13.pdf. Acesso em: 14 abr. 2012.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância Epidemiológica. Manual de prevenção de incapacidades, 3. ed. Brasília,
DF, 2008
Bonanno GA, Galea S, Bucciarelli A, Vlahov D. What predicts psychological resilence
after disaster? The role of demographics, resources, and life stress. J Consult Clin
Psychol. 2007 Oct;75 (5):671-82.
DAMIÃO, E.B.C., PINTO, C.M.M. “Sendo transformados pela doença”: A vivência do
adolescente com diabetes. Ver. Latino-am Enfermagem. 2007. Julho-agosto. 15(40).
Disponível em www.eerp.usp.br/rlae. Acesso em 05 jul. 2012
GARCIA, J.R.L., et al. Considerações psicossociais sobre a pessoa portadora de
hanseníase, In OPROMOLLA, D.V.A., BACCARELLI, R. Prevenção de incapacidades
e
reabilitação
em
hanseníase
disponível
em:
http://hansen.bvs.ilslbr/t
extoc/livrosPOROMOLLADILTORprevencao/aspecto%20gerais/PDF/considhansen.
pdf. Acesso em: 20 Jan 2012.
GODAS, L. M. Resiliência e o comportamento de autocuidado em pacientes
atingidos pela hanseníase: relação positiva?. 2010. 72.: il. Orientador: Ms. Mariane da
Silva Fonseca Monografia (Aprimoramento Profissional em Psicologia) – Secretaria de
Estado da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Instituto Lauro de Souza
Lima, Bauru, 2010.
GROTBERG, E. H. Introdução: Novas Tendências em Resiliência. In MELILO, A.
OJEDA, E.N.S. (Eds). Resiliência. Descobrindo as próprias fortalezas. Porto Alegre:
Artes Médicas. 2005. p.15-38
LARANJEIRA, C. A. S. J. Do Vulnerável Ser ao Resiliente Envelhecer: Revisão de
Literatura. Psicologia: Teoria e Pesquisas. Brasília: 2007, 23 (3). p. 327-332.
MENEGATTI-CHEQUINI, M. C. A relevância da espiritualidade no processo de
resiliência. Psicologia Revista. São Paulo, v. 16, 2007. p. 91-115
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012
MASTEN, A. S. & COATSWORTH, J. D. (1998) The development of competence in
favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful
children. American Psychologist, 53, 205-220.
PESCE, Renata P.; ASSIS, Simone Gonçalves de; SANTOS, Nilton; OLIVEIRA, Raquel
de V. Carvalhaes de. Risco e proteção: em busca de um equilíbrio promotor de
resiliência. Psicologia: Teoria e pesquisa, v. 20, n. 2, p. 135-143, 2004.
Pesce, R. P., Assis, S.G., Avanci, J. Q., Santos, N. C., Malaquias, J. V., & Carvalhaes,
R. Adaptação transcultural, confiabilidade e validade da escala de resiliência.
Cadernos de Saúde Pública, 17(4), 887-896, 2005.
RUTTER, M. Resilience: some conceptual considerations. Journal of Adolescent
Health, 14, 626-631, 1983.
__________ Psychosocial resilience and protective mechanisms. American
Journal of Orthopsychiatry, 57, (3), 316-331, 1987
SAFRA, G. A Po-Ética da Clinica Contemporânea, São Paulo, Ideias e Letras 2004.
SILVA, M. R. S.; LUNARDI, V.L; LUNARDI F.W.D.; TAVARES, K. O. (2005).
Resiliência e promoção da saúde. Texto e Contexto- Enfermagem, 14(n. spe).
Recuperado em 29 de janeiro, 2009, da Scielo (Scientific Eletronic Library On Line):
Acesso em 23 mar. 2012
ZANINI, D. S., & FORNS, M. O conceito de risco e proteção à saúde mental e sua
relação com a teoria de coping. Estudos, Goiânia, 32 (1), 69-80. 2005
WORLD HEALTH ORGANIZATION-WHO. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em:
http://www.opas.org.br/Promocao/uploadArq/Ottawa.pdf. Acesso em 23 mar. 2012.
Wagnild, G. M., & Young, H. M. Development and psychometric evaluation of the
Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1, 165-178, 1993.
Werner, E. E. What can we learn about resilience from largescale longitudinal studies?
In S. Goldstein & R. Brooks (Eds.), Handbook of resiliencein children (pp.
91 - 106). New York: Kluwer Academic Publishers.2005
YUNES, M.A.M.; SZYAMANSKI, H. Resiliência: Noção, conceitos afins e considerações
criticam. In: TAVRES, J. Resiliência e educação. São Paulo: Editora Cortez, 2001. Cap.
1, p. 13-42.
Yunes, M. A. M. Resiliência: o foco no indivíduo e na família. Trabalho apresentado no I
Congresso Brasileiro de Psicologia, São Paulo, Brasil, 2002.
Universitári@ - Revista Científica do Unisalesiano – Lins – SP, ano 3., n.7, jul/dez de 2012