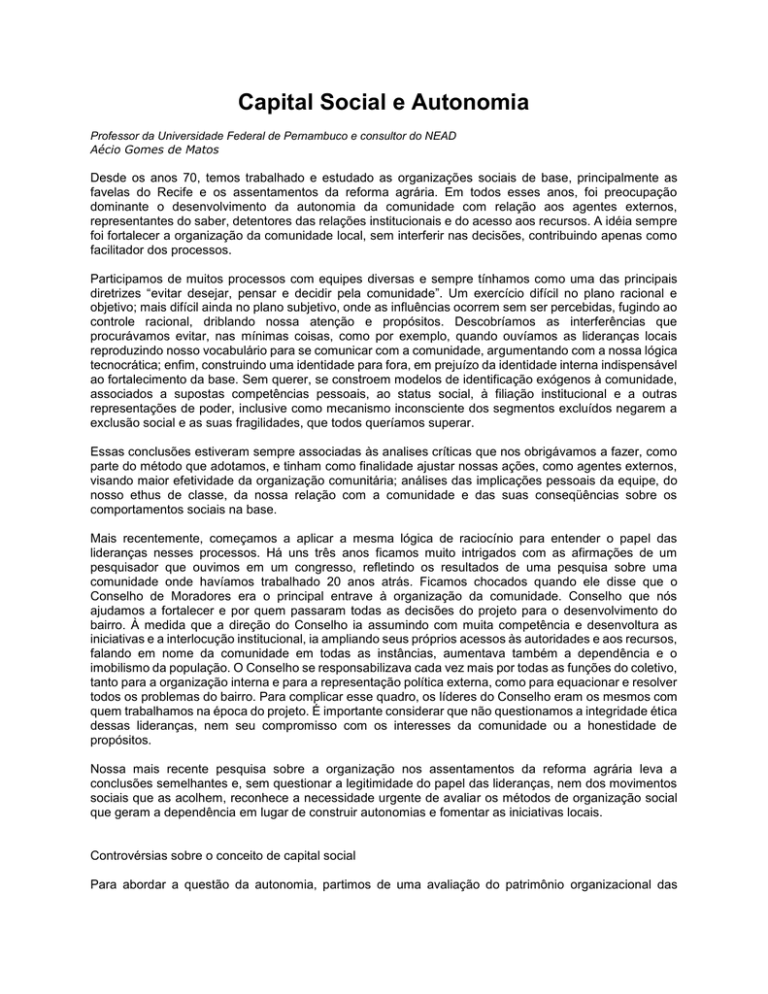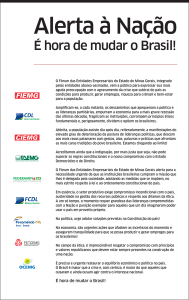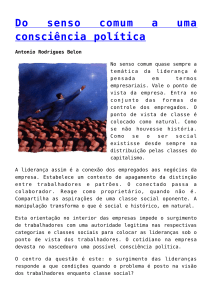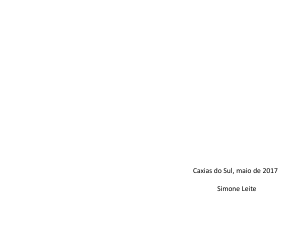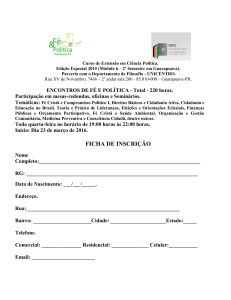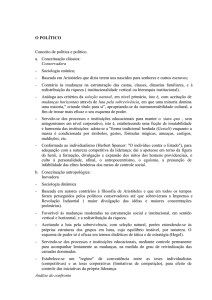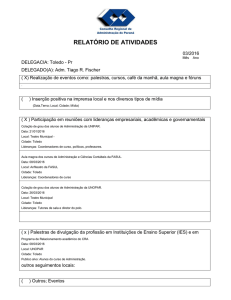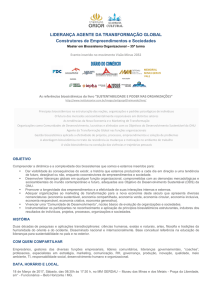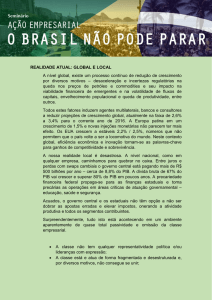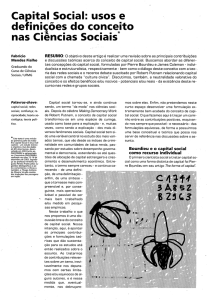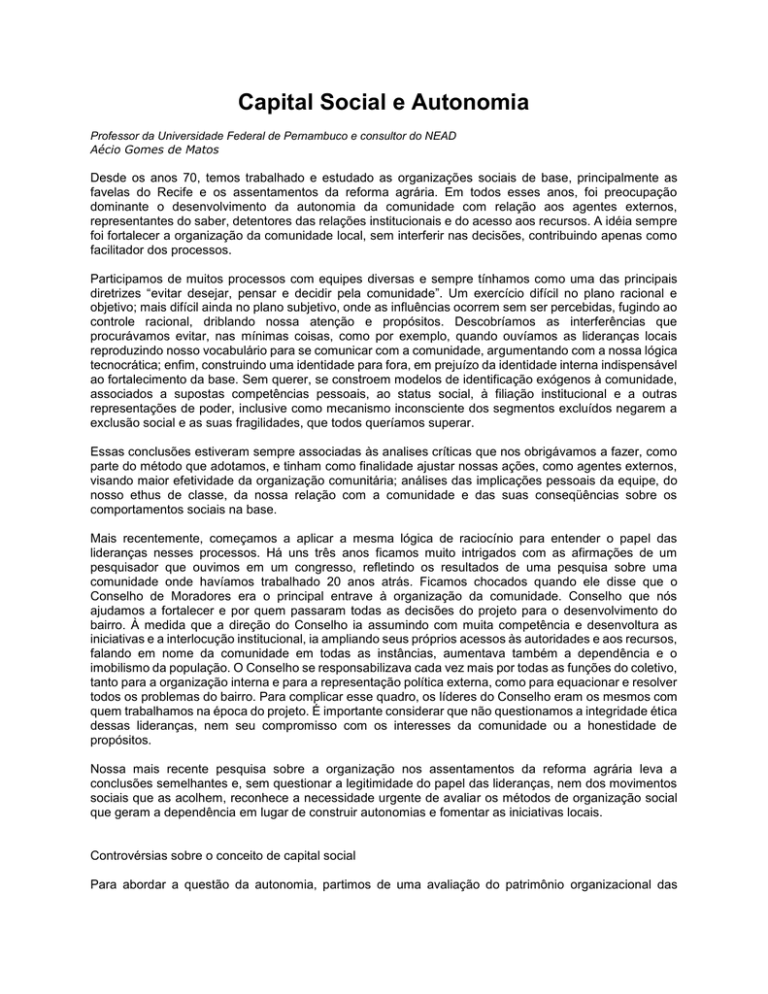
Capital Social e Autonomia
Professor da Universidade Federal de Pernambuco e consultor do NEAD
Aécio Gomes de Matos
Desde os anos 70, temos trabalhado e estudado as organizações sociais de base, principalmente as
favelas do Recife e os assentamentos da reforma agrária. Em todos esses anos, foi preocupação
dominante o desenvolvimento da autonomia da comunidade com relação aos agentes externos,
representantes do saber, detentores das relações institucionais e do acesso aos recursos. A idéia sempre
foi fortalecer a organização da comunidade local, sem interferir nas decisões, contribuindo apenas como
facilitador dos processos.
Participamos de muitos processos com equipes diversas e sempre tínhamos como uma das principais
diretrizes “evitar desejar, pensar e decidir pela comunidade”. Um exercício difícil no plano racional e
objetivo; mais difícil ainda no plano subjetivo, onde as influências ocorrem sem ser percebidas, fugindo ao
controle racional, driblando nossa atenção e propósitos. Descobríamos as interferências que
procurávamos evitar, nas mínimas coisas, como por exemplo, quando ouvíamos as lideranças locais
reproduzindo nosso vocabulário para se comunicar com a comunidade, argumentando com a nossa lógica
tecnocrática; enfim, construindo uma identidade para fora, em prejuízo da identidade interna indispensável
ao fortalecimento da base. Sem querer, se constroem modelos de identificação exógenos à comunidade,
associados a supostas competências pessoais, ao status social, à filiação institucional e a outras
representações de poder, inclusive como mecanismo inconsciente dos segmentos excluídos negarem a
exclusão social e as suas fragilidades, que todos queríamos superar.
Essas conclusões estiveram sempre associadas às analises críticas que nos obrigávamos a fazer, como
parte do método que adotamos, e tinham como finalidade ajustar nossas ações, como agentes externos,
visando maior efetividade da organização comunitária; análises das implicações pessoais da equipe, do
nosso ethus de classe, da nossa relação com a comunidade e das suas conseqüências sobre os
comportamentos sociais na base.
Mais recentemente, começamos a aplicar a mesma lógica de raciocínio para entender o papel das
lideranças nesses processos. Há uns três anos ficamos muito intrigados com as afirmações de um
pesquisador que ouvimos em um congresso, refletindo os resultados de uma pesquisa sobre uma
comunidade onde havíamos trabalhado 20 anos atrás. Ficamos chocados quando ele disse que o
Conselho de Moradores era o principal entrave à organização da comunidade. Conselho que nós
ajudamos a fortalecer e por quem passaram todas as decisões do projeto para o desenvolvimento do
bairro. À medida que a direção do Conselho ia assumindo com muita competência e desenvoltura as
iniciativas e a interlocução institucional, ia ampliando seus próprios acessos às autoridades e aos recursos,
falando em nome da comunidade em todas as instâncias, aumentava também a dependência e o
imobilismo da população. O Conselho se responsabilizava cada vez mais por todas as funções do coletivo,
tanto para a organização interna e para a representação política externa, como para equacionar e resolver
todos os problemas do bairro. Para complicar esse quadro, os líderes do Conselho eram os mesmos com
quem trabalhamos na época do projeto. É importante considerar que não questionamos a integridade ética
dessas lideranças, nem seu compromisso com os interesses da comunidade ou a honestidade de
propósitos.
Nossa mais recente pesquisa sobre a organização nos assentamentos da reforma agrária leva a
conclusões semelhantes e, sem questionar a legitimidade do papel das lideranças, nem dos movimentos
sociais que as acolhem, reconhece a necessidade urgente de avaliar os métodos de organização social
que geram a dependência em lugar de construir autonomias e fomentar as iniciativas locais.
Controvérsias sobre o conceito de capital social
Para abordar a questão da autonomia, partimos de uma avaliação do patrimônio organizacional das
comunidades. Inicialmente, tentamos trabalhar com o conceito genérico de associativismo, mas não
encontramos respaldo para uma abordagem mais aprofundada das variáveis políticas que fundamentam a
organização e as relações de poder internas à comunidade e entre a comunidade e as instituições sociais.
Em um segundo movimento teórico, nos enredamos com o conceito de capital social cuja aplicação
envolvia muitas controvérsias, desde xenofobia contra qualquer associação com possíveis referências
capitalistas, até ponderações teóricas sobre o viés economicista das abordagens existentes.
Sem a pretensão de realizar uma crítica mais profunda sobre os diversos enfoques teóricos da questão do
capital social, procuramos esclarecer alguns equívocos mais significativos. Em primeiro lugar, o tratamento
economicista dado ao conceito de capital social como uma categoria objetiva e mensurável como as
categorias econômicas.
COLEMAN (1994: 300), uma das principais referências nessa formulação conceitual, considera que o
capital social está sujeito a uma lógica de acumulação e reprodução, determinada por escolhas racionais
dos atores sociais no estabelecimento de estruturas de relações, instrumentalmente associadas à eficácia
da ação coletiva. Estruturas que podem ser criadas a partir da confiança mútua entre os indivíduos e que
se traduzem na estabilidade das instituições, normas e obrigações recíprocas, garantindo a eficiência do
esforço coletivo e a eficácia dos investimentos individuais. Deixa de lado da sua abordagem todos os
aspectos subjetivos das relações sociais que fogem à racionalidade, desprezando todas as contribuições
da sociologia moderna que reservam um espaço privilegiado para o simbólico e para o imaginário.
Para PUTNAM (1996: 177), “o capital social diz respeito a características da organização social como
confiança, normas e sistemas que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as
ações coordenadas”. Ele está preocupado em medir o capital social por meio de indicadores e
correlacioná-los com os índices de desenvolvimento econômico e institucional. Essa abordagem termina
por enredá-lo numa tese inaceitável do ponto de vista sociológico, que defende a existência de um
determinismo da história sobre a capacidade atual de organização de um povo. Segundo suas conclusões,
só conseguem acumular capital social aqueles povos que já têm uma longa tradição de solidariedade,
cooperação e associativismo. Suas correlações estatísticas entre um conjunto selecionado de variáveis
indicam que as regiões da Itália que tinham tradição de atitudes positivas face à vida coletiva mais
democrática e liberal foram justamente aquelas que se desenvolveram nos últimos 20 anos, ao contrário
das que não tinham essa tradição, que continuam amargando o atraso. O meio acadêmico italiano critica
Putnam pelo viés positivista de suas análises quantitativas e pela seleção das variáveis estudadas que
deixam de fora da análise categorias centrais, processos sociais como poder, conflitos, etnia, gênero,
relações público-privado, privilegiando as variáveis com relações significativas do ponto de vista
estatístico.
TURNER (1999: 94) critica Coleman por tratar a questão do capital social pondo os velhos conceitos da
sociologia clássica numa roupagem moderna, mas estreita da economia, e critica Putnam pela falta de
integração entre os referenciais sociológicos e econômicos. Mas, ele próprio, buscando integrar uma visão
sociológica mais ampla e compreensiva às questões do cotidiano, termina por definir um modelo de
análise desprovido de sensibilidade para a subjetividade das relações sociais, reforçando o enfoque
positivista e funcionalista que havia criticado.
Finalmente, virou moda o estudo do capital social como dispositivo teórico para explicar e impulsionar o
desenvolvimento econômico e social. Uma ferramenta que permitiria isolar as variáveis a serem
manipuladas para produzir o desenvolvimento, numa perspectiva meramente funcionalista. Eis a ótica que
parece motivar muitas instituições, inclusive o Banco Mundial, a eleger o capital social como tema
prioritário de estudos e publicações, como uma evolução da tendência anterior do planejamento
participativo que empolgou os consultores e a cooperação multilateral de todo o mundo nas décadas de 70
e 80.
Nessas análises, pudemos constatar que a grande dificuldade de se trabalhar com essas abordagens é
que elas só valorizam o lado positivo do conceito, sem considerar as contradições e os conflitos postos
pelas situações reais. Na situação de exclusão social, por exemplo, é preciso considerar que os
comportamentos são historicamente determinados pela busca de alternativas de curto prazo para
subsistência, freqüentemente utilizando estratégias individualistas e clientelistas, operando nos limites da
lei, dos costumes e da dignidade humana. Mas isso não significa que essas populações estão
impossibilitadas de se organizarem coletivamente (e com autonomia local) para enfrentar a luta pela vida e
pela dignidade, quando surgem oportunidades efetivas, como conseguimos ver de maneira concreta, em
muitas situações sociais onde trabalhamos.
Não é possível aceitar, pois, a tese de um capital social determinado por tradições centenárias, como
pretende Putnam, ou pela escolha racional, como defende Coleman. Essas constatações quase nos
levaram à rejeição da terminologia de capital social em busca de um conceito mais coerente com a
complexidade da organização social. Posteriormente, reconsideramos essa posição a partir de uma
releitura dos conceitos de acumulação e de apropriação, na qual encontramos suporte teórico para
resgatar e utilizar um conceito de capital social mais amplo, definido por BOURDIEU (1999: 67):
“O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede
durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento
ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como um conjunto de agentes que, não somente são
dotadas de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por
eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. Essas relações são irredutíveis
a relações objetivas de proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social porque
são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem
o reconhecimento dessa proximidade”.
Nessa definição, Bourdieu reforça dois enfoques fundamentais à orientação da perspectiva teórica da
nossa pesquisa. O primeiro é a relação de identidade grupal, como base da formação e da posse durável
das relações sociais que formam a essência do capital social. O segundo é o duplo caráter, material e
simbólico, dessas relações, compreendendo a complexidade e a irredutibilidade do capital social a
registros meramente objetivos e racionais. Além disso, Bourdieu associa a essa conceituação três outras
condições da existência do capital social, que nos parecem fundamentais ao caráter dialético dessa
complexidade:
· a primeira, estabelece os limites e a diferenciação do grupo com relação a outros grupos e à
sociedade, como a base essencial à caracterização do capital social, como dispositivo de poder e
de interesses contraditórios;
· a segunda, introduz na dinâmica do capital social o conceito de apropriação, como o processo de
“concentrar nas mãos de um agente singular a totalidade do capital social que funda a existência
do grupo”, estabelecendo a contradição dialética no interior do grupo; e
· a terceira, reconhece a possibilidade e a necessidade de um trabalho de instauração e
manutenção das relações duráveis, como base de um processo dialético de transformação social
pela constituição de capital social, a partir de um esforço sistemático e estratégico de investimento
social direcionado ao desenvolvimento das relações grupais.
Estas três condições permitem, finalmente, dar um tratamento dialético à análise social a partir do conceito
de capital social, diferentemente da conceituação funcionalista. Eis a razão que nos leva a incluir nossa
pesquisa no quadro do debate sobre capital social.
A questão da autonomia
Antes de discutirmos a autonomia das bases comunitárias locais, que julgamos indispensáveis à formação
e à apropriação do capital social pela própria comunidade, será necessário estabelecer o conceito de
sujeito social para caracterizarmos um coletivo organizado como uma categoria diferente dos indivíduos
que a compõem, uma totalidade autoconstituída, se exprimindo pelo reconhecimento recíproco e por
sentimento de inclusão, que se caracteriza pelo uso da primeira pessoa do plural, “nós”.
“Ao contrário do sujeito individual, o sujeito social não se define a partir de um substrato orgânico que lhe
garantiria a integridade. É apenas uma organização, uma unidade postulada, construída, que pretende se
garantir a si mesma, para estabelecer a lei que especifica o social”. BARUS-MICHEL (1987: 27)
Mas a construção da autonomia desse sujeito social não é evidente nem mesmo nos contextos
institucionalmente definidos como democráticos. A mistificação do domínio das decisões coletivas pelo
voto da maioria, por exemplo, levou aos equívocos do centralismo democrático da mesma forma que a
democracia representativa tem legitimado, entre nós, instituições legislativas pouco comprometidas com
os reais interesses dos eleitores.
Às prerrogativas dos direitos individuais, preconizadas pelo liberalismo, se contrapõem a necessidade
imperiosa de regulação social pela interferência e mediação de instâncias coletivas, nas quais os direitos
de um indivíduo se limitam pelos direitos dos outros. Nessa condição, a liberdade e o direito individual se
traduzem nos conceitos de autonomia e compromisso social.
CASTORIADIS chama de práxis o “fazer, onde o outro ou os outros são vistos como seres autônomos e
considerados como agente essencial do desenvolvimento de sua própria autonomia” e ainda que, “na
práxis, a autonomia do outro ou dos outros é um fim e um meio; a práxis visa à autonomia como um fim e a
utiliza como um meio” (1975:103).
Escoimado do individualismo, este conceito de autonomia implica na construção de sujeitos sociais,
estruturados na prática sistemática da reflexão crítica para a formação da autoconsciência, desenvolvendo
a capacidade de determinar sua própria história, sem dependência nem para fora nem para dentro.
Nessa mesma perspectiva, MORIN (1995: 57):
“Pode-se conceber, sem que haja um fosso epistêmico intransponível, que a auto-referência conduza à
consciência de si, que a reflexibilidade conduza à reflexão, em resumo, que apareçam sistemas dotados
de tão alta capacidade de auto-organização que conduzam a uma misteriosa qualidade chamada
consciência de si”.
A questão metodológica
Esse referencial teórico comprometido com a democracia e com a autonomia da organização local aponta
para metodologias baseadas na filosofia da práxis que considerem a reflexão crítica como a base
fundamental da consciência social, da explicitação das contradições e dos processos dissimulados de
poder e dominação.
Os antigos modelos diretivos sob o domínio de um saber tecnocrático que se impunha nos projetos de
desenvolvimento comunitário no confronto com a fragilidade técnica das comunidades pobres deram lugar,
a partir dos anos 70, a modelos de participação social com duas vertentes principais: uma gerencial, outra
antropológica. No modelo de participação gerencial, julgava-se que a participação da comunidade no
processo de construção dos projetos melhoraria a qualidade da informação e aumentaria o envolvimento
das populações como fator de viabilização, inclusive com redução de custos. De fato, nesses modelos, as
equipes técnicas mantêm a diretividade e o controle da metodologia, que opera o funcionamento do grupo
e determina, senão os conteúdos, mas o tipo de resultados que se espera do diagnóstico e do
planejamento, ditos, participativos.
Por sua vez, a vertente antropológica tenta inverter esse quadro, com o reconhecimento e uma certa
submissão ao saber local, numa postura, ao mesmo tempo contemplativa e preservacionista das culturas
locais, que procuram se isolar das influências externas. Esse tipo de método parece encontrar sucesso nas
comunidades mais primitivas, para as quais o isolamento é uma condição freqüentemente intransponível.
Sem desprezar as contribuições dessas abordagens, particularmente no que diz respeito aos conteúdos
técnicos da racionalidade econômica e à valorização do saber local, trabalhamos com uma metodologia
que compreende a abrangência e a complexidade do processo social, incorporando as variáveis políticas e
comportamentais. Uma abordagem complexa, no sentido proposto por Morin (1995), que considera a
dialógica do processo social, a recursividade das relações de causalidade e a representatividade do todo
nas partes pela integração entre os processos políticos de organização social (capital social), o saber
técnico e humanístico (capital humano) e o caráter econômico e ambiental dos fatores de produção (capital
físico).
Na prática, para construir a autonomia do sujeito social na formação e apropriação do capital social, o
método de organização deveria ser não-diretivo e apoiar-se na reflexão crítica dos mecanismos de poder
que presidem a organização dos coletivos e suas vinculações sociais. Há que se analisar criticamente o
papel dos líderes e a dependência que criam nas comunidades, sobretudo no caso de lideranças
consolidadas que se perpetuam na coordenação e que não podem ser contestadas sob a áurea de uma
legitimidade inquestionável. Lideranças que se afirmam por serem diferentes da comunidade, com maior
domínio semântico e acesso diferenciado às instituições.
A vantagem significativa de quebrar a dependência externa na relação com o governo e com as classes
dominantes, com o respaldo de lideranças locais, não justifica a manutenção de uma dependência da
comunidade com relação a seus líderes ou aos movimentos sociais de quem recebem apoio nas suas
lutas.
Lideranças com papéis estereotipados no dia-a-dia das comunidades funcionam pela inibição das
iniciativas da base, determinando simultaneamente os limites superiores e inferiores da organização
comunitária, de um lado por viabilizarem acesso aos processos e aos recursos institucionais; do outro, pela
inibição da iniciativa e da autonomia coletiva e pela dependência que geram em torno da sua atuação. O
movimento salutar de contestação das lideranças, como alternativa à anomia e à alienação, é sempre
taxado como subversivo e combatido como desagregador e destrutivo, inviabilizando a transposição do
estágio de uma organização dependente para um coletivo com autonomia e iniciativa locais. Entre as
organizações da sociedade civil mais bem estruturadas nacional ou regionalmente, nota-se um certo
receio da instabilidade, revertido em fortes investimentos na consolidação de lideranças e estruturas de
coordenação hierarquizadas, arraigadas à defesa de suas próprias bases políticas e ideológicas, quando
não a interesses pessoais e de grupos.
A autonomia não se constrói sem um método de organização que opere coletivamente respeitando os
espaços individuais; onde a instância reguladora deixe de ser personalizada nas lideranças para ser
prerrogativa de coletivos organizados com respeito às singularidades.
Se, do ponto de vista meramente instrumental, os métodos mais hierarquizados e diretivos, centrados nas
lideranças e no respaldo de organizações fortes, têm muita aceitação entre as populações excluídas na
perspectiva de ganhos concretos, como é o caso da mobilização para o acesso à terra nos programas de
reforma agrária, freqüentemente as organizações que deles resultam têm baixa estabilidade e carecem de
investimentos permanentes de reforço, controle ideológico e político.
Constatamos em nossas pesquisas que o peso da dependência, reforçado pelo individualismo e pelas
dificuldades nas relações com as lideranças, aparece na base das principais dificuldades de
desenvolvimento das comunidades, com repercussão direta na ausência de coletivos com iniciativa
própria, autonomia decisória e operacionalmente estruturados. Nessas condições, os modelos de
planejamento participativo preconizados e praticados pelos mais diversos agentes de apoio às populações
excluídas parecem pouco consistentes para o engajamento e compromisso dos assentados com as
decisões coletivas, tanto pelas deficiências dos métodos, em si, como pela postura condutivista dos
agentes externos que os aplicam.
É preciso superar a dependência com relação aos patrões, ao governo e a outros agentes externos à
comunidade sem construir dependências para dentro. O método de organização comunitária deve permitir
a construção de laços de confiança entre os membros dos coletivos, baseados na abertura para tratar as
contradições entre pares, sem que isso ameace as pessoas e a estabilidade da organização.
Esse tipo de método que investe na autonomia nem sempre é entendido pelas lideranças como uma
evolução da organização comunitária, gerando reações negativas de desmantelamento das iniciativas e
reforço na massificação doutrinária. Observa-se, no entanto, que, quanto mais fortes forem as reações das
lideranças contra esse movimento de autonomia, mais a energia reprimida se reorienta contra o coletivo,
se convertendo em isolamento, passividade e individualismo, como mecanismo de defesa, contra
onipotência. O resultado é a fragilização da organização comunitária.
Eis o impasse da mobilização e da organização das bases comunitárias para superar as condições de
exclusão. De um lado, a luta contra a pobreza exigindo métodos mais objetivos com resultados mais
rápidos, privilegiando estratégias e métodos de mobilização mais efetivos no curto prazo, com ênfase à
massificação (estratégias que exigem o alinhamento de estruturas centralizadas e hierarquizadas, do
plano nacional para o regional e desse para o local). Por outro lado, a subordinação e a dependência das
estruturas locais com relação às estruturas regionais e nacionais inibem a construção de processos locais
mais consistentes, com base na reflexão crítica, inclusive sobre as práticas políticas. Neste círculo vicioso,
quanto maior e mais forte for o poder de confrontação dos movimentos sociais nos planos nacional e
regional, mais frágeis serão as organizações autônomas das comunidades locais submetidas a sua
coordenação. Nesse sentido, os limites da luta contra a exclusão social se inscrevem justamente na
grande mobilização de massas, cuja autonomia e espírito crítico precisam ser inibidos para garantir o
controle e a hegemonia necessários ao enfrentamento do poder dominante.
Apesar de tudo, o quadro não é definitivo. É preciso considerar, de um lado, que a organização da
sociedade civil no Brasil tem suas raízes democráticas na filosofia da práxis, um referencial importante
para superar esses impasses pela reflexão crítica. Do outro lado, chamamos à atenção para a existência
de métodos já experimentados com resultados objetivos na formação de sujeitos sociais autônomos, como
é o caso dos “Grupos Operativos”, inspirados na prática e nos referenciais teóricos do argentino
PICHON-RIVIERE (1986), já experimentados em comunidades brasileiras desde a década de 70.
Vale salientar que da anomia e da desconfiança com relação às lideranças, já pudemos observar, nessas
pesquisas, tendências, ainda que em estágio latente, a formas diversas de organização autônoma das
comunidades que, se apoiadas de maneira adequada por metodologias não-diretivas, podem frutificar em
benefício ao fortalecimento da organização dos assentamentos, dos movimentos sociais e do capital social
dos agricultores familiares.
BIBILOGRAFIA CITADA
BARUS-MICHEL, Jacqueline. Le Sujet Social. Étude de Psychologie Sociale Clinique. Paris, Dunod, 1987.
209 p.
BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Org. Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani. Petrópolis, Editora
Vozes, 1998. 250 p.
CASTORIADIS, Cornélius. L'Institution Imaginaire de la Société. Paris, Éditions du Seuil. 1975. 498 p.
(Tradução do autor).
COLEMAN, James. Fondations of Social Theory, 2ª Ed. Cambridge, Havard University Press, 1994. 992 p.
MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. trad. Dulce Matos. 2ª ed. Lisboa: Instituto Piaget,
1995. 177 p.
PICHON-RIVIÈRE, Enrique. O Processo Grupal. Trad. Marco Aurélio Fernandes Vellozo. São Paulo,
Martins Fontes, 1986. 181 p.
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna. trad. Luiz Alberto
Monjardim. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1996.