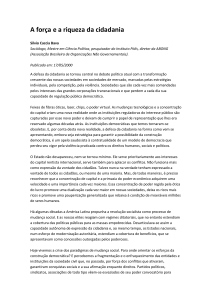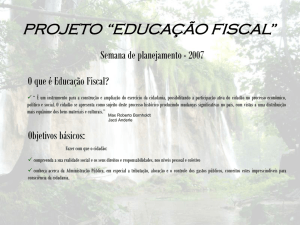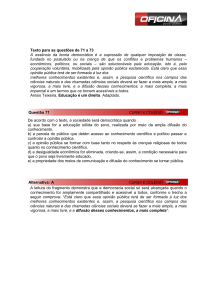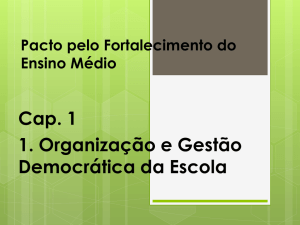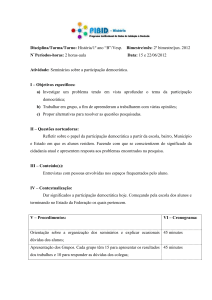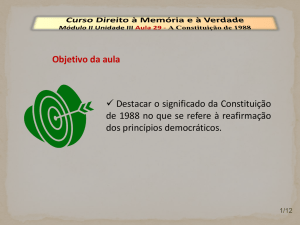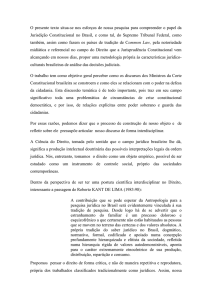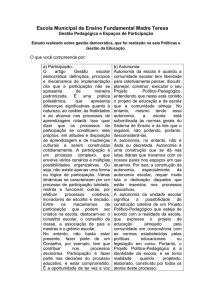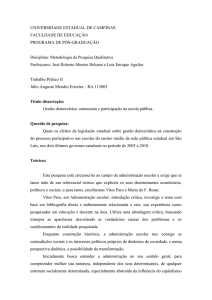KANT OU CANT
O MITO
DA
PAZ DEMOCRÁTICA
CRISTOPHER LAYNE
INTERNATIONAL SECURITY, VOL. 19, Nº. 2
OUTONO 1994
TRADUZIDO POR
EDUARDO HARTZ OLIVEIRA
CAPITÃO DE MAR-E-GUERRA
FEV/MAR 2005
NOTA DO TRADUTOR
2
A TEORIA DA PAZ DEMOCRÁTICA
Para um melhor entendimento do trabalho de Christopher Layne, é importante
uma abordagem introdutória conceituando a Teoria da Paz Democrática, posicionandoa dentro do universo das relações internacionais. Para tal, me baseio em um trabalho
produzido pela PHd em Ciência Política Dra. Binnur Ozkececi-Taner1 sobre o tema. .
Qualquer estudo sobre relações internacionais abordará, basicamente, uma
prolongada disputa entre duas escolas de pensamento: uma Realista e outra Liberal.
Ainda que isto não seja um paradigma monolítico, a Escola Realista descreve as
relações internacionais como uma luta pelo poder entre Estados.
[N.T.] Tucídides entrou para a História como o pai da “Escola Realística“ das relações internacionais. Na
tradição desta escola, estão o italiano do século XV, Maquiavel com o seu “Príncipe” e também o homem
que verteu Tucídides para o inglês, Thomas Hobbes com sua principal obra “Leviatã”. “Homo homini
lupus”, o homem é um lobo para os outros homens, assim caracteriza Hobbes o comportamento das
pessoas. Ele postula, portanto, o Estado forte, o chamado Leviatã que protege os cidadãos um diante do
outro. No entanto, não há um Leviatã nas relações internacionais. Reina, na visão de Hobbes, o estado
primitivo, a luta de todos contra todos. O poder é o princípio de ordenamento das relações entre os
Estados.
Outras manifestações dessa escola de pensamento das relações internacionais são a teoria da “Razão do
Estado“ (Raison d´état) de Richelieu ou a expressão alemã “política real” (Realpolitik), que foi adotada
como estrangeirismo por muitas línguas. A Realpolitik, como praticada pelo estadista alemão Bismarck, é
essencialmente uma política como “arte do possível”. Ela tenta agir com base nos interesses próprios e
considerando os interesses alheios, mas rejeitando ideais e valores. A escola realística ainda é muito
defendida atualmente, embora de forma diferenciada.
Nesta luta os Estados priorizam o seu auto-interesse, e têm uma visão pessimista
quanto à perspectiva de eliminação dos conflitos e da guerra. Este modelo de
pensamento foi dominante durante o período da Guerra Fria, porque ele proporcionava
uma explicação simples e ao mesmo tempo poderosa, para a guerra, para as alianças,
para o imperialismo, para os obstáculos à cooperação e, principalmente, porque a
ênfase dada por este padrão à competitividade era consistente com as características
básicas da rivalidade existente entre os EUA e a URSS.
A principal oposição ao pensamento realista consolida-se na Escola Liberal, que
congrega diversas correntes de pensamento, e que no seu conjunto, também não se
1
Binnur Ozkececi-Taner é PhD in Ciências Políticas pela Maxwell School, Syracuse University , sendo detentora de um
MBA em “Conflict Resolution and Peace Studies” pelo Kroc Institute for Peace Studies, University of Notre Dame. Ela
formou-se em International Relations na Middle East Technical University, Ankara, Turkey, in 1998. Binnur também foi
uma AFS exchange student em Tempe, Arizona de 1993-1994. Binnur, “The Myth of Democratic Peace: Theoretical
and Empirical Shortcomings of the Democratic Peace Theory", Alternatives — Turkish Journal of International
Relations, Vol.1 – Nº 3 – Outono 2002
3
baseia numa visão monolítica. A Escola Liberal de pensamento integra três correntes
de pensamento que propõe modelos diferentes de relações internacionais.
Uma corrente da Escola Liberal propõe que a interdependência econômica seria
o fator a desencorajar os Estados de recorrerem ao uso da força, uns contra os outros,
visto que a guerra ameaçaria a prosperidade de cada um dos envolvidos2.
Outra corrente liberal, mais recente, sugere que as instituições e as normas
internacionais poderiam superar
os comportamentos
egoístas dos Estados,
principalmente, encorajando-os a relegar ganhos imediatos em prol dos maiores
benefícios advindos de uma cooperação duradoura3.
Uma terceira corrente da Escola Liberal, e provavelmente a que goza de maior
popularidade, tanto nos círculos acadêmicos, quanto nos círculos políticos, propugna
pela Teoria da Paz Democrática, e vislumbra a difusão da democracia, como a chave
para a paz mundial, baseando sua argumentação na proposição de que é inerente aos
Estados democráticos serem mais pacíficos que os Estados autoritários.
2
3
Ver Rosecrane, Richard, “The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World”, Editora Basic
Books, Nova York, 1986.
Esta corrente é mais bem definida no trabalho de Keohane, Robert O., “After Hegemony”, Princeton University Editora,
Princeton NJ, 1984.
4
CONCEITUAÇÃO DA TEORIA DA PAZ DEMOCRÁTICA
A argumentação de que a democracia é uma força importante para a paz tem, na
pessoa do filósofo alemão Immanuel Kant, o seu mais enérgico advogado.
[N.T.] As idéias do filósofo alemão Immanuel Kant influenciaram decisivamente o Direito Internacional e
desempenharam um importante papel por ocasião da fundação da Liga das Nações e as Nações Unidas.
Na sua obra mais famosa “Zum ewigen Frieden” (Paz Perpétua), Kant esboça uma ética das relações
internacionais e propõe máximas para a convivência de nações e povos, baseadas em um ordenamento
de paz e como base de estabilidade interna e internacional. Alguns dos elementos por ele propostos são a
não-intervenção nos assuntos internos de uma nação, a dissolução das forças armadas e a segurança da
paz através de uma ordem republicana dos Estados: (não necessariamente democrática).
O título da obra de Kant é intencionalmente ambíguo: A Paz Perpétua. Duas soluções são apresentadas à
humanidade. Por um lado, o fim de todas as guerras através de um acordo universal, assinado por todas
as nações ou então, a paz eterna em um gigantesco cemitério da humanidade, depois de uma guerra de
extermínio. No século XVIII, esta última possibilidade só poderia ser imaginada por uma pessoa como
Kant, acostumado a refletir até as últimas conseqüências. No século XX, com a invenção das armas
nucleares, infelizmente essa visão não parece ser mais tão visionária.
Aproximadamente há dois séculos atrás este filósofo argumentava que o
elemento moral que forma o arcabouço das relações pacíficas entre os Estados
democráticos, se baseia nos princípios comuns da cooperação, respeito mútuo e
entendimento.
Recentemente, muitos observadores têm seguido os seus passos, considerando o
regime democrático como sendo o “caminho para a paz”4. De fato, desde o início dos
anos 1980, a visão de que as democracias não entram em guerra, umas contra as outras,
tem sido considerada “o que existe de mais próximo de uma lei internacional empírica
para as relações internacionais”5.
Os fundamentos teóricos da Teoria da Paz Democrática, como definidos por
Bruce Russet, podem ser divididos em:
proposição unitária (monadária) e
proposição dual (díada)6. Estas proposições diferem entre si no que concerne à
importância do regime governamental do Estado em perspectiva.
A proposição unitária (ou monadária) sugere que quanto mais democrático for o
Estado, menos violento será o seu comportamento em relação a outros Estados, sejam
4
5
6
Brown, Michael E., et al. “Debating Democratic Peace”, The MTI Editora, Cambridge, Mass., 1997.
Levy Jack S. “The Causes of War: A Review of Theories in Evidence”, Behavior, Society and Nuclear War, Tetlock et al.,
Oxford University Editora, Nova York, p.88, 1989. Chan, Steve, “In Search of Democratic Peace: Problems and
Promise”, Mershon International Studies Review, 41:59-91, 1997.
Bruce Russet, “Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold Ar World” (Princeton University Editora,
1993); e Russet, “The Democratic Peace: And Yet it Moves”, International Security, 1994, pp. 164-175.
5
eles democráticos ou não7. A grande maioria de trabalhos feitos, sob o enfoque da
proposição unitária apresenta como argumentações:
— que as democracias são, de fato, os regimes de governo mais pacíficos, porque
guerras onerosas e mal sucedidas, num ambiente democrático, aumentam as chances de
um líder político perder a sua posição, o que tornaria estes líderes menos propensos a
iniciar guerras que tenham a perspectiva de serem violentas ou de acarretarem custos
elevados;
— que nos Estados democráticos, a menor propensão a escalar disputas,
transformando-as em guerras deve-se às estruturas políticas domésticas, que restringem
os líderes democráticos no que concerne a adoção da opção de guerra, como um
instrumento de política externa;
— que os Estados democráticos têm menor propensão para estenderem seus
compromissos além de suas capacitações; e
— que as instituições democráticas asseguram um distinto efeito pacificador,
independentemente do regime político interno de outros Estados.
De acordo com proposição dual (ou díada), considerada como a proposição mais
completa, o fato de que os Estados democráticos não entram em guerra entre si, não
significa que sejam menos predispostos à guerra do que outros tipos de Estados.
Contrariamente à proposição unitária ou monadária, a proposição dual sugere
que o tipo de regime do Estado oponente afetará, de forma crucial a decisão de recorrer
à guerra, e neste sentido, Estados democráticos podem ter predisposição para a guerra,
quando se deparam com oponentes não democráticos. A hostilidade em relação a um
Estado não democrático tem maior aceitabilidade. Neste sentido, observa-se que existe
uma maior facilidade em mobilizar a opinião pública em prol de uma ação militar
devido ao fato de que governos não democráticos estão em permanente “estado de
agressão contra o seu próprio povo”, situação esta que torna “suas relações externas
profundamente suspeitas para os governos democráticos”8.
7
8
Ray, James L., “Wars Between Democracies: Rare or Nonexistente?”, International Interactions, 18:251-276, 1996;
Rummel Rudolph J., “Democracies are Less Warlike Than Other Regimes”, European Journal of International Relations,
1:457-479, 1995; Bueno de Mesquita, Bruce & David Lalman, “Domestic Opposition and Foreign War”, American Political Science Review 84:747-766, 1992; Maoz Zeev & Nasrin Abdolai, “Regime Types and International Conflict, 18161976”, Journal of Conflict Resolution, 33:3-35, 1989.
Doyle, Michael W. “Liberalism and World Politics”, American Political Science Review 80:1161, 1986; Owen, John
M., “How Liberalism Produces Democratic Peace”, International Security 1995:96.
6
Além das duas correntes citadas, os proponentes da Teoria da Paz Democrática
sugerem duas explicações para a proposição de que democracias não entram em guerra
umas contra as outras.
A primeira explicação se baseia nas restrições estruturais / institucionais.
Segundo esta explicação, as democracias mantêm a paz entre si, devido a sistemas
controle mútuo que mantêm amarradas as mãos dos dirigentes políticos bem como, de
toda a complexa estrutura de uma sociedade civil democrática. Os efeitos das
restrições institucionais sobre as ações de um líder, traduzem-se na perspectiva de que
dirigentes políticos são passíveis de terem de assumir os elevados custos políticos
resultantes do uso impróprio da força em sua prática diplomática. Não obstante, são as
próprias restrições institucionais que impedem líderes eleitos democraticamente de
agirem de forma intempestiva, e este comportamento cauteloso no âmbito da política
externa reduz a possibilidade de que um conflito evolua para uma guerra.
A segunda explicação para que as democracias sejam consideradas mais pacíficas
está relacionada ao entendimento de que os Estados democráticos compartilham
normas culturais/democráticas comuns entre si. Segundo esta explicação, a cultura
política democrática encoraja a adoção de meios pacíficos para a resolução de
conflitos, tendência esta que atravessa as fronteiras na direção de outros Estados
democráticos, e neste sentido, os dirigentes políticos já estão habituados a ter a
expectativa de que suas ações terão reações recíprocas, em se tratando de outros
Estados democráticos.
A explicação relativa às normas culturais/democráticas tem sido considerada
mais
robusta
e
esclarecedora
que
a
explicação
relativa
às
restrições
estruturais/institucionais, visto que esta última não apresenta uma justificativa quanto
à disposição pública, no âmbito de democracias, de empreender guerras contra Estados
não democráticos. Por outro lado, alguns estudiosos têm argumentado que as duas
explicações não são mutuamente exclusivas, ao contrário, podem funcionar de forma
complementar.
7
KANT OU CANT — O MITO DA PAZ DEMOCRÁTICA
INTRODUÇÃO
A Teoria da Paz Democrática trás à tona importantes temas teóricos, como a
controvérsia quanto a Estados democráticos comportarem-se de uma determinada
forma entre si, e de uma forma diferente em relação a Estados não democráticos. Este
tema remete-se ao âmago da teoria das relações internacionais, enfocando a relevância
de aspectos secundários (de política interna) e terciários (estruturais) no desenrolar das
questões de política internacional.
A reivindicação de que democracias não entram em guerra entre si é mais uma proposição, ou hipótese,
do que uma teoria. A “Teoria” da Paz Democrática propõe um relacionamento causal entre uma variável
independente (estruturas políticas democráticas num nível unitário) e uma variável dependente (a
asseverada ausência de guerra entre Estados democráticos). No entanto, esta não constitui uma teoria
verdadeira, porque o relacionamento causal entre variáveis independentes e dependentes não é
comprovado, nem tão pouco, como eu demonstro neste artigo, explicado de forma adequada. Ver de
Stephan Van Evera, “Hypotheses, Laws and Theories: A User’s Guide”. Unpub. Memo., Departamento de
Ciência Política, MIT.
A Teoria da Paz Democrática também alcançou uma importância real em nível
global. Os dirigentes políticos que adotaram a Teoria da Paz Democrática já a
identificaram como um elo crítico ligando a política de segurança dos Estados Unidos
à difusão da democracia, identificando esta ligação como o antídoto para prevenir a
ocorrência de guerras no futuro. De fato, alguns teóricos da Paz Democrática, como
Bruce Russett, acreditam que, num sistema internacional compreendendo uma massa
crítica de Estados, “pode ser possível, que os princípios da Teoria Realista, que têm
dominado a prática das relações internacionais, possam ser substituídos, (até o ponto
de sua exclusão), por princípios ‘liberais’ ou ‘idealistas’, que existem desde o século
XVII”9.
Devido às suas implicações, tanto de ordem teórica no âmbito das relações
internacionais, como no que concerne à formulação de diretrizes políticas, a Teoria da
Paz Democrática merece uma análise cuidadosa10.
9
10
Bruce Russet, “Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold Ar World” (Editora Princeton University,
1993) Cap. 7; e Russet, “Can a Democratic peace be Built?”, International Interractinos, Vol. 18, Nº 3 (Primavera 1993),
pp. 277-282.
Neste artigo, me baseio e amplio as críticas à Teoria da Paz Democrática, encontradas na obra de John J. Mearsheimer,
“Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War”, International Security, Vol. 15, Nº 1, (Verão 1990), pp. 556; e Kenneth N. Waltz, “America as a Model for the World? A Foreign Policy Perspective”, PS (Dezembro 1991), pp.
667-670.
8
Neste artigo, inicialmente, fazemos uma análise crítica da capacidade persuasiva
da lógica causal da Teoria da Paz Democrática e argüimos entre a esta teoria, e a
Realista, qual das duas proporciona uma melhor prospectiva com relação aos
resultados das questões internacionais. Em seguida, analisamos, de forma sucinta, a
consistência das evidências empíricas da Teoria da Paz Democrática, tomando por base
as minhas conclusões relativas à força de seus argumentos justificativos.
Iniciamos revendo as duas explicações apresentadas para a Teoria da Paz
Democrática, por seus proponentes.
Uma das explicações atribui a ausência de guerras entre estados democráticos às
restrições institucionais, ou seja, os efeitos restritivos da opinião públicos, ou
decorrentes da sistemática de controle mútuo, inerentes à estrutura política de um
Estado democrático. A outra explicação propõe que são as normas e a culturas
democráticas — um compromisso compartilhado no sentido da resolução pacífica de
disputas políticas — que justificam a ausência de guerra entre os Estados
democráticos.
Como será demonstrado, a argumentação quanto às restrições institucionais não
proporciona uma explicação convincente para a ausência de guerras entre democracias.
Portanto, a justificativa para a Teoria da Paz Democrática se baseia no grau de
convencimento da argumentação de que as normas e culturas democráticas tenham,
para explicar o porquê de Estados democráticos, ainda que entrem em guerra com
Estados não democráticos, não entram em guerra entre si.
O corpo principal deste artigo compreende um teste das justificativas
concorrentes, relativas ao desenvolvimento de questões internacionais, proporcionadas
pela Teoria da Paz Democrática e pela Teoria Realista. Este teste é baseado em
estudos de caso de 4 situações de “quase ocorrência” — crises em que 2 Estados
democráticos quase que entraram em guerra, um contra o outro.
Estes 4 casos são situações bem documentadas
de grandes potencias
democráticas que chegaram à eminência da guerra, sem passar deste limiar. Desta
forma, eles proporcionam uma oportunidade para determinar qual das hipóteses
concorrentes, representadas pela Teoria da Paz Democrática e pela Teria Realista,
fornece uma melhor explicação para o desenrolar de questões internacionais.
9
Existem outros casos de crises entre grandes potências democráticas os quais podem ser estudados,
quais sejam: as relações anglo-francesas durante o período da “entente cordiale” de 1832-48; as relações
franco-italianas nos anos 1880 e 1890; se a Alemanha de Wilhelm puder ser classificada como uma
democracia, a crise Marroquina de 1905-06 e 1911; e as crises na Samoa de 1889 e 1899. Todos estes
casos consubstanciariam as minhas conclusões. Por exemplo, de 1832 a 1848 as relações anglofrancesas foram marcadas por uma intensa rivalidade geopolítica em relação à Bélgica, Espanha e
Europa Oriental, e neste contexto a ameaça de guerra constituía sempre um fator presente nas avaliações
dos formuladores de diretrizes políticas, tanto em Londres, quanto em Paris. O Ministro de relações
exteriores, Lorde Palmerston tinha uma profunda desconfiança em relação às ambições francesas, e
constantemente enfatizava a necessidade da Inglaterra manter um poder naval suficiente para defender
seus interesses em face do desafio francês. Ver de Kenneth Bourne, “Palmerston: The early Years , 17841841”, (Nova York: Macmillan), p. 613. Ver, também, de Roger Bullen, “Palmerston, Guizot and the Collapse of the Entente Cordiale” (London: Athlone Editora, 1974); e de Sir Charles Webster, “The Foreign
Policy of Palmerston”, Vol. 1: “1830-1841, Britain, the Liberal Movement and The Eastern Question” (London: G. Bell & Sons, 1951). A Itália desafiou a França na conquista de uma ascendência no Mediterrâneo,
embora as duas nações fossem ligadas pelo liberalismo, democracia e uma cultura comum. Estes dois
Estados engajaram-se numa guerra comercial que se aproximou de uma guerra real. A França,
aparentemente, foi dissuadida de atacar a Itália em 1888, quando a Esquadra inglesa do Canal foi
deslocada para a Base Naval italiana de La Spezia. A Itália foi impedida de atacar a França devido à sua
fraqueza militar e econômica. Ver de C. J. Lowe e F. Marzari, “Italian Foreign Policy, 1780-1940”, (Londres:
Routledge & Paul Kegan, 1975, Cap. 4); de C. J. Lowe, “The Reluctant Imperialists: British Foreign Policy
1879-1902”, (London: Routledge & Paul Kegan, 1974), Vol. I, pp. 147-150; e de John A. C. Conybeare,
“Trade Wars: Theory and Practice of International Commercial Rivalry” (Nova York: Columbia University
Editora, 1987), pp.183-188.
Alem disso, há que se considerar que estes estudos de caso favorecem a postura
da Teoria da paz Democrática, e desfavorecem a Teoria Realista, porque em cada um
deles, teoricamente, o efeito pacificador das normas e culturas democráticas estaria
reforçado por fatores complementares (e.g. interdependência econômica, ou laços
especiais ligando as partes em disputa).
Estabelecemos, tanto para a argumentação relativa às normas e culturas
democráticas, quanto para a Teoria Realista, um conjunto de indicadores, ou
proposições examináveis, que devem se confirmar, se o desenrolar de uma determinada
crise puder ser explicado por qualquer uma destas teorias. Desta forma, rastreando os
desenvolvimentos de processos, examinamos cada uma das crises em detalhe.
A conclusão que se chega ao final desta análise é que a Teoria Realista, como
uma ferramenta de prognóstico e para qualificar as relações internacionais é superior à
proposição da argumentação das normas e culturas democráticas da escola ad Teoria
da Paz Democrática.
De fato, a Teoria da Paz Democrática, aparentemente, não encontra muitos
argumentos que justifiquem o desenvolvimento que teve cada um dos casos em estudo,
e as decorrentes dúvidas com relação à validade de sua lógica causal sugerem que a
evidência empírica que se propõe a apoiar a Teoria da Paz Democrática, também
10
deveria ser revista. Os teóricos da Paz Democrática argumentam que a teoria
é
validada por um grande número de casos, no entanto, pode-se argumentar que o
universo de casos, a partir do qual esta teoria poderia ser testada é, na realidade,
bastante limitado. Esta constatação, por si só, já é um problema, pois, se a sustentação
empírica da teoria baseia-se num universo pequeno, isto amplia a importância de
possíveis exceções à regra de que as democracias não entram em guerra umas contra as
outras (como por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra de 1812).
Concluindo este artigo, discuto as implicações problemáticas da Teoria da Paz
Democrática com relação à política externa norte-americana no período pós-Guerra
Fria.
11
A TEORIA DA PAZ DEMOCRÁTICA — SUAS REIVINDICAÇÕES E A
SUA LÓGICA
A Teoria da Paz Democrática não afirma que os Estados democráticos sejam
menos propensos à guerra que os não-democráticos, porque eles não o são. Esta teoria,
no entanto, faz duas proposições muito importantes.
Em primeiro lugar, que as democracias nunca (ou raramente — e existe um
grande número de variações sobre isto) entram em guerra contra outras democracias11.
Neste sentido, Jack S. Levy cita que: “ a ausência de guerras entre democracias é a
constatação que mais se aproxima do que podemos chamar de uma lei empírica no
âmbito das relações internacionais”12.
Em segundo lugar, quando democracias chegam à uma situação de conflito entre
si, raramente ameaçam usar a força, porque isto seria um procedimento ilegítimo13. A
Teoria da Paz Democrática assegura, de forma explicita, que é a própria natureza dos
sistemas políticos democráticos, a responsável pelo fato de que democracias não lutem
ou ameacem lutar entre si.
A LÓGICA CAUSAL
A Teoria da Paz Democrática tem que explicar uma contradição: as democracias
são tão propensas à guerra quanto as não democracias. Ou seja, da mesma forma com
que as democracias prontamente ameaçam lutar ou lutam contra não democracias, elas
não ameaçam lutar nem lutam contra outras democracias.
Desta forma, o desafio chave para a Teoria da Paz Democrática é identificar as
características especiais, inerentes aos Estados democráticos, que os restringem de
empregarem ameaças coercitivas ou até mesmo entrarem em guerra contra outras
democracias.
A Teoria da Paz Democrática apresenta, como vimos, duas explicações: (1)
restrições institucionais e (2) normas e culturas democráticas14.
11
12
13
14
Jack S. Levy, “Domestic Politics and War”, em Robert I, Rotberg e Theodore K. Rabb, eds. “The Origin and Prevention
of Major Wars”, (Cambridge: Cambridge University Editora, 1989), p.88.
Russet, “Grasping the Democratic Peace” p.33; Michael W. Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Parte
I em Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, Nº. 3 (Verão 1983), p.213.
Esta é a terminologia empregada por Russet em “Grasping the Democratic Peace”; ver, também, de Bruce Russet e Zeev
maoz, “Normative and Structural Causes of Democratic Peace”, American Political Science Review, Vol. 87, Nº. 3
(Setembro 1993), pp. 624-638. Russet assinala (pp. 40-42) que, ainda que analiticamente distintas, estas duas explicações
estão interligadas.
12
As restrições institucionais podem manifestar-se de duas formas. Numa primeira
forma, Michael Doyle, tomando por base Immanuel Kant, explica que governos
democráticos relutam em ir à guerra porque eles devem satisfações ao povo15. O povo é
que paga o preço da guerra, tanto em sangue quanto em riquezas; se o preço de um
conflito for elevado, os governos democráticos podem cair, vítimas de uma má
retribuição eleitoral. Mais ainda, em Estados democráticos, as decisões na área de
política externa, que envolvam o risco de guerra, são debatidas abertamente, e não a
portas fechadas, o que significa dizer, que tanto o povo quanto os dirigentes políticos
são sensíveis aos custos da guerra. A segunda forma de manifestação se verifica
através dos sistemas de controle mútuo, decorrente de três características específicas da
estrutura política doméstica de um Estado: o processo seletivo de escolha do
Executivo; a competição política; e a pluralidade do processo decisório no âmbito da
política externa16. Estados cujos Executivos têm de responder a um corpo eleitoral; que
sejam dotados de uma competição
política institucionalizada;
e com as
responsabilidades pela tomada de decisões espalhadas entre diversas instituições ou
indivíduos; devem ser altamente restringidos, e em decorrência, com uma menor
probabilidade de irem à guerra.
As explicações relativas às normas e culturas democráticas sustentam que “a
cultura, as percepções e práticas que possibilitam o comprometimento e a resolução
pacífica de conflitos, sem a ameaça de violência entre países, estendem-se através das
fronteiras na direção de outros países democráticos”17. Estados democráticos assumem
que outras democracias também aprovam o uso de métodos pacíficos na regulação da
competição política e resolução de disputas, e que outros Estados aplicarão estas
normas em suas relações externas com outras democracias. Em outras palavras, os
Estados democráticos desenvolvem uma percepção positiva em relação a outras
democracias. Consequentemente, nas palavras de Doyle, as democracias “que
15
16
17
Doyle, “Kant Liberal Legacies and Foreign Affairs”, pp.205-235. Ver também, Doyle, “Liberalism and World Politics”,
American Political Science Review, Vol. 80, Nº. 4 (Dezembro 1996), pp. 1151-1169; Russet, “Grasping the Democratic
Peace”, pp. 38-40.
T.Clifton Morgan and Sally H. Campbell, "Domestic Structure, Decisional Constraints and War: So Why Democracies
Fight?”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 35, Nº. 2, (junho 1991), pp. 187-211; e Clifton Morgan and Valerie L.
Schwebach, “Take Two Democracies and Call Me in the Morning: A Prescription for Peace?”, International Interactions,
Vol. 17, Nº. 4, (Summer 1992), pp. 305-420.
Russet, “Grasping the Democratic peace”, p. 31.
13
repousam no consentimento, presumem que repúblicas estrangeiras também sejam
consensuais, justas e, portanto, merecedoras de boa vontade”.
Doyle, “Kant, Liberal legacies and Foreign Affairs”, p. 230. Também é argumentado que a predisposição de
Estados democráticos de considerar outras democracias de forma favorável é reforçada pelo fato de que
Estados democratas liberais estão interligados por laços mutuamente benéficos de interdependência
econômica. As democracias, portanto, têm fortes incentivos para agirem umas em direção às outras, de
modo a aumentar a cooperação e reprimir ações que ameacem seus interesses advindos da cooperação
mútua. Ibid, pp. 230-232; Rummel, “Liberalism and International Violence”, pp.27-28. Com relação ao argumento de que “interdependência promove a paz” ver de Richard Rosecrance, “The Rise of the Trading
State”, (Nova York: Basic Books, 1986). Na verdade, no entanto, para as grandes potências, a
interdependência econômica cria também interesses também importantes que devem ser defendidos
através de comprometimentos militares externos (comprometimentos estes que carregam em seu bojo o
risco da guerra). Ver Christopher Layne e Benjamin C. Schwarz, “American Hegemony — Without and Enemy”, Foreign Policy, Nº. 92 (Outono 1993), pp.5-23.
As relações entre Estados democráticos baseiam-se no respeito mútuo, enraizado
no fato de que as democracias percebem-se, umas às outras, como conciliadoras (ou
seja, a negociação ou o “status quo” são as únicas saídas possíveis numa disputa).
Argumenta-se que este ponto de vista baseia-se numa forma de aprendizado. Os
Estados democráticos beneficiam-se de relações cooperativas entre si, e desta forma
visam expandir suas inteirações positivas. Por sua vez, este desejo os predispõe a
serem mais sensíveis às necessidades de outros Estados democráticos, o que, em última
análise, leva à criação de uma comunidade de interesses. Na medida em que Estados
democráticos movem-se na direção dessas comunidades, eles renunciam à opção de
usarem (ou até mesmo de ameaçarem o uso) a força em suas mútuas inteirações18.
O espírito democrático — baseado na “competição pacífica, persuasão, e
compromisso” — explica a ausência de guerra e das ameaças a ela relacionadas entre
Estados democráticos19. Em contraposição, considera-se que a ausência destas normas,
nas relações entre Estados democráticos e não democráticos, explica o paradoxo de
que embora democracias que não lutam entre si sejam, de um modo geral, tão
predispostas à guerra quanto as não democracias: “quando uma democracia entra em
conflito com uma não democracia, não terá a expectativa de que o Estado não
democrático permanecerá contido por aquelas normas (de respeito mútuo baseado
numa cultura democrática). Neste caso, o Estado democrático poderá sentir-se
obrigado a adaptar-se à natureza mais rude das normas de conduta internacional de seu
18
19
Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”; e Harvey Starr, “Democracy and War: Choice, Learning and
Security Communities”, Journal of Peace Research, Vol. 29, Nº. 2 (1992), pp.207-213.
Maoz and Russet, “A Statistical Artifact?” p. 246.
14
oponente, de modo a evitar que seja explorado ou eliminado pelo Estado não
democrático, que tira vantagem da moderação inerente aos Estados democráticos”20.
Portanto, é um postulado fundamental da Teoria da Paz Democrática que as
democracias se comportam de um modo qualitativamente diferente de suas relações
entre si, quando se trata de relações com Estados não democráticos.
20
Russet, “Grasping the Democratic Peace”, p. 33.
15
A TEORIA REALISTA — SEMPRE A MESMA COISA NOVAMENTE
Se a história é uma simples repetição de fatos, então, para os realistas a política
internacional também é uma mera repetição de ocorrências ou fatos: a guerra, a
segurança de grandes potências, as disputas econômicas, a ascensão e queda de
grandes potências e a formação e dissolução de alianças. Para os realistas, o
comportamento político internacional é caracterizado pela continuidade, regularidade e
repetição, porque os Estados são constrangidos pela estrutura imutável (e
provavelmente permanente) do sistema internacional. O paradigma realista explica o
porquê desta afirmação21.
A política internacional é uma ambiência anárquica de auto-ajuda. A “anarquia”
neste caso, ao invés de denotar o caos e desordem desmedida, se refere, no âmbito da
política internacional, ao fato de que não há uma autoridade central, capaz de elaborar
ou de compelir o cumprimento de regras de comportamento pelas unidades (Estados)
do sistema internacional. A ausência de uma autoridade promotora ou que imponha o
cumprimento de regras significa que cada unidade do sistema é responsável por
assegurar sua própria sobrevivência, sendo que cada unidade é, também, livre para
definir os seus próprios interesses, empregando para alcançá-los, os meios de sua
própria escolha.
Neste sentido, a política internacional é essencialmente competitiva, e de uma
forma que difere crucialmente da política doméstica nas sociedades liberais, onde o
perdedor tem condições de aceitar um resultado, porque ele sobrevive para engajar-se
numa nova luta em outro dia, e pode, portanto, ter a esperança de vencer. Na visão
realista da política internacional os Estados que levam a pior na competição política,
vivenciam situações finais mais extremas, que vão desde restrições de autonomia até a
ocupação ou extinção.
É a “anarquia” que confere à política internacional um sabor diferente. Num
sistema “anárquico” o primeiro propósito de um Estado é a sobrevivência. Para
alcançar a segurança, os Estados engajam-se na obtenção de um equilíbrio, tanto
interno quanto externo, com o propósito de deter agressores, e derrotá-los, caso a
21
As explicações clássicas para o realismo são encontradas em Kenneth N. Waltz, “Theory of International Politics”,
(Reading, Mass.: Addison Wesley, 1979) e em Hans J. Morgenthau, revisado por Kenneth W. Thompson, “Politics
Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, 6ª ed. (Nova York: Knopf, 1985).
16
deterrência falhe. Num mundo realista, a cooperação é possível, mas é difícil de ser
mantida, em face das pressões competitivas que são desenvolvidas dentro da estrutura
do sistema político internacional.
O imperativo de sobrevivência em um ambiente ameaçador força os Estados a
enfocar estratégias que maximizem o seu poder em relação a seus rivais. Os Estados
recebem fortes incentivos, tanto para desenvolver uma posição de vantagem em
relação aos seus rivais militares, quanto para utilizar a sua dianteira no campo militar,
não só em autodefesa, mas também, para prevalecer sobre os outros. Visto que o poder
militar, por sua própria natureza, é inerentemente ofensivo, ao invés de defensivo, os
Estados não conseguem fugir do dilema de segurança: as medidas adotadas por um
Estado como autodefesa, podem ter uma conseqüência não intencional de exercer uma
ameaça em relação a outros Estados. Isto se deve ao fato de que um Estado jamais
pode estar convicto que as intenções dos outros são benignas; consequentemente, suas
diretrizes políticas devem ser moldadas em resposta às capacitações de outros Estados.
No sistema internacional, o medo e a desconfiança em relação a outros Estados é a
condição normal de negociação.
Um ponto onde a Teoria da Paz Democrática e o Realismo apresentam uma cisão
crucial é que a Teoria da Paz Democrática sustenta que mudanças dentro de um Estado
podem transformar a natureza das políticas internacionais. Segundo o ponto de vista do
Realismo, mesmo que os Estados mudem internamente, a estrutura do sistema político
internacional permanece a mesma.
Na medida em que a estrutura sistêmica é o determinante primário no
desenvolvimento de questões de política internacional, as restrições estruturais
implicam em que Estados posicionados em níveis semelhantes atuarão de forma
semelhante, a despeito de seus sistemas políticos domésticos. Como cita Kenneth
Waltz: “em sistemas de auto-ajuda, as pressões competitivas têm maior peso que as
preferências ideológicas ou pressões políticas internas.”22 As mudanças no nível das
unidades não alteram as restrições e incentivos incorporados em nível sistêmico. Os
Estados respondem à lógica da situação na qual eles se encontram, mesmo que isso
possa redundar em resultados indesejáveis, que vão desde o rompimento dos laços de
22
Kenneth N. Waltz, “A Reply to My Critics”, em Robert O. Keohane, ed., “Nonrealism and Its Critics”, (Nova York:
Columbia University Editora, 1986), p. 329.
17
cooperação até o conflito generalizado. Os Estados que ignoram os imperativos de um
mundo Realista, correm o risco de sucumbirem. Num mundo Realista, a sobrevivência
e a segurança estão sempre em situação de risco, e os Estados democráticos fornecerão
o mesmo tipo de resposta, tanto para Estados democráticos, quanto para Estados não
democráticos.
18
TESTANDO A TEORIA DA PAZ DEMOCRÁTICA
A argumentação baseada nas restrições institucionais não apresenta justificativas
para a paz democrática. Se a opinião pública democrática, realmente tivesse o efeito a
ela atribuído, as democracias seriam pacíficas em suas relações com todos os Estados,
a despeito de serem democráticos ou não. Se os cidadãos e dirigentes políticos numa
democracia fossem particularmente sensíveis aos custos de uma guerra, em termos
humanos e materiais, esta sensibilidade tornar-se-ia evidente sempre que esta
democracia estivesse na eminência de uma guerra, a despeito de o adversário, ser ou
não um Estado democrático — as vidas e ou recursos desperdiçados seriam os
mesmos.
A opinião pública democrática, também não é, de per si, um elemento inibidor
da guerra. Por exemplo, em 1898, foi a opinião pública que impeliu o relutante
governo McKinley para a guerra contra a Espanha; e em 1914, a guerra foi
entusiasticamente apoiada pela opinião pública, tanto na Inglaterra, quanto na França.
Os sistemas de controle mútuo das estruturas políticas domésticas, também, não
explicam a paz democrática. Este argumento, como declarado por Schwebach, “não diz
nada de forma direta com relação à predisposição para a guerra dos Estados
democráticos”, porque ele enfoca uma variável independente — restrições de decisão
incorporadas às estruturas política democrática de um Estado — ou seja, está associado
às democracias, mas não de forma exclusiva.
Devido ao caráter restrito das justificativas citadas, a explicação associada às
normas e culturas democráticas tem que se basear no peso do argumento da lógica
causal da paz democrática. É nesta lógica que devemos procurar aquela “alguma coisa
na arquitetura interna dos estados democráticos” que justifique a paz democrática23.
A Teoria da Paz Democrática além de prescrever um desenrolar específico — i.e.
a não ocorrência de guerras enter democracias — se propõe a explicar o porquê da
ocorrência deste desenrolar específico. Portanto, ela é adequada para ser testada pelo
método do estudo de caso, um exame detalhado de um pequeno número de exemplos
para determinar se os eventos se desenvolveram e se os atores atuaram como previsto.
O método do estudo de caso proporciona a oportunidade para testar explicações
23
Maoz e Russet, “Normative and Structural Causes”, p. 624.
19
concorrentes relativas ao desenrolar de questões de política internacional, apresentadas
tanto pela Teoria da Paz Democrática, quanto pela Teoria Realista. Para testar a
consistência da lógica causal da Teoria da Paz Democrática, o enfoque assumido é o de
situações de “quase ocorrência”, ou seja, casos específicos em que Estados
democráticos tinham os motivos e a oportunidade de entrarem em guerra entre si, e não
o fizeram.
Para os estudos de caso neste artigo, utilizou-se o método de análise de
processos24 (abrindo a “caixa preta”) para identificar os fatores em relação ao quais os
dirigentes políticos têm de produzir respostas, de que forma estes fatores influenciam
as decisões e o curso dos eventos, e o possível efeito de outras variáveis nos resultados
finais25. Como é citado por Stephan Van Evera, se uma teoria tem um forte poder de
justificativa, a análise de processos de estudos de caso proporciona um teste
consistente, porque tomadores de decisão “deveriam falar, escrever e comportar-se de
uma forma consistente com os prognósticos da teoria”.26
Se a Teoria da Paz Democrática é válida, ela deveria explicar, de forma
consistente, o fato de que sérias crises entre Estados democráticos terminaram como
“quase guerra” ao invés de guerra, e neste caso, os argumentos relativos às normas e
culturas democráticas deveriam fornecer alguns indicadores deste desenvolvimento
específico.
Em primeiro, a opinião pública deveria ser fortemente pacífica. A opinião pública
é importante, não por ser uma restrição institucional, mas por ser uma medida indireta
do respeito mútuo que se considera existir entre as democracias.
Em segundo lugar, as elites políticas, deveriam abster-se de fazer ameaças
militares contra outras democracias, ou de conduzir os preparativos para concretizar
24
25
26
[N.T.] A análise de processos (process-tracing) compreende a geração e análise de dados relativos aos mecanismos
causais, ou processos, eventos ações expectativas, e outras variáveis intervenientes, que interligam causas supostas ou
assumidas aos efeitos observados. Em outras palavras, dos dois tipos de evidencias da noção teórica da causalidade, os
efeitos causais e mecanismos causais, o método de acompanhamento de processos aborda os mecanismos causais. O
método de acompanhamento de processo tem duas abordagens diferentes. A primeira, denominada “verificação de
processos” envolve testar se os processos observados em relação às variáveis de um caso, combinam com aqueles que
foram previamente prognosticados em termos teóricos. A segunda abordagem, denominada “indução de processos”,
compreende a observação indutiva de mecanismos aparentemente causais e o aproveitamento dos resultados heurísticos da
aplicação destes mecanismos como hipóteses potenciais para futuros testes.
Alexander L. George e Timothy J. Mckeown, “Case Studies and Theories of Organizational Decision Making”, em
Robert F. Smith, eds., “Advances in Information Processing in Organizations”, Vol. 2, (Greenwich, Conn.: JAI Editora,
1985), p. 35.
Stephan V. Evera, “What are Case Studies? How Should They be Performed”, memorando não publicado, Setembro de
1993, Departamento de Ciência Política, MIT, p. 2.
20
tais ameaças. Neste ponto o discurso dos teóricos da paz democrática perde muito do
seu fundamento, por sugerir que a ausência de guerras entre as democracias, por si só,
é mais significativa do que a existência das ameaças, alegação esta que reduz bastante
ao nível de aceitabilidade de toda a argumentação. Como o ponto crucial da Teoria da
Paz Democrática é que as democracias exteriorizam suas normas internas de resolução
pacífica de conflitos, então, especialmente durante uma crise, não deveria haver
democracias ameaçando outras democracias; e se ameaças fossem feitas, deveriam ser
uma opção extrema de último caso, ao invés de ser uma das primeiras a serem
adotadas.
Em terceiro lugar, as democracias deveriam ter flexibilidade para reclinar-se, de
modo a acomodarem-se, umas às outras, numa situação de crise. Ultimatos, linhas
rígidas inflexíveis e a diplomacia do “big-stick” são elementos característicos da
“Realpolitik”, e não da paz democrática.
A justificativa da Teoria Realista para as “quase guerras” enfoca um conjunto
diferente de indicadores.
Em primeiro lugar, a Teoria Realista postula a existência de uma relação entre o
valor do interesse nacional em jogo e a postura em termos de política externa — numa
crise, quanto mais importantes forem os interesses em jogo de um Estado democrático,
maior será a probabilidade de que a sua política externa seja determinada por
imperativos Realistas do que pelas normas e culturas democráticas. Quando interesses
vitais estão em jogo, as democracias não se sentiriam inibidas de usar ameaças,
ultimatos, e a diplomacia do “big-stick” contra outras democracias.
Em segundo lugar, mesmo numa crise envolvendo democracias, os Estados
devem estar atentos com as questões estratégicas, e neste sentido, a distribuição
relativa de capacitações militares entre eles afeta de forma crucial — e talvez decisiva
— a diplomacia.
Em terceiro lugar, considerações geopolíticas mais amplas, inerentes à posição de
um Estado na política internacional, quando pertinentes, têm uma influência
significativa no resultado de uma crise. Neste contexto, a chave está no que Geoffrey
Blainey designa como o “dilema do caçador de
27
pássaros27”, que envolve as
[N.T.] Esta formulação está ligada à forma como se pratica tiro aos pássaros aquáticos, a partir de posições abrigadas, na
periferia das formações lacustres onde esses pássaros costumam permanecer.
21
preocupações de que outros Estados, posicionados à margem de uma determinada
disputa, tirem vantagem do envolvimento de um Estado numa guerra. A situação de
guerra deixa um Estado enfraquecido, e com um poder relativamente inferior em
relação a outros Estados, que sejam rivais em potencial. Num conflito prolongado ou
insolúvel, existe a possibilidade do seu oponente se aliar a outros Estados que sejam
seus adversários ou rivais28.
Eu selecionei para estudar quatro situações da história moderna nas quais grandes
potências democráticas quase chegaram a uma situação de guerra: (1) os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha em 1861 (o Caso “Trent”); (2) os Estados Unidos e a GrãBretanha em 1895-96 (a Crise da Venezuela); França e Grã-Bretanha em 1898 (a Crise
“Fashoda”); e a França e a Alemanha em 1923 (a Crise do ““Ruhr””).
A minha classificação dos Estados Unidos em 1861 e em 1865, e a Alemanha em 1923 como grandes
potências pode ser questionada. No entorno da metade do século XIX, formuladores de diretrizes políticas
britânicos viam os Estados Unidos, devido ao seu tamanho, população, riqueza e crescente capacidade
industrial (e poder militar latente), como uma “grande potencia mundial”, a despeito de não ser um
participante ativo do sistema europeu de Estados. Ephraim Douglass Adams, “Great Britain and the American Civil War”, (Nova York: Russel and Russel, 1924), Vol. I, p. 10. Em 1895 a percepção do poder norteamericano tinha se ampliado, tanto na Inglaterra quanto nas principais potências européias. Em 1923, a
Alemanha, ainda que substancialmente desarmada em decorrência à Versalhes, manteve-se como a
maior potência econômica européia. A maioria dos estadistas concluiu que isto se devia à sua população e
indústria, uma hegemonia continental latente. Os teóricos da paz democrática classificaram todos os oito
Estados como estando sob regimes democráticos, ao tempo em que estiveram envolvidos nas crises sob
análise. Ver de Doyle, “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Parte I, pp. 214-215. Russet, “Grasping
the Democratic Peace”, pp. 5-9, analisa, resumidamente, as crises Fashoda e da Venezuela, mas a sua
bibliografia faz poucas referências históricas a essas duas crises (e temas relacionados), e omite a maioria
das fontes padrão.
O meu enfoque se concentra em grandes potencias por diversas razões.
Inicialmente, a teoria das relações internacionais é definida pelas grandes potências;
elas são os principais componentes do sistema internacional, e suas ações — em
particular suas guerras — têm um maior impacto sobro o sistema internacional do que
as praticadas pelas pequenas potências29. Alem do mais, enquanto que a Teoria da Paz
Democrática deve ser aplicável, tanto para grandes quanto para pequenas potências, os
prognósticos Realistas relativos ao comportamento das grandes potências, nem sempre
são aplicáveis às pequenas potências, porque o leque de opções disponíveis às
28
29
Geoffrey Blainey, “The Causes of War”, 3ª Ed. (South Melbourne: Macmillan Co. da Austrália, 1988), pp. 57-67. Como
diz a parábola — enquanto as aves aquáticas sobrevoam a sua presa, o pescador lança a sua rede.
Waltz, “Theory of International Politics”, 72-73.
22
pequenas potências é mais restrito30. As crises entre grandes potências constituem um
bom teste de confronto, porque tanto a Teoria da Paz Democrática quanto a Teoria
Realista são aplicáveis.
Os casos selecionados tendem a favorecer a posição da Teoria da Paz
Democrática por diversas razões, além da razão mais óbvia, qual seja — nenhum dos
casos redundou em guerra. Em cada uma das crises, existiram fatores antecedentes que
poderiam ter reforçado os prognósticos da Teoria da Paz Democrática. Nas duas crises
anglo-americanas, uma história, cultura e língua
comuns, e interdependência
econômica eram considerações significativas31. Na Crise “Fashoda”, os fatores que
levaram ao “entente” anglo-francês em 1904, já estavam presentes, e ambos os países
beneficiaram-se, significativamente, de suas relações comerciais32. A Crise francoalemã do “Ruhr” testou tanto a prescrição Wilsoniana para a obtenção de segurança na
Europa do pós-1ª Guerra Mundial, quanto a crença (progressivamente difundida entre
as elites de negócios da França e Alemanha, e numa menor intensidade entre as elites
políticas) de que a prosperidade de ambos os Estados dependia de sua mútua
colaboração econômica.
30
31
32
Ver Robert L. Rothtein, “Alliances and Small Powers”, (Nova York: Columbia University Editora, 1968), Cap 1.
Para uma resumida analise das ligações culturais, sociais e econômicas, entre a Grã-Bretanha e os estados Unidos,
durante os meados do século XIX, ver de Martin Crawford, “The Anglo-American Crisis of the Mid-Nineteenth Century:
The Times and America, 1850-1862”, (Atenas: University os Georgia Editora, 1987), pp.39-55.
Stephan R. Rock, “Why Peace Breaks Out: Great Powers Rapprochement in Historical Perspective”, (Chapel Hill:
University of North Carolina Editora, 1989), pp. 91-119.
23
CRISE ANGLO-AMERICANA I: O CASO “TRENT”
Em 1861, as tensões oriundas da Guerra entre Estados33, colocaram os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha às beiras de uma guerra. As causas mais significativas da
fricção anglo-americana derivavam do bloqueio imposto pela União aos portos
Confederados, e a conseqüente perda britânica das remessas de algodão de que
dependia sua indústria têxtil. No entanto, a causa imediata da crise anglo-americana foi
a ação do navio da União o “USS San Jacinto” que, agindo à revelia de Washington,
interceptou o navio correio britânico “HMS Trent”, no dia 8 de novembro de 1861.
O “HMS Trent” transportava James M. Mason e John Slidell, recém designados
Comissários Confederados junto à Grã-Bretanha e França. As circunstâncias legais que
caracterizavam a situação eram: que os Comissários Confederados haviam embarcado
em um navio neutro (o HMS “Trent”), em um porto também neutro (Havana, Cuba).
Em seu deslocamento para a Europa, o navio inglês foi interceptado em águas
internacionais pelo “USS San Jacinto”, que enviou um grupo de busca e apreensão
para bordo o “HMS Trent”, onde aprisionou Mason e Slidell. Então, foi permitido que
o “HMS Trent” prosseguisse em sua viagem, enquanto que Mason e Slidell foram
transportados pelo “USS San Jacinto” até Boston, onde foram encarcerados no Forte
“Warren”.
Quando a notícia deste incidente chegou à Grã-Bretanha, a opinião pública foi
tomada pela febre da guerra. “A primeira manchete bombástica da imprensa, ao
receber as notícias relativas ao ‘Trent’, foi terrível.”34 Um cidadão norte-americano
residindo na Inglaterra reportou ao Secretário de Estado William H. Seward que: “As
pessoas estão frenéticas de raiva, e onde quer que se faça um pesquisa de opinião
pública, eu receio que 999 em 1000 declarariam guerra”35. De Edimburgo um outro
33
34
35
[N.T.] O autor usa sempre a expressão Guerra entre Estados, para se referir ao evento que é mais conhecido pela
designação Guerra de Secessão. Outro título empregado para este evento é Guerra Civil, que considero inapropriado pois
não retrata a real dimensão do conflito, que teve todas as características bélicas e militares de uma guerra entre dois
estados soberanos. Neste sentido, pode-se até inferir que se tratou de uma guerra entre dois Estados diferentes: um no sul,
a Confederação, essencialmente agrário, escravocrata e com uma base étnica com fortes traços latinos, e outro no norte, a
União, essencialmente industrial, com mão de obra remunerada, e com uma base étnica predominantemente anglo-saxã.
Numa eventual vitória dos estados Confederados teríamos a formação de dois Estados soberanos e independentes.
Adams, “Britain and the Civil War”, Vol. I, p. 216.
Citado em Gordon H. Waren, “Fountain of Discontent: The Trent Affair and Freedom of the Seas”, (Boston:
Northeastern University Editora, 1981), p. 105.
24
norte-americano escreveu: “Eu nunca percebi um sentimento de indignação assumir
uma forma tão intensa na minha vida”36.
O governo britânico não foi menos belicoso que a opinião pública ou a imprensa.
Reforçado pelo argumento legal de que Mason e Slidell haviam sido retirados de bordo
do “Trent” em contravenção à legislação internacional, o Gabinete inglês adotou uma
política de “linha dura” que espelhava a predisposição da opinião pública.
A reação do Primeiro Ministro, Lorde Palmerston, às notícias do incidente com o
“Trent” foi de oficiar ao Secretário de Estado da Guerra que — devido às “precárias”
relações com os Estados Unidos, o governo iria reconsiderar os cortes nas despesas
militares planejadas para serem realizadas no ano de 186237. Em reunião de Gabinete,
realizada em 29 de novembro, consta que Palmerston, arremessando o seu chapéu em
cima da mesa, declarou aos seus colegas: “Eu não sei se vocês irão suportar isso, eu
quero me danar se eu tiver que suportar”38.
O Gabinete britânico adotou duas linhas de ação simultaneamente: usou a ameaça
militar para coagir os Estados Unidos a renderem-se diplomaticamente; e no lado da
diplomacia, o Secretário de Relações Exteriores, Lorde John Russel, enviou uma nota
diplomática ao governo da União na qual, ao mesmo tempo em que exigia firmemente
a libertação de Mason e Slidell, oferecia a Washington uma via aceitável de retratação,
pela qual Londres aceitaria, como equivalente a um pedido de desculpas, a declaração
de que o “USS San Jacinto” tinha agido sem a sanção oficial. Todavia, o significado
real da nota que foi transmitida a Washington era o de um ultimato.
Embora o embaixador britânico em Washington, Lord Lyons, houvesse sido
instruído para apresentar o comunicado de uma forma que maximizasse as chances de
um acordo por parte dos norte-americanos, o seu conteúdo era claro: a não ser que,
num prazo de sete dias a contar a partir do recebimento, o governo da União aceitasse
36
Citado em Adams, “Britain end the Civil War”, Vol. I, p. 217.
37
Citado em Norma B. Ferris, “The Trent Affair: Crisis” (Knoxville: University of Tennessee Editora), p. 44.
38
Ibid, p. 109; Howard Jones, “Union in Peril: The Crisis over British Intervention in the Civil War” (Chapel Hill:
University of North Carolina Editora, 1992), pp. 84-85.
25
incondicionalmente as exigências britânicas, Lyons deveria requisitar o seu passaporte
e deixar os Estados Unidos. De acordo com o que Russel escreveu para Lyons: “O que
nós queremos, de forma clara, é um “Sim” ou um “Não”, às nossas simples exigências,
e nós queremos este “Sim” ou “Não” dentro de sete dias a partir da comunicação do
despacho.”39
Ainda que alguns, incluindo Russel, tivessem esperança de que a crise pudesse
ser resolvida pacificamente, a totalidade do Gabinete britânico reconhecia que a sua
decisão de apresentar o ultimato a Washington poderia redundar em guerra. Os
britânicos acreditavam que havia uma única esperança de paz: que Washington,
intimidada pelo poder militar britânico e a sua prontidão para a guerra, dobrar-se-ia às
exigências de Londres, ao invés de resistir a elas40. Como declarado pelo ViceSecretário de Estado para Relações Exteriores: “A nossa única chance de paz será
encontrada, trabalhando em cima dos temores do governo e do povo dos Estados
Unidos”41.
Convencida de que Washington só recuaria diante da ameaça do uso da força, a
diplomacia de Londres respaldou-se com ostensivos preparos [sic]militares e navais.
Antecipando-se a um possível conflito, o Gabinete embargou a exportação para os
Estados Unidos de nitrato de potássio (em 30 de novembro) e de armas e munição em
(4 de dezembro). Realçando a gravidade da crise, o governo britânico ativou o Comitê
Especial de Guerra, (ativado apenas 4 vezes em toda a história inglesa)
para
supervisionar o planejamento estratégico e os preparativos para a guerra. Medidas
urgentes foram tomadas para reforçar os contingentes [sic]militar e naval sediados na
América do Norte. A partir da metade do mês de dezembro, uma “ponte marítima” foi
organizada às pressas, aumentando o efetivo de tropas do exército britânico baseadas
no Canadá de 5.000 para 17.658, e a marinha britânica elevou o número de navios de
guerra em águas norte-americanas de 25 para 40, totalizando de 1273 canhões (mais do
que o dobro dos 500 existentes antes da crise)42. Estas medidas tiveram dois propósitos:
39
Citado em Jones, “União em Perigo”, p. 85.
40
Jenkins, “War for the Union”, p. 214.
41
42
Citado em Kenneth Bourne, “Britain and the Balance of Power in North America 1815-1908” (Berkley: University of
Califórnia Editora, 1967), p. 219.
Os dados são de Warren, “Fountain of Discontent”, pp. 130, 136. Para uma visão genérica das atividades [sic]militares e
navais britânicas durante a Crise “Trent”, ver de Kenneth Bourne, “British Preparations for War with the North, 18611862”, English Historical review, Vol. 76, Nº. 301, (Outubro 1961).
26
elas deram uma maior consistência e dimensão à diplomacia de Londres e, na
eventualidade de que a diplomacia viesse a falhar, teriam assegurado uma disposição e
mobilização de forças que permitiria à Inglaterra prevalecer num caso de conflito.
Londres adotou a diplomacia “big stick” por acreditar que uma política
excessivamente conciliatória simplesmente encorajaria os norte-americanos a impor
desafios cada vez mais sérios aos interesses britânicos43. Alem do mais, os dirigentes
políticos acreditavam que a determinação inglesa, sua credibilidade e reputação,
estavam em jogo em nível internacional, e não somente em suas relações com os
Estados Unidos. Os comentários do Secretário de Relações Exteriores, Lorde
Claredon, eram típicos deste sentimento: “Qual é a imagem . . . que nós vamos
apresentar aos olhos do mundo, se nos submetermos covardemente a este ultraje,
quando toda a humanidade sabe que nós deveríamos, sem hesitação, dar vazão à
nossa imaginação e a nossa bordada contra qualquer nação mais fraca . . . e que
prova adicional seria necessária da universal . . . crença de que nós temos dois
conjuntos de pesos e medidas a serem usados, de acordo com o poder ou fraqueza do
adversário”44. Portanto, podemos afirmar que “os britânicos estavam preparados para
aceitar o custo de uma guerra anglo-americana . . . ao invés da alternativa de sacrificar
o seu prestígio de grande potência, por causa de uma precipitada derrota
diplomática”45.
A política “linha dura” de Londres estava fortalecida por um “otimismo
generalizado em relação ao resultado final” de uma guerra anglo-americana46. A
Rainha Vitória declarou que uma guerra resultaria na “completa destruição dos norteamericanos”, e o Secretário de Estado para Guerra, George Cornewall Lewis, declarou
que “nós iremos, logo, apagar com aço o sorriso de seus rostos”47.
43
44
Ferris, “Trent Affair”, p. 56; Wilbur Devereux Jones, “The American Problem in British Diplomacy 1841-1861”,
(Londres: Macmillan 1974), p. 203. Em termos de teoria das relações internacionais, a visão que Londres tinha a respeito
das relações anglo-americanas baseava-se num modelo de deterrência, ao invés de um modelo progressivo [ou
construtivo]. Ver de Robert Jervis, “Perception and Misperception in International Politics”, (Princeton: Princeton
University Editora, 1976), pp. 58-111. Coexistindo de forma difícil com a visão positiva de uma comunidade angloamericana, havia a imagem que os britânicos tinham dos Estados Unidos de uma vulgar democracia da plebe, a qual
deveria ser contida, pois do contrário diligenciaria por uma voraz e intimidadora política externa. Warren, “Fountain of
Discontent”, pp. 47-51.
Citado em Bourne, “Balance of Power”, p. 247.
45
Bourne, “British Preparations” , p. 631.
46
Bourne, “Balance of Power”, p. 247.
47
Citado em ibid, pp. 245-246.
27
Palmerston, portanto, estava tranqüilo com relação ao transtorno imposto à União
pela política intransigente de Londres. Em seu ponto de vista, não importando se a
crise fosse resolvida pacificamente ou resultasse numa guerra, os interesses britânicos
estaria assegurados. Em carta à Rainha Vitória ele escreveu:
Se o Governo Federal acatar as exigências será honroso para a
Inglaterra e humilhante para os Estados Unidos. Se o Governo
Federal recusar-se a acatar, a Grã-Bretanha nunca esteve numa
situação melhor para infligir um severo golpe e aplicar uma
lição aos Estados Unidos, que tão cedo não será esquecida48.
No final de 1861 a guerra contra a Confederação não estava indo bem para
Washington, e até então, o único grande engajamento terrestre, a primeira Batalha de
Manassas, tinha resultado numa humilhante derrota para o exército da União.
Em Londres, influenciada pelo Secretário de Estado para Assuntos Marítimos,
(que era um mestre em “torcer o rabo do leão” para obter um máximo efeito político no
âmbito doméstico), a posição da União era tida como hostil.
A União se ressentia, em particular, da proclamação de neutralidade feita pela
Rainha Vitória, em Maio de 1861, a qual o governo da União interpretava como um
reconhecimento britânico, “de facto”, quanto à independência dos estados
Confederados.
As notícias do aprisionamento de Mason e Slidell tiveram uma dupla
interpretação por parte da opinião pública nos estados da União. Inicialmente, teve o
efeito de reforçar o moral que estava combalido. Num segundo momento, a percepção
era a de que se tratava de um aviso à Inglaterra, para abster-se de interferir com a
forma pela qual a União conduzia a guerra contra a Confederação. Portanto, ainda que
alguns periódicos (notadamente o New York Times e o New York Daily Tribune)
instassem que Washington deveria conciliar com os ingleses, a opinião pública
favorecia fortemente uma política de assumir uma postura contra Londres, recusandose a soltar Mason e Slidell49.
48
Citado em Jenkins, “War for the Union”, p. 216.
49
Ferris, “Trent Affair”, pp. 111-113.
28
Em resposta à “linha dura” britânica, “um violento clamor pela guerra reverberou
através de todos os estados nortistas na América”50. Charles Francis Adams Jr., cujo
pai era o Embaixador norte-americano em Londres à época, escreveu posteriormente
sobre a questão: “Eu não me lembro, fazendo um retrospecto deste meio século . . . de
qualquer ocorrência que tenha arrebatado o povo norte-americano levando-o, inclusive
a perder, momentaneamente, a posse de seus sentidos, como ocorreu durante as
semanas que se seguiram à captura de Mason e Slidell”51.
O Governo Lincoln tinha conhecimento da força do sentimento antibritânico,
tanto no âmbito popular, quanto no Congresso (de fato, no início de dezembro o
Congresso promulgou uma resolução, conferindo ao Comandante do USS “San
Jacinto” uma condecoração por sua ação). Existem evidencias de que, para aplacar a
opinião pública, o presidente Lincoln estava inclinado a manter Mason e Slidell presos,
a despeito dos riscos desta linha de ação52. Não obstante, após uma cogitação com a
idéia de oferecer a Londres a opção de um arbítrio externo, numa tentativa de evitar os
extremos de uma guerra ou de uma humilhante derrocada, os Estados Unidos optaram
por submeter-se às exigências britânicas. Uma vez que também Washington “não
poderia recuar de maneira tão fácil”, é importante entendermos o porquê de ter
adotado esta linha de ação.
Os Estados Unidos curvaram-se a Londres porque, estando a União com seus
efetivos militares completamente envolvidos tentando subjugar os sulistas, não poderia
iniciar uma guerra em paralelo com a Inglaterra, o que fatalmente a colocaria no meio
da Guerra entre Estados, do lado dos Confederados53.
Esta circunstância foi plenamente reconhecida pelo governo Lincoln, quando da
reunião do seu Gabinete por dois dias, durante o período de Natal, para decidir qual
seria a resposta norte-americana à nota britânica. O Gabinete tinha diante de si duas
informações críticas. Em primeiro lugar, Washington acabara de receber a informação
50
51
52
53
Normas B. Ferris, “Desperate Diplomacy: William H. Seward’s Foreign Policy, 1861”, (Knoxville: University of
Tennessee, 1976), p. 194.
Citado em Adams, “Britain and the Civil War”, Vol.I, p.218.
Warren, “Fountain of Discontent”, pp.184-185; Adams, “Britain and the Civil War”. p.231. No entanto, Howard Jones
sugere que Lincoln, provavelmente, pretendia desistir de Mason e Slidell, e que ele teria, inclusive, assumido uma postura
de transferir para outros membros do seu gabinete o ônus da argumentação de entregá-los. Jones, “Union in Peril”, pp.9192.
Ferris, “Trent Affair”, pp. 177-182; Jenkins “War of the Union”, pp.223-226; Warren, “Foundation of Discontente”,
pp181-182.
29
de que a França apoiava as exigências feitas por Londres (pondo um fim às esperanças
norte-americanas de que a Inglaterra fosse ficar restringida por suas próprias
preocupações de que a França se aproveitaria de uma situação de guerra entre
Inglaterra e Estados Unidos)54. Em segundo lugar, Washington tinha informações em
abundância sobre a opinião pública inglesa em prol da guerra. O Embaixador norteamericano em Londres, Charles Francis Adams escreveu que os ingleses: “estavam
incitados para a hostilidade”, e que, “os principais jornais, diariamente, expelem tanta
lava ardente quanto o Vesúvio. Os clubes, o exército, a marinha e o povo nas ruas de
uma forma geral estão delirantes com a idéia da guerra”55. O Senador Charles Sumner
encaminhou ao governo Lincoln correspondências dos notórios membros radicais do
Parlamento inglês, Richard Cobden e John Bright nas quais, ainda que lamentassem a
política de seu governo e o tom da opinião pública inglesa, enfatizavam que a guerra
seria inevitável, a não ser que os Estados Unidos cedessem às exigências de Londres.
Em sua correspondência Cobden cita:
Anteriormente, a Inglaterra temia uma guerra contra os Estados
Unidos, tanto por causa de vosso algodão, quanto pelo receio de
sua pólvora. Agora, a opinião pública, (por mais que esteja
errada), considera que será a guerra que irá nos assegurar o
algodão, e nós consideramos, é claro, que o poder de sua
pólvora esteja enfraquecido pela sua Guerra Civil56.
Diante das opções de desafiar Londres ou, sujeitar-se às suas exigências,
Washington foi compelida a reconhecer que a Inglaterra estava determinada a ir à
guerra, e que tal guerra resultaria na dissolução permanente dos Estados Unidos.
Durante as discussões no âmbito do Gabinete, o Promotor Geral Edward Bates
sugeriu que a Inglaterra estaria buscando a guerra contra os Estados Unidos, de modo a
quebrar o bloqueio nortista aos portos sulistas exportadores de algodão, declarando que
se preocupava com a possibilidade de Londres reconhecer a Confederação. Os Estados
Unidos, ele declarou, “não podem arcar com tal guerra”; e foi mais longe ainda
observando que: “numa crise como esta, com uma guerra civil como esta em nossas
mãos, não podemos ter a esperança de sermos bem sucedidos numa . . . guerra contra
54
Ver Jenkins, “War for the Union”, pp. 225-226.
55
Citado em Ferris, “Trent Affair”, pp. 154, 147 e também pp.66-67, 139-141; Jones, “Union in Peril”, p.89.
56
Citado em ibid, p.172. A correspondência de Bright alertava: “Se vocês estão decididos a vencer o Sul, não entrem em
guerra com a Inglaterra”. Citado em Adams, “Britain and the Civil War”, p. 232 (ênfase constante da obra original).
30
a Inglaterra, apoiada pelo consentimento e simpatia da França. Devemos nos afastar
disto — com o menor dano possível à nossa honra e orgulho”57.
O Secretário de Estado Seward concordou com esta postura, declarando que não
era “a ocasião para a União divergir de sua prudência, envolvendo-se em
controvérsias com outras potências, mesmo que houvesse bons argumentos para tal”58.
Quando os Estados Unidos se convenceram de que a ameaça inglesa de ir à
guerra não era um blefe, considerações de ordem estratégica e de interesse nacional —
o dilema de “atirar em pássaros59” — determinaram que Washington deveria ceder à
Inglaterra.
O resultado do caso “Trent” pode ser explicado pela Teoria Realista, e não pela
Teoria da Paz Democrática. Contrariamente às expectativas da Teoria da Paz
Democrática, o respeito mútuo entre democracias, enraizado nas normas e cultura
democráticas, não teve influencia na política britânica. Considerando que interesses
vitais de reputação, afetando a sua postura estratégica global estavam em jogo, Londres
adotou uma diplomacia linha dura, empregou o recurso de ameaças militares, e estava
preparada para ir à guerra se necessário fosse. Na Inglaterra, tanto o povo em geral,
quanto as elites, preferiam a guerra à conciliação.
Do outro lado do Atlântico, no norte dos Estados Unidos,
tanto a opinião
pública, quanto a posição do governo, eram igualmente belicosas.
Um conflito anglo-americano só foi evitado porque o governo Lincoln entendeu
que uma humilhação diplomática era preferível à uma guerra que teria colocado a
Inglaterra do lado dos Confederados, o que, provavelmente, teria assegurado a
independência do Sul dos Estados Unidos.
57
Citado em ibid, p. 182.
58
Citado em Jenkins, “War for the Union”, p. 224.
59
[N.T.] Esta citação se refere à ume das formas da prática de tiro em pássaros, a partir de posições ocultas na periferia das
áreas lacustres onde as aves costumam permanecer.
31
CRISE ANGLO-AMERICANA II — VENEZUELA 1895
Entre 1895-96 os Estados Unidos e a Grã-Bretanha viram-se envolvidos num
sério confronto diplomático, que se desenvolveu a partir de uma obscura e antiga
disputa entre Londres e Caracas com relação à fronteira com a Guiana Inglesa.
Por volta de 1895, Caracas vinha solicitando, desesperadamente, que Washington
pressionasse Londres a aceitar uma arbitragem para definir a disputa de fronteira, e o
governo Cleveland decidiu envolver os Estados Unidos, diplomaticamente, no meio do
desentendimento anglo-venezuelano, não por uma preocupação em relação aos
interesses venezuelanos, ou qualquer preocupação com relação ao mérito da questão60.
Para os Estados Unidos, a questão anglo-venezuelana era parte de um quadro
muito maior. Por volta de 1895, dirigentes políticos norte-americanos, conscientes da
condição dos Estados Unidos de potência emergente, estavam cada vez mais
preocupados com a interferência política e econômica da Europa no Hemisfério
Ocidental61, e Washington considerava que a controvérsia entre Londres e Caracas era
um bom pretexto para afirmar sua primazia geopolítica no Hemisfério Ocidental. Foi
por esta razão que os Estados Unidos resolveram colocar a disputa de fronteiras anglovenezuelana em pratos limpos62.
A posição norte-americana foi firmada em nota do Secretário de Estado Richard
Olney datada de 20 de julho de 1895 ao governo britânico63. Nesta nota os Estados
Unidos declararam que a sua “honra e seus interesses” estavam envolvidos na disputa
anglo-venezuelana, “cuja continuação não poderia ser tratada com indiferença”.
Washington exigia que Londres submetesse a questão a uma arbitragem. Empregando
termos grandiloquentes, Olney declarava que a Doutrina Monroe, não só conferia aos
60
61
62
63
Walter LaFeber demonstra que os Estados Unidos inseriram-se na crise para proteger os seus próprios interesses, e não os
interesses venezuelanos. LaFeber, “The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860-1898” ( Ithaca:
Cornell University Editora, 1963), Chap. 6.
O relacionamento entre as preocupações com a segurança e as políticas externa e estratégica dos Estados Unidos são
analisadas por Richard D. Challener em, “Admirals, Generals and Foreign Policy, 1898-1914”, (Princeton: Princeton
University Editora, 1973) e em J.A.S. Grenville e George B. Young, “Politics, Strategy and American Diplomacy:
Studies in American Foreign Policy, 1873-1917”, (New Haven: Yale University Editora, 1966).
Walter LaFeber, “The Background of Cleveland’s Venezuelan Policy: A Reinterpretation”, American Historical Review,
Vol. 66 Nº. 4, (Julho 1961), p. 947; Ernest R. May, “Imperial Democracy: The Emergence of America as a Great Power”,
(Nova York: Harcourt, Brace and World, 1961), p.34.
O texto completo da nota pode ser encontrado em “Foreign Relations of United States, 1895”, (Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office), Vol. I, pp. 542-576.
32
Estados Unidos o direito de intervir no assunto venezuelano, como também, num
âmbito maior, o de supervisionar64 todos os negócios do Hemisfério Ocidental.
Ao desafiar a Inglaterra, o Presidente Grover Cleveland e seu Secretário de
Estado compreendiam que estavam tomando um passo muito sério. Ainda que,
certamente, eles tivessem a esperança de lograr uma vitória diplomática por via
pacáfica, sua estratégia poderia ter redundado num confronto armado.
A nota de 20 de julho do Secretário de Estado Olney, (elogiada por Cleveland
como sendo “a melhor coisa daquele tipo que eu jamais li”), era deliberadamente
áspera e, como foi assinala Henry James, segundo o costume diplomático vigente,
Londres poderia, justificadamente, tê-la considerado como sendo um ultimato65. Mais
ainda, Washington pretendeu dar proclamação à nota de Olney.
Olney e Cleveland acreditavam que o emprego de uma linguagem forte chamaria
a atenção de Londres e que, utilizando a Doutrina Monroe como alavanca, os Estados
Unidos poderiam empurrar um acordo diplomático garganta abaixo dos ingleses66.
Esperavam, também, que Londres recuasse, e concordasse em levar a questão a uma
arbitragem, e desta forma, contavam que uma resposta positiva poderia ser anunciada,
quando da reconvocação do Congresso em dezembro.
Para a consternação do governo norte-americano, no entanto, Londres se recusou
a ceder às exigências. A resposta inflexível dada pelo Lord Salisbury [Sir Robert
Arthur Talbot Gascoyne-Cecil], Primeiro Ministro britânico e Secretário de Relações
Exteriores, serviu de argumento para a mensagem que Cleveland remeteu ao
Congresso em 17 de dezembro de 1895, na qual, mesmo reconhecendo que a
possibilidade de uma guerra anglo-americana era uma triste perspectiva, declarava que:
“. . .nenhuma calamidade que possa abater-se sobre uma
grande nação se iguala à que decorre de uma submissão inerte
ao que é errado e à injustiça, com a conseqüente perda do
respeito próprio nacional e honra, sob os quais estão protegidos
e defendidos a segurança e grandiosidade de um povo.”
64
65
66
[N.T.] Tradução adotada para a palavra “superintend”.
Henry James, “Richard Olney and his Public Service”, (Nova York: DeCapo Editora, 1971, ed. reimpressa), p. 109.
Cotação do Presidente Cleveland contida em Ernest May, “Imperial Democracy”, p. 40.
Gerald C. Eggert, “Richard Olney: Education of a Statesman”, (University Park: Pennsylvania State University Editora,
1974), pp. 202, 212-213.
33
Cleveland defendia ardorosamente a validade da Doutrina Monroe, a qual
descrevia como vital para a segurança dos Estados Unidos e para a integridade de suas
instituições políticas internas. Ele declarou que se Londres impusesse sua jurisdição,
sobre qualquer território que os Estados Unidos determinassem como pertencente à
Venezuela, seria considerada uma “agressão intencional aos direitos e interesses
[norte-americanos]”.
Ao assumir essa posição, Cleveland declarou que estava “completamente ciente
da responsabilidade assumida, e que visualizava com precisão todas as conseqüências
que poderiam ocorrer”. No entanto, a despeito de sua forte retórica, Cleveland deixou
aos Britânicos algum espaço de manobra. Antes de sua ação contundente contra a
Inglaterra, ele declarou que os Estados Unidos iriam estabelecer uma comissão para
investigar a disputa anglo-venezuelana, e que Washington não tomaria qualquer
posicionamento, até que o relatório desta comissão fosse concluído e aceito.
Mesmo assim, o significado da mensagem de Cleveland era claro: os Estados
Unidos estavam dispostos a entrarem em guerra contra a Inglaterra, se necessário
fosse, de modo as assegurar a primazia norte-americana no Hemisfério Ocidental67.
Como assinalado por Kenneth Bourne, durante a Crise da Venezuela o risco de
uma guerra era bem real68.
Lorde Salisbury simplesmente rejeitou os termos para a resolução da crise
apresentados pela nota Olney datada de 20 de julho. Como escreveu J.A.S. Grenville:
“nada poderia ter sido mais claro que a réplica de Salisbury a Olney; os Estado Unidos
não têm motivos para interferir na disputa; a Doutrina Monroe não tinha o amparo de
um tratado internacional, e não tinha, de qualquer maneira, nada há ver com a
controvérsia; desta forma, o governo britânico continuaria a recusar a arbitragem das
reivindicações venezuelanas como um todo”69.
Lorde Salisbury tinha noção do risco de que Washington poderia manter-se
irredutível, e que desta forma, a crise iria escalar. Mas como Grenville assinala, ele
67
68
69
Both Walter LaFeber e Ernest May chegam à esta conclusão. Ver em LaFeber, “The New Empire”, p. 268 e em May,
“Imperial Democracy”, p. 42.
Kenneth Bourne, “Balance of Power”, p. 319. Deve ser observado que nem todos os historiadores concordam com
Bourne. Por exemplo, J.A.S. Grenville argumenta que a crise venezuelana era artificial, e que não havia nenhum risco real
de guerra durante a crise. Grenville, “Lord Salisbury and Foreign Policy at the Close of the Nineteenth Century”,
(Londres: Athlone Editora, 1964), p.55. No entanto, em trabalho posterior, Grenville escreveu: “Considerando a
disposição do Gabinete britânico . . . um sério conflito anglo-americano parecia inevitável.” Grenville e Young, “Politics,
Strategy and American Diplomacy”, p. 169.
Grenville, “Lord Salisbury”, p. 63.
34
estava disposto a correr esse risco porque “ele não acreditava que havia algum perigo
sério para a Inglaterra. O país e o império teriam se unido na defesa das possessões
britânicas, e diante de suas determinações, ele acreditava que os Estados Unidos
desistiriam”70. Ou Washington entenderia o significado da disparidade entre o seu
poder militar e o britânico, ou então os Estados Unidos seriam derrotados.
No final de 1895, Inglaterra e Estados Unidos estavam nitidamente num rumo de
colisão, e é quase certo que um conflito ocorreria se a Inglaterra tivesse mantido a
linha política adotada por Lorde Salisbury em novembro de 1895. Londres, no entanto,
não agiu desta forma, e já no final de janeiro de 1896, Londres e Washington iniciaram
um processo diplomático que culminou em novembro de 1896 num acordo amigável
das diferenças anglo-americanas.
A questão crucial é: Por que a Inglaterra, subitamente, inverteu o seu rumo no
início de 1896?
Apesar de não haver uma evidência incontestável, circunstâncias concorrentes
apóiam a opinião de consenso entre os historiadores de que a Inglaterra foi impedida
de ir à guerra em 1896, devido a uma desfavorável distribuição de capacidade militar
vis-à-vis os Estados Unidos, e devido a uma deteriorante situação internacional.
De acordo com ressalva feita pelo Lorde Salisbury, Londres ficou preocupada
com o resultado de uma guerra anglo-americana devido à incapacidade britânica, em
face de outras ameaças já existentes, de deslocar navios de guerra para reforçar a sua
presença naval em águas norte-americanas; devido a receio de que o Canada fosse
conquistado pelos Estados Unidos; e devido ao receio de que, numa guerra prolongada,
os Estados Unidos teriam a possibilidade de forçar uma situação de empate, e
possivelmente até prevalecer, devido ao seu enorme poder econômico71.
Mais ainda, entre novembro de 1895 e meados de janeiro de 1896, a posição
internacional da Inglaterra sofreu uma acentuada mudança para pior: “no início de
1896, a Inglaterra estava completamente isolada, e a sua posição era extremamente
70
71
Ibid, p. 65.
Ver Bourne, “The Balance of Power in North America”, p. 340-341; A.E. Campbell, “Britain and the United States”, pp.
29-40; Eggert, “Richard Olney”, pp. 232-233; Paul Kennedy, “The Realities Behind Diplomacy: Background Influences
on British External Policy, 1865-1980”, (Londres: George Allen & Unwin, 1981), pp. 107-109; Arthur J. Marder, “The
Anatomy of British Sea Power: A History of British Naval Policy in the Pré-Dreanought Era, 1880-1905”, (Nova York:
Knopf, 1940), pp. 254-257. Numa carta escrita, no início de janeiro de 1896, a Theodore Roosevelt, Lorde Bryce
declarava que nada poderia estar mais afastado das mentes de seus compatriotas, do que a interferência nos direitos norteamericanos ou no equilíbrio de poder hemisférico por que: “temos nossas mãos mais do que suficientemente cheias em
outros lugares”. Citação contida em A.E. Campbell, “Britain and the United States”, pp. 59-60.
35
frágil”72. As relações anglo-germânicas haviam entrado numa crise causada pelo
“telegrama de Krueger73”, enviado pelo Kaiser Wilhelm II na esteira do “Assalto de
Jameson” na região do Transvaal na África do Sul. Em outras áreas, as ameaças dos
principais rivais britânicos, Russia e França, pareciam ser apenas um pouco menos
ameaçadoras.
Diante de um novo contingenciamento internacional, a Inglaterra concluiu que
deveria estabelecer um acordo com Washington, porque não poderia arcar com outro
inimigo. Numa reunião critica do Gabinete britânico, em 11 de janeiro de 1896, o
Lorde Salisbury manteve-se fiel à sua política de “não negociação”, estabelecida em
novembro do ano anterior, mas os seus colegas de Gabinete decidiram resolver a crise
com Washington em termos pacíficos.
Como assinalam Grenville e Young: “Em novembro eles acreditavam que a
Inglaterra tinha um melhor conjunto de cartas nas mãos, mas agora, o sentimento não
era mais o de confiança. Agora, o Gabinete estava inclinado a eliminar as perdas
britânicas num mundo que parecia ter se tornado, subitamente, hostil”.74
Sobrepujado pelo Gabinete, Lorde Salisbury — acreditando que uma eventual
guerra com os Estados Unidos era algo mais do que uma possibilidade —
aparentemente começou a considerar a sua renuncia do cargo de Primeiro Ministro75.
72
73
74
75
Marder, “Anatomy of British Sea Power”, p. 257.
[N.T.] Em 29 de dezembro de 1895 o Dr. Leander Starr Jameson, um súdito inglês na África do Sul, lidera umas força
expedicionária invadindo o Transvaal, uma região contígua a Possessão Britânica da África do Sul, para pressionar o
governo Bôer estabelecido naquela região, no sentido de conceder à população local, de origem não holandesa, alguma
representação política naquele governo. Essa presença militar inglesa resultou num incremento da autoridade britânica na
área, e ainda que as autoridades britânicas tivessem tentado, sem sucesso, impedir Jameson de prosseguir em sua ação,
ele e seus homens complicaram ainda mais a situação inglesa, tendo perdido a maior parte de seus homens em duas
batalhas contra os “afrikaner” ou “boers”. Após essas derrotas, e sem ter a perspectiva de reforços, Jameson interrompe a
sua invasão não oficial, e se rende ao Comandante Bôer. Este evento ficou conhecido como o “Jameson Raid”. Na manhã
de 3 de janeiro de 1896 a imprensa mundial noticiou o evento, criticando a Inglaterra com alegações de que: mais uma vez
a mão direita do Império Britânico desconhece o que a mão esquerda faz. Nesta ambiência, em 3 de janeiro de 1896, o
Kaiser Wiilhelm II envia uma mensagem de congratulações a Stephanus Johannes Paulus Kruger, Presidente da república
Bôer do Tranvaal, cumprimentando-o por ter conseguido repelir, com suas próprias forças, os “bandos armados” quer
haviam invadido o seu país, mantendo-o, assim, independente de agressões externas. Porém nas entrelinhas, a mensagem
condenava a ação de Jameson como uma ação do imperialismo britânico, sugerindo uma aliança ao Governo Bôer, em
deprimento da influência britânica na área. Porém essa mensagem era para ser enviado de Chefe de Estado para Chefe de
Estado, de forma privada, porém, inexplicavelmente Wilhelm envia a mensagem pelo telégrafo, cujas linhas passavam,
forçosamente, por uma operadora de retransmissão inglesa. Alguns historiadores acham que essa ação de Wilhelm foi
proposital, não para constranger a Inglaterra por uma ação imperialista, mas para mostrar o quanto ela estava isolada ,
tentando convencê-la a aliar-se a um parceiro continental, como por exemplo a Alemanha. Mas o “tiro saiu pela culatra” e
isto provocou uma onda de protestos na Inglaterra, pressionando o governo a abrir negociações com a França e a Russia,
num contexto europeu que se subdividia rapidamente em diversas alianças competindo entre si.
Grenville e Young, “Politics, Strategy and American Diplomacy”, p. 170; Grenville, “Lord Salisbury”, pp. 67-69.
Ver em J. L. Garvin, “Life of Joseph Chamberlain”, (Londres: Macmillan, 1934), Vol. III, p. 161; Citação de Salisbury
contida em Bourne, “The Balance of Power in North America”, p.339.
36
Com relação à crise relatada, praticamente não há qualquer evidência que dê
sustentação à pertinência da Teoria da Paz Democrática no desenrolar da crise
venezuelana. Embora a crise tenha terminado antes que Londres ou Washington
tivessem feito ameaças de guerra, tanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra, fizeram
planejamentos militares para um possível conflito76. Isto sugere que os dirigentes
políticos, tanto norte-americanos, quanto ingleses, consideraram que a guerra, ou pelo
menos a preparação para tal, era um componente legítimo de suas estratégias
diplomáticas.
Não parece, também, que a opinião pública tenha afetado a política em qualquer
dos lados do Atlântico. As exigências feitas pelo governo de Cleveland foram
recebidas na Inglaterra com hostilidade. Não obstante, antes mesmo de janeiro de
1896, a opinião pública inglesa, em sua esmagadora maioria, era favorável a um
acordo pacífico para a crise anglo-americana. Não, há, no entanto, qualquer evidência
nos registros históricos de que a opinião pública tenha tido qualquer efeito sobre a
decisão do Gabinete, em 11 de janeiro, de resolver a crise pacificamente.
De fato, durante a Crise da Venezuela, a elite de dirigentes políticos tinha uma
visão diferente das relações anglo-americanas da visão do povo inglês em geral, e mais
ainda, havia um enorme hiato entre os defensores de uma reaproximação angloamericana, baseada na semelhança racial, “e o realismo dos cabeças-duras da escola de
estrategistas e políticos profissionais encabeçada por Salisbury77”.
Do lado norte-americano, a mensagem belicosa enviada por Cleveland, em 17 de
dezembro, evocou um amplo apoio público. Como assinala Walter LaFeber: “Os norteamericanos com uma mentalidade expansionista endossaram de coração a mensagem
do presidente, embora a sua grande maioria compartilhasse de suas esperanças de que
não haveria uma guerra78”.
No entanto, o entusiasmo público rapidamente diminuiu, e importantes grupos,
especialmente as igrejas e alguns elementos dos setores financeiros e de manufatura,
recuaram ante a perspectiva de uma guerra anglo-americana.
76
77
78
Tanto a Inglaterra, quanto os Estados Unidos, fizeram planejamentos visando a uma guerra norte-americana no início de
1896. O planejamento norte-americano enfocava a invasão a invasão do Canadá, e o Britânico a sua defesa. Ver Bourne,
“The Balance of Power in North America”, pp. 319-331.
Bourne, “Balance of Power”, p. 340. Marder, em “Anatomy of British Sea Power”, pp. 254-255, mostra que as elites
britânicas, ligadas à segurança nacional, adotaram um postura bastante linha dura durante a Crise da Venezuela.
LaFeber, “New Empire”, p. 270.
37
Não obstante, se a guerra tivesse ocorrido, o povo norte-americano,
provavelmente, teria se unido em torno do governo Cleveland. A opinião pública
norte-americana vislumbrava a perspectiva de uma guerra contra a Inglaterra “sem
entusiasmo; todavia, por mais lamentável que fosse, se não houvesse nenhum outro
caminho para o estabelecimento da posição suprema dos Estados Unidos no
Hemisfério Ocidental, a guerra seria necessária.”79
Gerações mais recentes já chegam a considerar o “relacionamento especial”
anglo-americano como uma decorrência imutável da vida. De fato, de alguma forma
este relacionamento é considerado o modelo protótipo de relações entre dois Estados
democráticos. A “grande reconciliação”, em torno do qual o citado relacionamento
especial foi construída, forjou-se no epílogo da Crise da Venezuela.
Mas seja lá qual for o tipo de relação anglo-americana que discutivelmente se
desenvolveu, o ímpeto pela reconciliação entre Londres e Washington (assim como o
ímpeto pela obtenção de um acordo para a Crise da Venezuela) foi originado, como
assinala C. S. Campbell, por preocupações geoestratégicas e não por considerações
associadas à Teoria da Paz Democrática.
Charles S. Campbell, “Anglo-American Understanding, 1898-1903”, (Baltimore: Johns Hopkins University
Editora, 1957), pp.8-24. Kenneth Bourne and Paul Kennedy assinalam que muitos dos mesmos fatores
não estratégicos subjacentes à reconciliação anglo-americana (interdependência econômica anglosaxônica) estavam fortemente presentes desde, pelo menos, 1850. No entanto, eles não tiveram nenhum
efeito perceptível de mitigara hostilidade anglo-americana. Esses fatores só entraram em cena após a
mudança na situação internacional ter forçado Londres a reavaliar a sua grande estratégia. Bourne, “Balance of Power”, p.343; Kennedy, “Realities Behind Diplomacy”, p.118.
Já em 1898, os efeitos do já não mais tão esplendido isolacionismo britânico
fazia-se sentir de forma dolorosa, e as aberturas de Londres em relação a Washington
devem ser interpretadas como parte do dramático processo estratégico e diplomático do
“fim do isolamento”, assumido após a Guerra Bôer80.
79
80
A.E. Campbell, “Britain and the United States”, p. 41.
Existe um grande consenso quanto a este ponto entre os historiadores da diplomacia. Bourne, “Balance of Power”, pp.
409-410; A.E. Campbell, “Britain and the United States”, pp. 208; C.S. Campbell, “Anglo-American Understanding”,
p.346, 184-185; Bradford Perkins, “The Great Rapprochement: England and the United States, 1895-1914”, (Nova York:
Atheneun, 1968), pp. 156-157; Kennedy, “Realities Behind Diplomacy”, pp. 118-119.
38
Os ingleses não aceitavam de bom grado a rápida expansão do poder norteamericano, mas optaram por se ajustar a uma situação que eles não poderiam evitar, e
que, ao contrário dos desafios representados por Alemanha, Russia e França, não
parecia constituir uma ameaça imediata aos interesses vitais ingleses.
A reconciliação anglo-americana foi possível, porque em cada um dos temas em
disputa, Londres cedeu às exigências de Washington. Como Bourne observa
secamente, “tudo isso não foi simples, nem talvez indicador de qualquer boa fé com
relação aos Estados Unidos.”81 A Inglaterra não podia mais arcar com qualquer outro
inimigo, e menos ainda, podia Londres incorrer numa inimizade com os Estados
Unidos, em relação a quem os ingleses sabiam que não podiam mais competir em
termos geopolíticos.
Para Londres, o “relacionamento especial” era uma forma mítica idealizada para
“permitir que a Inglaterra recuasse de forma elegante”, daquelas áreas onde os
interesses britânicos se chocassem com os norte-americanos, e a sua função era a de
tornar a “pílula” de apaziguar os Estados Unidos mais palatável82.
O resultado da Crise da Venezuela é mais bem explicado pela Teoria Realista do
que pela Teoria da Paz Democrática. Consistentemente às explicações realistas, tanto a
Inglaterra, quanto os Estados Unidos, começaram a fazer planos para uma guerra.
Embora, como é preconizado pela Teoria da Paz Democrática, não tivesse havido uma
febre de guerra nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não há qualquer evidência de que
a opinião pública tenha tido qualquer participação no processo decisório de Londres.
Foi a decisão de Londres de reverter sua postura intransigente, buscando alcançar
uma solução diplomática amigável com Washington, que permitiu à Inglaterra e os
Estados Unidos evitar a guerra. Todas as evidências disponíveis suportam a explicação
da teoria Realista de que Londres tomou esta decisão, única e exclusivamente, por
razões estratégicas.
81
82
Bourne, “Balance of Power”, p. 343.
Ronald Hyam, “Britain’s Imperial Century, 1815-1914: A Study of Empire and Expansion”, (Londres: B.T. Batsford,
1976), pp. 202, 205; C.J. Lowe and M.L. Dockrill, “The Mirage of Power: British Foreign Policy, 1902-1914”, Vol. I,
(Londres: Routleg and Kegan Paul, 1972), p. 99.
39
A LUTA ANGLO-FRANCESA PELO CONTROLE DO NILO —
FASHODA, 1898
A Crise Fashoda marcou o ponto culminante da luta anglo-francesa pela
supremacia sobre o Egito e região das cabeceiras do rio Nilo83.
Até 1882 o Egito, embora fosse nominalmente parte do Império Otomano, vinha
sendo administrado por um condomínio anglo-francês. Neste mesmo ano, no entanto, a
Inglaterra interveio unilateralmente para suprimir uma revolta nacionalista. Como o
Canal de Suez era uma artéria vital, ligando a Inglaterra à India e a seus demais
interesses imperialistas no oriente, considerações de natureza estratégica suplantaram a
tendência inicial de Londres de se retirar rapidamente do Egito, após a intervenção de
1882.
[N.T.] Em junho de 1882 ocorreram diversos levantes em Alexandria, causando a morte de diversos
cidadãos europeus lá residentes. Os ingleses retaliaram unilateralmente. Na seqüência, ocorreu uma
rebelião no Exército egípcio, e já em agosto do mesmo ano, o governo pró-britânico de Khedive Tewfik foi
deposto, tendo Said Ahmed Arabi, um oficial nacionalista do exército egípcio, assumido o poder. Em face
desta situação os ingleses inicialmente assumiram o controle do Canal de Suez, artéria vital para a sua
economia, e desta forma o exército britânico assumiu a condição de uma força de ocupação. Esta
intervenção marcou o fim da cooperação anglo-francesa sobre o Egito. Aproveitando-se da conturbada
situação de crise, Mahdi colocou-se contra o Governador britânico Gordon, derrotando-o assumindo, desta
forma, o controle sobre o Sudão, até que o General Kitchener o derrotou na Batalha de Omdurman. Desde
então o Egito permaneceu sob domínio inglês, até alcançar a sua independência em 1922.
No início de 1890, lorde Salisbury e demais dirigentes políticos haviam
estabelecido que, de modo a salvaguardar o Egito, a Inglaterra teria que exercer o
controle sobre a região da cabeceira do Rio Nilo, bem como, sobre toda a sua bacia.
Para a França, a primazia britânica sobre o Egito pós-1882 constituía uma afronta
e, incitada pelo Partido Colonialista Francês, Paris, periodicamente, buscava encontrar
meios de compelir Londres a honrar o seu compromisso de se retirar do Egito.
O motivo imediato da expedição francesa a Fashoda parece ter surgido de uma
conferência, em janeiro de 1893, proferida pelo engenheiro hidráulico Victor Prompt
83
Para maiores informações sobre a Crise Fashoda e seus antecedentes, as fontes listadas a seguir são excelentes: William
L.Langer, “The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902”, 2ª Ed. (Nova York: Knopf, 1965), pp. 101-144, 259-302; Ronald
Robinson and John Callagher com Alice Denny, “África and the Victorians: The Oficial Mind of Imperialism”, (Londres:
Madmillan, 1981, Ed. Rev.) , pp. 76-159, 290-306; G.N. Sanderson, “England, Europe and the Upper Nile, 1882-1899”,
(Edimburgo: Edinburgh University Editora, 1965), Cap. 12-15; e Sanderson, “The Origins and Significance of the AngloFrench Confrontation at Fashoda”, em Prosser Gifford and William Roger Louis, eds., “France and Britain in Africa:
Imperial Rivalry and Colonial Rule” (New Haven: Yale University Editora, 1971), pp. 285-332.
40
no Instituto Egípcio em Paris, na qual, era sugerido que o fluxo de água para o Egito
poderia ser restringido através de represas que fossem instaladas Nilo acima. Após
rever o discurso de Victor Prompt, o Presidente francês Sadi Carnot exclamou: “nós
devemos ocupar Fashoda!”84.
O plano para uma ofensiva sobre Fashoda foi avidamente abraçado por Theophile
Delcassé, durante o seu primeiro mandato como Vice-Secretário e depois, como
Ministro para as Colônias. Como jornalista e como político, ele fora um obcecado pela
questão egípcia. Para Delcassé e outros colonialistas franceses, o prestígio da França e
seus interesses na área do Mediterrâneo, exigiam o fim da ocupação britânica no
Egito85.
Em 1896, o Major Fuzileiro Naval Jean-Baptiste Marchand desenvolveu um
plano, compreendendo uma expedição por terra, visando estabelecer o controle francês
em Fashoda86. O plano foi aprovado pelo Ministro das Relações Exteriores Gabriel
Hanotaux e pelo Ministro Colonial Emile Chautemps.
Eles não queriam precipitar um confronto armado com os ingleses, e favoreciam
um eventual entendimento (“entente”) e a reconciliação anglo-francesa. No entanto,
eles estavam convencidos de que a opinião pública francesa não aceitaria um
entendimento, a não ser que ambas as potências pudessem alcançar um acordo em
relação aos pontos em disputa, incluindo o Egito. Portanto, para Hanotaux e Delcassé,
a expedição Fashoda fora concebida como um instrumento para forçar os ingleses a
negociarem a questão egípcia, e desta forma, aumentar o poder e prestígio da França.
Em setembro de 1898, Delcassé era Ministro das Relações Exteriores, e a
possibilidade de um conflito começou a tornar-se mais real. Todavia, ele ainda tinha a
esperança de que a crise poderia ser revertida, (caso Marchand não conseguisse
alcançar o seu objetivo ou, se a expedição francesa encontrasse forças inglesas em seu
caminho), através de um acordo entre Londres e Paris, e não militarmente pelo
confronto de forças em Fashoda.
84
85
86
Citação contida em A.J.P. Taylor, “Prelude to Fashoda: The Question of the Upper Nile, 1894-5”, English Historical
Review, Vol. 65, Nº. 254 (janeiro 1950), p. 54.
Christopher Andrew, “Theophile Delcassé and the Making of the Entente Cordiale: A Reappraisal of French Foreign
Policy, 1898-1905”, (Nova York: Macmillan, 1968), pp. 21-25.
[N.T.] Cidade atualmente conhecida pelo nome Kodok, localizada no SE do Sudão, na região também conhecida pela
designação de Nilo Branco.
41
Aparentemente, confiando na reputação de Salisbury de fazer “concessões por
graça”, Delcassé esperava esfriar a crise trocando um recuo de Marchand pelo
consentimento britânico em reabrir a questão egípcia, para discuti-la, dando à França
uma saída no Nilo87.
Os ingleses, no entanto, não tinham qualquer intenção de negociar. A posição de
Londres era simples: “Marchand deveria recuar, sem mais delongas ou qualquer
iniciativa diplomática para salvar as aparências.”88
Os dirigentes políticos franceses iludiram-se com a idéia, de que tomando
Fashoda poderiam forçar Londres a negociar a questão egípcia89. Desde março de
1895, quando Londres recebeu as primeiras insinuações relativas às pretensões
francesas na região das cabeceiras do Nilo, Sir Edward Grey, então o Vice-Secretário
de Relações Exteriores, declarava de forma simples e direta que tal movimento “seria
uma ação não amigável e desta forma seria vista em Londres.”90
Na Primavera de 1898, em resposta a informes de que a França estava se
movimentando na região da cabeceira do Nilo, Londres decidiu empreender uma
completa reconquista do Sudão.
Após uma vitória em Cartum, o Marechal de Campo Lorde Kitchener recebeu
ordens para avançar na direção de Fashoda, com instruções específicas de que , na
eventualidade de encontrar forças francesas, não fizesse nada “que pudesse, de alguma
forma, implicar num reconhecimento, por parte do governo de Sua Majestade, de
algum direito em favor da França . . . a qualquer porção territorial no Vale do Nilo.”91
Em 19 de setembro de 1898, as forças de Kitchener alcançaram Fashoda, onde
foram recepcionadas por Marchand com uma banda. Embora as forças em oposição
tratassem umas as outras com esmerada cortesia militar, o seu encontro colocou
Londres e Paris numa profunda crise diplomática. A “rixa anglo-francesa não era com
relação à Fashoda, ou em relação à sorte do Sudão, e nem mesmo com relação à
87
88
89
90
91
Christoipher Andrew, “Theophile Delcassé and the Making of the Entente Cordiale: A Reappraisal of French Foreign
Policy, 1898-1905”, (Nova York: Macmillan, 1968), p. 100; Roger Glenn Brown, “Fashoda Reconsidered: The Impact os
Domestic Politics on the French Policy in Africa”, (Baltimore: Johns Hopkins University Editora, 1970), pp. 92-93.
Robinson and Gallagher, “Africa and the Victorians”, p. 371.
Langer, “Diplomacy of Imperialism”, pp. 550-551.
Citação contida em James Goode, “The Fashoda Crises: A Survey of Anglo-French Imperial Policy on the Upper Nile
Question, 1882-1899”, (Ph.D. diss. North Texas State University, 1971), p. 150; e Darrell bates, “The Fashoda Incident of
1898: Encounter on the Nile”, (Nova York: Oxford University Editora, 1984), p. 24.
A citação relativa às ordens de Lorde Salisbury foi retirada de Robinson and Callagher, “Africa and theVictorians”, p.
368.
42
segurança das águas do Nilo ou do Egito; a rixa era em relação ao status relativo de
potência entre França e Inglaterra.”92
Uma vez que a crise se estabeleceu, Delcassé rapidamente reconheceu que a
França estava numa posição insustentável. O embaixador britânico em Paris relatou a
Londres, que Delcassé estava “preparado para uma retirada . . . se nós pudermos
construir para ele uma ponte de ouro”.93 Delcassé, por sua vez, acreditava que o seu
espaço de manobra estava seriamente circunscrito pela situação política doméstica na
França, potencialmente volátil, por causa do Caso Dreyfus.
[N.T.] O Caso Dreyfus foi um escândalo político que dividiu a França durante muitos anos dirante o século
XIX. O caso girou em torno da condenação por traição, em 1894, de Alfred Dreyfus, um oficial de artilharia
judeu do exército francês. Dreyfus era de fato inocente, e a condenação se baseou em falsos documentos,
e quando oficiais de alta patente se deram conta deste fato, tentaram encobrir os seus erros. O escritor
Emile Zola expôs o caso ao público em geral no periódico literário “L’Aurore”, através de uma famosa carta
aberta ao “President de la Republique Félix Faure” intitulada “J’accuse”, datada de 13 de janeiro de 1898.
Nas palavras da historiadora Barbara W. Tuchman, foi “uma das grandes comoções da história”.
Para Delcassé, aceitar uma humilhante derrota diplomática, provavelmente
significaria a queda do Gabinete de Brisson, além de (o que era também um receio
generalizado), poder constituir um pretexto para a ocorrência de um golpe militar94.
Delcassé, repetidamente, implorou a Londres, “não me deixem encurralado num
canto.”95 Em 11 de outubro Delcassé disse ao embaixador britânico que, se Londres
facilitasse as coisas para ele, “de mesma forma ele seria conciliatório.”96 Em 27 de
outubro, o embaixador francês em Londres, relatando a Salisbury que Marchand em
breve deixaria Fashoda, apelou no sentido de que a Inglaterra fizesse, em troca, alguma
concessão97.
Enquanto isso, a despeito do tom suplicante da diplomacia francesa e das
possíveis repercussões da postura britânica na política interna francesa, Londres se
recusava, inflexivelmente, a dar a Paris uma alternativa, à fria opção de determinara a
Marchand uma retirada humilhante, ou então ir à guerra.
92
Sanderson, “Origins and Significance os Fashoda”, p. 289.
93
Citação contida em Sanderson, “The Upper Nile”, p.346.
94
Brown, “Fashoda Reconsidered”, pp. 99-100, 127.
95
96
97
Citação contida em T.W. Riker, “A Survey os British Policy in the Fashoda Crisis”, Political Science Quaterly, Vol. 44,
Nº. 1 (março 1929), p. 3.
Citação contida em Keith Eubank, “The Fashoda Crisis Re-examined”, The Historian, Vol. 22 Nº. 2 (fevereiro 1960), p.
152.
Citação contida em ibid, p. 154.
43
Em 18 de setembro, o embaixador britânico em Paris disse categoricamente a
Delcassé, que Londres não iria aceitar qualquer concessão na disputa relativa à
Fashoda98.
Em 30 de setembro, respondendo a uma declaração de Delcassé de que a França
preferia lutar a submeter-se ao ultimato britânico, o embaixador britânico reiterou que
não poderia haver qualquer discussão, até que Marchand se retirasse de Fashoda.
Salisbury estava disposto a compelir, ao invés de persuadir, os franceses a se retirarem.
A linha dura da diplomacia de Londres era esmagadoramente apoiada por uma
opinião pública belicosa. Mesmo antes de Fashoda, devido às tensões geradas pela
rivalidade colonial anglo-francesa, “uma guerra com a França, ainda que não fosse
desejada na Inglaterra, seria aceita sem hesitação, se a ocasião assim o determinasse.”99
Uma vez iniciada a crise, a imprensa apoiou de forma esmagadora a decisão do
governo de recusar negociações com a França, e durante a crise “a imprensa britânica
de cunho popular deliciou-se numa orgia de grosserias.”100 “Havia abundância de
espírito propenso à guerra no país”, e a opinião pública inglesa estava “agressivamente
xenófoba” com relação a Fashoda101. “A inequívoca expressão da opinião britânica”
estava solidamente sustentando a política linha dura do gabinete102. E isso, sem dúvida
alguma, era verdade, porque o público inglês acreditava que o prestígio da Inglaterra
estava em jogo, e consequentemente, [a Inglaterra] estava “com a disposição para
responder vigorosamente” ao desafio francês103.
O ânimo popular era igual ao da elite política britânica. Como declarou o
Chanceler Exchequer104 Michael Hicks Beach em 19 de outubro, “O país fincou os
seus pés no chão.”105 A postura intransigente do governo era fortemente apoiada pelos
liberais imperialistas da oposição, notadamente pelo Lorde Rosebery H.H. Asquith, e
98
Citação contida em Robinson and Callagher, “Africa and the Victorians”, p. 370.
99
Ibid, p. 372.
100
Ibid; Ricker, “British Policy in the Fashoda Crisis”, pp. 65-67; Sanderson, “The Upper Nile”, p. 348.
101
Robinson e Callagher, “Africa and the Victorians”, p.376; Sanderson, “The Upper Nile”, p. 354.
102
Ricker, “British Policy in the Fashoda Crisis”, pp. 66-67.
103
Sanderson, “Origins and Significance of Fashoda”, pp.295, 300.
104
[N.T.] O Chanceler Exchequer (ou simplesmente o Chanceler) é o terceiro cargo ministerial mais antigo na Inglaterra, e
historicamente suas atribuições incluíam a política monetária e a política fiscal, mas estas atribuições foram extintas
quando o Banco da Inglaterra ganhou autonomia do governo em 1997. Atualmente uma das principais atribuições do
Chanceler compreende a composição do orçamento anual, o qual é apresentado na Casa dos Comuns, através de um
discurso oficial
105
Citação contida em Langer, “Diplomacy and Imperialism”, p. 553.
44
por Sir Edward Grey106. Rosebery, um ex Primeiro Ministro, e ex Secretário de
Relações Exteriores, relembrava que o seu Gabinete, já em 1895, havia alertado os
franceses para se manterem afastados das cabeceiras do Nilo, declarando que qualquer
gabinete que mostrasse indícios de buscar uma conciliação com Paris com relação à
Fashoda, seria substituído no prazo de uma semana.
De fato, na reunião crítica de Gabinete, ocorrida em 27 de Outubro, quando
Salisbury deu a impressão para alguns de seu colegas de Gabinete, de que estaria se
inclinando na direção de um acordo com Paris, a maioria dos Ministros, rapidamente,
jogou água fria na idéia, e foi determinado ao Almirantado que colocasse a marinha em
estado de prontidão para a guerra.
Os ingleses sabiam que se Paris não capitulasse ocorreria um conflito. Londres
considerava essa perspectiva com tranqüilidade, e de fato, com confiança. Como os
ingleses acreditavam que tanto a credibilidade, quanto a reputação da Inglaterra como
grande potência estavam em jogo, eles sentiam que não tinham alternativa que não
fosse ir até o fim com a França: “caso os ingleses tivesses adotado uma política menos
intransigente, de acordo com as circunstâncias em 28 de outubro, certamente teria
ocorrido uma predisposição, não só em Paris, mas também em São Petersburgo e
Berlim, para considerar Londres como uma potência que nunca arriscaria entrar numa
guerra, a despeito do tamanho da provocação.”107
Em outubro de 1898, a marinha inglesa gozava de uma superioridade decisiva
sobre a esquadra francesa, tanto em número, quanto em qualidade, e o resultado de
uma guerra anglo-francesa seria um fato predeterminado108.
Londres não manifestou qualquer tipo de relutância em demonstrar a sua
vantagem estratégica. Durante o mês de outubro, a Marinha Real se empenhou nos
preparativos para uma guerra contra a França109. Em 15 de outubro, a Esquadra do
Canal foi reunida. Em 26 de outubro, a Marinha Real já tinha elaborado planos de
guerra detalhados. Em 28 de outubro o Esquadrão Naval de Reserva foi ativado e
concentrado em Portland; logo após, a Esquadra do Canal foi deslocada para Gibraltar,
106
Langer, “Diplomacy of Imperialism”, pp. 552-553; Robinson and Gallagher, “Africa and the Victorians”, pp.376-378;
Riker, “British Policy in the Fashoda Crisis”, p.67; Sanderson, “The Upper Nile”, p. 347.
107
Sanderson, “Origin and Significance of Fashoda”, pp.301-302.
108
Sobre as vantagens da Marinha Real e a confiança de Londres no poder naval britânico, ver Marder “Anatomy of British
Sea Power”, pp. 320-331; Langer, “Diplomacy of Imperialism”, pp. 559-560.
109
Marder, “Anatomy of British Sea Power”, pp. 321-328.
45
e a Esquadra do Mediterrâneo foi deslocada para Malta. Quando o conhecimento
dessas medidas chegou ao conhecimento de Paris, através de informes de inteligência e
de notícias na imprensa inglesa, causou uma forte preocupação nos dirigentes políticos
franceses.
Não havia dúvidas de que a França fora, finalmente, compelida a aceitar uma
escorchante derrota diplomática devido a sua inferioridade militar, vis-à-vis a
Inglaterra. O poder da Marinha Real contrastava de forma nítida com as deficiências
numéricas e qualitativas, além da falta de preparo, da esquadra francesa.
Quando Paris computou a assimetria existente na comparação de poderes
militares, um constrangedor recuo diplomático emergiu como uma alternativa mais
atraente do que uma derrota decisiva numa guerra110.
Como foi admitido por Delcassé, ele e o Presidente da República Faure foram
compelidos a determinar que Marchand retraísse devido à “necessidade evitar uma
guerra naval, para a qual éramos absolutamente incapazes, mesmo que contássemos
com a ajuda russa.”111
Ao final, “Delcassé não tinha qualquer alternativa real que não fosse ceder. Uma
guerra contra a Inglaterra, a não ser que feita a título de um gesto irracional, não era
uma opção possível.”112 O resultado da Crise Fashoda foi, como nas palavras de
Grenville, “uma demonstração do poder inglês e da fraqueza francesa.”113
O resultado da Crise Fashoda pode ser explicado pela Teoria Realista, e não pela
Teoria da Paz Democrática. Acreditando que interesses vitais, tanto estratégicos,
quanto de reputação, estavam em jogo, a Inglaterra descartou qualquer acomodação
diplomática com Paris, a despeito dos apelos de Delcassé para que fosse concedida
uma saída honrosa para que a França pudesse deslindar-se da crise.
A intransigência britânica vai frontalmente contra as expectativas da Teoria da
Paz Democrática, de que as relações entre Estados democráticos são governadas pelo
110
Dois outros fatores pesaram, consideravelmente, a favor dos britânicos: em primeiro lugar, Kitchener dispunha de uma
enorme superioridade na região de Fashoda, em relação a Marchand; em segundo lugar, A Russia, aliada da França,
deixou claro que não apoiaria Paris e, de qualquer forma, mesmo que São Petersburgo quisesse intervir, haveria muito
pouca coisa que a Marinha Russa poderia fazer para compensar a superioridade marítima britânica. Ver Langer,
“Diplomacy of Imperialism” pp. 559-563; Marder, “Anatomy of British Sea Power”, pp. 323, 328-329. Como observa
Paul Kennedy, “todas as melhores cartas estavam nas mãos da Inglaterra.” Kennedy, “Realities Behind Diplomacy”,
pp.112-113.
111
Citação contida em Andrew, “Theophile Delcassé”, pp. 102-103. A reação de Faure aos preparativos navais ingleses é
descrita em Brown, “Fashoda Reconsidered”, pp. 115-116.
112
Sanderson, “The Upper Nile”, p. 362.
113
Grenville, “Lord Salisbury”, p. 218.
46
respeito mútuo, baseadas em normas e na cultura democráticas comuns. Contando com
um forte apoio da opinião pública e da elite, Londres adotou uma política que deixou
Paris com duas severas opções: a humilhação diplomática ou, uma derrota militar em
guerra.
Contrariamente
às
explicações
da
Teoria
da
Paz
Democrática,
mas
consistentemente com as da Teoria Realista, a Inglaterra fez ameaças militares, e
estava preparada para cumpri-las contra a França. Paris submeteu-se às exigências
britânicas ao invés de engajar-se numa guerra que não poderia vencer.
47
A CRISE FRANCO-GERMÂNICA: O “RUHR” 1923
A ocupação do “Ruhr” foi o ponto culminante da paz fria que caracterizou o
período pós-1918, e “praticamente representou a renovação da guerra.”114
A ocupação surgiu do conflito entre a política de segurança francesa e a política
germânica de perseverar numa revisão do sistema criado pelo Tratado de Versalhes. A
questão quanto às reparações de guerra foi a causa imediata para a ocupação francesa
do “Ruhr”. Apesar do significado econômico da região, a sua real importância era que,
tanto Berlim quanto Paris consideravam-na o símbolo de uma competição geopolítica
latente.115
No entender de Paris, obrigar a Alemanha a cumprir estritamente suas obrigações
de reparação era crucial para a manutenção do sistema criado pelo Tratado
Versalhes116. Além do mais, as reparações constituíam, como ficou demonstrado pela
ocupação do “Ruhr”, uma alavanca para a França modificar o Tratado Versalhes em
seu favor, pela imposição de sanções políticas e territoriais à Alemanha, quando
Berlim não honrou com os seus pagamentos.
Para a Alemanha, obter modificações nas reparações era uma brecha para abrir a
questão relativa à uma completa revisão de todo o arcabouço do Tratado de Versalhes.
As políticas de “metas” adotadas por Berlim, tinham sido projetadas para forçar uma
revisão do tratado, pela demonstração de que o cumprimento estrito das obrigações de
reparação estava aquém da capacidade alemã e, inevitavelmente, levaria a Alemanha a
um colapso econômico e financeiro117.
114
Royal J. Schmidt, “Versailles and the “Ruhr”: Seedbed of World War II”, (Haia: Martinus Nijhoff, 1968), p. 17; marshal
M. Lee e Wolfgang Michalka, “German Foreign Policy, 1917-1933: Continuity or Break?”, (Leamington Spa, U.K.:
Berg, 1987), p. 47; Detlev J. K. Peukert, “The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity”, trans. Richard
Devenson (Nova York: Hill and Wang, 1992), p. 61; hermann J. Rupieper, “The Cuno Government and Reparations,
1922-1923: Politics and Economics”, (Haia: Martinus Nijhoff, 1979) p. 96.
115
Peukert, “Weimar Republic”, p. 55; Marc Trachtenberg, “Reparations in World Politics: France and European
Economic Diplomacy, 1916-1923” (Nova York: Columbia University Editora, 1980), p. 122; Stephan A. Schuker, “The
End of French predominance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan”, (Chapel
Hill: University of North Carolina Press, 1976), p. 6.
116
[N.T.] O sistema criado pelo Tratado de Versalhes é a designação dada ao regime econômico e político estabelecido após
a 1ª Guerra Mundial, que se propunha a assegurar a paz na Europa e segurança para todos os povos.
117
Sobre a estratégia de Berlim de buscar uma revisão no tratado através do desempenho, ver David Felix, “Walther
Rathenau and the Weimar Republic: The Politics of reparations”, (Baltimore: Johns Hopkins University Editora); e
Rupieper, “The Cuno Government”.
48
Embora a Alemanha tivesse sido derrotada, e seu poder, em curto prazo, estivesse
contido pelo Tratado de Versalhes, as fontes básicas de sua força geopolítica — a sua
base industrial e sua população — permaneceram intactas. Os dirigentes políticos
franceses estavam obcecados quanto à ressurreição de uma ameaça de origem alemã à
sua segurança, e estavam determinados a prevenir esta possibilidade, através da
imposição de restrições militares, territoriais e econômicas à Alemanha.
A política francesa do pós-guerra com relação à Alemanha, estava enraizada nos
mesmos propósitos que Paris tinha perseguido durante a guerra. Desde 1915, o
Ministro das Relações Exteriores Delcassé tinha vislumbrado o desmantelamento do
“Reich” alemão em diversos Estados menores, combinado com a anexação por parte da
França, Holanda e Bélgica, das terras na margem esquerda do Reno118.
No final de 1917119, Paris decidiu deixar um Reich já dilacerado intacto, enquanto
anexava as regiões da Alsácia-Lorena e do Saar, criando um território satélite francês
independente na região do “Rhineland”.120 A segurança econômica e política da França
seriam ampliadas pela imposição de reparações à Alemanha, e pelo controle do aço e
do carvão, que eram essenciais para a sua supremacia industrial do Leste europeu.
Após a guerra, os objetivos franceses não tinham mudado. Paris visava a
segurança militar, as reparações de guerra e o estabelecimento da França como o líder
europeu na fabricação de aço.
Em Versalhes, para evitar uma dissensão por parte da Inglaterra e dos Estados
Unidos, a França abandonou suas aspirações de anexação na região da “Rhineland”; no
entanto, durante todo o período desde o armistício até a ocupação do “Ruhr”, Paris
apoiava de forma dissimulada a separação da região do Reno, ao mesmo tempo em que
continuava a acumular esperanças de controlar a sua margem esquerda121.
Mesmo que aparentemente tenha abandonado as demandas territoriais francesas
na “Rhineland”, o Primeiro Ministro francês Clemanceau manteve-se fiel à essência
118
119
D, Stevenson, “French Wars Aims Against Germany, 1914-1919”, (Oxford: Clarendon Editora, 1982), pp.26-27.
Para maiores dados sobre os propósitos de guerra dos franceses ver Walter A. McDougall “France’s Rhineland
Diplomacy, 1914-1924: The last Bid for a balance of Power in Europe”, (Princeton: Princeton University Editora, 1978),
p. 25; Schmidt, “Versailles to the “Ruhr””, p. 231.
120
[N.T.] “Rhineland” é o nome genérico dado para as terras localizadas em ambas as margens do rio Reno na região oeste
da Alemanha. Originalmente este termo tinha uma conotação apenas geográfica, mas adquiriu, principalmente com a 1ª
Guerra Mundial, alguma conotação política e cultural.
121
Stevenson, “French War Aims”, pp. 195-196. A referência definitiva da política francesa com região à região do Reno é
McDougall, “Rhineland Diplomacy”.
49
daquela pretensão original, ao inter-relacionar as reparações de guerra às questões de
segurança: por considerar que, sob as cláusulas do Tratado de Versalhes, na medida em
que a Alemanha não cumprisse as suas reparações, as tropas francesas poderiam
permanecer na “Rhineland”.
A política do governo francês em relação à Alemanha tinha um forte apoio da
opinião pública, que exigia um acordo de paz que impusesse as maiores restrições
possíveis no poder e influência da Alemanha, e esta “germanofobia” do povo francês
estendeu-se por todo o período pós-guerra.
O povo e os dirigentes políticos tinham a convicção de que a Alemanha deveria
ser forçada a reembolsar a França em todas as despesas que ela teve, relacionadas com
a guerra, (incluindo a reconstrução do território francês ocupado pela Alemanha), e
neste sentido, as opiniões pública e oficial se reforçavam. De fato, a opinião pública
francesa, a qual o Primeiro Ministro francês Raymond Poincaré se esforçou muito para
moldar, era tão anti-alemã no final de 1922, que seria duvidosa a sua sobrevivência
política se ele não tivesse implementado a ocupação do “Ruhr”122.
A invasão militar do “Ruhr” pela França foi deflagrada pela sua crescente
frustração, decorrente da campanha alemã para obter uma significativa redução de suas
obrigações de reparação de guerra. Embora haja alguma controvérsia quanto à natureza
exata dos objetivos de Poincaré ao ocupar o “Ruhr”, a opinião que prevalece é que ela
foi empreendida numa tentativa de antecipar a realização dos propósitos franceses de
revisão do sistema Do Tratado de Versalhes em seu favor.
A ocupação do “Ruhr” pretendia, de forma clara, ampliar a segurança francesa,
enfraquecendo a economia alemã, e ao mesmo tempo, possibilitando que Paris
realizasse sua ambição de tornar a França a potência econômica líder na Europa.
No mínimo, Paris tinha a esperança de que a ocupação do “Ruhr” inflamaria o
sentimento separatista da região do Reno, levando à separação da “Rhineland” do
“Reich”. Existem algumas evidências de que a ocupação do “Ruhr” foi executada para,
especificamente, antecipar os propósitos franceses de anexar a “Rhineland” e de
122
Rupieper, “The Cuno Government”, pp. 88, 96; Schmidt, “From Versailles to the “Ruhr””, p. 52.
50
dissolver o “Reich”123. Assim que a Crise do “Ruhr” for deflagrada, a França passou a
encorajar ativamente os separatistas da região do Reno.
Na Crise do “Ruhr”, para a atender seus interesses de segurança, a França não
hesitou em usar o seu poder militar contra uma democrática Alemanha de Weimar. De
fato, o que é notório no período compreendido entre 1915, (quando os dirigentes
políticos franceses começaram a pensar sobre os seus objetivos de guerra), e 1923 é a
sistemática rejeição francesa à argumentação de que a segurança francesa no pósguerra estaria assegurada se a Alemanha fosse transformada numa democracia.
Ao contrário dos ingleses que, logo após o término da guerra passaram a acreditar
que uma Alemanha democrática era a chave para a manutenção da paz na Europa, a
França preferia questionar a democracia como agente pacificador, a abandonar sua
estratégia de proteger a sua segurança por intermédio de garantias palpáveis. Como é
citado por Walter McDougall:
O “Quai d’Orsay [Ministério das Relações Exteriores francês]
percebia pouca conexão entre formas de governo e políticas
externas. A idéia “wilsoniana” de que as democracias optam
por políticas externas pacíficas, ao passo que regimes
autoritários são agressivos, encontrou poucos discípulos no
governo ou nas forças armadas francesas . . . Uma Alemanha
forte e unificada, fosse ela monarquista ou republicana,
representaria uma ameaça à França, e certamente dominaria as
economias das regiões do Danúbio e dos Bálcãs124.
A ocupação militar francesa do Ruhr provocou uma crise de grandes proporções
— para não se falar de uma guerra franco-alemã, ou pelo menos uma quase guerra. A
guerra de fato só foi evitada porque os alemães não tinham capacidade para
empreendê-la. Mesmo assim, os alemães resistiram ferrenhamente à ocupação.
Se havia alguma coisa que unia os irascíveis alemães da República Weimar era o
ódio em relação ao sistema do Tratado Versalhes, e a determinação de desconsiderá-lo.
Os alemães acreditavam que o movimento francês visava à dissolução do Reich.
Devido à fraqueza militar germânica, o “Reichswehr”, [organização militar de
defesa da Alemanha no pós-guerra], descartou qualquer política de resistência ativa à
123
McDougall argumenta que a separação da região do Reno do Reich era a esperança de Poincaré, porém não era o seu
propósito específico na operação do “Ruhr”. McDougall, “Rhineland Diplomacy”, pp. 247-249. Schmidt argumenta que
Poincaré empreendeu a ocupação do “Ruhr” com os propósitos específicos obter o controle territorial permanente
do“Ruhr” e da “Rhineland” e de promover a desintegração do “Reich”. Schmidt, “From Versailles to the Ruhr”, pp. 232233.
124
McDougall, “Rhineland Diplomacy”, p. 114.
51
ocupação francesa; no entanto, foram dados passos para facilitar uma resistência
militar na eventualidade dos franceses tentarem avançar além do Ruhr125.
Embora fosse incapaz de se opor ao poder militar francês, o governo de Berlim
adotou uma política de resistência à ocupação francesa, baseada na não cooperação de
trabalhadores, funcionários civis e de ferroviários com as autoridades de ocupação
francesas. A resistência, no entanto, não foi inteiramente passiva;
o Reichswehr
coordenou uma ativa campanha de sabotagem contra as forças de ocupação
francesas126.
De modo a sustentar a resistência, o governo de Berlim forneceu à população do
“Ruhr” alimentos e subsídios para desempregados. Esta resistência passiva foi
financiada através da impressão de papel moeda, uma prática que veio a deflagrar o
colapso financeiro da Alemanha, (devido à hiperinflação e o concomitante colapso do
Marco), condição esta que, em última análise, compeliu Berlim a abandonar a sua
resistência à ocupação do “Ruhr”.
Em longo prazo, a ocupação do “Ruhr” teve efeitos ainda mais importantes no
âmbito da política interna e da opinião pública alemã. A política linha dura praticada
pela França fortaleceu a posição dos partidos nacionalistas de direita na Alemanha, e
favoreceu o descrédito na democracia de Weimar.
A Crise do “Ruhr” representa um forte argumento que não confirma a Teoria da
Paz Democrática. Ao final de 1ª Guerra Mundial, tanto o povo, quanto as elites
francesas, perceberam a Alemanha como uma grande ameaça à segurança da França e
seu pretendido status de grande potência, mesmo sendo a Alemanha de Weimar uma
democracia. O que importava para a França era o poder latente da Alemanha, e não a
sua estrutura política doméstica.
Contrariamente às previsões da Teoria da Paz Democrática, a política francesa
em relação à democrática Alemanha não refletia qualquer respeito mútuo baseado nas
normas e culturas democráticas que se supõe, seria demonstrado nas relações entre
esses dois Estados. Ao contrário, movidos por preocupações estratégicas, os franceses
empregaram o seu poder militar de forma coerciva, para defender o sistema do Tratado
125
Ver F.L. Carsten, “The Reichswern and Politics, 1918 to 1933”, (Oxford: Clarendon Editora, 1966) pp. 154-155. Os
preparativos alemães incluíram a mobilização de suas unidades da reserva, (cuja existência era ilegal nos termos do
Tratado de Versalhes), a aquisição de aviões de caça da Holanda, de hidroaviões da Suécia e o treinamento de unidades
secretas para a condução de operações de guerrilha por de traz das linhas de qualquer ofensiva francesa além do Ruhr.
126
Ibid, pp. 154-155.
52
de Versalhes, do qual eles acreditavam, dependia a sua segurança, ao invés de confiar
a sua segurança nacional na esperança de que as instituições de uma Alemanha
democrática do pós-guerra mitigariam as conseqüências geopolíticas que sublinhavam
a disparidade de poder entre Alemanha e França.
53
CONCLUSÕES TEÓRICAS
Proponentes da Teoria da Paz Democrática têm feito amplas reivindicações a
favor desta teoria, extraindo dela importantes conclusões, quanto à formulação de
diretrizes políticas. No entanto, essas reivindicações repousam em alicerces frágeis.
Os estudos de caso apresentados submetem, tanto a Teoria da Paz Democrática
quanto a Teoria Realista a um teste consistente. É surpreendente, [para não dizer
contraditório] como em cada um desses quatro casos, tenha sido a Teoria Realista, e
não a Teoria da Paz Democrática, a explicação mais convincente do por que da guerra
ter sido evitada. De fato, os indicadores da Teoria da Paz Democrática aparentemente
não tiveram qualquer participação perceptível no resultado dessas crises.
Em cada uma dessas crises, pelo menos um dos Estados democráticos envolvidos
estava preparado para ir à guerra, (ou como no caso da França em 1923, para usar o
poder militar de forma coercitiva), por acreditar ter interesses vitais estratégicos ou de
reputação em jogo.
Em cada uma dessas crises, a guerra foi evitada, unicamente, devido a um dos
lados ter recuado na eminência de sua eclosão, não por causa de um espírito de
resolução pacífica de disputas, do tipo “viva e deixe viver”, existente no corpo da
Teoria da Paz Democrática, e sim, devido a fatores Realistas.
Um balanço desfavorável de poder militar explica o porquê da França não ter
lutado por Fashoda, como também, o porquê da Alemanha ter resistido passivamente a
ocupação francesa do “Ruhr”, ao invés de ter imposto uma resistência ativa pela
ameaça ou uso da força.
As preocupações de que outros pudessem tomar vantagem da guerra (o dilema de
atirar em pássaros127) explica o porquê de a Inglaterra ter recuado na Crise da
Venezuela, assim como a União ter se submetido ao ultimato britânico, na Questão
“Trent”.
Quando procuramos ver além dos resultados dessas quatro crises, (“democracias
não lutam contra democracias”) e procuramos entender o porquê dessas crises terem
127
Ver pág. 31, Nota de Fim de Página nº. 59.
54
tido os seus resultados específicos, torna-se claro que a logical causal da Teoria da Paz
Democrática tem, apenas, um limitado poder explicativo.
Embora Teoria da Paz Democrática prescreva uma correlação entre estrutura
política interna e a ausência de guerras entre democracias, ela não consegue
estabelecer um link de causa e efeito. Como a lógica dedutiva da Teoria da Paz
Democrática carece de poder explicativo, exige-se um exame mais apurado no suporte
empírico desta teoria, para nos certificarmos se a evidência é tão forte quanto dizem.
A evidência estatística de que democracias não lutam entre si parece
impressionante, mas na verdade, ela é inconclusiva, porque o universo de casos
proporcionando a sustentação empírica para a Teoria da Paz Democrática é pequeno, e
também, porque diversos casos, em que ocorreu guerra entre Estados democráticos não
são considerados, e esta segregação se dá por razões que não são convincentes.
QUAL O TEMANHO DO UNIVRSO PARA SUSTENTAR A TEORIA DA PAZ
DEMOCRÁTICA?
A Teoria da Paz Democrática propõe a sua validação a partir de um grande
número (“N”) de casos, compreendendo todos os possíveis conflitos, ao longo da
história, entre dois estados democráticos, que chamaremos de duelos democráticos.
Portanto, Suíça e Suécia, ou Áustria e Israel contariam como sendo duelos
democráticos, validando a Teoria da Paz Democrática.
O resultado desta contabilização é o surgimento de um grande número de
inteirações com pouco ou nenhum conflito entre democracias. A despeito do que
reivindica a Teoria da Paz Democrática, o universo de casos que a suportam é na
realidade pequeno, e existem três razões para tal afirmação.
Em primeiro lugar, no período de 1815 a 1945 existiam poucas democracias e,
portanto, o número de possíveis inteirações, e neste caso o valor da “N” sofre uma
redução adicional, se consideramos somente o caso de confrontos envolvendo duas
grandes potências democráticas.
Em segundo lugar, porque a possibilidade de que qualquer confronto (seja ele
democrático, misto ou não democrático) evolua para uma guerra é pequena, pois as
guerras são ocorrências relativamente raras [sic].
55
Estados em geral, e até mesmo grandes potências, não gastam a maior parte do
seu tempo em guerra128. Como assinala David Spiro, se é fato que as nações preferem
não ir à guerra, a proposição de que as democracias não lutam enter si perde muito do
seu significado pela escassez empírica. Spiro ainda afirma que: partindo-se do
pressuposto que as nações raramente estão em guerra, e que os duelos entre liberais
constituem uma pequena proporção do número total de possíveis duelos entre EstadosNação, então, o que deveria surpreender seria a possibilidade de democracias, sequer,
entrarem em guerra, ao invés da ausência de guerras entre democracias129.
Em terceiro lugar, nem todas as crises entre dois Estados são originadas ou se
desenvolvem da mesma forma. Para servir de teste para a Teoria da Paz Democrática,
uma crise será significativa, se representar uma situação em que exista uma real
possibilidade de dois Estados entrarem em guerra, e para tal, é necessário que, em
relação à pelo menos um dos Estados, exista o elemento da oportunidade, (a habilidade
de projetar poder sobre o oponente), e uma razão para tal. Somente as crises que
preencham essas precondições podem ser inseridas num universo apropriado de casos,
a partir dos quais a Teoria da Paz Democrática seria testada.
GUERRAS ENTRE DEMOCRACIAS — GRANDES EXCEÇÕES NUM UNIVERSO
PEQUENO.
O valor de “N” é uma questão importante. Se o universo de casos a partir do qual
a Teoria da Paz Democrática por ser testada é representado por um valor de “N”
pequeno, a importância das exceções à regra de que democracias não lutam entre si é
mais significativa, e com relação a este aspecto, os teóricos da paz democrática
reconhecem que estão numa posição delicada.
Um exemplo da fragilidade deste posicionamento é a classificação da Guerra de
1812 como um conflito que não envolveu duas democracias.
128
Sobre o acentuado declínio na freqüência de guerras entre grandes potências, durante os últimos dois séculos, ver Jack S.
Levy , “War and the Modern Great Power System, 1945 – 1975”, (Lexington: University of Kentucky Editora, 1983),
chap 6.
129
David E. Spiro, “The Insignificance of the Liberal Peace”, International Security, Vol. 19, Nº. 2 (Outono 1994), pp.5086. Spiro conclui que a evidência estatística da paz liberal é fraca: ou os dados são ambíguos, ou uma oportunidade do
acaso, iria prever a ausência de guerras entre democracias. Spiro é simpatizante da Teoria da Paz Democrática. Ele sugere
que a tendência dos Estados liberais de se aliarem, ao invés de se oporem, é um fator importante, estando, provavelmente,
enraizado nas normas liberais.
56
[N.T.] Os Estados Unidos declararam guerra contra a Grã Bretanha em 12 de junho de 1812, em
decorrência a um acúmulo de disputas com a Grã Bretanha. O evento que deflagrou a declaração de
guerra foi o aprisionamento de soldados americanos pelos ingleses. Os ingleses, dois anos antes, já
tinham atacado o USS Chesapeak, quase que provocando uma guerra. Adicionalmente, existiam disputas
contínuas com a Grã Bretanha com relação aos territórios na região nordeste dos Estados Unidos,
fronteiriça ao Canada. Finalmente, as tentativas da Inglaterra de impor um bloqueio à França, durante as
Guerras Napoleônicas era uma constante fonte de atrito entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Esta
guerra é considerada uma das guerras esquecidas dos Estados Unidos. Ela durou dois anos tendo
terminado da mesma forma que começou, num impasse ou empate forçado. Pelo menos, foi uma guerra
que, de uma vez por todas, confirmou a independência dos Estados Unidos. Todas as ações ofensivas
norte-americanas empreendidas para conquistar o Canada falharam, assim como o exército inglês foi
impedido de capturar Baltimore e Nova Orleans. Durante esta guerra ocorreu um grande número de
vitórias navais norte-americanas, nas quais os navios norte-americanos provaram ser superiores aos
navios de porte semelhante da marinha inglesa, tendo constituído o evento marco de lançamento das
tradições navais norte-americanas.
Bruce Russett argumenta que esta classificação “pode parecer um recurso pobre e
arbitrário”, mas o referido autor afirma que este não é o caso.
Bruce Russet em “Grasping the Democratic Peace”, p. 16, cita que: Seja como for, as vezes as coisas
são exatamente como parecem. Russet exclui a Guerra de 1812 com base no argumento de que, antes da
Lei de Reforma de 1832, a Inglaterra não era uma democracia.
Mesmo assim, até a “revolução” que se seguiu à eleição para presidente de Andrew Jackson em 1828, os
Estados Unidos também não eram significativamente mais democratas que a Inglaterra. O Federalista e a
própria Constituição, em seus dispositivos para o estabelecimento de um Colégio Eleitoral e eleição
indireta para Senadores, reflete o desejo dos idealizadores de circunscrever os impulsos democráticos
igualitários. Nos Estados Unidos do início do século XIX, o voto era significativamente restringido pela
posse de propriedade e outras qualificações impostas pelo Estado. Ver Clinton Williamson, “American Suffrage: From Property to Democracy, 1750 to 1860” (Princeton: Princeton University Editora, 1960); Paul
Kleppner, et al., “The Evolution of American Electoral Systems”, (Westport, Conn.: Greenwood Editora,
1981).
Em casos como este, é a flexibilidade intelectual — o constante jogo de palavras
e de conceitos envolvendo definições e categorias — o recurso que permite a teóricos
da paz democrática negarem a evidência de que Estados democráticos tenham entrado
em guerra130.
Um importante exemplo da citada flexibilidade intelectual está relacionado à
Guerra entre Estados [ver Nota nº. 33 à pág. 24], a qual os teóricos da paz democrática
descartam, com base na alegação de que foi um conflito interno, no âmbito de um
Estado, ao invés de um conflito internacional entre Estados soberanos131.
130
Um bom exemplo é de James L. Ray, “Wars Between Democracies: Rare or Nonexistent?”, International Interactions,
Vol. 18, Nº. 3, (1993), pp. 251-276. Após reajustar a definição de democracia, Ray examina resumidamente cinco das
alegadas 19 exceções à regra de que Estados democráticos não lutam entre si, e conclui que nos últimos 200 ou 250 anos,
não existem exceções à regra.
131
Russet argumenta (Grasping the Democratic Peace, p, 17) no entanto, que após a secessão a Guerra de Secessão assumiu
a categoria de um conflito internacional entre duas entidades democráticas soberanas. Assim era considerada pelos
observadores (e se os Confederados tivesse vencido, assim também seria considerada nos dias de hoje). Por exemplo,
ninguém menos do que o Primeiro Ministro britânico, William Gladstone o arquiaopostolo do Liberalismo britânico,
57
Ainda assim, os eventos entre 1861 e 1865 parecem especialmente relevantes,
porque a teoria baseia-se, explicitamente, na premissa de que as normas e a cultura que
atuam entre democracias são por elas exteriorizadas, em suas relações com outros
Estados democráticos132. A própria Teoria da Paz Democrática torna relevante a
questão quanto a se as normas e culturas democráticas, de fato, produzem a resolução
pacífica de disputas entre democracias.
A Guerra entre Estados fere o coração da lógica causal Teoria da Paz
Democrática: se as normas e culturas democráticas falharam na prevenção da eclosão
de uma guerra civil [sic] no âmbito de uma democracia, por que razão deve-se
acreditar que estas mesmas normas irão prevenir a eclosão de guerras entre Estados
democráticos?
No caso da União e da Confederação as características centrais da Teoria da Paz
Democrática — o espírito democrático fundamental de respeito por outras
democracias, uma cultura política que enfatiza a resolução não violenta de disputas, os
benefícios comuns da cooperação, e o efeito restritivo do debate aberto e da opinião
pública — não conseguiram, de forma evidente, assegurar um desenrolar pacífico.
De fato, se no âmbito e uma democracia tão profundamente enraizada — política,
econômica e culturalmente — como a que existia nos Estados Unidos em 1861,
ocorreu uma partição resultando em dois Estados em conflito, este fato nos leva a ter
pouca confiança de que a democracia irá prevenir conflitos entre grandes potências,
onde prevalece uma ambiência política internacional que se caracteriza por ser
anárquica, competitiva e de auto-ajuda [isolacionista].
Um exemplo ainda mais significativo é o tema relacionado ao questionamento se
a Alemanha de Wilhelm I era uma democracia. Mesmo que a 1ª Guerra Mundial fosse
o único exemplo de democracias lutando umas contra as outras, seria uma exceção tão
berrante à Teoria da Paz Democrática, que poderia até invalidá-la.
Como até mesmo Michael Doyle admite, o tema quanto a se a Alemanha de
Wilhelm I era uma democracia é um “caso difícil”133. E de fato, é um caso tão difícil,
observou que: “Jefferson Davis e outros líderes do Sul, criaram um exército; aparentemente eles estão fazendo uma
marinha; e eles construíram algo ainda maior, eles fizeram uma nação.” Citação contida em James M. McPherson, “Battle
Cry of Freedom: The Civil War Era”, (Nova York: Oxford University Editora, 1988), p.552.
132
A Teoria da Paz Democrática “estende para a arena internacional as normas culturais de ‘viver e deixar viver’ e a
resolução pacífica de conflitos que atua entre democracias.” Ibid, p. 19.
133
Doyle, “Kant, “Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Parte I, p. 216, fn 8.
58
que numa nota de rodapé, Doyle cria uma nova categoria para enquadrar a Alemanha
de Wilhelm I — qual seja, uma democracia bifurcada. Em suas palavras, a Alemanha
era democrática com relação às políticas domésticas, mas não na ambiência da política
externa134. Doyle não considera a Alemanha Imperial tenha sido uma democracia para
os propósitos de sua política externa, porque o executivo não era responsável pelo
“Reichstag” [N.T. designação dada ao Parlamento alemão], e conseqüentemente, o
processo de elaboração da política externa era, segundo sua argumentação, autocrático.
No entanto, no que concerne à política externa, a Alemanha de Wilhelm I era tão
democrática quanto a França e a Inglaterra. Em todos esses países, a condição social
(pertencer à aristocracia) ou um berço de classe média alta e a posse de uma fonte de
riqueza independente, eram pré-requisitos para o serviço no corpo diplomático e nas
assessorias políticas importantes nos gabinetes de relações exteriores135.
Em todos os três países, a política externa era isolada do controle e críticas
parlamentares, devido a prevalência da opinião de que os assuntos externos estava
acima da política.
Na França democrática, o Ministro de Relações Exteriores gozava de uma virtual
autonomia em relação ao Legislativo, e até mesmo em relação a membros do
Gabinete136. Como assinala Christopher Andrew, “em raras ocasiões, quando um
ministro pensava em levantar uma questão de política externa, durante uma reunião de
Gabinete, ele já estava acostumado à observação “senhores, não nos deixemos
preocupar com isso; são atribuições do Ministro das Relações Exteriores e do
Presidente da República.”137
Os tratados e acordos similares eram ratificados pelo Presidente da República
(quer dizer, pelo Gabinete), e o Legislativo não tinha qualquer participação no
134
Ibid. Eu não me refiro ao tema de se qualquer Estado pode, de fato, ter uma compartimentação de sistema político, tão
rígida, que o possibilite ser democrático com relação à política interna, e não ser, em relação à política externa. Eu não
conheço nenhum outro caso de democracia bifurcada. Se esta concepção de democracia bifurcada fosse aceita, os
proponentes da Teoria da Paz Democrática poderiam defender os seus argumentos, afirmando que enquanto democrática
no âmbito da política interna, a Inglaterra e a França de 1914, assim como a Alemanha de Wilhelm, também eram não
democráticas em termos de política externa.
135
Ver Lamar Cecil, “The German Diplomatic Service, 1871-1914” (Princeton: Princeton University press, 1976); Paul
Gordon Lauren, “Diplomats and Bureaucrats: The First Institutional Responses to Twentieth Century Diplomacy in
France and Germany”, (Stanford: Hoover Institution Editora, 1976), pp. 27-29; Frederick L. Schuman, “War and
Diplomacy in the French Republic: Na Inquiry into Political Motivations and the Control of Foreign Policy”, (Nova
York: Whittlesy House, 1931); Zara S. Steiner, “The Foreign Office and Foreign Policy, 1898-1914”, (Cambridge:
Cambridge University Editora, 1969); e Steiner, “The Foreign Office under Sir Edward Grey”, em F.H. Hinsley, ed,
“British Foreign Policy Under Sir Edward Grey”, (Cambridge University Editora, 1977), pp. 22-69.
136
Schuman, “War and Diplomacy”, pp. 21, 28-32.
137
Andrew, “Theophile Delcassé”, p.64
59
processo de elaboração do tratado, (ainda que o Senado tivesse o direito de perguntar e
de ser informado dos termos do tratado, até o ponto que fosse permitido pela segurança
nacional)138. Além do princípio formal de responsabilidade ministerial, o Legislativo
francês não possuía mecanismos para, efetivamente, supervisionar ou revisar a conduta
da política externa governamental139.
Até mesmo na França democrática, o Executivo gozava de um poder
desimpedido no âmbito da política externa. Essa concentração de execução da política
externa no Executivo teve um profundo efeito sobre a cadeia de eventos que levou à 1ª
Guerra Mundial. Os termos da aliança e convenção militar franco-russa — a “aliança
fatídica” que assegurou que uma guerra entre Russia e Áustria nos Bálcãs não poderia
manter-se localizada — foram mantidos em segredo do Legislativo, do público e da
imprensa140.
Na democrática Inglaterra, assim como na França e na Alemanha, as decisões
críticas de política externa eram tomadas sem consultar ao Parlamento. A despeito das
profundas implicações que poderiam ter quaisquer conversas de Gabinete entre
Inglaterra e França, elas foram iniciadas (extra-oficialmente) em janeiro de 1906, e
seus mentores, o Secretário de Relações Exteriores, Sir Edward Grey, e o Primeiro
Ministro H. H. Asquith, não informaram ao Gabinete a existência dessas
conversações141. Grey e Asquith temiam (e com razão) que a maioria no Gabinete oporse-ia às conversações, e até mesmo à idéia de uma relação estratégica anglo-francesa
mais íntima.
Quando questionado no Parlamento em 1910, 1911 e 1913 com relação às
conversações militares anglo-francesas, Grey e Asquith, de forma consistente, deram
respostas falsas ou evasivas, mantendo ocultas, tanto a natureza, quanto as implicações
dos acordos estratégicos estabelecidos entre Londres e Paris142.
Mesmo quando Grey e Asquith tiveram que prestar contas ao Gabinete, quando a
existências dessas conversações vieram à tona, em novembro de 1911, eles deixaram
138
Ibid, p. 22; Lauren, “Diplomats and Bureaucrats”, p. 29.
139
Lauren, “Diplomats and Bureaucrats”, p. 29.
140
Schuman, “War and Diplomacy”, p. 143.
141
Ver Samuel R. Williamson, “The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War, 1904-1914”,
(Cambridge: Harvard University Editora, 1969).
142
Ibid, pp. 134, 137-138, pp. 202-204, 330-331.
60
os seus colegas com a impressão incorreta de que Londres não tinha assumido
qualquer tipo de compromisso ou obrigação com a França143.
A despeito da constante reiteração por parte de Grey e Asquith (tanto aos
franceses, quanto ao Gabinete e ao Parlamento) de que Londres matinha absoluta e
desimpedida liberdade de movimentos, eles tinham, de fato, assumido um solene
comprometimento, através de um processo constitucionalmente duvidoso.
Em agosto de 1914, nos debates em Gabinete quanto à possibilidade da Inglaterra
ir ou não à guerra, o argumento de Grey — que a “Entente” e os concomitantes
acordos militar e naval obrigavam, moralmente, a Inglaterra a ajudar a França —
provaram-se decisivos144.
É evidente que antes da 1ª Guerra Mundial, as decisões estratégicas mais
importantes e de maior repercussão, tomadas tanto pela França (em sua aliança com a
Russia), quanto pela Inglaterra (com relação à “entente” e os arranjos militares com a
França) não se submeteram ao controle ou supervisão do legislativo, a despeito das
credenciais democráticas de ambos os países.
A forma não deve ser confundida com a substância. Na ambiência da política
externa, França e Inglaterra não eram nem mais, nem menos democráticas que o
Segundo Reich145.
O caso da Alemanha de Wilhelm I sugere que grandes potências democráticas, de
fato, entraram em guerra umas contra as outras (e assim poderiam proceder no futuro).
Ainda assim, o enfoque prevalecente de que o Segundo Reich não era uma democracia,
tem influenciado de forma intensa o debate sobre a teoria das relações internacionais,
tanto na questão genérica sobre como a estrutura política doméstica afeta situações
143
144
Ibid, pp. 198-200.
Grey ameaçou renunciar ao seu cargo no Gabinete, a ano ser que ele concordasse em levar a Inglaterra à guerra, ao lado
da França. A ameaça de renúncia de Grey foi determinante, porque os radicais não intervencionistas do Gabinete
concluíram que a sua recusa em declarar guerra redundaria na substituição do Gabinete, por outro Conservador ou por um
resultante de uma coligação entre Conservadores e Liberais imperialistas. Ver K.M. Wilson, “The British Gabinet’s
Decision for War, 2 August 1914”, British Journal of international Studies, Vol. I, Nº. 2, (julho 1875), pp. 148-159.
145
A classificação da Alemanha de Wilhelm I como uma democracia também é sustentada por uma análise do processo de
estabelecimento de política externa do regime sucessor, a República Weimar. Embora a República de Weimar,
invariavelmente, seja classificada como uma democracia, nos aspectos cruciais ela se assemelhava muito ao Segundo
Reich. Durante a República Weimar, o a Secretaria de Relações Exteriores e o Exército trabalharam em conjunto para
assegura que o processo de formulação da política externa e da grande estratégia ficasse isolado da supervisão e controle
do Reichstag. O principal estudo sobre o assunto está em Gaines Post, Jr., “The Civil-Military Fabric of Weimer Foreign
Policy” (Princeton: Princeton University Press, 1973). Post observa (p. 358) que a República Weimar representa um
“modelo da virtual exclusão do nível parlamentar ou legislativo da atividade político-militar, num sistema de governo
representativo.” Se a Alemanha de Weimar é considerada uma democracia, então como é que a Alemanha de Wilhelm I
pode ser classificada como uma não democracia?
61
finais em âmbito internacional, quanto e na questão específica da existência de uma
“paz democrática”.
No entanto, a reconhecida prudência da Alemanha pré-1ª Guerra Mundial foi
muito distorcida por uma combinação de fatores: o enfoque liberal da maioria dos
relatos anglo-americanos sobre a história Alemã no período de 1860-1914; a natureza
ideologicamente impregnada dos estudos alemães pós-1960, relativos à era de Wilhelm
I; e os efeitos residuais da propaganda Aliada na 1ª Guerra Mundial, que
endemoninhavam a Alemanha146. A questão se a Alemanha de Wilhelm I deveria ser,
ou não, classificada como uma democracia é importante, e merece ser estudada
novamente.
UMA HIPÓTESDE ALTERNATIVA — O INVERSO DA IMÁGEM DERIVADA
A partir de uma perspectiva Realista, a Teoria da Paz Democrática,
equivocadamente, inverteu a ligação entre restrições sistêmicas internacionais e as
instituições políticas domésticas.
Otto Hintze apresentou o argumento Realista de que a estrutura política interna
de um Estado é altamente influenciável por fatores externos147. Esta proposição
argumenta a existência de um processo seletivo que explica o porquê de alguns
Estados tornarem-se democracias enquanto outros não.
Estados que gozavam de um elevado grau de segurança no início do século XX,
como a Inglaterra e os Estados Unidos, puderam manter suas estruturas políticas
conservadoras do liberalismo clássico anglo-americano, pois não tinham quaisquer
ameaças externas eminentes, que exigissem um poderoso aparato governamental,
visando à mobilização de recursos para atender à segurança nacional.
Estados que viveram sob um ambiente externo altamente ameaçador têm uma
maior tendência de optar por uma forma de democracia mais estatal ou, até mesmo,
estruturas autoritárias, precisamente porque as preocupações com a segurança nacional
146
Para uma análise da tendência ideológica de esquerda que caracteriza os trabalhos dos discípulos de Fritz Fisher, e uma
crítica de Fisher, Berghahn, Kehr e Wehler ver Wolfgang J. Mommsen, “Domestic Factors in German Foreign Policy
before 1914”, Central European History, Vol. 6, Nº. 1, (março 1973), pp. 4-18. Uma criteriosa crítica de “falha da escola
do liberalismo” é encontrada em Klaus P. Fisher, “The Liberal Image of German History”, Modern Age, Vol. 22, Nº. 4
(Outono 1978), pp. 371-383.
147
Esta tese é desenvolvida em Otto Hintze, “The Formation of States and Constitutionalization of the State”, em Hintze,
“The Origins of the Modern Ministerial System: A Comparative Study”, e em Felix Gilbert, ed, “The Historical Essays of
Otto Hintze”, (Nova York: Oxford University Press, 1975).
62
exigem que o Estado tenha disponível para si, os instrumentos de mobilização dos
recursos do poder nacional148.
Quanto maior, for a ameaça externa que o Estado tenha que defrontar (ou que
acredite existir), mais autocrático será o processo de formulação de políticas externas,
e mais centralizadas serão as suas estruturas políticas.
Se esta hipótese é verdadeira, ela sugere que a Teoria da Paz Democrática está
com o seu enfoque orientado pelo lado contrário do telescópio. Os Estados que estão,
(ou que acreditam estar), num ambiente de alta ameaça, têm menos propensão a serem
democracias, devido à grande probabilidade de entrarem guerra, e por conseguinte,
tendem a adotar estruturas governamentais autocráticas, que realçam a sua postura
estratégica149.
Portanto, como preveria a teoria Realista, a estrutura sistêmica internacional, não
é somente a determinante primária do comportamento externo de um Estado, mas pode
também, ser um elemento crítico na conformação do seu sistema político doméstico.
Esta hipótese pode proporcionar uma abordagem mais útil do que a da Teoria da Paz
Democrática, para investigar a ligação entre estruturas domésticas e política externa.
148
Este argumento é desenvolvido por Brian M. Downing, “The Military Revolution and Political Change: Origins of
Democracy and Political Change”, (Princeton: Princeton University Editora, 1992).
149
Existe uma outra forma de visualizar este fenômeno. Quanto mais ameaçado for um Estado (ou que ele acredite ser), mais
ele mover-se-á na direção de estruturas domésticas mais centralizadas. Um Estado poderá mover-se a tal ponto, que ele
deixe de ser democrático e passe a ser autocrático. Esta hipótese se conforma à experiência das grandes potências liberais
democráticas neste século [século XX]. Em ambas as guerras mundiais, as exigências do conflito resultaram numa tal
concentração do poder estatal , tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, que, por algum tempo, defensavelmente,
ambos se tornaram autocráticos. A Guerra Fria, da mesma forma, impeliram os Estados Unidos a se tornarem um “Estado
de segurança nacional”, ainda uma democracia, mas uma democracia onde o poder do Estado foi amplamente realçado e a
predominância do Executivo sobre o Legislativo, na esfera da política externa, foi estabelecida de forma decisiva. Quincy
Wright chegou a uma conclusão semelhante quanto ao efeito da ambiência externa sobre as estruturas políticas
domésticas, e observou que “a autocracia, pelo menos no controle da política externa, tem sido a forma constitucional que
prevaleceu”, Wright, “A Study of War”, (Chicago: University of Chicago Editora, 1964, abridged ed.), p. 158.
63
CONCLUSÕES POLÍTICAS — O PORQUÊ DE SER IMPORTANTE
A validade da Teoria da Paz Democrática não é apenas uma preocupação
acadêmica. A Teoria da Paz Democrática tem sido amplamente adotada por dirigentes
políticos e analistas de política externa, e tem sido a estrela guia que orienta a política
externa norte-americana no pós-Guerra Fria.
A concepção de uma “zona de paz” democrática formulada por Michael Doyle
em 1983, atualmente é usada de forma rotineira pelos norte-americanos, tanto nos seus
pronunciamentos oficiais, como nos não oficiais, relativos à política externa.
Após a Guerra Fria, diversos comentaristas têm sugerido que a exportação ou
promoção da democracia no exterior deveria se tornar o foco central da política externa
norte-americana pós-Guerra Fria150.
Desde o Haiti até a Russia, o interesse norte-americano e a sua segurança têm
sido identificados com sucesso ou o insucesso da democracia. O Conselheiro para
Segurança Nacional Anthony Lake declarou que o objetivo pós-Guerra Fria dos
Estados Unidos deve ser o de expandir a “zona de paz” democrática e de prosperidade
porque, “na medida em que a democracia e a economia de mercado sejam
predominantes em outras nações, a nossa própria nação estará mais segura, próspera
e influente.”151
Aqueles que querem embasar a política externa norte-americana na extensão da
democracia no exterior, invariavelmente repudiam qualquer intenção de embarcar
numa “cruzada” e admitem reconhecer os perigos de permitir que uma política seja
baseada num excessivo zelo ideológico152.
Estas reafirmações constituem a versão “confie em mim” da política externa.
Como a lógica da Teoria da Paz Democrática liga a segurança norte-americana à
150
Ver, por exemplo, Joshua Muravchik, “Exporting Democracy: Fulfilling America’s Destiny”, (Washington, D.C.: AEI
Editora, 1991); e Larry Diamond , “Promoting Democracy”, Foreign Policy Nº. 87 (Verão 1992), pp. 25-46.
151
“Observações de Anthony Lake”, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Washington D.C.: 21 de
setembro de 1993, (Washington D.C.: National Security Council Press Office).
152
Lake declarou que o governo Clinton não se propõe a embarcar numa “cruzada democrática.” Tanto Doyle, quanto
Russet, reconhecem que a Teoria da Paz Democrática poderia encorajar os Estados democráticos a praticarem políticas
agressivas em relação a não democracias, e ambos expressam preocupação com relação a este ponto. Doyle “Kant,
Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Parte II; Russet, “Grasping the Democratic Peace” p.136.
64
natureza dos sistemas políticos internos de outros Estados ela, inevitavelmente, força
os Estados Unidos a adotarem uma postura estratégica intervencionista. Se as
democracias são pacíficas, mas os Estado não democratas são “criadores de
problemas”, a conclusão inescapável é: os anteriores só estarão realmente seguros, se
os posteriores forem, também, transformados em democracias.
De fato, estadistas norte-americanos têm, freqüentemente, expressado este ponto
de vista. Durante a 1ª Guerra Mundial, Elihu Root153 disse que: “Para estar segura, a
democracia deve matar a sua inimiga, onde e quando puder. O mundo não pode ser
metade democrata e metade autocrata.”154 Durante a Guerra do Vietnam, o Secretário
de Estado Dean Rusk reivindicou que os “Estados Unidos não podem estar seguros
enquanto todo o ambiente internacional não estiver ideologicamente seguro.” Estes
não são comentários isolados, estes pontos de vista refletem a histórica propensão
norte-americana de perseverar pela segurança absoluta e de definir a segurança,
primariamente, em termos ideológicos (e econômicos).
A cultura da política externa norte-americana, há muito tempo, considera os
Estados Unidos, devido ao seu sistema político doméstico, como uma nação singular.
Como conseqüência, dirigentes políticos norte-americanos têm sido afetados “por um
profundo sentimento de estarem sós” e eles têm considerado os Estados Unidos como
que “perpetuamente sitiado”155. Consequentemente, as políticas de defesa e externa
norte-americanas têm sido forjadas pela crença de que os Estados Unidos devem criar
um clima ideológico favorável no exterior, para que as suas instituições domésticas
possam sobreviver e prosperar156.
A Teoria da Paz Democrática tem favorecido o desenvolvimento de impulsos,
que por mais nobres que sejam, em termos abstratos, têm originado intervenções
militares desastrosas no exterior, uma excessiva dilatação estratégica, e o relativo
declínio do poder norte-americano.
153
[N.T.] Elihu Root, advogado e estadista norte-americano, exerceu os cargos de Secretário de Guerra de 1899 a 1903, e
Secretário de Estado de 1905-1909. De 1905 a 1909 atuou no Congresso como Senador no Partido Republicano. Foi o
responsável pela ampliação da academia militar de West Point e pela criação do U.S Army War College. Ele também foi
um dos fundadores do American Law Institute em 1923. Em 1912 recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
154
Citação contida em Russet, “Grasping the Democratic Peace”, p.33.
155
William Appleman Williams, “Empire as a Way of Life: An essay on the Causes and Character of America’s Present
Predicament Along With a Few Thoughts About an Alternative”, (Nova York: Oxford University press, 1980), p.53.
156
Lloyd C. Gardner, “A Covenant with Power: America and the World Order from Wilson to Reagan”, (Nova York:
Oxford University Editora, 1984), p. 27. Para uma excelente análise crítica sobre a noção de que a ideologia doméstica
norte-americana tem que ser validada por sua política externa, ver Michael H. Hunt, “Ideology and U.S. Foreign Policy”
(New Haven: Yale University editora, 1987).
65
O mais recente exemplo dos perigos associados à reedição do “wilsonionismo157”
é a iniciativa do governo Clinton denominada — “Partnership for Peace”. Sob a égide
deste plano, o manifesto interesse norte-americano em projetar a democracia no centroleste europeu é implementado, tendo como corolário, as garantias de segurança da
OTAN, a eventual admissão da Polônia, Hungria e da República Checa na citada
organização, além de alguma forma de segurança provida pelos Estados Unidos à
Ucrânia.
O argumento subjacente à esta proposta é simples: governos democráticos nestes
países irão garantir paz regional na era pós-Guerra Fria, mas a democracia não poderá
criar raízes a não ser que seja proporcionado, a esses países, a certeza e convicção da
garantia de segurança por parte dos Estados Unidos ou da OTAN.
De fato, o centro-leste europeu tende a ser uma região altamente volátil,
independentemente da OTAN “mover-se para o leste”. A extensão das garantias
oferecidas pela OTAN ao leste europeu, traz em seu bojo o óbvio risco de que os
Estados Unidos envolver-se-ão num futuro conflito regional, que poderia envolver
grandes potências como a Alemanha, Ucrânia ou Russia.
Existe pouca confiança em assumir tarefas tão arriscadas com base na dúbia
presunção relativa aos efeitos pacificadores da democracia158.
A Teoria da Paz Democrática também é perigosa em um outro aspecto: é um
componente integral de uma nova (ou mais corretamente, reciclada) perspectiva na
política internacional, a de que a difusão da democracia e da interdependência
econômica causou uma “mudança qualitativa” na política internacional — agora, as
157
[N.T.] Este termo refere-se a uma falácia da época do presidente Woodrow Wilson, de tentar fazer com que outros países
assumam formas de governo (no caso a democracia) para as quais eles provavelmente não se adaptam, e quase que
certamente, não estão dispostos a adotar. Ao término da 1ª Guerra Mundial o presidente norte-americano Woodrow
Wilson tinha plena convicção de que uma paz duradoura só poderia ser forjada entre países que fossem iguais,
professando os mesmos princípios de justiça e de democracia. Esta concepção, que em outras palavras apregoava o regime
democrático como a panacéia para a paz mundial, ficou conhecida como o “wilsonionismo”, e ficou registrada pelo
presidente Wilson em um documento contendo seus famosos “Quatorze Pontos” que constituíam a sua receita para um
mundo mais pacífico e seguro.
158
Poder-se-ia argumentar que se a concepção de Hintze está correta (de que Estados que gozam de segurança têm maior
facilidade de se tornarem ou de permanecerem, democráticos), então, estender as garantias de segurança a Estados como a
Ucrânia, ou preservar alianças já existentes com Estados como a Alemanha, Japão e Coréia do Sul, é precisamente o que
os Estados Unidos deveriam fazer. De fato, ambos os governos de Bush e Clinton, aderiram a uma visão global que
determina aos Estados Unidos, a única superpotência remanescente, a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio de
poder na Europa e no leste asiático. Questiona-se a capacidade dos Estados Unidos preservarem um tipo de ambiência
internacional que seja permeável à difusão da democracia e da interdependência econômica, mediante a prevenção da
“renacionalização” das políticas de segurança de outros Estados, e prevenção da possibilidade de um vácuo de poder
regional. Para consultar análises críticas desta política, ver de Christopher Layne, “The Unipolar Illusion: Why New Great
Powers Will Rise”, International Security, Vol. 17, Nº. 4, (Primavera 1993), pp. 5-51; Layne, “American Grand Strategy
After the Cold War: Primacy or Blue Water?”, em Schwarz F. Hermann, ed., American Defense Annual (Nova York:
Lexington Books, 1994); e de Layne e Schwarz, “American Hegemony”.
66
guerras e as disputas de segurança entre grandes potências democráticas, são
impossíveis de ocorrer159.
Desta forma, é dito que não há qualquer necessidade de preocupação com relação
a futuros desafios de grandes potências, como o Japão e a Alemanha, ou com relação à
distribuição de poder entre os Estados Unidos e aqueles Estados, a não ser que Japão
ou Alemanha fosse retroceder para o autoritarismo160. E a razão pela qual os Estados
Unidos não precisam ficar preocupados com a emergência de grandes potências como
o Japão e Alemanha é simples: estes Estados são democracias , e democracias não
lutam entre si.
Os proponentes atuais de uma teoria liberal para a política internacional
construíram uma visão atrativa de uma paz perpétua, dentro de uma zona de paz e
prosperidade. Mas essa “zona de paz” constitui uma ilusão. Não há qualquer evidência
de que a democracia, ao nível unitário (de Estados), anule os efeitos estruturais da
anarquia em nível do sistema de política internacional. De modo semelhante, não há
qualquer evidência que sustente a teoria correlacionada: de que a interdependência
econômica leva à paz161. Ambas as idéias têm estado em voga por algum tempo. O fato
de elas serem tão amplamente aceitas como o fundamento para a teoria das relações
internacionais demonstra que, para alguns estudiosos, as “teorias” são confirmáveis
pelo número de testes no mundo real em que elas falharam.
Os proponentes da teoria liberal nas relações internacionais podem argumentar,
como Russet o faz, que as abordagens liberais da política internacional não falharam,
mas ao invés disso, ainda não foram testadas162. Mas isto é o que os desapontados
adeptos de visões ideológica globais sempre afirmam, quando as suas crenças são
suplantadas pela realidade.
Se os dirigentes políticos norte-americanos permitirem-se ficar fascinados pela
visão sedutora, mas falsa, do futuro proporcionada pela Teoria da Paz Democrática, os
Estados Unidos estarão mal preparados para formular uma grande estratégia que irá
159
Robert Jervis, “The Future of World Politics: Will It Resemble the Past?”, International Security, Vol. 16, Nº. 3 (Inverno
1991/92), pp. 39-73.
160
Para um exemplo relativo a esta argumentação ver James M. Goldgeier e Michael McFaul, “A Tale of Two Worlds: Core
and Periphery in the Post-Cold War Era”, International Organization, Vol. 46, Nº. 3, (Primavera 1992), pp. 467-491.
161
[N.T.] Um adágio popular nos Estados Unidos, durante os anos de 2001 e 2002 dizia que: Dois países que têm o Mac
Donalds, nunca entrara em guerra.
162
Russet, “Grasping the Democratic Peace”, p. 9, afirma que os princípios Kantianos e Wilsonianos ainda não tiveram
uma oportunidade real para operar na política internacional.
67
projetar os seus interesses num emergente mundo, caracterizado por uma grande
competição multipolar pelo poder.
De fato, enquanto a visão global Wilsoniana sustentar a política externa norteamericana, os dirigentes políticos estarão cegos para a própria necessidade de ter uma
grande estratégia, porque a teoria liberal de política internacional conceitua como não
existente, (exceto com relação a não democracias), o principal fenômeno que está no
coração de qualquer estratégia: a guerra, a formação de equilíbrios de poder, e as
preocupações concernentes à distribuição relativa de poder entre as grandes potências.
Mas ao final, como admitem seus proponentes mais articulados, a teoria liberal das
relações internacionais é baseada em esperanças, e não em fatos163.
Numa análise final, o mundo permanece sendo o que ele sempre foi: a política
internacional continua a ocorrer numa ambiência anárquica, competitiva, e de autoajuda. Esta realidade tem que ser encarada, porque ela não poder ser contornada. Em
função do que está em jogo, os Estados Unidos, nos próximos anos, não podem arcar
com uma política externa ou, com o discurso intelectual que dá o suporte a esta
política, forjados por abordagens que sejam baseadas num pensamento esperançoso.
163
Russet, “Grasping the Democratic Peace”, p. 136, argumenta que “inteirar-se das fontes da paz democrática pode ter o
efeito de uma profecia que se autoconsuma. Cientistas sociais, algumas vezes, não só criam realidades, como as analisam
também. Na medida em que as normas guiam o comportamento, a repetição destas normas ajuda a torná-las efetivas.
Repetir as normas, como princípios descritivos, pode ajudar a torná-las verdades”
68