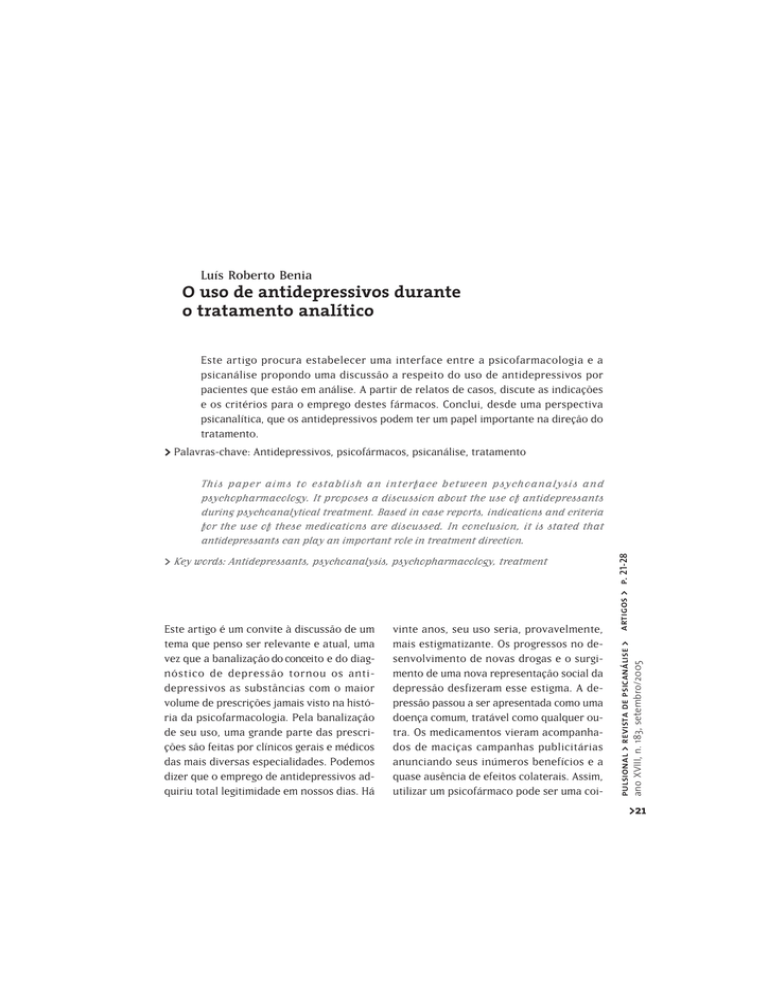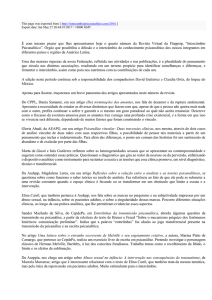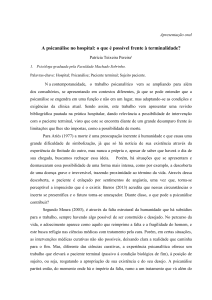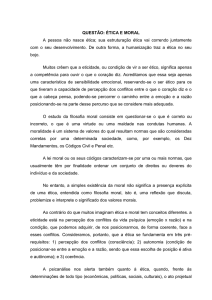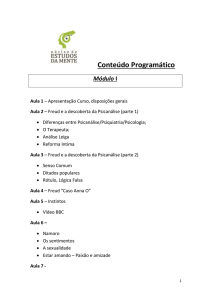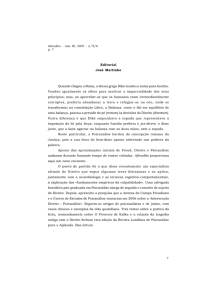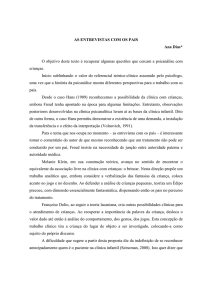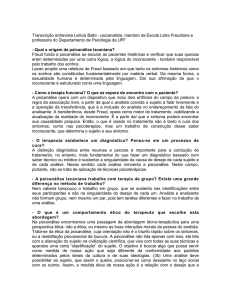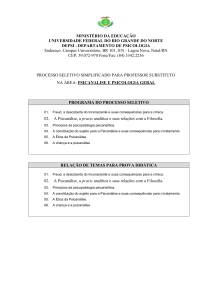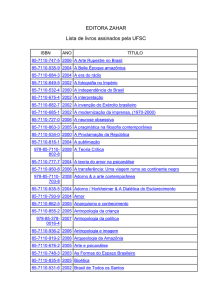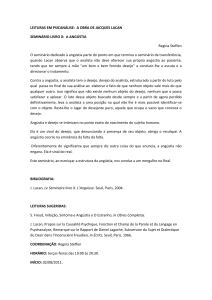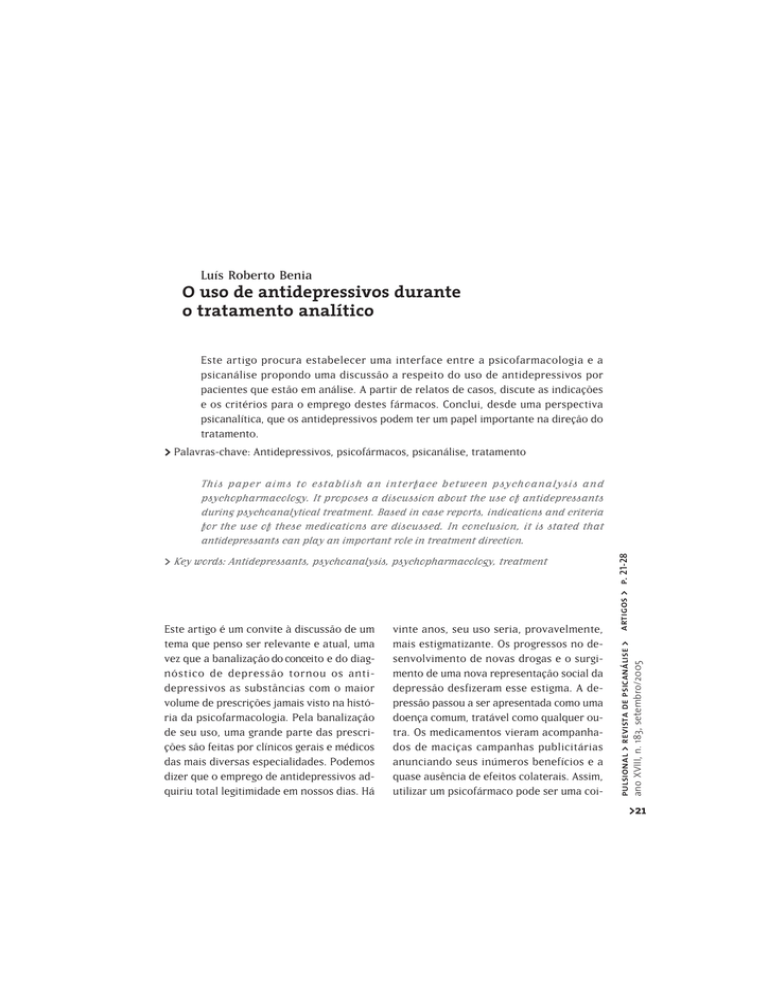
Luís Roberto Benia
O uso de antidepressivos durante
o tratamento analítico
Este artigo procura estabelecer uma interface entre a psicofarmacologia e a
psicanálise propondo uma discussão a respeito do uso de antidepressivos por
pacientes que estão em análise. A partir de relatos de casos, discute as indicações
e os critérios para o emprego destes fármacos. Conclui, desde uma perspectiva
psicanalítica, que os antidepressivos podem ter um papel importante na direção do
tratamento.
> Palavras-chave: Antidepressivos, psicofármacos, psicanálise, tratamento
Este artigo é um convite à discussão de um
tema que penso ser relevante e atual, uma
vez que a banalização do conceito e do diagnóstico de depressão tornou os antidepressivos as substâncias com o maior
volume de prescrições jamais visto na história da psicofarmacologia. Pela banalização
de seu uso, uma grande parte das prescrições são feitas por clínicos gerais e médicos
das mais diversas especialidades. Podemos
dizer que o emprego de antidepressivos adquiriu total legitimidade em nossos dias. Há
vinte anos, seu uso seria, provavelmente,
mais estigmatizante. Os progressos no desenvolvimento de novas drogas e o surgimento de uma nova representação social da
depressão desfizeram esse estigma. A depressão passou a ser apresentada como uma
doença comum, tratável como qualquer outra. Os medicamentos vieram acompanhados de maciças campanhas publicitárias
anunciando seus inúmeros benefícios e a
quase ausência de efeitos colaterais. Assim,
utilizar um psicofármaco pode ser uma coi-
pulsional > revista de psicanálise >
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
> Key words: Antidepressants, psychoanalysis, psychopharmacology, treatment
artigos > p. 21-28
This paper aims to establish an interface between psychoanalysis and
psychopharmacology. It proposes a discussion about the use of antidepressants
during psychoanalytical treatment. Based in case reports, indications and criteria
for the use of these medications are discussed. In conclusion, it is stated that
antidepressants can play an important role in treatment direction.
>21
artigos
pulsional > revista de psicanálise >
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
>22
sa absolutamente natural para um grande
número de pessoas assim como prescrevêlos também é bastante óbvio para grande
número de médicos. A representação mais
comum que as pessoas fazem em relação a
esta questão pode ser exemplificada da seguinte forma: “... me sinto mal, este mal tem
um nome: é depressão. É tratável com remédios, então vou ao médico para que ele me
receite um remédio.” Para muitos, principalmente aqueles que nunca tiveram contato
com outros pontos de vista, usar um antidepressivo é apenas estar fazendo a coisa certa: cuidar da própria saúde, seguir a
prescrição, tentar resolver o problema. Se o
alívio dos sintomas é obtido, está tudo bem,
segue-se em frente. Se o tratamento é ineficiente ou parcialmente eficiente, o sujeito
passa a esperar que novos medicamentos
possam resolver seu problema. Não é comum que os pacientes e médicos questionem o modelo de tratamento. Não há, como
afirma Jerusalinsky (2001), uma interrogação sobre a posição do sujeito que padece,
à medida que este modelo supõe que este
sujeito seja o da neurofisiologia, e não o sujeito da linguagem.
Tendo em vista todo este quadro, muitos psicanalistas têm tecido críticas bastante duras
a este paradigma que, apoiado nas pesquisas psicofarmacológicas, se tornou hegemônico na psiquiatria: o do sofrimento psíquico
como um resultado da condição bioquímica
do indivíduo. A maioria dos artigos que discutem esta questão tem apontado na seguinte direção: a psicofarmacologia não
passa de uma nova forma de ilusão, de uma
tentativa de satisfação fácil e imediata peculiar à cultura contemporânea, de uma resposta da psiquiatria à atitude geral de nossa
sociedade, que tem como meta banir qualquer infortúnio ou mal-estar. Ao suprimir o
mal-estar, a ingestão de medicamentos acaba com a palavra e retira a responsabilidade do sujeito sobre o seu próprio sofrimento.
Todavia, a realidade nos mostra um cenário
bem mais complexo. Os psicanalistas efetivamente encaminham pacientes para serem
medicados, além de que essa é uma prática
comum em serviços de saúde mental que
contam com equipes interdisciplinares. Na
verdade, o número de encaminhamentos
vem aumentando, e pouco se discute teoricamente sobre este assunto. O que necessitamos é uma abordagem que colabore
para a construção de uma interface entre a
psicanálise e a psicofarmacologia que, hoje,
torna-se cada vez mais necessária. Ou seja,
adota-se uma postura estereotipada e estéril, como afirma Pereira (1997), situando as
ciências médicas no campo do “adversário”
que busca ocultar a dimensão subjetiva expressa nos sintomas. Afinal de contas, quais
são os critérios para encaminhamento de
um paciente? Quando, no curso de um tratamento, estaria indicado o uso de um psicofármaco?
O tratamento psicanalítico, como era de se
esperar, não estará imune ao imaginário que
permeia a cultura. Os pacientes eventualmente perguntarão ao clínico sobre a possibilidade de tomar algum remédio. Esta
questão pode assumir diversas formas, mas,
na maioria das vezes, trata-se de um pedido de amenizar a angústia ou a dor. Em um
ensaio publicado em 2001, Felipe Lessa da
Fonseca afirma que
... a disposição moral para lidar com a angústia e com as perdas exige do sujeito alguma
tolerância à dor. Esta disposição é alterada pelo
artigos
O uso da medicação, conforme o autor, na
busca da atenuação do sofrimento, resultaria na redução da tolerância do sujeito à dor
e de sua capacidade de elaboração da angústia. Contudo, mais adiante no mesmo artigo,
Lessa afirma que os remédios, em vários casos, favorecem a situação analítica: “O alívio da dor gerada pela sensibilidade do
sujeito ao se confrontar com a realidade possibilita o diálogo e propicia calma ou ânimo
suficientes para que a análise possa
prosseguir.”O autor não estabelece quais são
as circunstâncias em que o uso da medicação seria benéfico, mas poderíamos resumir
a problemática que ele apresenta na seguinte questão: como determinar o quanto de
angústia ou sofrimento um determinado sujeito pode suportar?
Para dar resposta a esta questão, os profissionais e pacientes situam-se entre dois extremos: por um lado, a idealização da
tolerância à dor e, por outro, a proposta de
alívio imediato por meio das medicações. Encontrar o equilíbrio entre estes dois pólos
nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso
considerar a tolerância do próprio analista
frente à dor do paciente. Ele pode não suportar a angústia de escutar o sofrimento
jogado na transferência, e sentir-se mais
seguro ao ver seu paciente medicado. Mas
também pode, ao contrário, considerar o paciente muito “queixoso” ou “demandante” e
acreditar que o paciente deve sempre
“agüentar um pouco mais”. Mesmo considerando que toda demanda também é demanda de amor e que atendê-la de forma
imediata deslocaria o analista de seu lugar,
transformando a análise em um ato de sugestão ou de mera empatia, poderíamos, por
outro lado, pensar que não atender demanda alguma transforma a análise em uma prática em que o elemento a destacar é a
onipotência do analista e a idealização da
própria psicanálise. Para este, a psicanálise
representaria uma teoria totalizante e definitiva da vida humana e lhe é difícil admitir
a necessidade de dialogar com outras disciplinas e, mais ainda, aceitar que outras intervenções terapêuticas podem ser
necessárias e até mesmo imprescindíveis.
Eis uma frase que se ouve com relativa freqüência de pacientes que vêm para uma avaliação psiquiátrica: “Tomar remédio significa
uma derrota para mim. É como se eu não
pudesse vencer por minhas próprias forças”.
À primeira vista parece revelar um esforço
do paciente em tentar lidar com seu próprio
mal-estar. Mas, por outro lado, poderíamos
perguntar-lhe quem é, afinal, que lhe disse
que utilizar um psicofármaco é o signo do
fracasso? Tanta exigência de si mesmo não
é muito produtiva no processo terapêutico.
Apenas demonstra o tipo de relação persecutória que o sujeito estabelece com o Superego e que, provavelmente, está sendo
colocada em ato na transferência. Os analistas em geral olham com desconfiança
tudo que lhes pareça como um atalho para
atenuar a dor de existir.
Mas não devemos pensar que, ao proscrever
tudo que deriva das emoções e dos afetos
como fenômenos parasitas, estaremos livres
dos seus efeitos.
Apresento o relato de um caso que é ilustrativo desta questão, em especial porque a
paciente é também psicanalista. Esta paciente vivia um período extremamente difí-
pulsional > revista de psicanálise >
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
remédio que, além dos efeitos previsíveis, descompromete o sujeito de sua responsabilidade pela sua própria vida psíquica.
>23
pulsional > revista de psicanálise > artigos
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
>24
cil em sua vida, do qual falava em sua própria análise, enfrentava crises de angústia,
insônia e, em conseqüência disso, um quadro de fadiga que lhe prejudicava imensamente em seu trabalho. Quando atendia
seus pacientes, a angústia lhe surgia provocando uma espécie de ruído de fundo que
lhe tirava toda a concentração, prejudicando sua escuta. Em certas ocasiões, o volume
deste ruído de fundo aumentava tanto que
chegava ouvir as batidas de seu coração.
Após algumas semanas neste estado percebeu que não conseguia desligar-se totalmente de si para focar sua atenção no que
os pacientes lhe diziam. Como se sentia
muito fragilizada, a demanda que lhe dirigiam passou a ser quase insuportável. Ao
mesmo tempo, se sentia responsável pelo
seu trabalho e, a cada fim do dia, ficava
exaurida, como resultado das noites de insônia e do esforço subjetivo necessário para
seguir adiante. Na seqüência, uma doença
física claramente desencadeada pelo seu
estado afetivo lhe tirou vários dias de circulação. O que fazer quando o próprio corpo
não faz silêncio? Embora relutante, a atitude mais corajosa desta mulher talvez tenha
sido a de reconhecer suas limitações (e da
própria psicanálise) nestas circunstâncias e
buscar auxílio na psicofarmacologia. A partir daí, pôde continuar seu trabalho, o que,
afinal, era o seu desejo. Ou seja, nem todo
pedido de alívio de sintomas significa uma
fuga do tratamento, simplesmente há momentos em que é preciso calar a dor, momentos em que a dor não serve para nada.
Se o sujeito é um efeito de linguagem, o corpo
orgânico é o substrato material da subjetividade. O cérebro serve de suporte para a passagem do reino da natureza para o reino da
cultura. Ele se regula pela cultura e se modifica por meio das relações sociais de cada
sujeito. Tudo que lhe concerne, percepções,
afetos, memórias, estará marcado pelo simbólico. Como sabemos, o corpo e o cérebro
estão atravessados por uma ordem diversa
da ordem biológica. Porém, isto não significa que a ordem biológica deixe de operar e,
algumas vezes, de forma tão radical que se
torna refratária a qualquer operação simbólica. Portanto, qualquer tratamento que pretenda interpelar o sujeito deveria ter uma
preocupação mínima com a manutenção das
funções vitais, ou, pelo menos, deveria estar atento para quando estas são colocadas
em risco. Nos estados depressivos severos,
a insônia, a perda de peso, a apatia, quando se intensificam e se prolongam no tempo, podem provocar uma cascata de eventos
altamente danosos à vida do paciente. Deterioração da saúde física, incapacidade para
o trabalho, perda do emprego e ruptura de
laços familiares são situações que, uma vez
deflagradas, são difíceis de reverter e, por
sua vez, realimentam o estado melancólico.
Neste quadro, a própria continuidade do
tratamento pode ficar comprometida.
Em um outro exemplo, tratava-se de uma
paciente cujo quadro depressivo iniciou após
um rompimento amoroso. O analista a convocava a falar da perda, fazer o trabalho de
luto necessário para que fosse adiante com
sua vida. Contudo, era-lhe difícil sair da posição “queixosa”. Por mais que falasse da
perda e tentasse situá-la na sua história,
sempre retornava ao mesmo lugar de lamúrias e compadecimento de si. A esta situação
o analista não assistia passivamente, porém
suas intervenções não mudavam aquele discurso. Até então, do ponto de vista psicopa-
ções a respeito. Tampouco ficamos sabendo
o que acontece com as pessoas depois que
deixam de vir aos nossos consultórios, apenas apostamos que nosso trabalho tenha
tido algum efeito. Uma pesquisa empírica que
investigasse estas questões seria da maior
importância. Em relação ao caso citado, algumas perguntas ficaram. É possível que a
paciente tenha construído essa seqüência
de fracassos que culminou na perda do emprego, que isto se tornou um bom pretexto
para sair de um tratamento que ela acreditava não estar lhe ajudando e que talvez estivesse confirmando um discurso de que
ninguém podia lhe ajudar, como é comum em
sujeitos depressivos. É também possível que
o pedido pelo remédio tenha sido uma tentativa de se poupar do trabalho de se implicar no seu sofrimento, como acontece em
muitos casos. Mas será que o pedido por uma
medicação, neste momento específico, não
seria algo como dizer “... reconheço que algo
vai mal, que tem a ver comigo, mas que depois desse tempo todo chafurdando nessa
lama estou pedindo água, pois isso é mais
forte do que eu?” Iniciar neste momento
uma medicação não poderia fazer um desvio
nessa espiral descendente e preservar a integridade social da paciente, cujo último recurso era o seu trabalho?
É consenso entre diversos autores, ao analisar a questão da depressão e dos antidepressivos desde um ponto de vista
cultural, que essas drogas ganham importância à medida que as exigências do mundo de
hoje são a atividade, a eficiência prática, a
produção material e o consumo. Todavia,
não podemos perder de vista a realidade específica de um trabalhador brasileiro que,
muito diferente de um europeu, não conta
pulsional > revista de psicanálise > artigos
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
tológico, o que se apresentava era um luto
difícil, um sentimento de tristeza constante
e uma inibição em relação a qualquer novo
investimento que a permitisse sair daquela
condição. Após alguns meses, a paciente começou a ter dificuldades também em seu trabalho. Além do seu visível estado de
miserabilidade, não cumpria mais suas tarefas satisfatoriamente nem os prazos estabelecidos para elas, de modo que ficou
ameaçada de perder o emprego. Isto a preocupou bastante, mas não foi suficiente para
promover uma mudança efetiva em sua atitude perante a vida. Neste momento, perguntou ao analista sobre medicamentos e se
podia lhe indicar um psiquiatra para ver esta
questão. Sem demonstrar-se favorável ao
uso de remédios, mas não querendo ser totalmente contrário, o analista optou por
encaminhar a paciente a mim para uma
avaliação. Em uma conversa que tivemos por
ocasião do encaminhamento, o colega me
disse que acreditava não ser necessário nenhum remédio, que se tratava de uma paciente bastante queixosa e com um discurso
histérico. De posse dessa informação a entrevistei e, de fato, não me pareceu um quadro grave, pois não havia risco de passagem
ao ato ou outros agravantes, então decidi
não lhe prescrever nada e lhe indiquei que
continuasse sua análise. Algumas semanas
mais tarde, o analista me contou que a paciente havia perdido o emprego e abandonado o tratamento, com a justificativa de que
não tinha mais dinheiro. Infelizmente, de
um ponto de vista científico, não temos
como saber exatamente o que causou o
abandono do tratamento, uma constelação
de fatores provavelmente, ficamos apenas
tecendo considerações e fazendo suposi-
>25
pulsional > revista de psicanálise > artigos
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
>26
com uma rede de proteção social, de modo
que a incapacidade para o trabalho significa, na maioria das vezes, a precarização das
condições de vida, com todas as conseqüências devastadoras para a subjetividade
(Benia, 2000).
A questão que se apresenta na frase “isso é
mais forte do que eu” é de interesse porque,
se em alguns casos pode parecer uma não
implicação, em outros, revela o quanto o
sujeito pode ficar à mercê de uma pulsão
destrutiva contra a qual nada pode fazer.
Cito como exemplo o caso de uma paciente
que entra em uma crise me la n c ó l i c a
a l g umas semana s a p ó s te r tido um
quadro grave de Púrpura Trombocitopênica
e ter se submetido a uma cirurgia para
retirada do baço. Apesar de estar curada da
doença, ela entra em crise, que se manifesta
principalmente por angústia, insônia, e uma
intensa ideação suicida que assaltava a
paciente e a deixava perplexa, pois tinha
características de uma alucinação: “Eu sei
que não quero morrer”, dizia, ”mas quando
me vem este pensamento eu não penso em
mais nada, fico transtornada, se continuar
assim eu vou me matar”. Dias depois tentou
efetivamente o suicídio. Isso era realmente
mais forte. Esta é uma das situações em que
o sujeito se apresenta num estado de
fragilidade tal que seu corpo se torna real
demais para que a palavra tenha alguma
eficácia. Nestas condições, o uso de um
antidepressivo pode refrear a fúria
melancólica dirigida ao Ego e permitir que
um trabalho analítico aconteça.
Como afirma Sciara (2001), há momentos
extremamente dolorosos na vida de um sujeito que podem ser estruturantes se os deixarmos desenvolver na transferência, sem
se precipitar em dar uma resposta imediata
aos sintomas. Ocorre que isto também tem
um limite: o analista deveria perceber quando o trabalho na transferência não é mais
capaz de dar um suporte ao sujeito, quando
uma ruptura de qualquer ordem se torna
iminente. Reconhecemos como regra geral
de todo o tratamento o fato de que a angústia é mobilizadora e propulsora do trabalho
analítico; mais que isso, a angústia seria um
tempo necessário para a constituição do sujeito do desejo (Lacan, 1962-1963). Porém é
preciso lembrar que a angústia também predispõe ao agir, ou seja, pode precipitar uma
passagem ao ato: ruptura completa, manifestação da qual o significante não pode dar
conta e com conseqüências que o significante não pode amortecer (Jerusalinsky, 2002).
Lacan situa a angústia no máximo da dificuldade e no mais vivo do movimento. No nível máximo de dificuldade está o embaraço,
o não saber mais o que fazer de si (Lacan,
1962-1963). A conjunção da angústia com o
embaraço resulta na passagem ao ato, ou
seja, para além da linguagem impõe-se a
motricidade através da qual o sujeito tenta
literalmente sair de cena, salto no vazio.
Aqui se impõe a pergunta: é possível assistir passivamente uma situação clínica em
que o risco de uma passagem ao ato se faz
presente? Poder-se-ia responder que a tarefa do analista é interpretar o desejo inconsciente, que qualquer ato fora disto é se
colocar em uma relação imaginária. Mas se
reconhecemos que a passagem ao ato é um
movimento potencialmente sem retorno arriscamos, por temer que a análise se situe
em um eixo imaginário ou “ortopédico”, não
poder mais ter tratamento algum. De nada
adianta, depois que o paciente se atirou do
passam a poder falar de outras coisas, e se
observa de fato um outro tipo de engajamento no trabalho analítico. Esta impressão
clínica, baseada em uma observação pessoal e no relato de pacientes e de colegas,
deveria ser posta a prova e confirmada por
outros estudos, na medida em que pode servir para contrapor o preconceito reducionista que afirma que os psicofármacos são, em
todas as circunstâncias, prejudiciais à análise.
Em um artigo publicado em 2002, Urânia
Tourinho Peres afirma que, como a medicina tem sempre uma promessa de cura, o encaminhamento de um paciente pelo analista
ao psiquiatra implica um ato de sugestão do
tipo “Estou lhe enviando a alguém que sabe
o que você tem e que vai satisfazê-lo, curálo”. Talvez possamos introduzir uma outra
mensagem em nossos encaminhamentos: o
remédio tem um lugar bastante específico
no tratamento, ele dá apenas um suporte, e
mesmo assim temporário, reduzindo a intensidade do sofrimento para que o sujeito
possa seguir adiante tanto no trabalho de
análise como em sua vida. Ele não é o operador fundamental da cura e não se opõe à
condição de sujeito do paciente. Mas para
mudar o sentido do ato de medicar se faz
necessário um trabalho articulado entre psiquiatras e psicanalistas, aprofundando esta
discussão e aprimorando os critérios em que
a medicação deve ou não ser utilizada, bem
como compreendendo os seus efeitos sobre
a subjetividade.
Referências
BENIA, Luís Roberto. Desemprego: luto ou melancolia. 2000. 110 p. Dissertação (mestrado em
Psicologia Social e Institucional). Universidade
pulsional > revista de psicanálise > artigos
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
alto de um prédio, ir lá embaixo e perguntarlhe: “Você quer falar sobre isso?”.
O modo pelo qual os antidepressivos atuam
não nos é totalmente conhecido, mas certamente não se trata de efeito placebo. Sabemos que modificam a neurotransmissão
cerebral, quais os neurotransmissores envolvidos e que, em função dessas alterações fisiológicas, reduzem-se os sintomas da
depressão. Alguns autores, na tentativa de
estabelecer uma interface entre a biologia e
a psicanálise, afirmam que esses fármacos
agem no nível da pulsão, alterando as intensidades pulsionais (Fonseca, 2001). Outros,
que os medicamentos modificam a experiência do real e que agem pela modulação do
gozo (Bogochvol, 2001). Trata-se de um campo de pesquisa aberto, com muitas questões
ainda sem resposta.
Os métodos de avaliação do efeito de um
medicamento também diferem muito nos
campos psiquiátrico e psicanalítico. Do ponto de vista psiquiátrico, a remissão dos sintomas é o principal, se não único, critério
de cura. Na psicanálise, se trata de uma mudança discursiva, isto é, uma mudança no
modo como um sujeito toma a palavra, sacando-a do indeterminado da língua e imprimindo na sua enunciação um traço
particular. Este estilo de ocupar um lugar no
discurso, que de certa forma constitui o sintoma neurótico, poderá ser “tratado” através
de uma medicação? Provavelmente não.
Porém, é comum que os pacientes relatem,
após algum tempo utilizando um antidepressivo criteriosamente prescrito, uma modificação na sua própria fala na análise.
Experimentam uma certa abertura em seu
discurso, antes repetitivo e insistente em
lamentações ou em queixas psicossomáticas,
>27
Federal do Rio Grande do Sul.
BOGOCHVOL, Ariel. Sobre a psicofarmacologia. In:
MAGALHÃES, M. Cristina Rios (org.). Psicofarmacologia e psicanálise. São Paulo: Escuta, 2001.
p. 35-62.
FONSECA, Felipe Lessa da. Tolerâncias: psicotrópico, masoquismo e transferência. In: MAGALHÃES , M. Cristina Rios (org.). Psicofarmacologia
e psicanálise. São Paulo: Escuta, 2001. p. 97-114.
JERUSALINSKY, Alfredo. Novas proposições sobre
acting out e passagem ao ato. Correio da APPOA.
Porto Alegre, n. 103, p. 46-50, jun/ 2002.
_____ Com uma boa dose de carbolítio e um
bom ansiolítico você não sentirá aflição pela
morte de seu pai. Correio da APPOA. Porto Alegre, n. 90, p. 33-6, maio/2001.
LACAN, Jacques. Seminário “A angústia”, não pu-
blicado, 1962-1963.
PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Psicanálise e psicofarmacologia: novas questões de um debate
atual. Pulsional Revista de Psicanálise. São Paulo, ano X, n. 99, p. 22-32, jul/1997.
PERES, Urânia Tourinho. A psicanálise e os psicofármacos nas depressões. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. São
Paulo, ano V, n. 1, p. 99-110, mar/2002.
SCIARA, Louis. Os antidepressivos curam da
transferência? Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Porto Alegre, ano IX, n.
21, p. 57-64, dez/2001.
Artigo recebido em novembro de 2004
Aprovado para publicação em março de 2005
PSICOWAY
pulsional > revista de psicanálise > artigos
ano XVIII, n. 183, setembro/2005
Profissionais e Instituições de saúde mental
>28
www.psicoway.com.br
Faça de seu evento, curso, seminário ou lançamento um sucesso!!!
Utilize nossos serviços de mala direta via web
Eficaz: População selecionada
Divulgação permanente: Por se tratar de uma mala direta associada
a um site, temos constantemente aumentado nosso número de e-mails
Rapidez: Em questão de horas seu e-mail terá sido enviado
Ligue: (0xx11) 3672-4710 / 8187-5369
e-mail: [email protected]