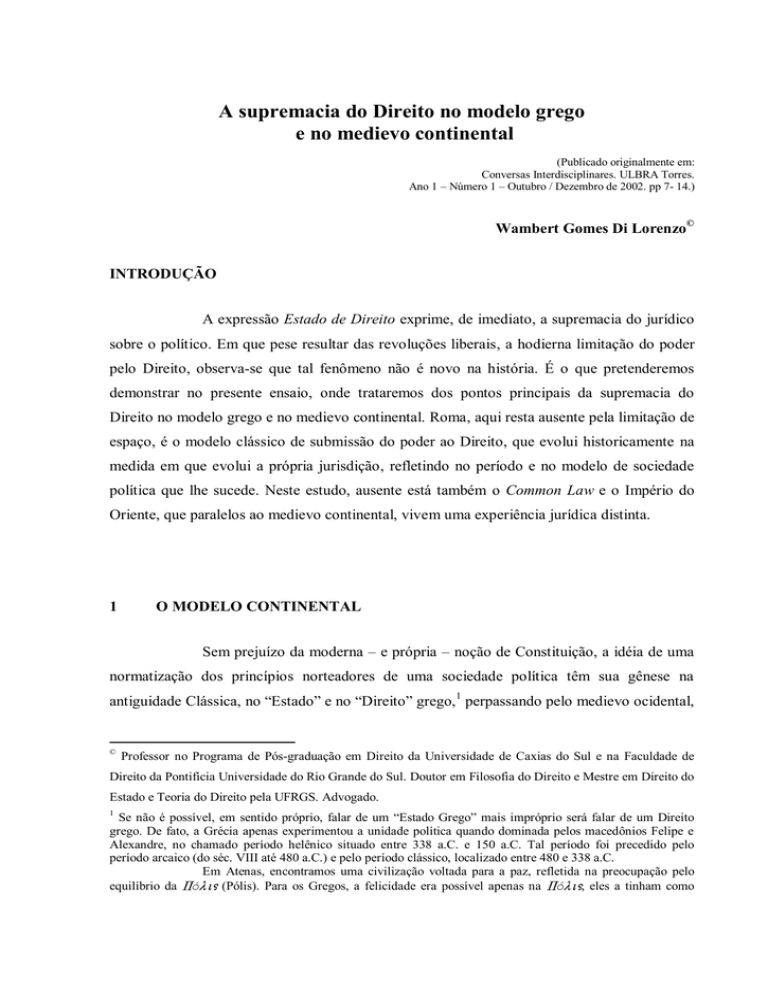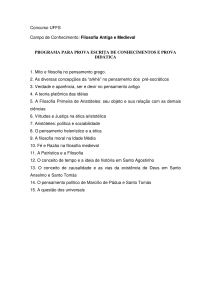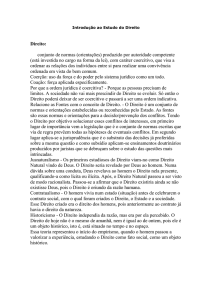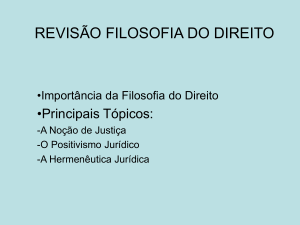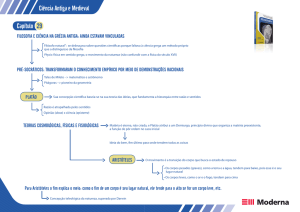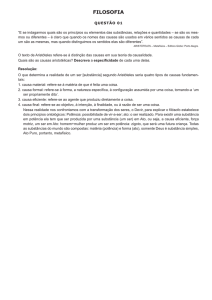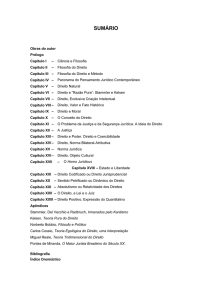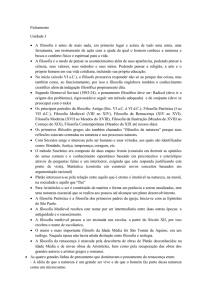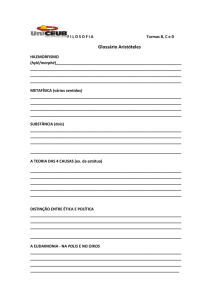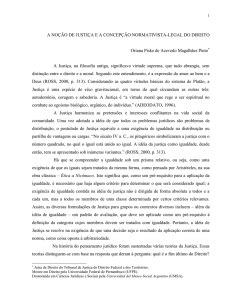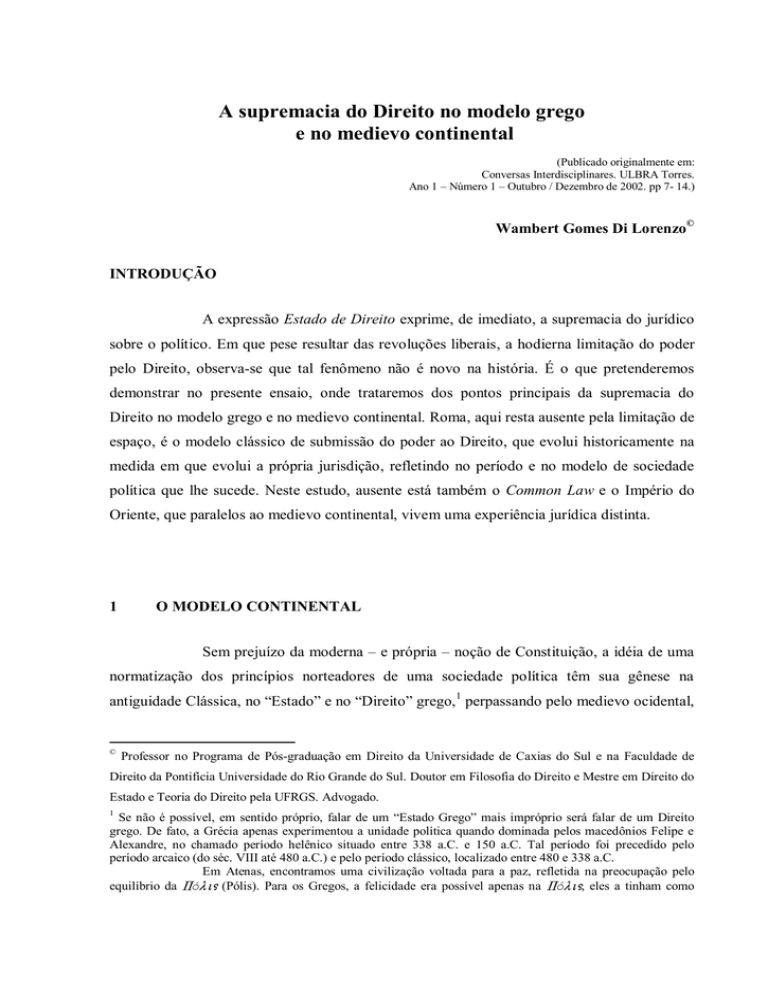
A supremacia do Direito no modelo grego
e no medievo continental
(Publicado originalmente em:
Conversas Interdisciplinares. ULBRA Torres.
Ano 1 – Número 1 – Outubro / Dezembro de 2002. pp 7- 14.)
Wambert Gomes Di Lorenzo©
INTRODUÇÃO
A expressão Estado de Direito exprime, de imediato, a supremacia do jurídico
sobre o político. Em que pese resultar das revoluções liberais, a hodierna limitação do poder
pelo Direito, observa-se que tal fenômeno não é novo na história. É o que pretenderemos
demonstrar no presente ensaio, onde trataremos dos pontos principais da supremacia do
Direito no modelo grego e no medievo continental. Roma, aqui resta ausente pela limitação de
espaço, é o modelo clássico de submissão do poder ao Direito, que evolui historicamente na
medida em que evolui a própria jurisdição, refletindo no período e no modelo de sociedade
política que lhe sucede. Neste estudo, ausente está também o Common Law e o Império do
Oriente, que paralelos ao medievo continental, vivem uma experiência jurídica distinta.
1
O MODELO CONTINENTAL
Sem prejuízo da moderna – e própria – noção de Constituição, a idéia de uma
normatização dos princípios norteadores de uma sociedade política têm sua gênese na
antiguidade Clássica, no “Estado” e no “Direito” grego,1 perpassando pelo medievo ocidental,
©
Professor no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e na Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul. Doutor em Filosofia do Direito e Mestre em Direito do
Estado e Teoria do Direito pela UFRGS. Advogado.
1
Se não é possível, em sentido próprio, falar de um “Estado Grego” mais impróprio será falar de um Direito
grego. De fato, a Grécia apenas experimentou a unidade política quando dominada pelos macedônios Felipe e
Alexandre, no chamado período helênico situado entre 338 a.C. e 150 a.C. Tal período foi precedido pelo
período arcaico (do séc. VIII até 480 a.C.) e pelo período clássico, localizado entre 480 e 338 a.C.
Em Atenas, encontramos uma civilização voltada para a paz, refletida na preocupação pelo
equilíbrio da ó
(Pólis). Para os Gregos, a felicidade era possível apenas na ó , eles a tinham como
2
levando Max Weber a afirmar a existência, no medievo, de um Estado de Direito fundado
não em ordenamentos jurídicos objetivos mas sim em direitos subjetivos” (WEBER, 1944, p.
223- 229).
A afirmação de Weber nos remete para a posterior abordagem sobre o
consenso na formação das cartas constitucionais, já que as Lex Barbarorum nada mais eram
que consolidação dos costumes e valores (materialmente verdadeiras constituições) que,
sobretudo nos povos germânicos, eram fruto do consensus político (GILISSEN, 2. ed., p.
183).
Trata-se de uma meia verdade, segundo José Reinaldo de Lima Lopes, a
afirmação de que o ocidente deve mais a Roma a sua tradição jurídica (LOPES, 2000, p. 34).
Gilissen chega a afirmar que “o sistema jurídico da Grécia antiga é uma das principais fontes
históricas dos direitos da Europa ocidental” (ibidem). Em que pese a demasia da segunda
afirmação, a verdade é que, a partir dos sofistas, temos uma apreensão acerca da liberdade,
inaugurando na filosofia uma preocupação com a lei: quem faz, como faz, por que faz, e como
mudá-las. Devemos aos sofistas a primeira doutrina do Direito Natural como justificadora do
Direito Positivo e de um Direito Estatal estruturado em um Direito Natural. Lê-se Em
Antígona:
“A tua lei não é lei dos Deuses; apenas o capricho ocasional de um
homem. Não acredito que tua proclamação tenha tal força que possa
substituir as não escritas pelos deuses. Porque essas não são leis de
hoje, nem de ontem, mas de todos os tempos: ninguém sabe quando
aparecerem. Não, eu não iria arriscar o castigo dos deuses para
satisfazer o orgulho de um pobre rei. (SÓFOCLES, p. 22)
Apesar de não ter havido um divórcio entre política e religião ou um abandono
da religiosidade, houve uma laicização do Direito, em que a promulgação das leis e sua
revogação passaram a ser assuntos humanos. Segundo José Reinaldo, a racionalização do
Direito grego não seria possível sem o abandono da idéia de que as leis são tradições herdadas
ou reveladas exclusivamente pelos deuses.
sentido e significado da própria vida, a condução dos negócios públicos, o destino de todos e de cada um. É no
Estado que o homem se desenvolve e é feliz, fora do Estado não há felicidade, fora do Estado só há a barbárie.
3
A lei positiva está no cerne do debate filosófico. Platão, afirma que a Lei é a
passagem do homem do Estado de Natureza para a civilização (LEAL, 1997, p. 24). Há em
Platão uma identidade entre a
(nômos, lei) e a
(nôus, razão) intrínseca à
identificação entre lei e moral. Tanto para Platão, quanto para Aristóteles, a Lei não é uma
força extrínseca sobre o indivíduo, mas algo a ele inerente. Ela constrange à prática da virtude
visando o bem de todos determinando, como exemplo, praticar atos de um homem bravo (por
exemplo, defender o Estado), de um homem temperante (controlar suas paixões) ou de um
homem calmo (não praticar a violência) (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, 1129 b 10-20).
Assim, em sentido amplo, o ato injusto é aquele contrário à lei. É também com relação à lei
que o homem será valorado socialmente dentro da
(Polis), pois tanto o homem
virtuoso quanto o respeitador da lei são considerados justos, quanto os ímprobos e desonestos
são considerados injustos.
A
(dikaiósini, Justiça) está no centro do sistema ético-moral
aristotélico. Em sentido amplo, para Aristóteles, justiça é sinônimo de
(areté, virtude).
Em sentido estrito é aquele elemento que ordena a vida, as relações humanas dentro da
. Justiça, em sentido particular, é a virtude política por excelência e está sempre
relacionada com a lei. Ela é dividida em justiça total e particular. A justiça total está ligada à
lei, assim como a injustiça total corresponde à injustiça contrária à lei e a justiça particular
significa igualdade, enquanto a injustiça correspondente, significa desigualdade.
À Lei cabe a efetivação da justiça distributiva. Ela é a justiça do legislador e
objetiva distribuir os bens da
do
com igualdade. A justiça corretiva é a justiça
(dikástis, Juiz). Ele a exerce ao julgar casos de transações voluntárias e
involuntárias, ao infligir punições e solucionar as disputas. “Ir ao juiz é ir à justiça, pois o
juiz ideal é, por assim dizer, a justiça personificada” (ARISTÓTELES. Ibidem, 1129 a 30).
Ela iguala os homens perante à Lei e objetiva restaurar a ordem quebrada pela
(adíkia, injustiça) . Como a distributiva, ela também busca a igualdade, não através
de uma proporção geométrica mas, aritmética. Ela iguala os homens na
interessando eles em si, mas a natureza do delito cometido.
, não
4
Ambas fazem parte da justiça legal. Segundo o Filósofo, como na justiça
distributiva, a resposta do que é justo será dada pelo legislador. É a lei que vai efetuar o “dar a
cada um o que e seu” que Kelsen chama de tautologia vazia. (KELSEN, 1998, p. 134).
Há uma identidade entre os conceitos de igualdade e legitimidade, sendo que o
segundo é mais amplo que o primeiro, pois “nem tudo que é ilegítimo é desigual, embora tudo
que seja parcial seja ilegítimo. A igualdade está relacionada com a legitimidade „como uma
parte está para o todo” (ibidem).
É o Estado que vai determinar o que é justo ou injusto. Na Ética, Aristóteles
afirma que uma coisa injusta é por natureza ou por lei. Por natureza é a injustiça, por lei é o
ato injusto. O ato justo também será chamado de ato legítimo por ser prescrito pelo legislador.
Estes atos são aqueles que tendem preservar para a
a felicidade e os elementos que a
compõe (1129b, 10 – 20).
O legislador deve buscar a paz antes da justiça, pois onde há a paz a justiça é
desnecessária. Sendo o estabelecimento da paz uma função do direito, Aristóteles identifica,
segundo Kelsen, a
com o Direito. Ela é tudo que a lei exige, uma virtude social,
o exercício da virtude pelos cidadãos em seus relacionamentos (MACINTYRE, 1991, p. 117).
Entretanto, ela governa apenas as relações entre os cidadãos livres e iguais, a
existe apenas para os cidadãos cujas relações são governadas pela lei (ARISTÓTELES, Ética,
1134ª, 15). Por tratar do “bem do outro”, essa forma de
é, em relação ao
próximo, uma virtude completa.
Legitimidade para Aristóteles é uma conformidade com o direito positivo. A
igualdade desta justiça e uma igualdade perante o direito. Entretanto, Aristóteles não é um
positivista como pretende Kelsen, não se limita a estudar e definir o direito positivo e não
renuncia ao conceito de
(justiça) enquanto
(virtude).
O “domínio das leis” (razão sem paixões) é, para Aristóteles, uma soberania
que eqüivale ao “governo de Deus e da Razão” que se contrapõe ao “impulso animal” inerente
à soberania dos homens. (Aristóteles. Política. Livro III, cap. XI). Daí, Aristóteles distingue a
Democracia em que a Lei é soberana da Democracia em que o povo exerce a soberania
5
através dos decretos da
(Eclésia, assembléia). Na primeira, os melhores cidadãos
estariam no poder, enquanto a segunda possibilitaria o surgimento de demagogos.
Destaca-se que a Lei de Sólon era decorada e recitada em forma de
poema. O cidadão educado na virtude era aquele educado na Lei, que não era apenas
fonte de instrução mas sobretudo de prazer. Dessa formação característica do homem
grego vem a obrigação das partes (o próprio autor, ou réu, falava perante o tribunal) de
provar o direito (além dos fatos) nos processos judiciais.
Havia clara distinção entre a Lei (aqui identificada com o próprio direito) e os
decretos oriundos da assembléia. Percebe-se claramente a supremacia da lei no Estado grego
pela possibilidade de ilegalidade dos decretos. Sendo possível uma ação de ilegalidade
(
, grafé paranomon) semelhante às atuais ações de inconstitucionalidade.
Prosperando a ação, tanto o autor quanto o presidente da assembléia que não a vetou
poderiam ser punidos.
Até o advento do liberalismo não há de se falar em Estado de Direito.
Entretanto, inegavelmente, a racionalização do poder na Grécia gerou técnicas de limitação do
poder e de seus titulares. Havia uma distinção entre o privado (
(
, idia) e o público
, demosia) e uma preocupação em contrapor à tirania uma democracia fundada na
distribuição das funções estatais através dos diversos órgãos e na participação dos cidadãos.
Não seria uma democracia “direta”. Esta, efetivamente, em toda história (inclusive na Suíça)
jamais existiu. Entretanto, as assembléias populares divididas em órgãos submetidos ao
“império da Lei” garantiam à democracia ateniense um exercício do poder popular protegido
da tirania pelos processos eletivos, pela rotatividade dos cargos (sendo inclusive proibida a
reeleição) e a proscrição dos eventuais demagogos.
A Lei era suprema na Grécia. Anterior ao poder político, o fundamentava
enquanto também o limitava. As constituições eram frutos de processos revolucionários que,
em Atenas, foram gradativamente aumentando a possibilidade de acesso dos cidadãos ao
poder.
6
2
O MEDIEVO CONTINENTAL
Constata-se no mundo grego uma supremacia do jurídico sobre o político, uma
limitação do poder pelo Direito. Posteriormente, a percepção de princípios análogos no
Regnum Medieval nos permitirá afirmar a existência de verdadeiros elementos do Estado de
Direito no Medievo onde o costume - que sendo portador dos valores eflui da ordem natural será a fonte primária do Direito.
Como ressalta Grossi, o costume é mais que uma motivação da consciência
jurídica resultado da repetição de singulares atos humanos. O costume é um fato natural que
constrange quase que inconscientemente a uma conduta por longo período de tempo. Conduta
que diz respeito não ao indivíduo em particular, pois não é ele isoladamente que racionaliza a
recepção da ordem natural, nem tampouco sua conduta individual importará para a
constatação de um costume, mas a consolidação de uma norma consuetudinária atine a
conduta de todo um grupo social. (GROSSI, 1999, p.88). Podemos assim dizer que o costume
é a força normativa e um fato social que emana da ordem natural.
Estão no cerne deste fenômeno dois princípios caracterizadores da ordem
política e jurídica medieval: a personalidade (ou pessoalidade) jurídica e o particularismo
jurídico. A personalidade persegue o indivíduo e é regra de exceção para o próprio
particularismo. Um diploma legal datado de 768, o Capitular de Pepino, o Breve, determina:
“Que todos os homens, tanto Romanos como Sálios, tenham as suas
leis próprias; aquele que vem doutra região, viverá segundo a lei da
sua pátria.” 2 (Grifei)
E ainda, a Lex Ribuária (633 – 639) prescreve:
“Decidimos que, no país ribuário, Francos, Burgúndios, Alamanos ou
qualquer nacionalidade daquele que seja chamado a julgamento, ele
2
“Ut omnes homines eorum legis habeant, tam Romani quam et Salici, et si de alia provincia advenrit,
secundum legum ipsius patriae vivat.” (GUILISSEN. Cit. p. 182.)
7
responderá segundo as prescrições da lei do lugar onde nasceu.”3
(Grifei)
As normas acima refletem o conceito de cidadania puramente étnico do
medievo que, juntamente com o particularismo, formarão duas teses contra as quais os Estado
modernos apresentarão suas antíteses: a cidadania política e a codificação (precedida da
constitucionalização, como codificação do Direito Público). É bem verdade que o problema
do particularismo será enfrentado já na própria Idade Média com a busca do Direito Comum
na Inglaterra (a partir da conquista dos normandos) e no continente (a partir dos glosadores).
(ANDRADE, 1997, p. 37).
Essa noção de costume está ligada, como já afirmamos, à elementos étnicos
geográficos e históricos, o que vai caracterizá-lo como jus non scriptum de um povo ou de
uma terra. Lex, como já foi dito, nada mais é que uma consolidação dos costumes locais. Essa
é a origem primeira do Law of the land (Direito da terra) superior ao próprio príncipe que é
apenas seu intérprete. Mas, o monarca bom e justo é aquele intérprete do Direito que o diz
segundo a natureza, já que o justo corresponde a natureza das coisas. A equidade se assentava
sobre os fatos e não sobre a vontade dos homens ou do príncipe, sendo este, um grande leitor
da realidade natural sobre a qual o Direito se funda. Como afirma Grossi:
“O bom príncipe há de ser aequus, não esqueçamos em que coisa
consiste esta equidade na consciência medieval: como disse a ingênua
mas franca voz de um dos seus intérpretes mais aclamados, Santo
Isidoro, na primeira metade do século sétimo, aequus é „secundum
naturam iustus dictus‟, justo em correspondência com a natureza das
coisas”. (GROSSI, 1999, p. 95.)
Na assertiva de Grossi, não há parâmetro entre a Lex medieval e o nosso
conceito de lei. A Lex eqüivale ao Jus, ela é o próprio direito porque traz escrita todo um
patrimônio consuetudinário. A Lex é portanto, o costume sistematizado e certificado,
enquanto o costume é uma Lex em potência.(Ibidem, p. 90).
3
“Hoc autem constiruimus, ut ingra pago Ribuario, tam Franci, Burgondiones, Alamanni seu de quacumque
natione commoratus fuerit, in iudicio interpellatus sucut lex loci contenit, ubi natus fuerit, sic respondeat..” (Id.
Ibid.)
8
Era função primária e dever do monarca garantir a todo povo a liberdade
fundamental de usufruir de sua própria Lex. Nenhuma norma do imperador poderia incidir
sobre a Lex, a não ser por um consensus omnium.(Ibidem, p. 93). A Lex assim, assume um
papel de Constituição a que a sociedade política e o próprio príncipe se submetem em um
processo de auto-vinculação.
Trata-se da dualidade que para Kelsen é essencial à configuração do Estado de
Direito: “O Estado deve ser apresentado como pessoa diferente do direito para que o direito
possa justificar o Estado.”(KELSEN, 3. ed., p. 301). O diferencial do pensamento Kelseniano
para o medieval é que para Kelsen o Estado cria um Direito para depois submeter-se a ele,
enquanto para o pensador medievo o Direito é reconhecido, mas não criado. Esse direito se
assenta sobre uma norma fundamental que confere validade e eficácia a todo um ordenamento
numa relação de pertinência.
A validade da Lex não se assenta sobre o seu conteúdo, mas na sua pertença a
uma ordem superior. Partindo das premissas kelsenianas que o fundamento de validade de
uma norma só pode ser uma outra norma e que essa norma que fundamenta não é norma
posta, mas pressuposta (Ibidem, p. 213). Temos uma clara identificação entre o jus naturale e
o conceito de Norma Fundamental de Kelsen.
O costume, a Lex, ou mesmo as leges, não tinham eficácia se não configurada
claramente a pertinência ao Jus Naturale, que assume a função de norma fundamental,
enquanto o costume assume papel de Constituição da sociedade política medieval. O próprio
Kelsen afirma:
“Se queremos conhecer a natureza da norma fundamental, devemos
sobretudo ter em mente que ela se refere imediatamente a uma
Constituição determinada, efetivamente estabelecida, produzida
através do costume ou da elaboração de um estatuto, eficaz em termos
globais”.(Ibidem, p. 214).
Assim, a Lex Naturale se refere imediatamente ao costume, enquanto a eficácia
das Lex e leges é estabelecida pelo costume como pressuposto de validade, o que vai se
engastar no conceito de Kelsen que afirma ser a eficácia estabelecida na norma fundamental
com pressuposto de validade. (Ibidem, p.223). Percebe-se aí uma cadeia hierárquica de
9
pertinência que garante a validade e eficácia do ordenamento. Esta função da norma confere a
ela a constituição da unidade de todo um ordenamento jurídico, seja no Law of the Land ou no
Direito comum.
Não se aplica todavia, ao Jus Naturale, o conceito kelseniano descrito por
Barzotto, segundo o qual a norma fundamental “é o ponto de partida de todo um processo de
criação normativa”(BARZOTTO, 1999, p. 42). Nesse aspecto a analogia pretendida se torna
inadequada, para o homem medievo, não há criação da norma mas jurisdictio em sentido
próprio pois, como em Roma, o Direito não poderia ser criado mas revelado.
A diversidade de ordenamentos no medievo ressalta a função constituinte do
costume. Já citado, Grossi afirma que a diversidade de autonomias jurídicas em torno de um
elemento normativo comum confere ao costume o caráter de uma autêntica constituição
medieval.(p. 35).
Esse contexto de multiplicidade na unidade, de descentralização do poder, de
atribuição da função administrativa e jurisdicional aos senhores feudais foi, na opinião de
Wieacher, essencial para a evolução constitucional na Baixa Idade Média.(1987, p. 99). A
evolução dessa Constituição feudal teria provocado o desmembramento do Império na
Alemanha. Como vimos, ela se assentava nos pactos que combinavam a concessão fundiária
com relações individuais de serviço e fidelidade.(Ibidem, p. 100).
Por fim, o próprio Jorge Novais, que nega a existência de um verdadeiro
Estado de Direito medieval por não haver uma esfera independente dos direitos fundamentais
do homem e por não ser de natureza jurídica a limitação do príncipe, constata que os pactos,
notadamente as cartas de franquia ou forais ibéricos:
“constituíam verdadeiras convenções ou pactos entre os suseranos e a
aristocracia feudal, traduzindo-se numa limitação efectiva do
príncipe e na aquisição pelos indivíduos de Direitos
específicos”.(NOVAIS, 1987, p. 26, grifei).
10
CONCLUSÃO
Não obstante a inexistência de uma núcleo formal autônomo de direitos
fundamentais no Direito medieval. Não se sustenta a negação de uma esfera de Direitos
inerentes a Pessoa Humana, valor objetivado pelas constituições das democracias ocidentais,
mas que têm sua gênese no século V. Além disso, tendo uma fundamentação do Jus Naturale,
de onde deriva, em uma relação de pertença, todo o ordenamento, era função primordial do rei
medieval garantir a eficácia e o acesso a um Direito que também o submete.
Da mesma forma na Grécia, a racionalização do político exigiu técnicas de
limitação do poder e de seus titulares, como também a distribuição de funções públicas, que
um estudo menos aprofundado pode sugerir como exclusividade dos Estados Liberais.
Entretanto, não há de se olvidar, que a busca de um governo da razão e não dos homens, não
foi desejo do apenas do homem moderno, mas busca constante do pensamento clássico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE. Fábio Sielbeneichler de. Da Codificação. Crônica de um conceito. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Rio de Janeiro: Abril, 1973.
Aristóteles. Política. Rio de Janeiro: Abril, 1973.
BARZOTTO, Luis Fernando. O positivismo Jurídico Contenporâneo. Uma introdução a
Kelsen, Ross e Hart. São Leopoldo: UNISINOS, 1999.
GILISSEN. John. Introdução Histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2. ed.
GROSSI, Paolo. L’ordine Giuridico Medievale. Roma: Laterza, 1999.
KELSEN, Hans. O que é justiça? São Paulo: Martins Fontes, 1998.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 3. ed.
11
LEAL. Rogério Gesta. Teoria do Estado. Cidadania e poder político na modernidade.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
LOPES, José Reinaldo de lima. O Direito na História: Lições Introdutórias. São Paulo:
Max imonad, 2000.
MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual a racionalidade? São Paulo: Loyola, 1991.
SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: Paz e Terra, 2. ed.
WEBER, Max. Economia y Sociedad. Cid. Do México: Trad. México, 1944, vol. IV.
WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2. NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito:
do Estado de Direito liberal ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra, 1987.