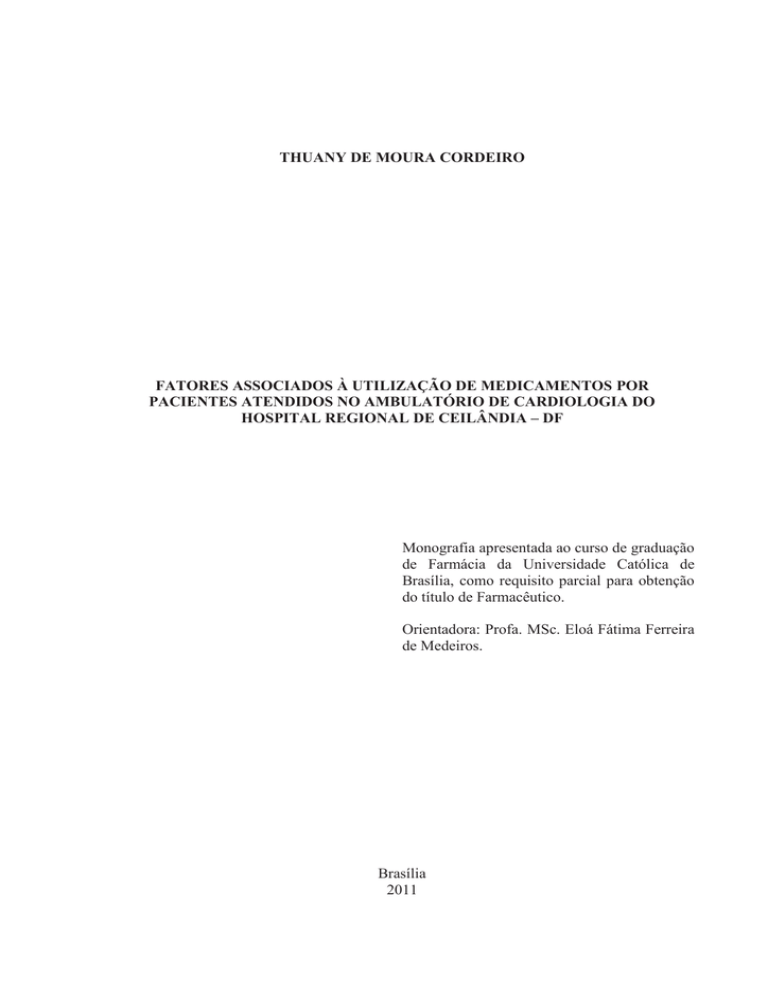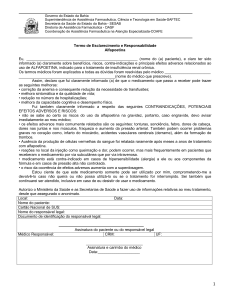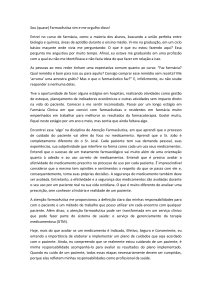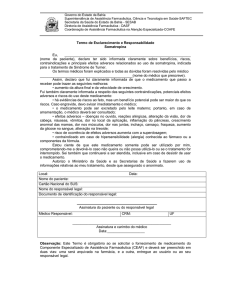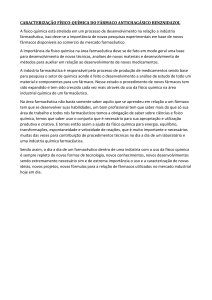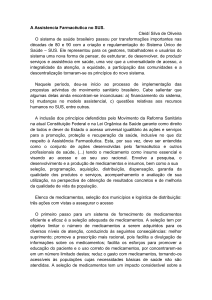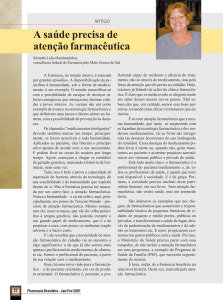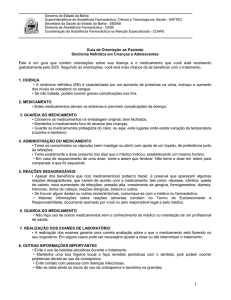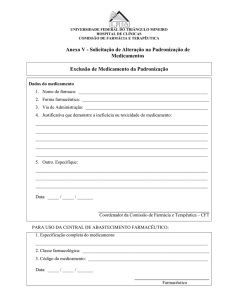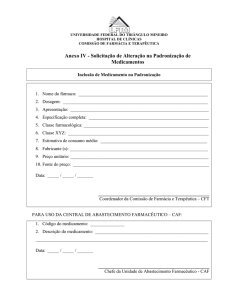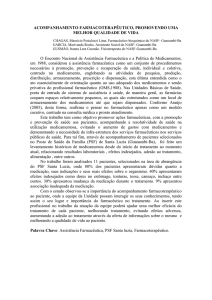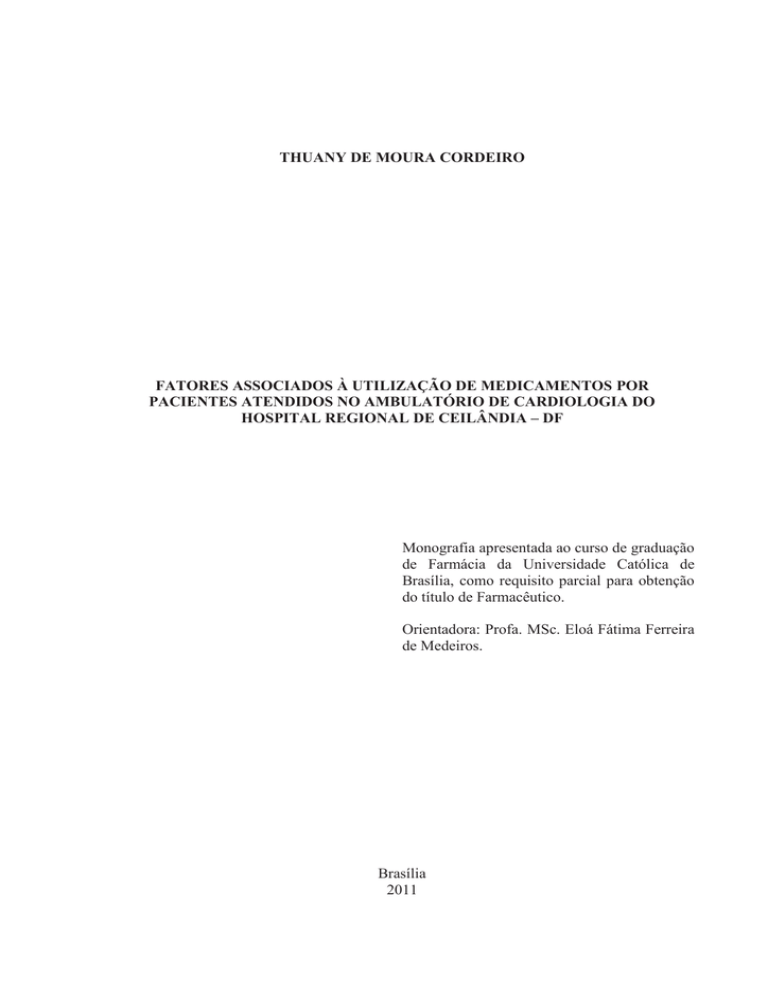
THUANY DE MOURA CORDEIRO
FATORES ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR
PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO
HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – DF
Monografia apresentada ao curso de graduação
de Farmácia da Universidade Católica de
Brasília, como requisito parcial para obtenção
do título de Farmacêutico.
Orientadora: Profa. MSc. Eloá Fátima Ferreira
de Medeiros.
Brasília
2011
Monografia de autoria de Thuany de Moura Cordeiro, intitulada “FATORES
ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTES ATENDIDOS
NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA
– DF”, apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Farmacêutico da
Universidade Católica de Brasília em 08 de junho de 2011, aprovada pela banca examinadora
abaixo assinada:
__________________________________________________
Profa. MSc. Eloá de Fátima Ferreira de Medeiros
Orientadora
_________________________________________________
Profa. Dra. Dayde Lane Mendonça da Silva
Examinadora 1
___________________________________________________
Prof. Esp. Marcela de Andrade Conti
Examinadora 2
Brasília, _______________________ de 2011.
Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus,
pela vida, pela força, pela coragem e pela
oportunidade de estar realizando o sonho de
me tornar farmacêutica.
A minha mãe, Edinalda, pelo exemplo de
mulher, pelo amor e apoio incondicional que
me faz ter forças para ir à luta e conquistar
meus objetivos.
Ao
meu
namorado,
Michael,
pela
compreensão, mas acima de tudo, por me fazer
perceber que o amor é a força mais poderosa
do universo e o único caminho para superar as
diferenças entre duas pessoas.
Por fim, dedico a minha orientadora, amiga,
companheira e terapeuta, Eloá, pelo exemplo
de mulher, mãe, professora, farmacêutica, ser
humano, que me inspira todos os dias a ser
uma pessoa melhor.
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, que me permitiu chegar até aqui, pois tudo o que sou, tudo o que
tenho foi Ele quem permitiu. "Mais importante que o lugar que ocupas em mim, é a
intensidade de tua presença em tudo que faço."
A minha orientadora Profa. MSc. Eloá Fátima Ferreira de Medeiros, pela orientação,
pela paciência, pelo carinho, pela motivação, pela confiança, por estar sempre ao meu lado me
ajudando a superar os obstáculos, mas principalmente por ser uma das melhores pessoas que
eu poderia ter conhecido em minha vida.
À Profa. Marcela Andrade Conti, pela imensa ajuda na confecção do projeto, em todo
o processo de submissão desta pesquisa ao Comitê de Ética, na coleta dos dados, pelo carinho
e por ter abraçado esta pesquisa como se fosse dela também. Sem ela eu estaria perdida.
Aos professores do curso de Farmácia, que contribuíram e influenciaram na
construção do meu fascínio pela profissão farmacêutica.
Aos pacientes atendidos pelo ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional de
Ceilândia, pela participação e concessão das informações, tornando assim possível a
realização desta pesquisa.
Ao meu namorado Michael, pela ajuda na análise de dados, pelos importantes
conselhos na área da informática, pela paciência e compreensão em virtude de todo estresse
gerado durante o processo de confecção deste trabalho;
À minha mãe Edinalda, pelos conselhos, incentivo, pelas orações, por me ensinar a
ser uma pessoa determinada e me mostrar que com muita garra e dedicação posso alcançar
meus objetivos.
Por fim, a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, tornaram possível a
realização desta pesquisa.
“Que a força do medo que tenho não me
impeça de ver o que anseio. Que a morte de
tudo em que acredito não me tape os ouvidos e
a boca. Porque metade de mim é o que eu
grito, mas a outra metade é silêncio...
Que essa minha vontade de ir embora se
transforme na calma e na paz que eu mereço.
Que essa tensão que me corrói por dentro seja
um dia recompensada. Porque metade de mim
é o que eu penso mas a outra metade é um
vulcão.
Que o medo da solidão se afaste, e que o
convívio comigo mesmo se torne ao menos
suportável.
Que o espelho reflita em meu rosto um doce
sorriso que eu me lembro ter dado na infância.
Por que metade de mim é a lembrança do que
fui e a outra metade eu não sei.
Que não seja preciso mais do que uma simples
alegria para me fazer aquietar o espírito.
E que o teu silêncio me fale cada vez mais.
Porque metade de mim é abrigo, mas a outra
metade é cansaço.
E que a minha loucura seja perdoada, porque
metade de mim é amor e a outra metade
também.”
Oswaldo Montenegro
RESUMO
Referência: CORDEIRO, Thuany de Moura. Fatores associados à utilização de medicamentos
por pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia –
DF. 2011.58 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) – Universidade Católica de
Brasília, Taguatinga, 2011.
Este estudo teve como objetivo principal avaliar os fatores relacionados à utilização de
medicamentos pela população atendida no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional
da Ceilândia. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, realizado no período de 14
de abril a 14 de maio de 2011. Foram entrevistadas no total de 100 pessoas, sendo que apenas
80 foram incluídas no estudo. Os medicamentos constituem uma poderosa ferramenta
utilizada no tratamento de doenças e, portanto a utilização destes tornou-se um processo
social que é influenciado por vários fatores, sendo os mais relevantes a adesão a terapêutica e
o acesso a medicamentos. Os principais motivos que dificultam o acesso ao tratamento
farmacoterapêutico envolvem erros no ciclo da assistência farmacêutica. Os indivíduos
acometidos por doenças crônicas podem ter sua qualidade de vida melhorada com terapia
medicamentosa contínua e mudanças no estilo de vida, no entanto, percebe-se que existe um
dificuldade de adesão ao tratamento por estes indivíduos. 87,5% dos pacientes dependiam do
SUS para aquisição dos medicamentos, e o principal fator relacionado a dificuldade deste
acesso foi a falta de medicamentos nos centros de saúde. A média de medicamentos utilizados
por paciente encontrada foi de 1,9. Observou-se, ainda, que a adesão ao tratamento ocorreu
em apenas 20% da população estudada. Neste contexto, Atenção Farmacêutica é uma prática
mais adequada que o farmacêutico assume em benefício do Uso Racional de Medicamentos e
conseqüentemente promove a melhoria do acesso a medicamentos.
Palavras-
chave:
Utilização
de
medicamentos, adesão ao tratamento.
Medicamentos,
Farmacoepidemiologia,
acesso
a
ABSTRACT
Reference: CORDEIRO, Thuany de Moura. Factors associated with medication use by
patients attending the cardiology clinic of the Hospital Regional Ceilândia - DF. 2011. 58
leaves. Completion of course work (Pharmacy) – Universidade Católica de Brasília,
Taguatinga, 2011.
This study aimed to evaluate the main factors related to the use of drugs for the population
seen at the Clinic of Cardiology, Regional Hospital of Ceilândia. This is a descriptive, crosssectional study, conducted from April 14 to May 14, 2011. We interviewed a total of 100
people, of which only 80 were included in the study. Medications are a powerful tool in the
treatment of disease and therefore the use of these has become a social process that is
influenced by several factors, the more relevant adherence to therapy and access to medicines.
The main reasons that hinder access to the pharmacotherapeutic treatment involve errors in
the cycle of pharmaceutical care. Individuals suffering from chronic illnesses may have their
quality of life improved with medical therapy and continuous changes in lifestyle, however,
realizes that there is a difficulty in treatment compliance by these individuals. 87.5% of
patients depended on SUS for procurement of medicines and the main factor related to
difficulty of access was the lack of medicines in health care. The mean number of medications
used per patient was 1.9. It was noted also that adherence to treatment occurred in only 20%
of the population. this context, pharmaceutical care practice is most appropriate for the
pharmacist assumes for the benefit of Rational Drug Use and consequently promotes
improved access to medicines.
Keywords: Drug utilization, Pharmacoepidemiology, access to medications, adherence.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1. Projeção global de mortes por causas, em todas as idades, para o ano de 2005. ...... 18
Figura 2. As cinco dimensões da adesão. ................................................................................. 23
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Estratégias de marketing adotadas pela indústria farmacêutica segundo o sujeito
objeto da mensagem. ................................................................................................................ 15
Tabela 2: Perguntas que compõe o teste de Morisky e classificação dos tipos de
comportamento de baixo grau de adesão, indicados por respostas afirmativas ....................... 29
Tabela 3: Características sócio-econômicas dos pacientes incluídos no estudo ...................... 32
Tabela 4: Doenças auto – referidas pelos pacientes incluídos no estudo ................................. 35
Tabela 5: Classes de medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de
acordo com a classificação ATC .............................................................................................. 37
Tabela 6: Medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com o
CID - 10 .................................................................................................................................... 38
Tabela 7: Conhecimento sobre a farmacoterapia dos pacientes incluídos no estudo ............... 38
Tabela 8: Número de medicamentos utilizados por pacientes, sendo que, neste caso, foram
incluídos apenas aqueles que relataram totalmente ou parcialmente os medicamentos
utilizados................................................................................................................................... 39
Tabela 9: distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas com a
responsabilidade pela administração e interferência na rotina diária ....................................... 40
Tabela 10: Distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas ao acesso
a medicamentos ........................................................................................................................ 42
Tabela 11: Grau de adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes incluídos no estudo,
de acordo com o teste de Morisky ............................................................................................ 42
LISTA DE ABREVIATURAS
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ATC – Anathomical Therapeutic Chemical
DCB - Denominação Comum Brasileira
CFF – Conselho Federal de Farmácia
CID – Classificação Internacional de Doenças
CNMM - Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos
CS – Centro de Saúde
DIP – Doenças Infecciosas e Parasitárias
DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis
FENAFAR – Federação Nacional dos Farmacêuticos
HRC – Hospital Regional de Ceilândia
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IECA – Inibidores da Enzima conversora de Angiotensina
MS – Ministério da Saúde
NUCAD – Núcleo de coleta e apresentação de dados.
OMS – Organização Mundial da Saúde
OPAS – Organização Pan- Americana de Saúde
PNM – Política Nacional de Medicamentos
PNAF – política Nacional de Assistência Farmacêutica
PRM – Problemas Relacionados a Medicamentos
RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
SINITOX - Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas
SM – Salário Mínimo
SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
SUS – Sistema Único de Saúde
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UFARM – Unidade de Farmacovigilância
URM – Uso Racional de Medicamentos
WHO – World Health Organization
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 12
2.
REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................... 14
2.1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL ...................................................... 14
2.2. FATORES QUE INFLUENCIAM A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ........... 17
2.2.1. Gênero e idade ...................................................................................................... 17
2.2.3 Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) ................................................... 18
2.2.4. Perfil socioeconômico ........................................................................................... 19
2.2.5. Acesso a medicamentos ........................................................................................ 19
2.2.6. Adesão à terapêutica ............................................................................................ 22
2.3.
PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ....... 24
3. METODOLOGIA ........................................................................................................... 26
3.1.
DELINEAMENTO DA PESQUISA ........................................................................ 26
3.2.
INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS ......................................................... 26
3.3.
COLETA DOS DADOS ........................................................................................... 26
3.4.
OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE).................................................................................................................................. 26
3.5.
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ....................................................................... 27
3.6.
LEVANTAMENTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS AUTO- REFERIDAS ........ 27
3.7.
AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS .............................................................................................................. 27
3.8. AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO .................................................... 28
3.9. AVALIAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ................................................... 29
3.10. SUJEITOS DA PESQUISA ..................................................................................... 30
3.10.1. Critérios de Inclusão ...................................................................................... 30
3.10.2.
3.11.
Critérios de Exclusão ..................................................................................... 30
ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................... 30
3.12. FLUXOGRAMA ...................................................................................................... 31
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 32
5.
CONCLUSÃO ................................................................................................................. 44
6.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 45
7.
APÊNDICE ...................................................................................................................... 54
8.
ANEXO............................................................................................................................. 58
12
1. INTRODUÇÃO
Com o avanço das ciências médicas, que têm como objetivo a busca pela cura,
controle ou prevenção de doenças, o medicamento se transformou em uma poderosa
ferramenta com estas finalidades. Portanto a utilização de medicamentos tornou-se um
processo social que se estabelece por numerosos motivos, dentre eles, senão o mais
importante, o desejo que a sociedade possui em cuidar da saúde (ARRAIS, 2004; DAL
PIZZOL et al., 2006; LEITE et al., 2008).
Em conjunto com este processo social, o crescente número de produtos farmacêuticos
no mercado mundial é um dos principais fatores que predispôs ao crescimento do consumo de
medicamentos, gerando um aumento nas despesas relativas a este item (OMS, 2003;
BERTOLDI et al., 2004; ).
Sendo assim, o aspecto econômico do uso de medicamentos torna-se relevante, pois
eles são responsáveis pela movimentação de altas cifras anualmente. Em 2009, o mercado
brasileiro movimentou cerca de R$ 30,2 bilhões, colocando o Brasil entre os dez países de
maior faturamento no varejo (FENAFAR, 2010).
Entretanto, caracterizando um paradoxo com estes dados, a Organização Mundial de
Saúde (2003) revelou que apenas 50% da população brasileira têm acesso aos medicamentos,
não mostrando maior prevalência entre as faixas etárias, e atingindo a quinta colocação no
mercado consumidor mundial (OMS, 2003; FANHANI et al., 2006).
Os principais motivos pelos quais o acesso a medicamentos, principalmente os ditos
essenciais, é insuficiente envolve erros no ciclo da assistência farmacêutica, ou seja, deve-se a
má gestão nos processos de aquisição até a dispensação (LOYOLA FILHO, 2006; COSTA et
al., 2007; SILVA, 2010).
Outro aspecto importante relacionado a utilização de medicamentos é a adesão a
terapêutica. Os indivíduos acometidos por doenças crônicas podem ter sua qualidade de vida
melhorada com terapia medicamentosa contínua e de mudanças no estilo de vida, no entanto,
percebe-se que existe um dificuldade de adesão ao tratamento. Segundo a OMS (2003), “a
adesão ao tratamento de longo prazo em países desenvolvidos é em torno de 50%. Este
índices são ainda menores nos países em desenvolvimento”.
O principal papel do farmacêutico na promoção do Uso Racional de Medicamentos,
incluindo a melhoria do acesso a medicamentos e adesão terapêutica, é a estruturação de um
13
Programa de Assistência Farmacêutica efetivo, sendo que a Atenção Farmacêutica esteja
envolvida neste processo (DIAS & ROMANO-LIEBER, 2006).
Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é avaliar os fatores relacionados com a
utilização de medicamentos pela população atendida no Ambulatório de Cardiologia do
Hospital Regional de Ceilândia (HRC). E os objetivos específicos são: Caracterizar a
população em estudo segundo variáveis demográficas e socioeconômicas; identificar a
prevalência das doenças auto-referidas e dos grupos de medicamentos utilizados; avaliar as
facilidades e/ou dificuldades de acesso aos medicamentos de uso contínuo e o apresentar o
perfil de adesão à farmacoterapia.
14
2. REVISÃO DA LITERATURA
Os medicamentos vêm se tornando a ferramenta mais utilizada no prolongamento da
vida, no retardo do surgimento de complicações associadas às doenças e até para promover a
cura, facilitando o convívio entre o indivíduo e sua enfermidade. Desta forma, estes produtos
alcançaram um papel crucial para o tratamento das doenças, constituindo a primeira opção
para minimizar os danos ocasionados pelas diversas enfermidades que acometem os
indivíduos (LOYOLA FILHO, 2006; LEITE et al., 2008).
Neste sentido, a disponibilidade de medicamentos tornou-se uma questão de saúde
pública, sendo estabelecida formalmente na Lei Orgânica da Saúde (1990), determinando que
cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica (BRASIL, 1990; GUERRA JR et al, 2004).
No entanto, além de garantir o acesso universal e gratuito dos medicamentos é preciso
melhorar a qualidade dos tratamentos. Sua efetividade demanda uma diversidade de ações que
garantam, além do amplo acesso, a melhor adesão ao tratamento. Sendo assim, a adesão
constitui mais uma dimensão do cuidado integral e da construção da igualdade no âmbito do
SUS (GUERRA JR et al, 2004; GUSMÃO & MION JR, 2006).
Apesar do direito já estabelecido, ainda existem falhas que geram dificuldades para se
garantir o acesso efetivo e igualitário e o uso racional de medicamentos. Neste contexto,
estudos sobre a utilização, consumo e acesso de medicamentos, no Brasil, vêm se tornando
cada vez mais expressivos e sempre com a finalidade de gerar informações úteis para tomadas
de decisões e criação de estratégias de saúde. Assim, os estudos farmacoepidemiológicos têm
sido os mais utilizados com esta finalidade (LEITE et al., 2008).
2.1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL
No Brasil, os primeiros estudos farmacoepidemiológicos surgiram apenas no final da
década de 70 e início da década de 80. Estes estudos revelaram que o padrão de consumo de
medicamentos da população brasileira era caracterizado por níveis elevados de utilização de
medicamentos sintomáticos e pela automedicação, e que o marketing foi o fator que mais
influenciou este cenário (ROZENFELD, 1989; CASTRO, 1999; MELO et al., 2006).
Nas décadas seguintes este padrão não se modificou, no entanto o aumento do
consumo de muitos produtos que não possuíam eficácia e segurança comprovada agravou a
situação brasileira (ARRAIS et al., 1997; VILARINO et al., 1998).
15
Desde então, novos estudos farmacoepidemiológicos são realizados no Brasil, com o
objetivo de avaliar e quantificar os fatores que estão associados ao aumento do consumo de
medicamentos pela população brasileira (FONSECA et al., 2002, BERTOLDI et al., 2004;
COELHO FILHO et al., 2004; SILVA & GIUGLIANI, 2004; ARRAIS et al., 2005;
LOYOLA FILHO et al., 2006; FLORES & BENVEGNÚ, 2008; LEITE et al., 2008; SILVA
et al.,2008).
Estes estudos demonstram que a indústria farmacêutica continua exercendo um papel
fundamental no consumo de medicamentos, uma vez que se utiliza de ferramentas do
marketing com o objetivo de induzir a prescrição e consumo de medicamentos. Neste intuito,
investimentos cada vez maiores são realizados para propagar o uso de medicamentos,
mostrando apenas as supostas vantagens oferecidas e omitindo os potencias riscos que podem
trazer a saúde do consumidor, transformando o medicamento em mercadoria, e assim
submetendo o “produto saúde”, que possui características peculiares e particulares, às regras
comerciais, sem medir as conseqüências. (ARRAIS et al., 2005; LOYOLA FILHO, 2006,
BRASIL, 2007).
Outra estratégia utilizada pela indústria farmacêutica é induzir pessoas saudáveis a se
considerar, de alguma forma, doentes. A tática consiste em transformar situações estressantes
do cotidiano em problemas, e assim maximizar o número de doenças, para certamente
acompanhar um grande número de tratamentos. Assim, as necessidades e desejos insaciáveis
criados pela mídia, marketing e propagandas farmacêuticas são determinantes para o consumo
excessivo e irracional de medicamentos (HEINECK et al., 2004; VOSGERAU, 2007;
AQUILINO et al., 2010).
Neste contexto, a propaganda de medicamentos tem a função fundamental de
persuadir e incentivar o consumo do produto em todos os níveis, ou seja, desde o prescritor,
passando pelo dispensador, até o usuário (ANVISA, 2007). A tabela 1 mostra as estratégias
mais utilizadas neste processo.
Tabela 1: Estratégias de marketing adotadas pela indústria farmacêutica segundo o sujeito objeto da mensagem.
Prescritores
Apoio a associações profissionais ou
revistas médicas;
Distribuição de amostras grátis ou
brindes
Recepções/coquetéis e eventos
científicos;
Patrocínio de viagens;
Fonte: ARRAIS, 2004.
Dispensadores
Bonificação
Sorteios/brindes.
Comissão de Vendas
Usuários
Distribuição
material
Vale-desconto;
Propaganda
(mídia)
Apoio associação
consumidores
16
Apesar da criação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), o acesso aos
medicamentos ainda é um dos problemas enfrentado pelo SUS. E uns dos fatores
contribuintes para este quadro é ausência do farmacêutico em todas as etapas da assistência
farmacêutica. Este processo acarreta em uma distribuição de medicamentos de forma
desigual, favorecendo a aquisição destes produtos através de farmácias e drogarias, sendo
estas responsáveis por 76,5% da comercialização de medicamentos no âmbito nacional
(ARRAIS, 2004).
Dados divulgados pelo Conselho Federal de Farmácia, em 2009, mostram que o Brasil
possuía cerca de 79.010 farmácias e drogarias, o que corresponde a uma farmácia para cada
2.329 habitantes, considerando a população do Brasil em torno de 184 milhões de habitantes.
Este resultado revela uma situação alarmante, pois a OMS preconiza a existência de uma
farmácia para cada 8 a 10 mil habitantes, ou seja, no Brasil este índice extrapola em quatro a
cinco vezes o ideal, com tendência a aumentar o número de farmácias e drogarias (IBGE,
2007; VOSGERAU, 2007).
Outro fator que contribui para a preocupação deste excesso é o fato de apenas 4%
destes estabelecimentos terem um profissional farmacêutico como proprietário, ou seja, a
maioria está sob a propriedade de pessoas que não possuem conhecimentos técnicos que
visem o compromisso com a saúde dos clientes, favorecendo assim o consumo indiscriminado
e desenfreado de medicamentos (ARRAIS, 2004; VOSGERAU, 2007).
Portanto, é de extrema importância o desenvolvimento de um Programa de
Assistência Farmacêutica efetivo para disponibilizar o medicamento gratuitamente, e para isso
seria necessário a presença do farmacêutico desde a solicitação do medicamento até a
dispensação (DIAS & ROMANO-LIEBER, 2006).
No Brasil, o consumo indiscriminado de medicamentos não é restrito aos
medicamentos de venda livre, pois existe uma facilidade na compra de medicamentos que
deveriam ser dispensados mediante a apresentação de receita médica ou com a sua retenção,
incrementando as vendas e proporcionando o aumento no consumo de medicamentos (LEAL
et al., 1998).
Por fim, o poder da decisão do usuário é determinante no consumo de medicamentos,
sendo que, a escolha deste dependerá da circunstância na qual ele está envolvido, podendo
gerar um processo de automedicação ou a não adesão ao tratamento. A automedicação se dá
pela busca da obtenção da cura de alguma doença que acomete este indivíduo. No entanto, a
não adesão ao tratamento se dá pelos efeitos indesejáveis que os medicamentos podem
provocar neste usuário ou pelo custo que são gerados (ARRAIS, 2004).
17
Deste modo a influência dos usuários na utilização de medicamentos é direta,
definindo um aumento (automedicação ou aceitação da terapia medicamentosa) ou redução
(não adesão ao tratamento ou dificuldade no acesso ao medicamento) no consumo de
medicamentos (ARRAIS, 2004).
2.2. FATORES QUE INFLUENCIAM A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
O consumo de medicamentos tem aumentado no contexto mundial por diversos
motivos, sendo condicionado tanto por fatores farmacológicos como também por aspectos
sociais, comportamentais e econômicos (VOSGERAU et. al., 2011; ROZENFELD, 2003).
Sendo assim, dá se a importância de se estudar os fatores relacionados utilização de
medicamentos. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a facilidade em adquirir
medicamentos sem a aprovação ou avaliação do prescritor ou outro profissional de saúde
habilitado são alguns dos motivos que estimulam este consumo exagerado, além da crença da
sociedade em relação ao poder dos medicamentos em conjunto com os avanços na pesquisa
de novos fármacos e sua promoção comercial (SILVA, 2009; MELO et. al., 2006;
BERTOLDI et al., 2004; ).
2.2.1. Gênero e idade
Estudos mostram que existem diferenças no padrão de consumo de medicamentos
entre os sexos e a idade (BERTOLDI et al.,2004; COELHO FILHO et al., 2004; FANHANI
et al., 2007; FLORES & BENVEGNÚ, 2008; LEITE et al., 2008) .
Quanto ao sexo, as mulheres apresentam um padrão de consumo mais elevado em
comparação com os homens (BERTOLDI et al.,2004; LEITE et al., 2008).
Em relação à idade, os idosos apresentam maior consumo de medicamento e maior
freqüência de polimedicação, acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas
e outras co-morbidades. No Brasil, a expectativa de vida aumentou e, conseqüentemente, o
número de idosos, o que significa dizer que o consumo de medicamentos tende a aumentar
(COELHO FILHO et al., 2004; FANHANI et al., 2007; FLORES & BENVEGNÚ, 2008;
LEITE et al., 2008; MEDEIROS et al., 2009).
18
2.2.3 Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT)
Doenças crônicas não- transmissíveis (DCNT), segundo a OMS (2005) é o termo
utilizado para definir as doenças que possuem longa duração, e por conseqüência exigem uma
abordagem de longo prazo e sistemática ao tratamento. O termo “não- transmissível” é
utilizado para diferenciá-las das doenças infecciosas e parasitárias (WHO, 2005).
Neste sentido, as doenças classificadas como DCNT são: doenças de coração, acidente
vascular cerebral, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, deterioração visual e
cegueira, deterioração auditiva e surdez, doenças orais e desordens genéticas (OPAS, 2005).
A importância do estudo das DCNT se dá pela elevada prevalência na população
mundial e as altas taxas de mortalidade geradas. Segundo a OMS (2005) estas doenças
constituem uma das principais causas de morte no mundo, ultrapassando as taxas de
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) na década de 80, sendo que as
doenças cardiovasculares lideram o ranking (figura 1) (OPAS, 2005; WHO, 2005).
Figura 1. Projeção global de mortes por causas, em todas as idades, para o ano de 2005.
Fonte: OPAS, 2005
A explicação para o aumento destas doenças está veiculada a queda da mortalidade e
da fecundidade, acarretando em um aumentou do número de idosos, particularmente, o grupo
com mais 80 anos (BRASIL, 2005).
Em conseqüência desta alta prevalência das DCNT, observa-se um aumento no
consumo de medicamentos, pois estes constituem a primeira linha para o tratamento destas
(MCLEAN & LÊ COUTEUR, 2004; MEDEIROS et al, 2009).
19
2.2.4. Perfil socioeconômico
O Brasil é considerado uns dos países que mais consome medicamentos, entretanto,
dados revelam que este consumo se distribui de forma desigual na população, mostrando que
cerca de 50 milhões de brasileiros não conseguem ter acesso aos medicamentos essenciais
(FANHANI et al., 2006; COSTA, 2007).
Dados do Censo/2000 apontam que aproximadamente 60% dos brasileiros têm renda
de até dois salários mínimos, significando que, mesmo com a grande oferta de medicamentos
com preços baixos, ainda tem uma grande parte da população que não tem renda o suficiente
para comprar os produtos necessários, dependendo exclusivamente do Sistema Único de
Saúde – SUS (GOMES, 2007). Costa e colaboradores (2007) demonstraram que a classe com
renda acima de dez salários mínimos foi responsável pelo consumo de aproximadamente 48%
do mercado total de medicamentos e representa 15% da população; a classe com renda em
torno de quatro a dez salários mínimos consome 36% do mercado e é formada por 34% da
população; e a classe com renda de zero a quatro salários mínimos, consome apenas 16% do
mercado e é constituída por 51% da população.
Em contra ponto a esta parcela da população que possui dificuldades de acesso aos
medicamentos, existe uma pequena parte da população, caracterizada por uma maior renda,
que apresenta um consumo excessivo e inadequado de medicamentos. Estas características
observadas mostram como o perfil socioeconômico interfere no grau de consumo de
medicamentos, e como são determinantes para a facilidade do acesso aos mesmos
(VOSGERAU, 2007; BERTOLDI et al., 2004).
2.2.5. Acesso a medicamentos
A idéia de que promover o acesso a medicamentos constitui um cuidado essencial a
saúde da população, ou seja, um ponto importante relacionado à atenção básica surge em
1978 na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde realizada em AlmaAta (BARCELOS, 2005).
O documento gerado nesta Conferência, a Declaração de Alma-Ata, reafirmou que a
saúde é um direto humano fundamental, mostrando assim a necessidade de traçar novas
estratégias para promover os cuidados de saúde. No entanto, apenas a existência dos serviços
de saúde não define se estes são realmente utilizados (WHO & UNICEF, 1978).
Neste sentido, surge o conceito de acessibilidade, pois os serviços de saúde além de
estarem disponíveis devem ser acessíveis. Barcelos (2005) define acessibilidade como
20
“manutenção dos serviços de atenção à saúde que para isso, depende efetivamente de
componentes geográficos, culturais, funcionais e econômicos”.
Ampliando, então, este conceito de acessibilidade considerando os componentes acima
citados, como base na Declaração de Alma- Ata, tem-se:
A acessibilidade geográfica como um tipo de variável relacionada com a localização
dos serviços de saúde: distância, tempo necessário para atingir o serviço e os meios
de transporte disponíveis para a população, dentre outros fatores. A acessibilidade
cultural como uma variável que indica a adequação das normas técnicas do serviço
aos hábitos e costumes da população usuária. A acessibilidade funcional como uma
variável relacionada à disponibilidade contínua do tipo certo de cuidado, através da
oferta de serviços oportunos e compatíveis com as necessidades da população. A
acessibilidade econômica como uma variável relacionada ao custo dos serviços,
estabelecendo que quaisquer que sejam as formas de pagamento adotadas, o custo
financeiro dos serviços deve estar ao alcance dos usuários e do sistema adotado no
país (Barcelos, 2005, p. 31-32).
Segundo Guerra Jr (2004), para que o acesso a medicamentos seja adequado e eficaz a
acessibilidade geográfica, disponibilidade e acessibilidade econômica devem ser asseguradas. Ou
seja, o acesso aos medicamentos deve ser realizado dentro de uma distância aceitável
(geograficamente acessível), deve estar disponível nos serviços de saúde no momento em que são
requeridos (disponibilidade contínua) e deverá ser economicamente acessível (capacidade de
pagamento).
No Brasil, a noção de saúde como direito humano fundamental surge na década de 80, em
um cenário político caótico que acarretou em uma discussão acerca da necessidade de
reestruturação e ampliação dos serviços de saúde. Como resultado tem-se a elaboração da
Constituição Federal, em 1988, que estabeleceu a criação do SUS a partir da Lei 8.080/1990, e
reconheceu a saúde como um direito de todo cidadão brasileiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2001):
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(Constituição Federal de 1988, Seção II, Artigo 196, p. 91).
A partir da Constituição de 1988 que determinava a criação de políticas sociais e
econômicas para garantir o acesso à saúde, no âmbito da Assistência Farmacêutica foi criada a
Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada pela portaria nº 3.916/98, que tem como
objetivo a promoção do acesso e o uso racional de medicamentos garantindo a segurança, eficácia
e a qualidade dos medicamentos (BRASIL, 2001).
No entanto, as discussões sobre as ações de saúde em território brasileiro não param
por ai. E, em 2004, tem-se a aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica
(PNAF), que define Assistência Farmacêutica (AF) como:
21
Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto
individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o
acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e
a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação,
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços,
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (Resolução
338, de 06 de maio de 2004, p.1).
Esta política concretiza o dever de garantir o acesso a medicamentos pelo SUS, e
enfatiza a importância do profissional farmacêutico neste processo, ao incluir a Assistência
Farmacêutica como parte integrante da Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2004).
Entretanto, apesar das estratégias e ações de saúde criadas em nível mundial, estima-se
que 1/3 da população não tem acesso regular a medicamentos essenciais, sendo este um
determinante importante para a manutenção adequada do tratamento farmacoterapêutico. Ter
acesso ao medicamento é adquirir todos os medicamentos necessários ao seu tratamento.
Porém a disponibilidade de medicamentos na rede pública é limitada, interferindo diretamente
na realização adequada dos tratamentos propostos (BRASIL, 1990; HUNT & KHOSLA,
2008; OMS, 2004; PANIZ et al., 2008; PUPIN & CARDOSO, 2008; TEIXEIRA &
LEFÉVRE, 2001; VIANA et al., 2003).
O acesso a medicamentos de uso contínuo merecem maior atenção, visto que são de muita
importância no tratamento de doenças crônicas, necessitando da disponibilidade contínua do
medicamento, pois não constituem tratamentos pontuais. Neste sentido, a falta de acesso à
terapêutica farmacológica pode acarretar no agravamento da doença aumentando os índices de
internação, e assim, elevando os gastos com a atenção secundária e terciária. Considerando, ainda,
que a maioria da população atendida no serviço público é caracterizada por baixa renda, a
obtenção gratuita é, na maioria das vezes, a única alternativa de acesso ao tratamento prescrito
(PANIZ et al., 2008).
Além da disponibilidade aos medicamentos, o acesso ao profissional de saúde também
é questão fundamental. Este espaço de escuta permite o esclarecimento de dúvidas sobre a
doença e, principalmente, sobre outras medidas necessárias à melhoria do seu estado de saúde
(CAMARGO-BORGES & JABUR, 2008).
Partindo-se deste pressuposto, o acesso a medicamentos torna-se um indicador da
qualidade do sistema de saúde. Arrais e colaboradores (2005) apontam, ainda, que a falta de
acesso é uma causa freqüente de retorno de pacientes aos serviços de saúde.
22
2.2.6. Adesão à terapêutica
O termo adesão ao tratamento, erroneamente, está veiculado a adoção de uma conduta
que envolve apenas o seguimento correto da prescrição de medicamentos, isto porque, quando
se pensa em direito à saúde, imediatamente esta idéia é remetida a tratamentos, medicamentos
e hospitais. No entanto, este termo é bem mais amplo, pois se refere a toda atitude de uma
pessoa cujo objetivo é melhorar o seu estado de saúde, sendo assim adesão a farmacoterapia é
apenas um dos aspectos envolvidos (OMS, 2003; GUSMÃO & MION JR; 2006; BRANCO,
2007).
Outro erro bastante comum é a utilização do termo aderência como sinônimo de
adesão, porém este significa o ato de aderir. Em contrapartida, o termo adesão remete a
existência da colaboração direta entre os profissionais de saúde e o paciente (NARCISO &
PAULINO, 2001).
A adesão a farmacoterapia pode ser compreendida como a utilização dos
medicamentos prescritos, seguindo as orientações realizadas pelo prescritor, de forma que
fatores importantes, como: o horário adequado da administração, a dose e tempo do
tratamento sejam seguidos pelo paciente de forma correta. Representa um comportamento que
pode ser compreendido como a habilidade do paciente para desempenhar um papel ativo
frente à situação terapêutica (ERDINE & ARSLAN, 2010; LEITE & VASCONCELLOS,
2003).
Outros pontos envolvidos na adesão ao tratamento que podem ser citados são: o
seguimento da dieta ou as recomendações de um médico ou outro profissional de saúde, as
mudanças no estilo de vida, aspectos relacionados ao sistema de saúde, fatores socioeconômicos, ao paciente e à própria doença (OMS, 2003; GUSMÃO & MION JR; 2006;
BRANCO, 2007)
Neste sentido, a OMS (2003) entende que adesão é um fenômeno determinado pela a
associação de cinco fatores (Figura 1), denominados “dimensões”. Estas dimensões
compreendem os fatores socioeconômicos (idade, sexo, etnia, escolaridade), fatores
relacionados ao paciente (recursos, conhecimentos, atitudes, crenças, percepções e
expectativas), à doença (severidade dos sintomas e progressão da doença), ao tratamento
(complexidade do regime medicamentoso, duração do tratamento, falhas de tratamentos
anteriores, frequentes mudanças no tratamento e reações adversas), o sistema e equipe de
saúde (falhas na distribuição de medicamentos, a falta de conhecimento e treinamento dos
profissionais de saúde sobre o tratamento e acompanhamento de doenças crônicas,
23
prestadores de cuidados de saúde sobrecarregados, consultas de curta duração, poucos
programas voltados para educação em saúde, falta de conhecimento sobre a adesão e
intervenções inefetivas para melhorá-la).
Estes fatores mostram que o paciente não é o único responsável pela adequada adesão
ao tratamento, ele constitui apenas um determinante (GUSMÃO & MION JR; 2006).
Figura 2. As cinco dimensões da adesão.
Fonte: GUSMÃO & MION JR (2006) com adaptação OMS (2003)
A adesão é um dos principais determinantes da eficácia do tratamento, pois com a
falha neste processo, os ótimos benefícios clínicos da terapêutica são atenuados. A eficácia
das ações destinadas a promover estilos de vida saudáveis e das intervenções farmacológicas
melhoram quando o paciente adere adequadamente à sua terapêutica. Esta adesão afeta
também positivamente a prevenção secundária de doenças (CLARK, 2001; SARQUIS et. al,
1998; WHO, 2002).
Quando o autocuidado e os programas de adesão são combinados com um tratamento
adequado e às práticas educativas de doenças específicas, significativas melhoras nos
comportamentos de promoção da saúde têm sido observadas. Além disso, resultam também
em uma redução no número de pacientes que são hospitalizados e a permanência destes no
hospital (WHO, 2003).
24
Segundo a OMS (2003), apenas 50% dos pacientes acometidos por doenças crônicas
seguem corretamente o tratamento proposto. Estudos realizados no Brasil, mostram que cerca
de 40% a 60% dos pacientes não fazem uso dos medicamentos prescritos. Este índice aumenta
quando a falta de adesão relaciona-se a itens como estilo de vida, como mudanças da dieta,
sedentarismo, tabagismo, etilismo, entre outros fatores (ARAÚLO & GARCIAL, 2006;
BARBOSA & LIMA, 2006; CINTRA et al., 2010).
2.3.PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Entre os problemas que costumam ocorrer no uso de medicamentos em idosos, os
principais são: escolha inadequada do medicamento, falha ao receber o medicamento, uso
inadequado (esquecimento), dose subterapêutica, superdosagem, reações adversas, interações
medicamentosas e automedicação (PERETTA & CICCIA, 2000).
Os distúrbios de saúde advindos da terapia medicamentosa ocorrem devido aos
Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRMs), acometendo grande parte da população
que utiliza medicamentos como instrumento terapêutico, sendo que as principais causas estão
relacionadas com a real necessidade do uso, a segurança dos medicamentos utilizados, o
resultado terapêutico alcançado e a adesão à terapêutica proposta. Além disso, o uso irracional
destes produtos aumenta a probabilidade de ocorrência de PRMs surgindo como um problema
de saúde pública em todo mundo, devido ao ônus causado a este serviço. A redução destes
problemas tem um impacto positivo na qualidade de vida do paciente, na confiabilidade no
sistema de saúde e na eficiência no uso dos recursos (CARVALHO, 2007).
Desta forma, a atenção à saúde eficiente somente pode ser realizada quando existe
uma gestão eficiente dos medicamentos, para isto, é essencial a implementação de um
Programa de Assistência Farmacêutica como estratégia para o Uso Racional de Medicamentos
(OPAS, 2004).
O Uso Racional de Medicamentos (URM), conforme a OMS (1985), ocorre quando
“pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses
adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para
si e para a comunidade”. Além disso, a prescrição do medicamento deve estar corretamente
preenchida, com as informações necessárias para o seguimento correto pelo paciente, como:
nome do medicamento, dose, quantidade total de caixas ou comprimidos, forma farmacêutica,
posologia e duração do tratamento (ANVISA, 2005; AQUINO, 2010; BRASIL, 2001;
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).
25
Sendo assim, a Atenção Farmacêutica é uma prática mais adequada que o
farmacêutico assume em benefício do Uso Racional de Medicamentos e conseqüentemente
promove a melhoria do acesso a medicamentos. Atenção Farmacêutica é definida como:
É um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência
Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos,
habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças,
promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a
interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia
racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a
melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções
dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica
da integralidade das ações de saúde (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO
FARMACÊUTICA, 2002, P. 16-17).
A prática da Atenção Farmacêutica tem como foco melhorar a qualidade de vida dos
usuários de medicamentos, buscando a cura de doenças, quando possível, ou pelo menos o
controle, eliminação ou redução dos sintomas e diminuição do progresso da doença. Para a
obtenção destes objetivos, é necessário que se faça uma identificação dos problemas reais e
potenciais relacionados ao uso de medicamentos, e, então, solucionar os problemas reais e
prevenir os problemas potenciais. Assim, a atenção farmacêutica vai além da entrega do
medicamento ao paciente, envolve o fornecimento de informação relacionado ao uso dos
medicamentos (ANDRADE et al., 2004).
26
3. METODOLOGIA
3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA
Este estudo possui caráter descritivo e transversal, realizado com a população atendida
no ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia – DF, durante o período de
14 de abril a 14 de maio de 2011.
3.2. INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados mediante entrevistas estruturadas, registradas em um roteiro
de entrevista, contendo questões de fácil compreensão, elaborado com base nos trabalhos
realizados por Arrais (2004) e Silva (2010).
Este questionário possui 5 (cinco) blocos de perguntas (Apêndice A), com o objetivo
de definir o perfil sócio-econômico da população, investigar as doenças auto-referidas,
conhecer os medicamentos utilizados, adesão ao tratamento e perfil de acesso.
3.3. COLETA DOS DADOS
A coleta dos dados foi realizada às quintas e sextas-feiras, no período matutino, com
os pacientes que aguardavam atendimento no Ambulatório de Cardiologia do HRC.
3.4. OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
O termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) foi elaborado de acordo com
o modelo proposto pelo CEP/SES-DF antes da inclusão do paciente no estudo. O pesquisador
forneceu todas as informações necessárias relativas à pesquisa, individualmente a cada um
dos pacientes.
Após estas orientações, o paciente fez a leitura do termo de consentimento e quando
ainda restaram dúvidas, as mesmas foram esclarecidas pelo pesquisador antes do ato de
assinatura do termo.
Todos os pacientes foram esclarecidos quanto aos procedimentos propostos por este
estudo e, somente fizeram parte do mesmo se assinassem o termo de consentimento livre e
esclarecido. Para os pacientes que possuíam idade inferior a 18 anos, o TCLE foi assinado
pelo responsável legal, após as orientações dadas a ambos.
27
A participação nesta pesquisa foi totalmente voluntária, tendo o paciente toda a
liberdade de se retirar da mesma a qualquer momento, sem qualquer prejuízo com relação ao
seu atendimento ou tratamento.
3.5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Os aspectos socioeconômicos investigados foram: faixa etária, renda familiar e o grau
de escolaridade. A renda familiar foi estimada de acordo com salário mínimo (R$ 540,00) à
época do estudo.
3.6. LEVANTAMENTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS AUTO- REFERIDAS
Para a classificação das doenças crônicas auto- referidas pela população em estudo foi
utilizado a Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID - 10).
3.7. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
O levantamento geral dos medicamentos utilizados por esta população foi realizado
por meio da declaração do uso pelos participantes. Com base nas respostas obtidas, os
indivíduos incluídos na pesquisa foram classificados, segundo o conhecimento dos
medicamentos, da seguinte forma:
·
Conhece totalmente os medicamentos utilizados: Quando os pacientes referiam
que todos os medicamentos utilizados foram citados;
·
Conhece parcialmente os medicamentos utilizados: Quando os pacientes não
referiam o nome de todos os medicamentos utilizados, porém relatavam a
utilização de outros, mas não se recordavam do nome;
·
Não conhece os medicamentos utilizados: Quando não se lembrava de nenhum
medicamento utilizado.
Foram incluídos na análise somente os produtos farmacêuticos industrializados,
homeopáticos e fitoterápicos de uso contínuo que possuíam composição de fármacos
claramente determinados. A Denominação Comum Brasileira (DCB) foi utilizada para a
identificação destes fármacos a partir dos nomes comerciais disponíveis.
Os fármacos
encontrados em cada medicamento foram agrupados em conformidade com o Sistema de
Classificação Anatômico-Terapêutico-Químico (ATC).
28
O número de medicamentos utilizados foi avaliado de maneira quantitativa, sendo que
os pacientes foram agrupados da seguinte forma:
·
Pacientes que utilizavam apenas 1 (um) fármaco (princípio ativo);
·
Pacientes que utilizavam 2 (dois) fármacos (princípios ativos);
·
Pacientes que utilizavam 3 (três) fármacos (princípios ativos);
·
Pacientes que utilizavam 4 (quatro) fármacos (princípios ativos);
·
Pacientes que utilizavam mais de 4 (quatro) fármacos (princípios ativos);
Os outros aspectos avaliados foram à responsabilidade pela administração do
medicamento e o quanto o fato de tomar medicamento interferia na rotina diária.
Com relação à responsabilidade pela administração, os pacientes foram agrupados nas
seguintes categorias:
·
Paciente é o responsável pela administração;
·
Cuidador (ou outra pessoa é responsável pela administração);
Com relação à interferência na rotina diária, os pacientes foram agrupados nas
seguintes categorias:
·
Interfere muito;
·
Interfere moderadamente;
·
Interfere pouco;
·
Não interfere.
3.8. AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO
Para identificar o grau de adesão ao tratamento medicamentoso, os dados coletados
através do questionário criado foram transpostos para a escala de Morisky. Ressaltando que as
respostas obtidas como sempre, quase sempre, às vezes e raramente foram consideradas
positivas, e a resposta nunca foi considerada negativa (SOCIETY OF AMERICA, 2004;
DEWULF et al.; 2006).
O teste de Morisky consiste em quatro perguntas (Tabela 2), que tem o objetivo de
avaliar a adesão do paciente à terapia medicamentosa. No entanto, o roteiro de entrevista
criado para a coleta dos dados desta pesquisa não possuía a pergunta “Você, às vezes, é
descuidado quanto ao horário de tomar o seu remédio?”, e, portanto, este item não foi
avaliado.
Para pontuação da Escala de Morisky, cada pergunta que é respondida com um NÃO
recebe uma pontuação de 1. O intervalo possível de pontuação é, portanto, 0 a 4. Pacientes
29
com escores mais elevados são classificados no grupo de alto grau de adesão. Porém, quando
pelo menos uma das respostas é afirmativa, o paciente é classificado no grupo de baixo grau
de adesão (SOCIETY OF AMERICA, 2004; DEWULF et al.; 2006).
O teste de Morisky permite diferenciar se o comportamento de baixo grau de adesão é
do tipo intencional ou não intencional (SOCIETY OF AMERICA, 2004; DEWULF et al.;
2006).
Tabela 2: Perguntas que compõe o teste de Morisky e classificação dos tipos de comportamento de baixo grau de
adesão, indicados por respostas afirmativas
Perguntas do Teste de Morisky
Você, alguma vez, esquece de tomar o seu remédio?
Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar o seu
remédio?
Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de tomar
seu remédio?
Quando você se sente mal, com o remédio, às vezes, deixa de
tomá-lo?
Não
Intencional
X
Intencional
X
X
X
Adaptação de Guidelines from the Case Management Society of America for improving patient adherence to
medication therapies (2004).
3.9. AVALIAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS
Para a avaliação do acesso a medicamentos os pacientes foram agrupados, de acordo
com o modo pelo qual adquiriam seus medicamentos, nas seguintes categorias:
·
Totalmente pelo SUS;
·
Parcialmente pelo SUS;
·
Compra todos os medicamentos;
·
Não adquire.
Quanto à avaliação do grau de dificuldade encontrado para a aquisição dos
medicamentos, os pacientes foram agrupados nas seguintes categorias:
·
Possui dificuldade;
·
Não possui dificuldade.
O grau de dificuldade relatado levou em consideração a necessidade de um meio de
transporte (ônibus ou conduções) para chegar ao local de aquisição do medicamento, o tempo
dispensado nesta atividade, se encontrava todos os medicamentos necessários e nas
quantidades necessárias.
30
O gasto relativo com medicamentos foi avaliado de acordo com o valor mensal (em
Real) gasto com os medicamentos, sendo agrupados em:
·
Até R$ 50,00;
·
R$ 51,00 a R$ 100,00;
·
R$ 101,00 a R$ 151,00;
·
R$ 151,00 a R$ 200,00;
·
> R$ 200,00.
3.10.SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos da pesquisa foram constituídos pela população atendida as quintas e sextas,
no turno matutino, no Ambulatório de Cardiologia do HRC, no período entre 14 de abril e 14
de maio de 2011.
3.10.1. Critérios de Inclusão
Foram selecionados para o estudo aqueles pacientes que atenderam aos seguintes critérios
de inclusão:
·
Ser atendido no Ambulatório de Cardiologia no período determinado;
3.10.2. Critérios de Exclusão
Foram excluídos do estudo aqueles pacientes que procuram o atendimento para
obtenção de parecer médico para risco cirúrgico, àqueles que não responderam
completamente o questionário ou que, no momento da pesquisa, não estavam utilizando
medicamentos de uso contínuo.
3.11. ANÁLISE DOS DADOS
Foi realizada uma análise estatística dos dados coletados com o auxílio do programa
Microsoft Office Excel 2007.
Para a variável idade foram calculados a média e desvio padrão. Realizou-se, ainda,
uma análise descritiva dos dados por distribuição e estratificação de freqüências das variáveis
da pesquisa.
31
3.12. FLUXOGRAMA
Consulta previamente marcada para o Ambulatório de
cardiologia do HRC
Critérios de Inclusão
Convite para a participação da pesquisa e orientações sobre
os dados coletados
Assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e
realização da entrevista
Critérios de Exclusão
Análise dos dados
32
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As características demográficas, sociais e clínicas dos pacientes incluídos na pesquisa
estão apresentadas na Tabela 3. Identificou-se que a maioria da população estudada pertencia
ao sexo feminino (75%), com idade média de 61,2 ± 12,26, estado civil casado (48%), com
nível de escolaridade primário incompleto (26%) e renda familiar de até dois salários mínimos
(33%). Com relação à autopercepção da saúde, a maioria dos pacientes referiu que o estado de
saúde estava razoável (48%).
Tabela 3: Características sócio-econômicas dos pacientes incluídos no estudo
Características socioeconômicas
Gênero
Homens
Mulheres
Idade
15 a 29 anos
30 a 44 anos
45 a 59 anos
60 a 74 anos
> 75 anos
Estado marital
Solteiro (a)
Casado (a)
Viúvo (a)
Separado (a)
Amasiado (a)
Renda familiar
Até 1 SM (até R$ 540,00 )
1 a 2 SM (R$ 540,00 a R$ 1.080,00
2 a 3 SM (R$ 1.080,00 a R$ 1.620,00)
Mais de 3 SM (>1.620,00)
Escolaridade
Analfabeto
Primário incompleto
Primário completo
Primeiro grau incompleto
Primeiro grau completo
Segundo grau completo
Autopercepção da Saúde
Boa
Razoável
Ruim
Péssima
Número de pacientes
(n= 80)
%
20
60
25
75
1
4
30
34
11
1,2
5,0
37,5
42,5
13,8
7
48
12
10
3
8,8
60,0
15,0
12,5
3,8
16
33
13
18
20,0
41,3
16,3
22,5
7
26
14
11
11
11
8,8
32,5
17,5
13,8
13,8
13,8
11
39
22
8
13,8
48,8
27,5
10,0
33
A característica de faixa etária observada foi semelhante com a encontrada em outros
estudos realizados no Brasil, refletindo, portanto, a realidade nacional, em que se observa o
envelhecimento da população brasileira, havendo maior predomínio de idosas. Camarano
(2002) denomina este processo demográfico de “feminização da velhice” (BERTOLDI et al.,
2004; COELHO FILHO et al., 2004; ARRAIS et al., 2005; LOYOLA FILHO, 2006; SOUZA
et al., 2006; VOSGEGERAU, 2007; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008).
As explicações mais prováveis que contribuem para a observação deste processo estão
relacionadas com as altas taxas de mortalidade precoce dos homens, devido, principalmente, à
violência, acidentes de trânsito e doenças crônicas. Além disso, as mulheres possuem uma
maior preocupação com a sua saúde e, por isso, procuram mais os serviços de saúde, possuem
uma menor exposição aos riscos ocupacionais e menor taxa de mortalidade por causas
externas (BERTOLDI et al., 2004; FELICIANO et al., 2004; ARRAIS et al., 2005; SOUZA et
al., 2006; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008).
Com relação ao nível de escolaridade, estudos mostram que não há uma associação
significativa com o consumo de medicamentos. Neste estudo, não foi possível avaliar se
existe ou não esta associação. No entanto, pode-se observar que o grau de escolaridade foi
diretamente proporcional com o conhecimento dos medicamentos utilizados, ou seja, para o
nível de escolaridade analfabeto, apenas 28,5% dos pacientes lembraram totalmente ou
parcialmente dos medicamentos utilizados, enquanto que para os pacientes que possuíam o
segundo grau completo este índice foi de 75% (SANS et al., 2002; ARRAIS, 2004;
BERTOLDI et al., 2004).
A renda familiar mensal tem se mostrado como fator determinante no consumo de
medicamentos, uma vez que, a população com maior poder aquisitivo tem apresentado maior
nível de consumo de medicamentos, principalmente devido a maior facilidade de acesso aos
estabelecimentos farmacêuticos comerciais (ARRAIS, 2004; BERTOLDI et al, 2004; COSTA
et al., 2007).
Arrais (2004) demonstrou que as pessoas com renda familiar superior a três salários
mínimos consomem 1,3 vezes mais medicamentos do que aqueles com renda igual ou inferior
a três salários mínimos. Costa e cols. (2007) confirmam esta relação, mostrando que a classe
com renda acima de quatro salários mínimos foi responsável pelo consumo de
aproximadamente 84% do mercado total de medicamentos, enquanto que a classe com renda
de zero a quatro salários mínimos consome apenas 16% desse mercado.
Os resultados obtidos nesta pesquisa não revelam associação entre o consumo de
medicamentos e a renda mensal, provavelmente pelo fato de não se conseguir determinar a
34
quantidade correta de medicamentos por paciente, somente os autoreferidos por estes. Além
do que, a população estudada é caracterizada por indivíduos com nível socioeconômico mais
baixo, que dependiam, principalmente, do SUS para a aquisição de medicamentos e outros
serviços em saúde. Não possibilitando, assim, dados suficientes para a comparação com níveis
econômicos mais altos ou com outras formas de aquisição de medicamentos.
Almeida e cols. (2002) e Barros e cols. (2006) relacionam a autopercepção da saúde
com a prevalência de declaração de doenças crônicas, sendo esta relação inversamente
proporcional. O estudo realizado por Almeida e cols. (2002) demonstra que as referências a
problemas crônicos de saúde foram 2,69 vezes mais freqüentes entre indivíduos que avaliaram
seu estado de saúde como regular, e 3,15 vezes mais freqüentes entre as pessoas que
classificaram seu estado de saúde como ruim ou muito ruim. Dados estes que se reproduzem
neste estudo, em que, dos pacientes que disseram que seu estado de saúde estava bom, apenas
37% declaram possuir mais de uma doença crônica, em contraponto com 53%, 63% e 87,5%
para os classificaram o seu estado de saúde como razoável, ruim e péssimo, respectivamente.
Em estudos realizados por Bertoldi e cols. (2004) e Vosgerau (2007), revelam, ainda
que quanto melhor a avaliação da autopercepção da saúde menor é o consumo de
medicamentos. Vosgerau (2007) cita um estudo realizado na Suécia, em que se verificou que
as mulheres que classificaram sua saúde como ruim tiveram 17 vezes mais chance de
consumir medicamentos do que as que classificam o estado de saúde como excelente. No
entanto, a relação entre autopercepção e consumo de medicamentos não pôde ser estabelecida
para este estudo, já que o levantamento preciso dos medicamentos utilizados não foi possível.
As doenças auto- referidas pelos pacientes estão representadas na tabela 4, em que se
observa uma maior freqüência das doenças hipertensivas (43,9%), seguido pelas doenças
relacionadas com distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (20,6%) e
Diabetes Mellitus (12,3%). Ainda com relação às características clínicas, 57,5% dos pacientes
entrevistados declaram serem portadores de mais de uma doença crônica.
Segundo a OPAS (2005), dois importantes processos estão envolvidos com o perfil de
doenças que acometem os brasileiros. O primeiro, denominado “Transição Demográfica”,
resulta em um aumento da população idosa. O segundo, denominado de “transição
epidemiológica”, é caracterizado por modificações nos padrões de morbidade e mortalidade
que são influenciadas pelas características demográficas, sociais, econômicas e de acesso aos
serviços de saúde.
Apesar do processo de envelhecimento não estar condicionado ao desenvolvimento de
doenças crônicas, vários estudos epidemiológicos realizados no Brasil mostram que estas
35
doenças freqüentemente acometem os idosos. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (2005), 64,5% dos brasileiros com idade entre 50 a 64 anos possuem
alguma doença crônica. Este índice aumenta para 77,6% para os indivíduos com idade
superior a 65 anos. A OMS (2005) reforça, ainda, que 60% das mortes ocorridas no mundo
são em conseqüência de doenças crônicas.
Tabela 4: Doenças auto – referidas pelos pacientes incluídos no estudo
Doença crônica auto- referida
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Doença de Chagas
Neoplasias (tumores)
Melanoma e outras neoplasias malignas da pele
Neoplasia maligna da próstata
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
Transtornos da glândula tireóide
Diabetes Mellitus
Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras
lipidemias
Transtornos mentais e comportamentais
Transtornos do humor/ afetivos
Doenças do sistema nervoso
Mononeuropatias dos membros superiores
Doenças do olho e anexos
Glaucoma
Doenças do ouvido e da apófise mastóide
Doenças do ouvido interno
Doenças do aparelho circulatório
Doença Reumática crônica do coração
Doenças Hipertensivas
Outras formas de doença do coração
Doenças do aparelho respiratório
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores
Número
absoluto
(n= 155)
Frequência
(%)
7
4,5
1
1
0,6
0,6
4
19
32
2,6
12,3
20,6
1
0,6
1
0,6
2
1,3
1
0,6
1
68
6
0,6
43,9
3,9
2
1,29
2
3
1
2
1
1,3
1,9
0,6
1,3
0,6
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
Poliartropatias inflamatórias
Artroses
Lupus Eritematoso Sistêmico
Outros transtornos dos tecidos moles
Osteopatias e condropatias
As doenças cardiovasculares foram as de maior freqüência na população em estudo,
embora o este tenha sido realizado no Ambulatório de Cardiologia. No entanto, este resultado
reflete o cenário epidemiológico mundial, em que se observa uma maior prevalência desta
DCNT, que é responsável por, aproximadamente 30% das mortes no mundo (OMS,2003).
36
Os resultados revelam uma correlação entre número de doenças crônicas com o
número de medicamentos utilizados, ou seja, quanto mais doenças o paciente declarava maior
foi o número de medicamentos utilizados. Arrais (2005) consegue quantificar esta relação,
mostrando que as pessoas com patologias crônicas consumiram 2,1 vezes mais medicamentos
que os que não possuíam tais patologias.
A declaração dos medicamentos utilizados estão dispostos na tabela 5 e 6. A classe de
medicamentos mais utilizada foi a dos agentes cardiovasculares (65,1%), seguido pela classe
dos medicamentos para o tratamento de doenças do aparelho digestivo e metabolismo
(13,6%). Dentro da classe dos agentes cardiovasculares, a subclasse de medicamentos de
maior freqüência foi a dos diuréticos (17,%), fármacos que agem no sistema reninaangiotensina (16,45%) e os Beta-bloqueadores (14,47%).
Com relação aos fármacos (princípios ativos) mais utilizados, o captopril (7,24%) foi o
que teve maior frequência, seguido pelo propranolol (6,58%) e hidroclorotiazida (6,58%).
Com relação aos medicamentos contidos na Relação de Medicamentos Essenciais da SES/DF
(REME/DF), 97,3% dos medicamentos utilizados eram padronizados.
Os princípios ativos mais utilizados estão relacionados às doenças crônicas
autoreferidas mais freqüentes na população em estudo, sendo que os distúrbios
cardiovasculares foram os mais citados. No entanto, 1/5 dos pacientes (n= 32) declararam
possuir distúrbios do metabolismo de lipoproteínas, mas somente 15,6% (n= 5) destes
pacientes relataram estar em uso de medicamentos hipolipêmicos. Os prováveis motivos desta
relação desigual deve estra relacionado com o viés de memória e que esta patologia, de
acordo com a Diretrizes, recomenda-se o uso de tratamento não- farmacológico.
Vários estudos realizados no Brasil confirmam que os medicamentos que agem nos
sistema cardiovascular são os mais utilizados pela população idosa. Revelam, ainda, que os
anti-hipertensivos mais prescritos aos usuários do SUS são os Inibidores da Enzima
Conversora de Angiotensina (IECA), seguidos pelos diuréticos, betabloqueadores e fármacos
de ação central. Os resultados encontrados neste estudo foram semelhantes ao perfil de
utilização de medicamentos relatados em outras pesquisas. (BERTOLDI et al., 2004;
VOSGEGERAU, 2007; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008; OLIVEIRA et al., 2010).
37
Tabela 5: Classes de medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com a
classificação ATC
Grupo Anatômico Terapêutico
A - Aparelho digestivo e metabolismo
Medicamentos para tratamento da úlcera péptica
Medicamentos usados no tratamento da Diabetes
B - Sangue e órgãos hematopoiéticos
Medicamentos Antitrombóticos
C- Sistema Cardiovascular
Terapêutica cardíaca
Anti-hipertensivos de ação central
Diuréticos
Vasodilatadores diretos e vasoprotetores
Beta-bloqueadores
Bloqueadores do canal de cálcio
Fármacos que agem no sistema renina-angiotensina
Hipolipêmicos
G - Aparelho genito-urinário e hormonas sexuais
Hormônios sexuais, moduladores do sistema genital e fármacos
urológicos
H – Preparações sistema hormonal excluindo hormônios sexuais
e insulina
Corticosteróides e fármacos utilizados em terapia tireoidiana
J – Anti- infecciosos gerais para uso sistêmico
Antibióticos para uso sistêmico
M – Sistema músculo esquelético
Antiinflamatórios, antirreumáticos e antigotosos
Medicamentos para tratamento de doenças ósseas
N – Sistema nervoso
Psicolépticos
Psicoanalépticos
R – Sistema respiratório
Antiasmáticos
S – Órgãos sensoriais
Preparações oftalmológicas
Número
absoluto
(N=152)
%
20
4
16
8
8
99
4
5
27
6
22
5
25
5
2
13,2
2,6
10,6
5,3
5,3
65,1
2,6
3,3
17,8
3,9
14,5
3,3
16,4
3,3
1,3
2
1,3
2
1,3
2
1
1
3
2
1
11
7
4
5
5
1
1
1,3
0,7
0,7
2,0
1,3
0,7
7,2
4,6
2,6
3,3
3,3
0,7
0,7
38
Tabela 6: Medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com o CID - 10
Fármaco
Número absoluto
(N = 152)
%
Fármaco
11
10
10
9
9
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
7,2
6,6
6,6
5,9
5,9
5,3
4,6
4,6
3,3
3,3
3,3
2,6
2,6
2,6
2,0
2,0
2,0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Clortalidona
Amitriptilina
Insulina
Omeprazol
Digoxina
Fluoxetina
Ranitidina
Nifedipina
Estrogênio
Diltiazem
Oxibutinina
Sotalol
Aminofilina
Pilocarpina
Ibuprofeno
Alprazolan
Hidralazina
Cálcio
Diazepam
Isossorbida
Dipiridamol
Diclofenaco
Benzipenicilina
benzatina
Captopril
Propranolol
Hidroclorotiazida
Atenolol
Losartana
Indapamida
AAS
Metformina
Clonazepam
Metildopa
Enalapril
Gliclazida
Propatilnitrato
Espironolactona
Anlodipino
Sinvastatina
Furosemida
Levotiroxina
Formoterol
Budesonida
Atorvastatina
Vildagliptina
Carvedilol
Amiodarona
Número Absoluto
(N = 152)
%
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
0,7
Com relação à utilização de medicamentos, apenas ¼ dos pacientes (n= 22) conheciam
totalmente os medicamentos utilizados e 31,25% conheciam parcialmente (ver tabela 7).
Tabela 7: Conhecimento sobre a farmacoterapia dos pacientes incluídos no estudo
Conhecimento sobre a
farmacoterapia
Número de pacientes
(N= 80)
%
Conhece totalmente
22
27,5
Conhece parcialmente
25
31,25
Não conhece
33
41,25
O grande o número de pacientes que não possuem conhecimento sobre o tratamento
medicamentoso proposto é preocupante, principalmente pelo fato de, na sua maioria, utilizar
39
os mesmos medicamentos há algum tempo (medicamentos de uso contínuo). Este foi um dos
principais interferentes que dificultou o levantamento completo dos medicamentos utilizados
pela população em estudo, além da dificuldade de acesso aos prontuários e/ou receita dos
mesmos. Outro estudo também realizado em Brasília corrobora com resultados encontrados
nesta pesquisa, mostrando que apenas 18,7% dos pacientes compreendiam completamente a
prescrição (NAVES & SILVER, 2005).
Este desconhecimento se deve, em sua maioria, pela ausência de informações dadas
pelo prescritor durante a consulta e/ou de um atendimento individualizado e educativo no ato
da dispensação. Portela e cols. (2010) afirmam que a falta de informação dada ao paciente
sobre os medicamentos prescritos gera dificuldades para a adesão ao tratamento.
Considerando que a maior parte dos indivíduos desta pesquisa utiliza o SUS para a
aquisição de medicamentos, a presença obrigatória de farmacêuticos nos locais de
dispensação de medicamentos no SUS poderia minimizar a falta de conhecimento dos
usuários sobre os medicamentos, uma vez que, este profissional poderia dar instruções
adequadas aos usuários, além de realizar a avaliação sobre interações medicamentosas e
possíveis reações adversas, favorecendo, assim, o Uso Racional de Medicamentos (PEPE &
CASTRO, 2000; OMS, 2001, PORTELA et al., 2010).
Dos pacientes que conheciam totalmente ou parcialmente a farmacoterapia, houve o
predomínio do uso de dois medicamentos por paciente (29,79%) como mostra a tabela 8, com
média de 1,9 medicamentos/paciente (amplitude 1 a 8).
Tabela 8: Número de medicamentos utilizados por pacientes, sendo que, neste caso, foram incluídos apenas
aqueles que relataram totalmente ou parcialmente os medicamentos utilizados
Número de Medicamento
Número de pacientes
em uso auto- referido
(N= 47)
Um
12
25,5
Dois
14
29,8
Três
8
17,0
Quatro
5
10,6
> quatro
8
17,0
%
Estes resultados diferiam de outros estudos semelhantes realizados em Brasília e no
Brasil. Medeiros e cols. (2009) avaliaram o número de medicamentos por paciente em duas
fases, uma antes e outra depois da intervenção interdisciplinar. Na primeira fase (préintervenção) a média de medicamentos por paciente encontrada foi de 4,4 ± 2,9 (amplitude 1 a
40
16), e na segunda fase (pós-intervenção) está média diminuir para 3,1 ± 2,0 (amplitude 1 a 14)
(MEDEIROS et al., 2009). Ou seja, mesmo depois da intervenção interdisciplinar, a média de
medicamentos por paciente foi mais elevada do que a encontrada neste estudo. A média de
medicamentos por prescrição também foi inferior aos dados encontrados no estudo realizado
por Flores e Benvegnú (2009) que obtiveram uma média de 2,79 medicamentos por idoso; .
No entanto foi semelhante a média (1,5 medicamentos por paciente) encontrada no estudo
realizado por Bertoldi e cols (2004).
Porém esta diferença pode ter ocorrido, provavelmente, devido ao viés de memória,
pois apenas foram considerados os medicamentos utilizados quando o paciente sabia informar
todos.
A distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas com a
responsabilidade pela administração dos medicamentos e interferência na rotina diária está
representada na tabela 9. A responsabilidade da administração dos medicamentos cabia ao
próprio paciente em 92,5% dos casos. Sendo que 71,3% consideraram que o fato de tomar
medicamentos não interfere na rotina diária.
Embora a maioria dos indivíduos do estudo não necessita de uma segunda pessoa para
administrar os medicamentos e relata que o fato de utilizar medicamentos diariamente não
interfere em suas rotinas, a adesão ao tratamento ocorreu em apenas ¼ da população (n= 16),
revelando que estas variáveis não constituem os principais motivos para a não adesão ao
tratamento nesta população. Em um estudo realizado com portadores de Síndrome metabólica,
também se verificou que não houve correlação entre estas variáveis e a adesão ao tratamento
(SILVA, 2010).
Tabela 9: distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas com a responsabilidade pela
administração e interferência na rotina diária
Característica relacionada a utilização Número de pacientes
de medicamentos
(N= 80)
Responsabilidade de administração do
medicamento
Próprio paciente
74
Cuidador ou qualquer outra pessoa da
6
casa
Interferência na rotina diária
Muito
9
Moderado
6
Pouco
8
Não interfere
57
%
92,5
7,5
11,2
7,5
10,0
71,3
41
Com relação ao acesso a medicamentos (ver tabela 10), 87,5% dos pacientes relataram
utilizar o SUS para a aquisição dos medicamentos, sendo que 54 pacientes (67,5%) adquirem
exclusivamente estes medicamentos nos postos de saúde. Quando questionados sobre o grau
de dificuldade de aquisição dos medicamentos, 52,5% disseram ter dificuldade de adquirir os
medicamentos necessários. Quanto ao gasto relativo mensal com medicamentos, a maioria
dos pacientes (71,3%) referiu gastar até R$ 50,00.
O principal motivo relatado como o gerador da dificuldade de acesso aos
medicamentos foi o fato de não encontrar todos os medicamentos necessários para o
tratamento (n= 34).
Considerando ainda, que a maior parte da população estudada depende do SUS para
ter acesso aos medicamentos e que os medicamentos utilizados são padronizados, de acordo
com a REME/DF, infere-se com que o Estado vem falhando na distribuição gratuita de
medicamentos essenciais à população. Arrais (2004) reforça que, os pacientes acometidos por
doenças crônicas com baixo nível socioeconômico, o não-acesso compromete a renda familiar
ou favorece o abandono do tratamento, podendo levar ao agravamento do estado de saúde e
conseqüentemente aumentar os gastos relativos com internações.
Embora 51 indivíduos (63,7%) referiram ter conhecimento sobre o Programa Farmácia
Popular, apenas ¼ (n= 10) destes pacientes relataram já terem usufruído do benefício. Este
dado revela que, embora o Governo Federal tenha criado políticas para ampliar o acesso aos
medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos, não está atingindo a população
a ponto de aumentar o acesso a medicamentos de forma significativa.
Com relação ao grau de adesão ao tratamento farmacoterapêutico (ver tabela 11), notase que 64 pacientes (80%) possuem um baixo grau de adesão. Em relação ao tipo de baixa
adesão, observou- se que o comportamento não intencional foi predominante (64,1%), ou
seja, o paciente freqüentemente esquece de tomar o medicamento.
Leite e Vasconcelos (2003) afirmam que os fatores relacionados com a baixa ou não
adesão ao tratamento são: falta de acesso ao medicamento; número de medicamentos
prescritos e o esquema posológico, mesmo quando o medicamento seja fornecido; a doença
que acomete o indivíduo, no sentido de como o paciente entende seu estado de saúde e
compreende sua enfermidade, sendo que a ausência de sintomas é o fator mais determinante
para a não-adesão à terapia.
42
Tabela 10: Distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas ao acesso a medicamentos
Características relacionadas ao acesso
Modo de aquisição de medicamentos
Exclusivamente pelo SUS
Parcialmente pelo SUS
Compra
Grau de dificuldade na aquisição
Sim
Não
Gasto relativo
Até R$ 50,00
R$ 51,00 a R$ 100,00
R$ 101,00 a R$ 150,00
R$ 151,00 a R$ 201,00
> R$ 201,00
Conhecimento do Programa Farmácia Popular
Sim
Não
Utilização do Programa Farmácia Popular*
Sim
Não
Número de pacientes
%
54
16
10
67,5
20,0
12,5
42
38
52,5
47,5
57
7
4
8
4
71,25
8,75
5,0
10,0
5,0
51
29
63,75
36,25
10
41
19,6
80,4
* Neste critério foram incluídos apenas aqueles pacientes que relataram ter conhecimento do programa Farmácia
Popular (N=51).
Tabela 11: Grau de adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes incluídos no estudo, de acordo com o
teste de Morisky
Grau de Adesão
Alto grau de adesão
Baixo grau de adesão
Intencional
Não intencional
Ambos (intencional e não- intencional)
Número
Absoluto
16
64
5
41
18
%
20
80
7,8
64,1
28,1
No entanto, nenhum destes fatores foi relacionado com o baixo grau de adesão ao
tratamento pela população estudada. Ou seja, as características socioeconômicas, como idade,
sexo, estado civil e nível de escolaridade; a doença auto-referida; as classes de medicamentos
utilizadas e nem o fato de o paciente ter ou não o acesso do medicamento garantido pelo SUS
foram estatisticamente relacionadas com o grau de adesão.
A OMS (2003) revelou que, nos países desenvolvidos, apenas 50% dos indivíduos
com doenças crônicas aderem ao tratamento. Completa, afirmando que a magnitude e o
impacto da baixa adesão dos países em desenvolvimento são ainda maior, dada a escassez de
recursos e as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Sendo assim, a baixa adesão
encontrada neste estudo pode estar relacionada ao padrão de comportamento comum aos
43
doentes
crônicos,
sendo
agravados
pelos
motivos
relacionados
aos
países
em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
Vale ressaltar que, embora os pacientes conheçam os medicamentos utilizados, a dose
e horário de utilização não são indicativos, obrigatoriamente, que eles seguem corretamente
todos os critérios relacionados ao tratamento, uma vez que há outros fatores envolvidos na
utilização dos medicamentos. Entretanto, o fato de não entender uma única instrução de um
único medicamento já é suficiente prejudicar o controle da doença e aumentar os riscos
relativos a ela (PORTELA et al., 2010).
44
5. CONCLUSÃO
Este trabalho demonstra que os principais fatores relacionados à utilização de
medicamentos pela população estudada foram o acesso a medicamentos e adesão à
terapêutica.
A principal forma de aquisição dos medicamentos foi pelo SUS, revelando ainda, que
existem falhas na distribuição efetiva e igualitária destes produtos, trazendo prejuízos para o
controle e prevenção de agravos relacionados às doenças crônicas referidas pelos pacientes.
A baixa adesão ao tratamento foi outro fator que influenciou negativamente a
utilização de medicamentos. Este dado corrobora ainda com estudos que afirmam que a não
adesão a farmacoterapia é um problema comumente observado em pacientes com doenças
crônicas. Neste sentido, faz-se necessário o entendimento dos fatores que dificultam a adesão,
bem como a realização de uma abordagem multidisciplinar com o paciente.
A falta de conhecimento da população estudada sobre a farmacoterapia sugere
deficiências no atendimento médico e farmacêutico. Neste sentido, é de fundamental
importância a inclusão do farmacêutico nos serviços de saúde, principalmente na Atenção
Básica, pois a contribuição deste profissional pode melhorar o acesso a medicamentos, o
perfil de adesão ao tratamento e os gastos relativos com o consumo de medicamentos, ou seja,
garante a promoção do Uso Racional de Medicamentos.
Por fim, é importante considerar alguns fatores que podem ter limitado os resultados
deste estudo, como a influência do viés de memória, questionário não validado e dificuldades
do levantamento preciso dos medicamentos prescritos. Desta forma, é provável que as
doenças crônicas e os medicamentos utilizados estejam subestimados devido a problemas de
memória e/ou ausência de diagnóstico entre algumas pessoas.
Sendo assim, outros estudos são necessários para aprofundar as questões relacionadas
ao medicamento como: qualidade de prescrição, adequação da utilização dos medicamentos, e
adesão ao tratamento.
Desta forma, seria interessante utilizar novas estratégias com o objetivo de avaliar
outros fatores relacionados com a adesão ao tratamento, como o emprego de métodos
qualitativos, que permitem aprofundar o conhecimento e possibilita a análise de outras
características, como os fatores externos ao paciente, a sua compreensão do tratamento e a
relação estabelecida com os profissionais de saúde.
45
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M. F.; BARATA, R. B.; MONTERO, C. V.; SILVA, Z. P. Prevalência de
doenças crônicas auto-referidas e utilização de serviços de saúde, PNAD/1998, Brasil. Ciênc.
Saúde Coletiva, 2002, vol.7, n.4, pp. 743-756.
ALVES, L. C et al. A influência das doenças crônicas na capacidade funcional dos idosos do
Município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(8):1924-1930,
agosto, 2007.
ANDRADE, M. A.; SILVA, M. V. S.; FREITAS, O. Assistência Farmacêutica como
Estratégia para o Uso Racional de Medicamentos em Idosos. Semina Cienc. Biol. Saúde,
jan.-dez. 2004, vol.25, p. 55-63.
AQUINO, D. S.; BARROS, J. A. C.; SILVA, M. D. P. A automedicação e os acadêmicos da
área de saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, 2010, vol.15, n.5, pp. 2533-2538.
ARRAIS, Paulo Sérgio Dourado. Epidemiologia do consumo de medicamentos e eventos
adversos no município de Fortaleza-CE. 227 f. Dissertação (Doutorado em Saúde Coletiva)
- Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.
ARRAIS, P. S. D.; BRITO, L. L.; BARRETO, M. L.; COELHO, H. L. L. Prevalência e
fatores determinantes do consumo de medicamentos no Município de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(6):1737-1746, nov-dez, 2005.
ARRAIS, P. S. D.; COELHO, H. L. L.; BATISTA, M. C. S. S. Perfil de automedicação no
Brasil. Rev. Saúde Pública, v. 31, n. 1, p. 71-77, 1997.
ARAÚJO, G. B. S.; GARCIA, T. R. Adesão ao tratamento anti-hipertensivo: uma análise
conceitual. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2006; 8(2):259-72. Disponível em
<http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a11.htm>. Acesso em 20 de maio de 2011.
BARBOSA, R. G. B.; LIMA, N. K. C. Índices de adesão ao tratamento anti-hipertensivo no
Brasil e mundo. Rev. Bras. Hipertensão vol.13(1): 35-38, 2006.
BARCELOS, R. A. O acesso aos medicamentos essenciais no âmbito do Sistema
Único de Saúde. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
46
BERTOLDI, A. D.; BARROS, A. J. D.; HALLAL, P. C.; LIMA, R. C. Utilização de
medicamentos em adultos: prevalência e determinantes individuais. Rev. Saúde Pública
2004; 38(2): 228-38.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização dos serviços
correspondentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1990, p.18055,
col.1.
BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Medicamentos. Brasília, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Gestão Municipal de Saúde: textos básicos. Rio de Janeiro,
2001.
BRASIL. Ministério da Saúde.Política Federal de Assistência Farmacêutica 1990 a 2002.
Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
BRASIL. Conselho Nacional De Saúde. Resolução n.° 338, de 06 de maio de 2004. Brasília,
2004. Disponível em: <http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucao_sanitaria/338.pdf>.
Acesso em 19 maio de 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas
não-transmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Brasília:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. Fórum de competitividade da cadeia produtiva farmacêutica 2003-2006: O
desafio de prosseguir. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
CAMARGO-BORGES, C.; JAPU, M. Sobre a (não) adesão ao tratamento: ampliando
sentidos do autocuidado. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 64-71,
jan./mar., 2008.
CAMARANO, A. A. Envelhecimento da população brasileira: uma contribuição
demográfica. Rio de Janeiro (RJ): IPEA; 2002.
47
CARVALHO, F. D. Avaliação econômica do impacto da atividade de Atenção
Farmacêutica na assistência à saúde: aspectos metodológicos. 103 f. Dissertação
(Mestrado – Programa de Pós- Graduação em Ciências Médicas) – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2007.
CASTRO, L. L C. Farmacoepidemiologia no Brasil: evolução e perspectivas. Ciência &
Saúde Coletiva, 4(2):405-410, 1999.
CHAIMOWICZ, F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI: problemas,
projeções e alternativas. Rev. Saúde Pública, 1997, vol.31, n.2, pp. 184-200.
CINTRA, F. A.; GUARIENTO, M. E.; MIYASAKI, L. A.. Adesão medicamentosa em idosos
em seguimento ambulatorial. Ciênc. saúde coletiva, 2010, vol.15, suppl.3, pp. 3507-3515.
CLARK, D. O. Issues of adherence, penetration, and measurement in physical activity
effectiveness studies. Medical Care, v. 39, p. 409-412, 2001.
COELHO FILHO, J. M.; MARCOPITO, L. F.; CASTELO, A. Perfil de utilização de
medicamentos por idosos em área urbana do Nordeste do Brasil. Rev. Saúde Pública, 2004;
38(4):557-64.
COSTA, A. A.; MOURA, A. A. C.; MANGUEIRA, J. L.; BARBOSA-BRANCO, A. O uso
de medicamentos pelas famílias atendidas no Centro de Saúde 8 do Gama – DF. Com.
Ciências Saúde, 2007; 18(2): 117-127.
DAL PIZZOL, T. S. et al. Uso não-médico de medicamentos psicoativos entre escolares do
ensino fundamental e médio no sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, 2006: 22(1): 109-15.
DIAS, C. R. C. & ROMANO-LIEBER, N. S. Processo da implantação da política de
medicamentos genéricos no Brasil. Cad. Saúde Pública, 2006, vol.22, n.8, pp. 1661-1669.
DEWULF, N. L.; MONTEIRO, R. A.; PASSOS, A. D. C.; VIEIRA, E. M.; TRONCON, L. E.
Adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes com doenças inflamatórias intestinais
acompanhados no ambulatório de um hospital universitário. Revista Brasileira de Ciências
Farmacêuticas, vol. 42, n. 4, out./dez., 2006.
ESPANHA. Ministerio de Sanidad y Consumo. Consenso sobre Atencion Farmacéutica.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 26p., 2001.
48
ERDINE, S.; ARSLAN, E. Patient adherence in the treatment of hypertension: the role of
combination therapies. Future Cardiology, Istanbul, Turquia, v. 6, n. 4, p. 437-440, 2010.
FANHANI, H. R et al. Avaliação domiciliar da utilização de medicamentos por moradores do
Jardim Tarumã, município de Umuarama - PR. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v.
10, n. 3, p. 127-131, 2006.
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS FARMACÊUTICOS (FENEFAR). Mercado
farmacêutico deve movimentar em 2010 US$ 830 bi. Disponível em:
<http://www.fenafar.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=425:mer
cado-farmaceutico-deve-movimentar-em-2010-us-830-bi&catid=67:geral&Itemid=146>.
Acesso em 10 out 2010.
FELICIANO, A. B.; MORAES, S. A.; FREITAS, I. C. M. O perfil do idoso de baixa renda no
Município de São Carlos, São Paulo, Brasil: um estudo epidemiológico. Cad. Saúde Pública,
2004 novembro-dezembro; 20(6):1575-85.
FERNÁNDEZ-LLIMÓS, F. et al. Morbidity and Mortality Associated with Pharmacotherapy.
Evolution and Current Concept of Drug-Related Problems. Current Pharmaceutical Design,
2004; 10: 3947-3967.
FLORES, V. B.; BENVEGNÚ, L. Perfil de utilização de medicamentos em idosos da zona
urbana de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,
24(6):1439-1446, jun, 2008.
GIORGI, D. M. A. Estratégias para melhorar a adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Rev.
Bras. Hipertensão, vol.13(1): 47-50, 2006.
GOMES, C.A.P.G; FONSECA, A.L; SANTOS ,F.J.P.; et al. A Assistência Farmacêutica Na
Atenção À Saúde. Belo Horizonte: FUNED, 2007.
GUERRA JR, A. A. et al. Disponibilidade de medicamentos essenciais em duas regiões de
Minas Gerais, Brasil. Rev Panam Salud Publica, 2004;15(3):168–75.
GUSMÃO, J. L.; MION JR, D. Adesão ao tratamento – conceitos. Rev. Bras. Hipertensão
vol.13(1): 23-25, 2006.
HEINECK, I.; GALLINA, S. M.; SILVA, T,; PIZZOL, F. D.; SCHENKEL, E. P. Análise da
publicidade de medicamentos veiculada em emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, Brasil.
Cad. Saúde Publica, 1998; 14(1):193-198.
49
HUNT, P.; KHOSLA, R. Acesso a medicamentos como um direito humano. Revista
internacional de direitos humanos: SUR, v. 5, n. 8, 2008.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios: acesso e utilização de serviços de saúde em 2003.
Rio de Janeiro: IBGE; 2005.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Contagem da
população 2007. Rio de Janeiro: IBGE; 2007.
LEAL, S. O. et al. Prescrição leiga de medicamentos em farmácias de Passo Fundo (RS). Rev.
Médica HSVP, v. 10, n. 23, p. 35-37, 1998.
LEITE, S.N; VASCONCELOS, M.P.C. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos para
a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v.
8, n. 3, p. 775-782, 2003.
LEITE, S. N.; VEIRA, M.; VEBER, A. P. Estudos de utilização de medicamentos: uma
síntese de artigos publicados no Brasil e América Latina. Ciência & Saúde Coletiva,
13(Sup):793-802, 2008.
LOYOLA FILHO, Antônio Ignácio. Consumo de medicamentos entre idosos residentes
em comunidade: um estudo epidemiológico baseado no Projeto Bambuí e no Inquérito
de Saúde de Belo Horizonte. 100 f. Dissertação (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
LOYOLA FILHO, A. I.; UCHOA,E.; GUERRA, H. L. Prevalência e fatores associados à
automedicação: Resultados do projeto Bambuí. Rev. Saúde Pública, v. 36, n. 1, p. 55-62,
2002.
LOYOLA FILHO, A. I.; UCHOA,E.; LIMA-COSTA, M. F. Estudo epidemiológico de base
populacional sobre uso de medicamentos entre idosos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(12):2657-2667,
dez, 2006.
MARIN, N. et al. Uso racional de medicamentos (URM). Assistência Farmacêutica para
gerentes municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003.
MCLEAN, A. J.; LE COUTEUR, D. G. Aging biology and geriatric clinical pharmacology.
Pharmacology Reviews, 2004; 56:163-184.
50
MEDEIROS, E. F. F. et al. O. Intervenção interdisciplinar enquanto estratégia para o uso
racional de medicamentos em idosos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 1, p. 412/2009, 2009.
MELO, D. O.; RIBEIRO, E.; STORPIRTIS, S. A importância e a história dos estudos de
utilização de medicamentos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 42, n. 4,
2006.
NAVES, J. O. S.; SILVER, L. D. Evaluation of pharmaceutical assistance in public primary
care in Brasília, Brazil. Rev. Saúde Pública 2005; 39(2):223-230.
OLIVEIRA, L. C. F.; ASSIS, M. M. A.; BARBONI, A. R. Assistência Farmacêutica no
Sistema Único de Saúde: da Política Nacional de Medicamentos à Atenção Básica à Saúde.
Ciênc. saúde coletiva, 2010, vol.15, suppl.3, pp. 3561-3567.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA. Guia do instrutor em prática da boa prescrição
médica. Geneva: OMS, 2001.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Estratégia sobre medicamentos: países no
centro da questão, 2004-2007. Geneva: OMS, 2004.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Como desarrollar y aplicar una
política farmacéutica nacional. Genebra: OMS, 2003. Disponível em: <http:// whqlibdoc.
who.int/hq/2002/who-edm-2002.5-spa pdf>.. Acessado em: 05 de setembro de 2010.
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Atenção Farmacêutica no Brasil:
Trilhando Caminhos. Relatório 2001-2002. Brasília, Organização Panamericana de Saúde,
45p, 2002.
PANIZ, V. M. V. et al. Acesso a medicamentos de uso contínuo em adultos e idosos nas
regiões Sul e Nordeste do Brasil. Cad. Saúde Pública, 2008, vol.24, n.2, pp. 267-280.
PAULA, P. A. B. et al. Política de medicamentos: da universalidade de direitos aos limites da
operacionalidade. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 11111125, 2009.
PEPE, V. L. E.; CASTRO, C. G. S. O. A interação entre prescritores, dispensadores e
pacientes: informação compartilhada como possível benefício terapêutico. Cad. Saúde
Pública, 2000; 16(3):815-822.
51
PERETTA, M.; CICCIA, G. Reengenharia farmacêutica:guia para implementar a
atenção farmacêutica. Brasília: Ethosfarma, 2000.
PORTELA, A. S. et al. Prescrição médica: orientações adequadas para o uso de
medicamentos?. Ciênc. Saúde Coletiva, 2010, vol.15, supl.3, pp. 3523-3528.
PUPIN, Viviane; CARDOSO, Cármen. Agentes Comunitários de Saúde e os sentidos de “ser
agente”. Estudos de Psicologia, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 157-163, 2008.
ROMANO-LIEBER, N. S. et al. Revisão dos estudos de intervenção do farmacêutico no uso
de medicamentos por pacientes idosos. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 18,
n.6, 2002.
ROZENFELD, S. Avaliação do uso dos medicamentos como estratégia para a reorientação da
política de insumos em saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 5, n. 4, p. 388-422, 1989.
ROZENFELD, S. Prevalência, fatores associados e mau uso de medicamentos entre os
idosos: uma revisão. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.3, p.712-724,
maio/jun. 2003.
ROZENFELD, S.; VALENTE, J. Estudos de utilização de medicamentos – considerações
técnicas sobre coleta e análise de dados. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 2004; 13(2):
115 – 123.
ROZENFELD, S.; FONSECA, M. J. M.; ACURCIO, F. A. Drug utilization and
polypharmacy among the elderly: a survey in Rio de Janeiro City, Brazil. Rev Panam Salud
Publica. 2008; 23(1): 34–43.
SANS, S.; PALUZIE,G.; PUIG, T.; BALAÑA, L.; BALAGUER-VITRÓ, I. Prevalencia del
consumo de medicamentos en la población adulta de Cataluña. Gaceta Sanitaria, 2002;
16(2):121-30.
SARQUIS, L. M. et al. Compliance in antihypertensive therapy: analyses in
scientific articles. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 32, p. 335-353, 1998.
SECOLI, S.R. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por
idosos. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 63, n. 1, p. 136-140, jan./fev., 2010.
SILVA, T.; SCHENKEL, E. P.; MENGUE, S. S. Nível de informação a respeito de
medicamentos prescritos a pacientes ambulatoriais de hospital universitário. Cad Saude
Pública 2000; 16(2):449-455.
52
SILVA, M. V. S. et al. Consumo de medicamentos por estudantes adolescentes de Escola de
Ensino Fundamental do município de Vitória. Rev Ciências Farmacêuticas Básica
Aplicada, 2009; 30(1): 84-89.
SILVA, N.L. Avaliação da adesão de pacientes portadores de síndrome metabólica ao
tratamento: acesso e uso de medicamentos e conhecimento de fatores de risco. 125 f.
Dissertação (Doutorado em Ciências Farmacêuticas), Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
SOCIETY OF AMERICA. Guidelines from the Case Management Society of America for
improving patient adherence to medication therapies. CMGA -1, 2004.
SOUZA, L. M.; MORAIS, E. P.; BARTH, Q. C. M. Características demográficas,
socioeconômicas e situação de saúde de idosos de um programa de saúde da família de Porto
Alegre, Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2006, vol.14, n.6, pp. 901-906.
TEIXEIRA,J.J.V.; LEFÈVRE,F.A prescrição medicamentosa sob a ótica do paciente idoso.
Rev. Saúde Pública, v.35(2), p.207-13, 2001.
TESSER, C. D. Medicalização social (I): o excessivo sucesso do epistemicídio moderno na
saúde. Infarce – Comunic, Saúde, Educ, v. 9, p. 61 – 76, jan/ jun, 2006.
VIANA, A.L. D’Á.; FAUSTO, M. C. R.; LIMA, L. D. Política de Saúde e Equidade. São
Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 58-68, 2003.
VIEIRA, F. S. Possibilidades de contribuição do farmacêutico para a promoção da saúde.
Ciênc Saúde Coletiva; 12(1):213-20.
VILARINO, J. F.;SOARES, I. C.; SILVEIRA, C. M. et al. Perfil da automedicação em
município do sul do país. Rev. Saúde Pública, v. 32, n. 1, p. 43-49, 1998.
VITOR, R. S.; LOPES, C. P.; MENEZES, H. S.; KERKHOFF, C. E.. Padrão de consumo de
medicamentos sem prescrição médica na cidade de Porto Alegre, RS. Ciênc. saúde coletiva,
2008, vol.13, suppl., pp. 737-743.
VOSGERAU, Milene Zanoni da Silva. Consumo de medicamentos entre adultos
residentes na área de abrangência de uma Unidade Saúde da Família.128 f. Dissertação
(Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007.
53
WHO & UNICEF. Final report of the international conference on Primary Health
Care (Alma Ata Declaration). Geneva, 1978. Disponível em
<http://whqlibdoc.who.int/publications/9241800011.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2011.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Promoting rational use of medicines: core
components. WHO Policy Perspectives on Medicines, No5. Geneva: WHO, 2002.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies: evidence for
action. Geneva, 2003. Disponível em: <http://www.who.int/chronic_conditions/en/
adherence_report.pdf>. Acesso em: 20 de maio de 2011.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preventing chronic diseases : a vital
investment.Geneva: WHO, 2003. Disponível em:
<http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/>. Acesso em 18 de maio de 2011.
54
7. APÊNDICE
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA
PERFIL SÓCIO- ECONÔMICO
Data de Nascimento:
Peso:
Altura:
Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
Estado Conjugal:
( ) Solteiro(a)
( ) Casado(a) ( ) Separado (a) ( ) Viúvo(a) ( ) Outros
Renda Mensal:
(
)Até 1 SM (até R$ 540,00)
(
)De 1 a 2 SM (R$ 540,00 a R$ 1.080,00)
(
) DE 2 a 3 SM (R$ 1.080,00 a R$ 1.620,00)
(
) Mais de 3 SM (> R$ 1.620,00)
Escolaridade:
(
) Analfabeto (não sabe ler e escrever)
(
) Primário incompleto (1ª a 4ª série)
(
) Primário completo (1ª a 4ª série)
(
) Primeiro grau incompleto (5ª a 8ª série)
(
) Primeiro grau completo (5ª a 8ª série)
(
) Segundo grau incompleto (1° ao 3° colegial)
(
) Segundo grau completo (1° ao 3° colegial)
(
) Superior incompleto
(
) Superior completo ou mais
Auto-avaliação da Saúde:
( ) Excelente ( ) Boa ( ) Razoável ( ) Ruim ( ) Péssima
55
DOENÇAS CRÔNICAS
Possui doenças crônicas? Se sim, quais?
( ) Hipertensão arterial
( ) Diabetes Mellitus
( ) Osteoporose
( ) Dislipidemia
( ) Insuficiência Cardíaca
( ) Arritmia
( ) Artrite
( ) Outras _______________________________
UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Utiliza medicamentos de uso contínuo? Se a resposta for sim, qual (is) medicamento(s) é (são) utilizado
(s) e para que utiliza?
Medicamento
Quem lembra a você os horários de tomar os medicamentos?
(
) Ninguém (lembra-se sozinho)
(
) Cuidador (alguém da família ou que more com o (a) paciente)
(
) O (a) empregado (a) doméstico (a)
(
) Qualquer pessoa da casa
Quanto o fato de tomar os medicamentos atrapalha o seu dia-a-dia?
(
) Atrapalha muito
( ) Atrapalha moderadamente (mais ou menos)
(
) Atrapalha pouco
(
) Não atrapalha
Motivo do Uso
56
ADESÃO AO TRATAMENTO
Qual a freqüência em que se esqueceu de tomar o medicamento?
(
) Sempre
( ) Quase sempre
(
) Com freqüência
( ) Às vezes
(
) Raramente
(
) Nunca
Alguma vez deixou de tomar os medicamentos, por sua iniciativa, por ter se sentido melhor?
(
) Sempre
( ) Quase sempre
(
) Com freqüência
(
(
) Raramente
( ) Nunca
) Às vezes
Alguma vez deixou de tomar os medicamentos, por sua iniciativa, por ter se sentido pior?
(
) Sempre
( ) Quase sempre
(
) Com freqüência
( ) Às vezes
(
) Raramente
( ) Nunca
ACESSO AO MEDICAMENTO
Como você adquire os medicamentos necessários para o seu tratamento?
(
) Pega todos no posto de saúde
( ) Pega alguns no posto de saúde (Quantos? _______) e compra os outros na Drogaria/ Farmácia
(Quantos? _____) (RESPONDER PERGUNTA ABAIXO)
(
) Compra todos na Drogaria/ Farmácia
( ) Não adquire (RESPONDER PERGUNTAS ABAIXO)
(
) Outros __________________________
Se adquire os medicamentos PARCIALMENTE no posto de saúde, qual o motivo?
(
) Nem todos os medicamentos que necessita estão disponíveis no SUS
(
) Este medicamento sempre está em falta no posto
(
) Não sabe se tem no posto por isso compra
(
) Outros ___________________________________________________________________________
57
Se NÃO ADQUIRE os medicamentos, qual o motivo?
(
) Os medicamentos necessários não estão disponíveis no posto e não possui renda para comprá-los
(
) Não precisa dos medicamentos
(
) Decidiu não utilizar os medicamentos devido às reações adversas
( ) Outros ___________________________________________________________________________
Tem alguma dificuldade em ter acesso ao medicamento? (RESPOSTA DO ENTREVISTADOR)
( ) Sim
( ) Não
SE SIM, qual a dificuldade que você tem? (RESPOSTA DO PACIENTE)
(
) Precisa pegar ônibus / conduções;
(
) Demora para chegar no posto;
(
) Não encontra todos os medicamentos;
(
) Não encontra a quantidade necessária para o mês
(
(
) Tem dificuldade de chegar até o posto de saúde
) Outros ___________________________________________________________________________
Aproximadamente, quanto você costuma gastar por mês com a compra de seus medicamentos?
Anotar o valor mencionado: R$__________
Tem conhecimento do programa Farmácia Popular?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, já utilizou este benefício?
(
) Sim
(
) Não
58
8. ANEXO
A. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
O (a) Senhor (a) está sendo convidada a participar do projeto “fatores associados à
utilização de medicamentos pelos pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiologia do
Hospital Regional de Ceilândia – DF”.
O nosso objetivo é de avaliar os fatores relacionados à utilização de medicamentos
pelos pacientes atendidos pela Clínica de Cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia
O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo
através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo (a)
A sua participação será através de um questionário que você deverá responder
no setor de Cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia, na data combinada com um tempo
estimado para seu preenchimento de 10 (dez) minutos. Não existe obrigatoriamente, um
tempo pré-determinado, para responder o questionário. Será respeitado o tempo de cada um
para respondê-lo. Informamos que a Senhor (a) pode se recusar a responder qualquer questão
que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer
momento sem nenhum prejuízo para o senhor (a).
Os resultados da pesquisa serão divulgados Hospital Regional de Ceilândia e na
Universidade Católica de Brasília podendo ser publicados posteriormente. Os dados e
materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda do pesquisador.
Se o Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone
para: Eloá Fátima Ferreira de Medeiros, na Universidade Católica de Brasília telefone: 33569739, no horário: 8h às 16h.
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o
pesquisador responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.
______________________________________________
Nome / assinatura:
____________________________________________
Eloá Fátima Ferreira de Medeiros
Pesquisadora Responsável
Brasília, ___ de __________de 2011.