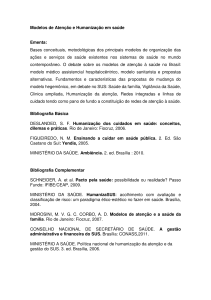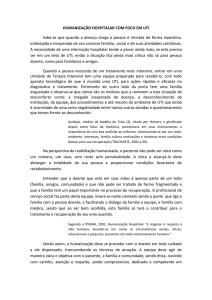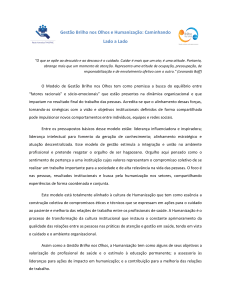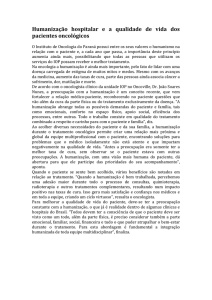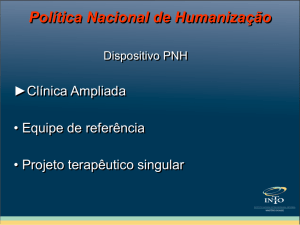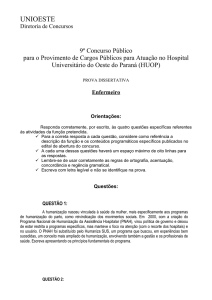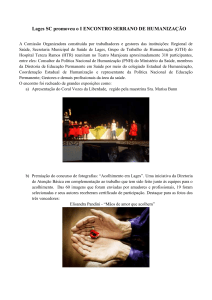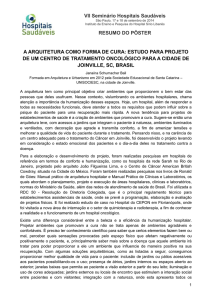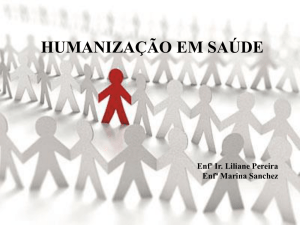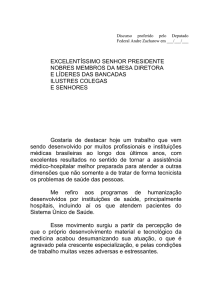VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INCLUSÃO DA FAMÍLIA NO
TRATAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR
Diener AK1, Massago FT2, Falavinha PC3, Wanderbroocke AC*
RESUMO: O presente artigo procurou identificar a visão da equipe de saúde
sobre a inclusão da família no processo de tratamento do paciente. Foram
encontrados 93 artigos utilizando as palavras-chave hospital, família e equipe.
Destes, foram selecionados 47 artigos com conteúdo pertinente ao objetivo
desta pesquisa. Os resultados indicaram que: o número de publicações sobre o
tema vem crescendo; a maioria das publicações sobre o tema foram realizadas
por profissionais da enfermagem; os temas apontam que os profissionais da
área de saúde aceitam e valorizam a entrada da família no ambiente hospitalar,
apesar das dificuldades levantadas diante da presença da mesma. Conclui-se
que a família tem seu lugar na instituição hospitalar, mas a compreensão acerca
de seu papel por parte da equipe de saúde ainda não está bem definido.
Palavras-chave: Hospital, equipe de saúde, família.
1.
INTRODUÇÃO
A família é fundamental na vida dos indivíduos, uma vez que é partindo
dos laços afetivos e da história de relações entre seus membros que o sujeito
se constitui. Entre as inúmeras conceituações de família, Minuchin e Fishman
(1990) a definem como um grupo natural que através dos tempos desenvolve
padrões de interações que governam o funcionamento de seus membros.
Portanto, a noção de família não se restringe aos vínculos de consanguinidade,
1
Psicóloga, Especialista em Psicologia Jurídica (PUC-PR) e especializanda em Psicologia
Hospitalar pela Faculdades Pequeno Príncipe.
2
Psicóloga, Especialista em Saúde Mental e Intervenção Psicológica (UEM) e especializanda
em Psicologia Hospitalar pela Faculdades Pequeno Príncipe.
3
Psicólogo, Especialista em Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise (PUC-PR) e
especializando em Psicologia Hospitalar pela Faculdades Pequeno Príncipe.
*
Psicóloga, Doutora em Psicologia (UFSC) e Docente de Psicologia pela Universidade Tuiuti
do Paraná e Faculdades Dom Bosco.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
mas à convivência e trocas afetivas e materiais entre pessoas por meio do
processo progressivo das interações recíprocas e regulares, durante um
período duradouro o qual confere sentido à vida dos envolvidos.
Diante do enfrentamento de uma doença a importância dos laços
afetivos torna-se ainda mais evidente, já que questões emocionais podem
emergir e a família é quem tem a maior possibilidade de oferecer suporte e
apoio ao paciente. Montefusco, Bachion e Nakatani (2008) apontam que a
doença desarticula a existência da pessoa doente e pode desencadear muito
estresse e ansiedade para a família e demais envolvidos, mas a família pode
auxiliar na reorganização reforçando a função protetora neste momento
considerado tão difícil.
Por esse motivo, a presença de familiares junto aos pacientes
hospitalizados tem sido reconhecida por pesquisadores da área da saúde.
Molina et al. (2007) afirmam que a presença da família, em especial da mãe,
pode favorecer a inter-relação entre criança, família e equipe proporcionando
uma melhor adaptação frente a hospitalização e facilitando a aceitação do
tratamento. Inaba, Silva e Telles (2005), também valorizam a presença de
familiares junto ao paciente:
A presença da família é muito importante para aliviar a ansiedade, o
desconforto e a insegurança. O profissional de saúde não pode, de
maneira alguma, negar o núcleo no qual o paciente vive, e o familiar é
muito importante para que se possa entendê-lo e, por esta razão,
ajudar na tarefa de reequilibrar e re-harmonizar o doente. (INABA,
SILVA e TELLES, 2005, p. 424)
Nesse mesmo sentido, Camon (2004) afirma que englobar a família no
atendimento hospitalar pode favorecer o paciente no alívio do sofrimento
provocado pelo afastamento de seu núcleo familiar. Para este autor:
Paciente e família é um binômio indivisível, e como tal deve ser
abordado no contexto hospitalar, com o risco de perder-se um
aspecto muito importante na intervenção do psicólogo: as implicações
emocionais que um processo de hospitalização provoca no núcleo
familiar. (CAMON, 2004, p.42)
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Historicamente, a entrada da família no hospital é recente. Até a década
de 60, a permanência de acompanhante em hospital não era permitida. De
acordo com Crepaldi e Varella (2000), foi a partir das décadas de 70 e 80 que
passou a existir programas de alojamento conjunto e mães acompanhantes
visando a humanização hospitalar. Desde então, leis e portarias foram criadas
para assegurar a permanência dos familiares no meio hospitalar. Não que esta
seja a única razão pela qual a família ganha espaço, mas é por meio destas
que, muitas vezes, se fazem valer as regras. Isto se torna evidente quando
Squassante e Alvim (2009) descrevem que no caso do cliente adulto
hospitalizado, por não lhe ser assegurado por lei a permanência do
acompanhante no hospital, esta pode se tornar ainda mais fragilizada.
A legislação vigente atualmente no Brasil dispõe do Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei 8.069 de 13/07/90, artigo 12 (Brasil, 1990), que assegura
o direito a presença de um acompanhante durante a hospitalização da criança
solicitando, inclusive, que as instituições de saúde proporcionem condições
para a permanência em tempo integral, de um dos pais ou responsáveis.
Posteriormente foi decretada a Lei 10. 216 (Brasil, 2001) que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. O artigo
terceiro descreve:
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos
mentais. (Brasil, 2001)
Os idosos constituem um grupo etário que também foi contemplado na
legislação, com o direito ao acompanhante, por meio do Estatuto do Idoso
(Brasil, 2003). No artigo 16 consta: “Ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar
as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo
critério médico”.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Urizzi et al. (2008) relembra que desde 2004, o Humaniza SUS através
da Política Nacional de Humanização (PNH) criou as “Cartilhas da PNH” que
incluem o capítulo “Visita aberta e Direito a acompanhante”, visando a
humanização da atenção e da gestão no campo da saúde. Os mesmos autores
apontam que leis municipais já foram decretadas como no caso de São Paulo,
através da Lei 10.689 de 30/11/2000, que em seu artigo primeiro decreta: “é
permitida a permanência de um acompanhante junto a pessoa que se encontre
internada em unidades de saúde sob responsabilidades do Estado, inclusive
nas dependências de tratamento intensivo ou outras equivalentes”.
De acordo com Costa e Monticelli (2006) projetos também foram criados
no intuito de favorecer e incentivar a participação da família no processo de
hospitalização como é o caso do Método Mãe-Canguru (MMC). Segundo
descrito, o Ministério da Saúde lançou em 2000 a Norma de Atenção
Humanizada ao Recém Nascido de Baixo Peso – Método Mãe-Canguru
(MMC), por meio da Portaria nº 693 GM/MS. Furlan, Scochi e Furtado (2003)
também discorrem sobre a adoção dessa estratégia:
A adoção do Cuidado Mãe-Canguru é estratégia essencial para
mudança institucional na busca da atenção à saúde, centrada na
humanização da assistência e no princípio da cidadania da família.
Mas, a simples implantação do Cuidado Canguru em uma instituição
não alcança os objetivos almejados, pois é necessária a capacitação
dos profissionais de saúde envolvidos no processo para
transformação do modelo assistencial. (FURLAN, SCOCHI E
FURTADO, 2003, p. 445)
Com base no reconhecimento do papel que a família tem a
desempenhar junto ao paciente, Montefusco, Bachion e Nakatani (2008)
apontam que as instituições de saúde precisam preocupar-se com o
desenvolvimento
de suas
equipes
multiprofissionais,
aprofundando
os
conhecimentos visando potencializar as forças da família como um todo. Isto
quer dizer que não basta criar leis e projetos se as pessoas envolvidas não
refletirem sobre sua real importância e buscarem conhecimentos para
favorecer a prática no cotidiano. Porém, o que se percebe em muitos hospitais
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
até o dia de hoje, é que por mais que existam as determinações, a presença de
familiares nem sempre é bem aceita ou estimulada pelos profissionais.
A Psicologia Hospitalar vem contribuindo para pensar a importância da
família e incentivar a sua participação no processo de tratamento do paciente
hospitalizado uma vez que tem a família englobada em seu foco de trabalho.
Para esta área de atuação, não só o paciente tem a sua importância, mas
também seus familiares e equipe acreditando ser a maneira mais eficaz de
atender a demanda advinda de uma condição de doença. De acordo com
Romano (1999) há quatro tipos de relações que interessam para o psicólogo
hospitalar: a pessoa com a pessoa, paciente com seus grupos (família, equipe),
paciente com o processo do adoecer e com a hospitalização e o paciente
consigo mesmo. Neste mesmo sentido, Camon (2004) sugere que os serviços
de psicologia hospitalar devem atuar em quatro níveis principais: junto ao
paciente, junto à família, junto à equipe de saúde e em situações especificas
como pré e pós operatório, altas hospitalares, entre outros.
Além disso, a Psicologia Hospitalar contribui em muito com as práticas
de humanização, dentro de um ambiente médico e de diferentes quadros
patológicos, onde as emoções ficam mais intensas e passam a ser
consideradas junto do quadro clínico do paciente e da família. A inclusão do
psicólogo no contexto hospitalar condiz em ampliar a assistência ao doente e
também nas pessoas que estão ao redor dele e possíveis acontecimentos.
Vemos que a Psicologia tem conseguido cada vez mais espaço no meio
hospitalar e como atua com foco definido, abrangendo paciente, família e
equipe a maioria dos profissionais dessa área valorizam a participação da
família no processo de tratamento do paciente. No entanto, os profissionais da
psicologia não trabalham sozinhos e são inseridos em uma equipe
multiprofissional que devem interagir, buscando a completude no atendimento
hospitalar. Desta maneira, sentiu-se a necessidade de buscar quais os
aspectos da relação profissional e família tem sido foco de estudos na
atualidade, uma vez que se entende que as publicações nessa área podem ser
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
um indicativo do interesse ou mesmo das dificuldades enfrentadas pelos
profissionais no cotidiano da assistência hospitalar.
Com base no que foi exposto, o presente artigo tem como objetivo
levantar a visão da equipe de saúde sobre da inclusão da família no processo
de tratamento do paciente. Para tanto, buscou-se informações pertinentes em
artigos científicos que retratam a realidade brasileira.
2.
MÉTODO
A metodologia adotada para este estudo foi a revisão de literatura,
visando analisar de forma crítica as publicações já existentes sobre o tema
escolhido (conceitos, resultados, discussões, conclusões). Entende-se que a
revisão das publicações possibilitam acesso a informações sobre a situação
atual do tema, aspectos já trabalhados, opiniões sobre a problemática e discutir
com maior precisão a questão envolvida.
No período de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 foram levantados 93
artigos, sem restrição de data, utilizando como critério as palavras: equipe,
hospital e família. A base de dados utilizada foi o site Scielo, pois reúne as
principais publicações científicas brasileiras correspondendo a realidade a ser
pesquisada neste artigo.
Os 93 artigos foram divididos em três grupos, onde cada autor ficou
responsável por analisar um grupo e apontar quais artigos correspondiam ao
objetivo desta pesquisa. Os artigos foram lidos na íntegra para uma análise
mais precisa. Os critérios de inclusão utilizados foram os temas: percepção da
equipe sobre a família e/ou paciente, comunicação e relacionamento entre
estes grupos. Foram excluídos os artigos que não abordavam, direta ou
indiretamente a visão e a relação da equipe com a família. Ao final, foram
selecionados 47 artigos.
As categorias analisadas foram: ano de publicação, natureza e
metodologia da pesquisa, participantes, especialidade médica, gestão da
instituição, temas de investigação e formação dos autores da pesquisa.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Vale destacar que alguns artigos não continham dados referentes a
todas as categorias que se visava pesquisar. Nos casos em que o pesquisador
encontrou dificuldade em reconhecer os dados pertinentes a uma ou mais
categorias, os demais pesquisadores realizaram a leitura do artigo para a
busca de consenso e os dados que não foram passíveis de análise foram
inseridos no quesito não consta.
3.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o objetivo traçado pelos autores deste artigo e através
da
metodologia
já
apresentada,
foi
possível
observar
características
importantes no que diz respeito ao relacionamento família e equipe no
ambiente hospitalar durante o processo de tratamento.
Com relação a categoria ano de publicação vemos que, os artigos
selecionados, foram publicados entre os anos de 1997 e 2010.
GRÁFICO 1 – ANO DE PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS REFERENTES A VISÃO DA EQUIPE
SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE TRATAMENTO.
Pode-se observar no gráfico que o número de publicações ou produções
escritas vem aumentando a cada ano, principalmente nos últimos cinco anos.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Este aumento pode ter sido motivado pelo crescente interesse dos profissionais
em aperfeiçoamento e busca por novas formas de trabalho favorecendo a
relação paciente, equipe e família. Além disso, com o desenvolvimento da
tecnologia, publicações eletrônicas passaram a ser possíveis e aceitas no meio
acadêmico. No entanto, a análise destes dados mostram que, ainda assim, a
quantidade de publicações é pequena frente ao grande número de profissionais
que atuam na área da saúde.
No que diz respeito a categoria formação profissional dos autores dos
artigos pesquisados, percebe-se que houve interesse por parte de profissionais
de diferentes formações como: fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros,
médicos, assistentes sociais, entre outros, para produzirem artigos científicos.
GRÁFICO 2 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS AUTORES DOS ARTIGOS REFERENTES
A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO
DE TRATAMENTO.
O processo de levantamento de dados e análise dos artigos incluídos na
pesquisa mostra que diversas áreas, como a medicina, enfermagem,
psicologia, serviço social tem desenvolvido pesquisas científicas sobre o tema
abordado. Vê-se também que há trabalhos sendo realizados em equipe
multiprofissional, o que demonstra a necessidade da união dos conhecimentos
já que na instituição todos estão interligados.
No entanto, percebe-se um maior número de publicações na área da
enfermagem totalizando 64%. Isto pode ocorrer pelo fato de que, dentro da
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
realidade hospitalar, esta área ainda é soberana em número de profissionais
envolvidos e consequentemente, no tempo dispensado à assistência aos
pacientes. Portanto, pode-se pensar que pelo fato de essa categoria
profissional se deparar constantemente com questões relacionadas ao
emocional do paciente e familiares, demonstram interesse no aprofundamento
de questões que fazem interface com o desempenho de funções técnicas. Esta
prática pode contribuir com o trabalho de outros profissionais, mas, não exime
os demais da necessidade de também desenvolver estudos sobre suas áreas
específicas favorecendo a troca de conhecimentos multidisciplinares e
promovendo a melhora no atendimento global do paciente e família.
É possível perceber neste gráfico que a Psicologia, apesar de ter
incutido em seu trabalho hospitalar as questões referentes ao relacionamento
paciente, equipe e família, o número de publicações ainda é baixo, apenas,
11%, o que representa 5 artigos entre os 47 pesquisados. Fica evidente a
necessidade de o profissional psicólogo desenvolver-se no campo da pesquisa
trazendo para o cenário científico conhecimentos que podem contribuir, e
muito, no desenvolvimento da prática profissional no âmbito hospitalar.
Sobre a categoria instituição vemos, no gráfico a seguir, uma
predominância das publicações desenvolvidas por profissionais que atuam em
hospitais, 87%, totalizando 41 produções, conforme mostra o gráfico abaixo.
Em 9% dos artigos, o ambiente estudado foi o ambulatório e em 4% não
informaram a localidade do estudo.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
GRÁFICO 3 – TIPO DE INSTITUIÇÃO DOS AUTORES DAS PUBLICAÇÕES DOS ARTIGOS
REFERENTES A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA
NO PROCESSO DE TRATAMENTO.
Esse dado pode ser justificado pelo fato de o hospital representar o local
onde as experiências e vivências da relação equipe e família ficam mais
acentuadas por se estenderem temporalmente, diferente das relações
estabelecidas em contatos ambulatoriais. Para Quirino, Collet e Neves (2010) o
ambiente hospitalar e a hospitalização são vistos como uma situação
extremamente perturbadora na vida de qualquer ser humano, e reflete nos
relacionamentos entre os próprios familiares e deles com a equipe.
Quanto ao tipo de gestão envolvida nos trabalhos pesquisados, percebese que o maior número de publicações emerge dos hospitais públicos, 70% no
total. Os hospitais privados somam apenas 9% e 21% dos artigos não
especificaram o tipo de gestão.
Gestão
10; 21%
Pública
Privada
4; 9%
Não consta
33; 70%
GRÁFICO 4 – TIPO DE GESTÃO DOS AUTORES DAS PUBLICAÇÕES DOS ARTIGOS
REFERENTES A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA
NO PROCESSO DE TRATAMENTO.
Entende-se que as instituições públicas têm demonstrado maior
interesse no desenvolvimento de trabalhos científicos e isto pode ocorrer pelo
próprio incentivo e pela cultura dessas instituições. O fato de estarem ligadas a
universidades e centros de ensino também pode contribuir para este aumento.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
O gráfico abaixo apresenta a porcentagem dos artigos publicados
quanto a categoria participantes.
Participantes
5; 16%
Acompanhantes e
1; 3%
familiares
Equipe
16; 52%
Pacientes
Família e equipe
9; 29%
GRÁFICO 5 – PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NAS PESQUISAS SELECIONADAS
REFERENTE A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO
PROCESSO DE TRATAMENTO.
Quanto aos participantes das pesquisas selecionadas para este estudo
52% envolvia acompanhantes e familiares; 29% a equipe, 16% a equipe e
família e 3% pacientes. As palavras-chave da pesquisa contemplavam, além do
hospital mencionado acima, a família e equipe. Vemos que a incidência maior
está nos estudos referente a acompanhantes e familiares, o que mostra que há
uma
preocupação
no
envolvimento
destes
no
ambiente
hospitalar.
Relacionando o gráfico 1 – ano de publicação com o gráfico 5 – participantes
envolvidos, percebe-se que a intensificação das pesquisas relacionadas a
acompanhantes e familiares, coincidem e podem ter sido estimuladas através
da validação de leis brasileiras como Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) a Política
Nacional de Humanização (Brasil, 2004), o já existente Estatuto da Criança e
do Adolescente (Brasil, 1990), dentre outras que enfatizam a necessidade de
incluir o familiar na assistência ao paciente.
Estas leis propõem que as instituições busquem adequação para
viabilizar a participação dos familiares e acompanhantes entendendo que esta
pode favorecer no processo de tratamento e no bem estar do paciente. Apesar
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
disso, ainda hoje, principalmente em Unidades de Terapia Intensiva,
encontramos hospitais que dificultam esta entrada.
Garantir esse acesso torna-se um desafio para as instituições que
assistem pacientes graves, uma vez que a implementação de
intervenções junto a familiares de pacientes internados em UTI não é
apenas responsabilidade individual da equipe. A gerência dessas
mudanças deve ser assumida pelos gestores das instituições públicas
ou privadas. (URIZZI et al. 2008, p. 374)
Embora ainda haja resistência, Crepaldi e Varella (2000) descrevem
que nos últimos anos passou a existir uma preocupação da equipe em
conhecer a família, entender qual representação tem sobre saúde e doença, e
como poderiam intensificar sua participação no processo de tratamento. Isto
mostra que a equipe está buscando recursos práticos de intervenções e de
conhecimento para auxiliá-los no trabalho. Da mesma forma, Molina et al
(2007) discorrem:
(...) os profissionais se sensibilizam com o sofrimento alheio,
mostram-se mais solidários e humanos, tentam compreender a
situação vivencial da criança e da família, tornam-se empáticos e, a
partir da compreensão da dimensão do sofrimento, buscam maneiras
de amenizar a tristeza e a angústia de ambos, planejam intervenções
práticas para ajudar os pais e outros familiares a compreenderem o
processo doloroso da internação. (MOLINA et al, 2007, p.440 e 441)
Outro dado importante é que 16% dos artigos contemplam como
participantes da pesquisa a família e equipe conjuntamente, o que pode
significar que as equipes têm se preocupado com as relações estabelecidas
entre os profissionais e os familiares. Sobre este assunto, Gaiva e Scochi
(2005), complementam que a visão de cooperação e parceria na assistência à
criança hospitalizada ainda está em processo de construção. Para estes
autores, compartilhar saberes, poderes e espaços é uma tarefa complexa e
exige uma atitude cordial e centrada de ambas as partes sendo pautada de
muito respeito, diálogo e empatia.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
No que diz respeito a categoria metodologia, vemos que 85% são
pesquisas empíricas e 85% se utilizam da análise qualitativa.
Método
Natureza da Pesquisa
5; 11%
2; 4%
6; 15%
Empírica
Qualitativo
Teórico - Revisão
40; 85%
Teórico - Relato
34; 85%
Quali-Quantitativo
GRÁFICO 6 – METODOLOGIA UTILIZADA NAS PESQUISAS SELECIONADAS REFERENTE
A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO
DE TRATAMENTO.
Os dados sobre a natureza da pesquisa revelam a forte tendência a
realização de estudos empíricos (85%), o que pode demonstrar a busca dos
pesquisadores por aprofundar o conhecimento ou buscar novos dados acerca
da temática. Em seguida, os relatos de experiência (11%), indicam que
proporcionalmente ainda é incipiente a prática de compartilhar a experiência
adquirida em periódicos científicos, o que poderia auxiliar sobremaneira o
desenvolvimento da área. Apenas 4% dos artigos foram dedicados à revisão
teórica sobre o tema, talvez por ainda haver um número relativamente pequeno
de produções.
Entre os estudos empíricos, verificou-se que na grande maioria (85%)
eram estudos qualitativos, que buscaram a subjetividade por meio da interrelação entre pesquisador e participantes, denotando a tendência nas ciências
humanas a privilegiar essa forma de fazer pesquisa. Os demais estudos
empregaram metodologia quali-quantitativa (15%), ao expressarem de forma
numérica as categorias obtidas a partir do relato dos participantes.
O gráfico seguinte apresenta em números e porcentagem os artigos
publicados pela categoria especialidades médicas.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
1; 2%
2; 4% 1; 2%
3; 6%
2; 4%
Especialidades Médicas
Medicina Intensivista
Neonatologia
Ortopedia
Pediatria
Cuidados Paliativos
Clínica
Cirúrgico
Oncologia
Não consta
Psiquiatria
Geriatria
Geral
16; 32%
3; 6%
4; 8%
3; 6%
3; 6%
2; 4%
10; 20%
GRÁFICO 7 – ESPECIALIDADES ENVOLVIDAS NAS PESQUISAS SELECIONADAS
REFERENTE A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO
PROCESSO DE TRATAMENTO.
Neste gráfico, pode-se observar que a medicina intensivista abarca a
maior parte das publicações envolvidas neste artigo, contabilizando 32%. A
busca por maior conhecimento e aprofundamento sobre as relações
estabelecidas entre paciente, equipe e família pode decorrer do fato de esta
especialidade ser bastante específica e crítica por tratar de pacientes graves
com possibilidade de morte iminente.
O estresse da criança é inevitável durante o período de internação
na UTI, visto que vários são os fatores causadores deste distúrbio,
entre os quais o medo, a dor, os longos períodos de vigília, a
mudança do ambiente e a ausência da família. Os resultados
encontrados mostram que os profissionais têm conhecimento do
estresse e do sofrimento que a criança vivencia diante da internação.
A ansiedade, a angústia e o sofrimento dos pais “mexem” com
alguns profissionais, que apresentam dificuldades em lidar com
situações dolorosas quando são portadores de más notícias.
(MOLINA et al, 2007, p. 440)
Apesar disso, percebe-se que por mais que se tenha conhecimento
acerca dos sentimentos despertados pela internação em unidade de terapia
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
intensiva, ainda assim, vemos que há uma dificuldade em aceitar a
permanência do familiar nestas unidades.
Apesar de todas as vantagens discutidas na literatura acerca dos
benéficos da presença dos pais na UTIN e da legislação pertinente, a
liberação das visitas não é um consenso em nossa realidade e os
pais ainda são submetidos a horários pré-estabelecidos na rotina
hospitalar para ter acesso ao filho internado. Como se pode ver, a
instituição estabelece as normas administrativas, considerando
exclusivamente a necessidade da instituição, em detrimento das
necessidades dos bebês e famílias. (GAIVA E SCOCHI, 2005, p. 445)
Outro dado importante a ser considerado é que 20% dos artigos
publicados decorrem de unidades pediátricas e não se pode negar a influência
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) que determina a
necessidade de acompanhamento integral da criança e adolescente durante o
processo de tratamento. Esta condição pode ter estimulado o crescimento do
interesse na busca de conhecimentos sobre a importância da família no
ambiente pediátrico.
Sobre este assunto, Molina et al (2007) afirma que dividir o espaço com
a família pode gerar medo e ansiedade e alterar a dinâmica do ambiente e do
trabalho a ser desenvolvido. Além disso, por ser a pediatria uma unidade que
contempla a infância, pode desencadear confusão de papéis a serem
desempenhados pela família e equipe. Squassante e Alvim (2009) afirmam
que, muitas vezes, a equipe de enfermagem assume uma posição
monopolizadora ou simplesmente transferem suas obrigações à família não se
organizando
para
integrar
o
familiar
numa
assistência
planejada
e
compartilhada. Gaiva e Scochi (2005) apontam que para muitos profissionais a
família é representada como agentes controladores e fiscalizadores que podem
tumultuar o ambiente prejudicando a assistência.
Das demais especialidades apresentadas nas pesquisas, vemos que o
índice de trabalhos publicados nestas áreas ainda é pequeno. Se
considerarmos as leis existentes no que tange ao acompanhamento familiar,
percebe-se que estas não contemplam o adulto especificamente o que
confirma a influência da lei no interesse pelo estudo das relações paciente,
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
família e equipe. No entanto, vemos que a gerontologia, pautada pelo Estatuto
do Idoso (Brasil, 2003), apresenta apenas 2% de trabalhos envolvendo a
temática o que comprova que não somente a legislação, mas o genuíno
interesse pelo assunto é que se transforma em conhecimento.
Os artigos selecionados também foram analisados quanto ao tema de
investigação, representados no gráfico abaixo.
Temas de investigação
Relação equipe-família
10; 21%
Cuidados com o paciente
19; 41%
2; 4%
Percepção da equipe sobre a família e
família sobre a equipe
Família no hospital
2; 4%
Método Mãe-Canguru
2; 4%
Perfil sócio econômico e familiar
4; 8%
Acompanhamento a pacientes
4; 8%
5; 10%
Outros
GRÁFICO 8 – TEMAS DE INVESTIGAÇÃO DAS PESQUISAS SELECIONADAS REFERENTE
A VISÃO DA EQUIPE SOBRE A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO
DE TRATAMENTO.
A maior parte dos artigos versou sobre a relação e comunicação entre
equipe-família, 41%. A palavra relação remete a convivência e interação entre
indivíduos. Não há interação entre pessoas sem que haja comunicação, seja
esta verbal ou não verbal. No relato dos artigos percebeu-se a dificuldade que
as equipes apresentam no que diz respeito a interação com as famílias. Luz et
al (2009), apontou que para os técnicos de enfermagem as famílias
representam uma sobrecarga em seu trabalho e os fazem se sentir
desprotegidos.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Os familiares se assustam com os procedimentos que devemos
fazer, eles os acham muito agressivos, temos de explicar e acalmar
a cada procedimento. A regra é eles saírem do quarto, mas nem
sempre eles o fazem (DSC1). (LUZ et al, 2009, p. 308)
Os mesmos autores referem que os erros na comunicação podem gerar
conflitos. Entretanto, foi possível levantar que em nenhum estudo, os
profissionais da área de saúde negaram os benefícios que a família traz ao
paciente. Os profissionais apontam que as restrições estão ligadas a falta de
suporte institucional e falta de valorização da instituição para com os
profissionais. Para sanar este problema, estes artigos trazem as diretrizes da
Política Nacional de Humanização (PNH) como uma possibilidade de solução,
trabalhos
voltados
aos
profissionais
da
área
da
saúde,
trabalhos
interdisciplinares e adequação do ambiente (família, paciente e equipe).
Para que a mudança ocorra é necessário à articulação da gestão
institucional e do setor, visando oferecer condições de trabalho,
recursos humanos, espaço físico e formação profissional para o
acolhimento desse familiar e a possibilidade de uma assistência mais
humanizada contemplando as diretrizes da PNH. (URIZZI et al 2008,
p. 374).
Araújo et al (2009), afirmam que uma comunicação adequada (com
informações objetivas, esclarecedoras e orientadas) é um cuidado que viabiliza
um trabalho mais humanizado.
Cinco estudos (10%) estavam relacionados ao tema “cuidado com o
paciente”. Correlacionando com o gráfico 5, no qual foram apresentados os
participantes, este remete a problemática já citada anteriormente: a família
fazendo parte da unidade tratamento, sendo vista enquanto sujeito a ser
cuidado ou como cuidadora do paciente. Ainda citando Araújo et al (2009), os
autores apontam que a família que se sente acolhida pela equipe de saúde e
com boa compreensão do quadro clínico de seu familiar contribui para o
tratamento do paciente.
De acordo com Silveira et al (2005):
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
É preciso valorizar a presença da família no cuidado prestado,
principalmente quando ela vivencia a internação de um familiar na
UTI. Mesmo a família encontrando-se em um estado de fragilidade
emocional ou de crise, continua ocupando um papel de destaque
para o paciente, contribuindo para que se sinta protegido, mais
seguro, amado e significativo para o seu grupo familiar, tais
sentimentos, na maioria das vezes, o estimulam a lutar pela vida.
(SILVEIRA et al, 2005, p. 127)
Aqui podemos citar dois temas parecidos mas com conotações
diferentes: o cuidar do paciente e o acompanhar o paciente. A palavra cuidado
remete
a
zelo,
sendo
este
físico
(técnico)
e/ou
emocional.
Já
o
acompanhamento ao paciente não remete a assistência técnica prestada ao
sujeito mas sim, ao suporte emocional a ele oferecido.
Este ponto se correlaciona com os temas “percepção da equipe sobre a
família e da família sobre a equipe”, 8% e “família no hospital”, 8%. Estes são
conteúdos que permearam indiretamente os demais artigos analisados, mas
que foram tema central para alguns estudos.
De acordo com Collet et al (2004, p.429), as equipes multiprofissionais
apontaram a mudança em sua conduta a partir da entrada da família no
ambiente hospitalar.
Dentre as modificações citadas, salientamos: interferências da família
durante os procedimentos como venopunção; a presença de objetos
que são trazidos em excesso para a unidade e que tornam o ambiente
visualmente desagradável; a presença de conflitos na convivência com
a família que exige paciência e tolerância por parte dos profissionais,
pois questionam ou ficam solicitando atenção; a não colaboração com a
limpeza do setor nem da unidade da criança. (COLLET et al, 2004,
p.429)
Os profissionais deixam de atender somente o paciente para também
cuidar do familiar. Referem que esta conduta acaba prejudicando a qualidade do
trabalho desenvolvido junto ao paciente, seja pelo menor tempo investido no
cliente ou estresse causado pelo familiar.
Para Monticelli e Boehs (2007), as equipes tratam os familiares de acordo
como estes tratam o paciente e como interferem na rotina de trabalho do
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
profissional (positiva ou negativamente). Com isto, suas crenças e hábitos
familiares são “julgados” por estes profissionais.
Tanto no olhar da equipe da unidade pediátrica como no alojamento,
as crenças e práticas da família são, de forma geral, consideradas
irrelevantes e são feitas tentativas de correção .
(…)
A equipe de profissionais da unidade pediátrica olha o jeito do familiar
acompanhante classificando-o em diferentes tipos, e a partir daí
passa a desenvolver cuidados específicos e a decidir se reforça as
normas de comportamento ou se as afrouxa. (MONTICELLI e
BOEHS, 2007, p.7)
Em contrapartida, Monticelli e Boehs (2007), informam que os familiares
categorizam os profissionais por “boazinhas”, profissionais que escutam e
dialogam, ou “nem tanto”, não dialogam com os familiares. Neste mesmo
sentido, Inaba, Silva e Telles (2005), apresenta relatos da família queixando-se
que o relacionamento da equipe com eles é técnico e não humanizado.
Falando de “família no hospital”, Monticelli e Boehs (2007) apontam para
as redes de solidariedade, ou família de dentro (do hospital), que se formam
dentro do ambiente hospitalar. Estes familiares trocam experiências, informações
sobre regras do hospital (e como burlá-las), perfil da equipe, ajudam nos
cuidados dos pacientes de outros leitos, conselhos de como ajudar os pacientes
nos momentos de procedimentos.
A força desta família de dentro é sutil, não declarada; às vezes bem
aceita pela equipe, às vezes rejeitada por tornar-se um complô que
pode estimular e dar força para quem está chegando e para quem
ainda não tem experiência. Esta família de dentro exerce pressão
velada pelos direitos dos familiares, tornando a vida menos árdua
neste espaço instituído. (MONTICELLI e BOEHS, 2007, p.6)
Dois artigos (4%) trataram do Método Mãe Canguru e outros dois
abordaram o perfil sócio-econômico e familiar. Na categoria “outros” (21%)
foram reunidos 10 artigos com problemáticas diversificadas que caracterizaram
tema central para cada um dos demais artigos, a saber: humanização, grupos
psicoeducativo; papel social da mulher; Psicologia Hospitalar; visão Sistêmica;
grupo de apoio; atendimento a crianças e famílias vítimas de violência;
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
mudança na dinâmica familiar; família dentro de UTI´s; sentimentos presentes
na hospitalização do paciente e familiar.
O número total de temas (48) excede ao número de artigos analisados
(47) pois o artigo desenvolvido por Monticelli e Boehs, 2007, refere sobre a
“percepção da família sobre a equipe, equipe sobre família” e aborda o tema
“família no hospital”.
Diante do exposto, dos artigos estudados, vemos que ainda há muito a
ser trabalhado no que tange a inserção da família no ambiente hospitalar. Além
dos aspectos relacionamento paciente, equipe e família vemos, também, que a
família adentra ao hospital com suas próprias necessidades.
As famílias dos pacientes necessitam também de cuidados e não
devem ser vistas como um auxílio ‘técnico’ ao trabalho da
enfermagem, mas como indivíduos a serem cuidados também pela
enfermagem. Para que a família cumpra o seu papel de dar suporte à
situação vivenciada pelo paciente, também precisa de suporte nas
suas necessidades físicas e emocionais, como uma conversa
esclarecedora, uma cadeira extra para que o familiar possa ficar
tocando seu ente querido, um cafezinho num momento mais crítico.
(INABA, SILVA E TELLES, 2005 p. 425)
Além disso, Cunha e Zagonel (2008) afirmam que as relações
intersubjetivas de cada um são influenciadas pelo histórico de vida dos
envolvidos e dependem de como conseguem se expressar. (CUNHA e
ZAGONEL, 2008, p. 413) “Auxiliar a pessoa a reorganizar sua existência ao
passar pela experiência de doença é papel da equipe de saúde, por meio da
percepção, presença, compromisso, solidariedade e, principalmente, de
interações humanas”.
Neste momento, a Psicologia Hospitalar entra como uma área
importante pois é de sua responsabilidade, também, o trabalho na articulação
das relações estabelecidas entre paciente, equipe e família visando o bem
estar de todos os envolvidos. Entretanto, vale ressaltar que no estudo
realizado, que o objeto de pesquisa apareceu somente uma vez o tema
Psicologia Hospitalar que demonstra a necessidade de uma atuação mais ativa
no meio científico.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, pode-se entender com este trabalho que a família tem
espaço dentro da instituição hospitalar seja influenciada pelas leis existentes ou
pela própria aceitação institucional, a entrada da família é garantida apesar das
rígidas normas e regras existentes. Entretanto, ainda há muito que percorrer no
que diz respeito a compreensão a cerca do seu real papel no processo de
tratamento do paciente.
Verifica-se que a equipe ainda demonstra resistência frente a sua
presença apresentando desconforto, medo e a sensação de estarem sendo
avaliados em seu trabalho. Por este motivo, muitas vezes, se impõem de forma
dominadora ou agem renegando suas responsabilidades transferindo estas
para os familiares e acompanhantes.
Percebe-se a necessidade de se trabalhar sobre estas relações visando
ampliar a compreensão acerca da representação da família e a importância da
mesma no cuidado com o paciente se preocupando também com sua
singularidade. Acredita-se que com este conhecimento apreendido pelos
profissionais da saúde seja possível melhorar as relações, reduzir resistências
criando um clima de cooperação favorecendo a todos os envolvidos.
Neste momento a Psicologia Hospitalar se coloca importante pois,
também, é dela a responsabilidade de atuar sobre estas relações paciente,
equipe e família, intermediando em situações conflituosas com sensibilidade,
senso crítico e manejo técnico adequado favorecendo a participação efetiva da
família no cuidado com o paciente.
Por fim, conclui-se incluindo a percepção de que a psicologia precisa
colocar-se mais ativa em produções cientificas pois, embora apresente efetiva
atuação, pouco se encontra descrita e fundamentada mostrando-se apática no
meio científico e prejudicando, inclusive a possibilidade de trocas entre os
profissionais da área e outras correlacionadas.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Para futuros trabalhos, sugere-se uma ampliação na utilização de bases
de dados pesquisados, incluindo livros e artigos internacionais objetivando
conhecer outras visões e realidades.
5. REFERÊNCIAS
Araújo, Y. B; Collet, N; Moura, F. M, Nóbrega, R. D. Conhecimento da família acerca da condição
crônica na infância. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2009 jul-set; 18(3): 498-505.
BRASIL. Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesado em 13
abr. 2011.
BRASIL. Lei 10.216 de 06 de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm. Acessado em: 13 abr. 2011.
BRASIL. Lei 10.741 de 1 de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do idoso e dá outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm.
Acessado em 13 abr. 2011.
Camon; V. A. Tendências em Psicologia Hospitalar. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2004
Collet, N.; Oliveira, B. R. G. de; Vieira, C. S.. Alojamento conjunto pediátrico: percepções da
equipe de saúde. Texto contexto - enferm. 2004, vol.13, n.3, pp. 427-434.
Costa, R; Monticelli, M. O método Mãe-canguru sob o olhar problematizador de uma equipe
neonatal. Ver. Bras. Enferm. 2006. Jul-ago; 59(4): 578-82.
Crepaldi, M. A; Varella, P. B. A recepção da família na hospitalização de crianças. Paidéia,
FFCLRP-USP, Rib. Preto, ago/dez/2000.
Cunha, P. J; Zagonel, I. P. S. As relações interpessoais nas ações de cuidar em ambiente
tecnológico hospitalar. Acta Paul. Enferm. 2008; 21(3): 412-9.
Furlan, C. E. F. B; Scochi, C. G. S; Furtado, M. C. C. Percepção dos pais sobre a vivencia no
método Mãe-Canguru. Ver. Latino-am Enfermagem 2003 julho-agosto; 11(4): 444-52.
Gaiva, M. A. M; Scochi, C. G. S. A participação da família no cuidado ao prematuro em UTI
Neonatal. Ver. Bras. Enferm. 2005 jul-ago; 58(4): 444-8
Inaba, L. C; Silva, M. J. P; Telles, S. C. R. Paciente crítico e comunicação: visão de familiares
sobre sua adequação pela equipe de enfermagem. Ver. Esc. Enferm. USP. 2005; 39(4): 423-9.
Luz, C. F. da; Melnik, M. G.; Bernardino, E.; Oliveira, E. S. de. Compreendendo as restrições
dos técnicos de enfermagem sobre a permanência de acompanhantes em Unidade de Terapia
Intensiva aberta. Texto contexto - enferm. 2009, vol.18, n.2, pp. 306-312. 99586884
Ministério da Saúde (2004). HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização
como eixo organizador de todas as práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do
SUS. Brasília: Ministério da Saúde.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.
Minuchin, S., & Fishman, C. Técnicas de terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
Molina, R. C. M; Varela, P. L. R; Castilho, S. A; Bercini, L. O; Marcon, S. S. Presença da
Família nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal: Visão da Equipe
Multidisciplinar. Esc. Anna Nery R. Enferm. 2007. Set; 11(3): 437-44
Montefusco, S.R. A; Bachion, M. M.; Nakatani, A. Y. K. Avaliação de famílias no contexto
hospitalar: uma aproximação entre o modelo Calgary e a Taxonomia de Nanda. Texto Contexto
Enferm, Florianópolis, 2008 Jan-Mar; 17(1): 72-80.
Monticelli, M.; Boehs, A. E.. A família na unidade de internação hospitalar: entre o informal e o
instituído. Rev. esc. enferm. USP [online]. 2007, vol.41, n.3 [cited 2011-04-15], pp. 468-477
Quirino D.D; Collet N; Neves A.F.G.B. Hospitalização infantil: concepções da enfermagem acerca da
mãe acompanhante. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2010 jun;31(2):300-6.
Romano; B. W. Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1999
Silveira, R. S. da; Lunardi, V. L.; Lunardi Filho, W. D.; Oliveira, A. M. N. de. Uma tentativa de
humanizar a relação da equipe de enfermagem com a família de pacientes internados na uti.
Texto contexto - enferm. 2005, vol.14, n.spe, pp. 125-130.
Squassante, N. D; Alvim, N. A. T. Relação equipe de enfermagem e acompanhantes de
clientes hospitalizados: implicações para o cuidado. Ver. Bras. Enferm, Brasília 2009. Jan-fev;
62(1): 11-7.
Urizzi, F; Carvalho, L. M; Zampa, H. B; Ferreira, G. L; Grion, C. M. C; Cardoso, L. T. Q.
Vivência de familiares de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Ver. Bras.
Ter. Intensiva. 2008; 20(4): 370-375.
II Congresso de Humanização
I Jornada Interdisciplinar de Humanização
Curitiba, 08 a 10 de agosto de 2011.