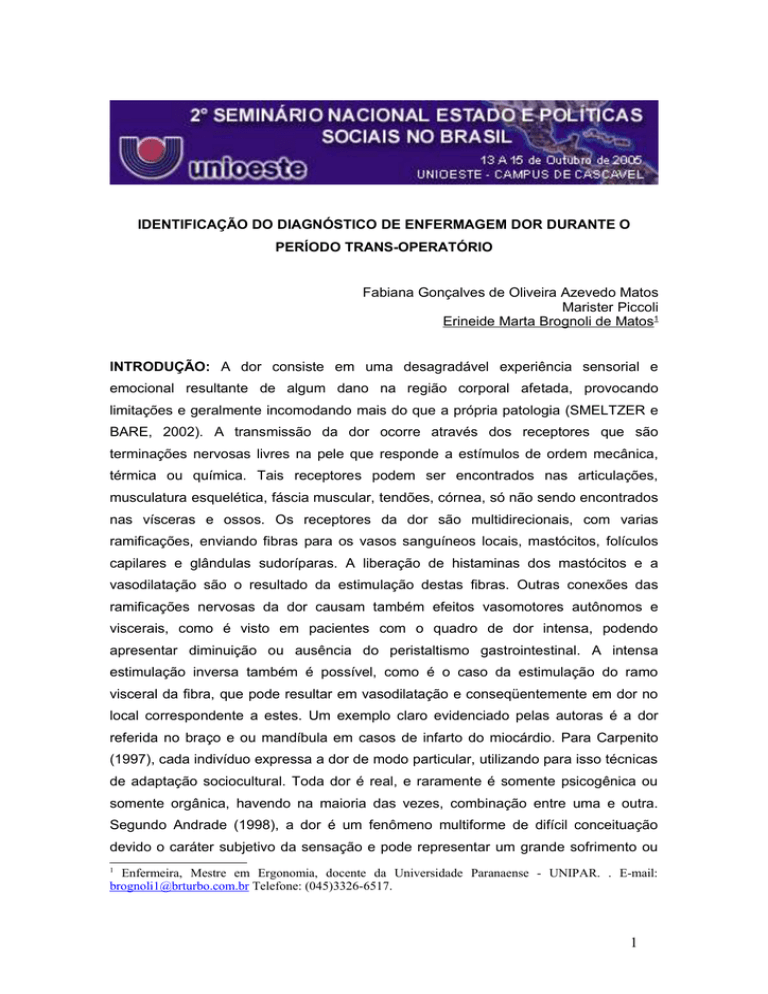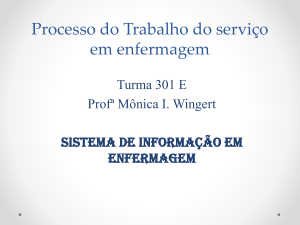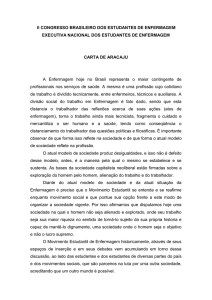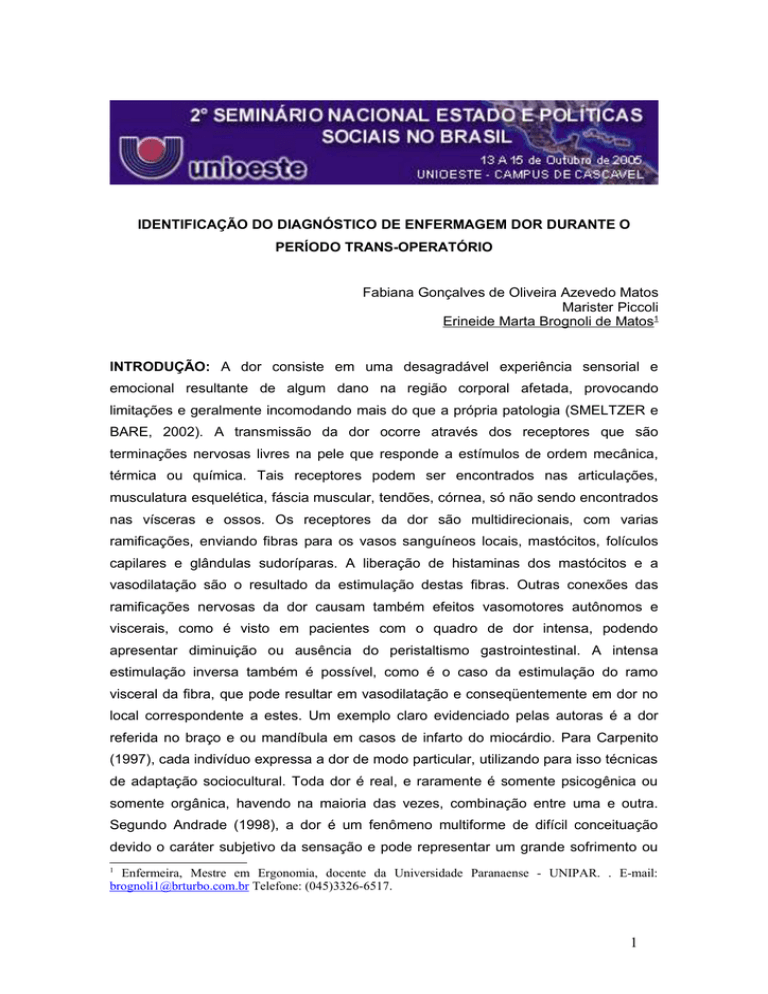
IDENTIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DOR DURANTE O
PERÍODO TRANS-OPERATÓRIO
Fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo Matos
Marister Piccoli
Erineide Marta Brognoli de Matos1
INTRODUÇÃO: A dor consiste em uma desagradável experiência sensorial e
emocional resultante de algum dano na região corporal afetada, provocando
limitações e geralmente incomodando mais do que a própria patologia (SMELTZER e
BARE, 2002). A transmissão da dor ocorre através dos receptores que são
terminações nervosas livres na pele que responde a estímulos de ordem mecânica,
térmica ou química. Tais receptores podem ser encontrados nas articulações,
musculatura esquelética, fáscia muscular, tendões, córnea, só não sendo encontrados
nas vísceras e ossos. Os receptores da dor são multidirecionais, com varias
ramificações, enviando fibras para os vasos sanguíneos locais, mastócitos, folículos
capilares e glândulas sudoríparas. A liberação de histaminas dos mastócitos e a
vasodilatação são o resultado da estimulação destas fibras. Outras conexões das
ramificações nervosas da dor causam também efeitos vasomotores autônomos e
viscerais, como é visto em pacientes com o quadro de dor intensa, podendo
apresentar diminuição ou ausência do peristaltismo gastrointestinal. A intensa
estimulação inversa também é possível, como é o caso da estimulação do ramo
visceral da fibra, que pode resultar em vasodilatação e conseqüentemente em dor no
local correspondente a estes. Um exemplo claro evidenciado pelas autoras é a dor
referida no braço e ou mandíbula em casos de infarto do miocárdio. Para Carpenito
(1997), cada indivíduo expressa a dor de modo particular, utilizando para isso técnicas
de adaptação sociocultural. Toda dor é real, e raramente é somente psicogênica ou
somente orgânica, havendo na maioria das vezes, combinação entre uma e outra.
Segundo Andrade (1998), a dor é um fenômeno multiforme de difícil conceituação
devido o caráter subjetivo da sensação e pode representar um grande sofrimento ou
1
Enfermeira, Mestre em Ergonomia, docente da Universidade Paranaense - UNIPAR. . E-mail:
[email protected] Telefone: (045)3326-6517.
1
passar quase despercebida dependendo do indivíduo, do ambiente e do momento em
que ocorre, não havendo relação direta entre o tipo de lesão e a intensidade da dor,
pois a mesma é influenciada pela situação e pelas experiências prévias do indivíduo.
O conhecimento da dor, o conhecimento das suas causas, o seu significado para o
indivíduo, a sua capacidade de a controlar, além do nível de estresse e de fadiga são
fatores pessoais que interferem na tolerância de cada indivíduo à dor. A interação com
os outros indivíduos, as reações dos amigos e familiares, a sobrecarga sensorial e
estressores são fatores sociais e ambientais que também podem interferir na
tolerância à dor (CARPENITO, 1997). Smeltzer & Bare (2002) fazem referência a dois
tipos de dor: aguda e crônica. A dor aguda pode ter duração de apenas alguns
segundos podendo estender-se a até seis meses e indica a ocorrência de um dano ou
de uma lesão, podendo ou não requerer tratamento especifico, podendo causar
desconforto,
perturbação,
alteração
no
sistema
pulmonar,
cardiovascular,
gastrointestinal, endócrino e imunológico. A resposta ao estresse, provocado pela dor,
pode aumentar o risco do indivíduo desenvolver desordens fisiológicas tais como,
infarto do miocárdio, infecção pulmonar, tromboembolismo e íleo paralítico, e outras,
além de uma dor intensa poder limitar a capacidade de respiração e mobilidade do
indivíduo, e o seu alívio poder proporcionar rapidamente o retorno às atividades
rotineiras. O indivíduo com quadro de dor aguda geralmente apresenta um nível de
ansiedade elevado. De acordo com a NANDA (2002, p.99), a dor aguda é definida
como uma “experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão
tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão”, podendo ter início súbito
ou lento, com intensidade leve ou intensa, diferenciando-se da dor crônica pelo tempo
de duração, tendo esta o término superior a seis meses. Carpenito (1997) coloca que
é comum a pessoa com dor crônica reagir com depressão, raiva, frustração,
dependência medicamentosa, podendo essas reações estenderem-se para suas
famílias. A incapacidade de controlar a dor pode gerar sentimentos de impotência e
frustração nos profissionais que prestam assistência ao indivíduo em sofrimento. A
avaliação da dor feita pelo enfermeiro pode ser realizada através de instrumento
próprio que analisa a necessidade de intervenção, avalia o tratamento e identifica a
necessidade de medidas alternativas para o alívio da dor (SMELTZER & BARE, 2002).
2
Segundo as autoras supra citadas, o instrumento que avalia a dor deve ser claro, de
fácil manuseio, de fácil quantificação e sensível à pequenas alterações na intensidade
da dor, sendo necessário também, para analisar a dor referida pelo indivíduo e
observar a descrição verbal e as respostas comportamentais do mesmo. A descrição
verbal deve respeitar alguns fatores referenciais como, intensidade da dor (de zero à
dez), característica da dor (localização, duração, ritmo e qualidade), fatores de alivio
da dor (movimento, falta de movimento, repouso, esforço e medicação), efeitos da dor
nas atividades diárias (sono, apetite, concentração, interação com os outros,
movimentos físicos, trabalho e lazer) e preocupação da pessoa quanto à dor
(preocupação financeira, preocupação com o prognóstico e alteração na imagem
corporal). As respostas comportamentais à dor podem ser analisadas em expressões
verbais, faciais, movimentos corporais, respostas alteradas, choro, gemência,
franzimento de sobrancelhas e imobilização corporal. O indivíduo pode também
apresentar instabilidade e sentir-se incomodado com sons provenientes do rádio ou da
televisão e podendo segundo Smeltzer & Bare, (2002) a dor causar fadiga e levar a
pessoa à exaustão. Para as autoras a resposta dolorosa difere de indivíduo para
indivíduo podendo ser influenciada pela idade, pelo nível de ansiedade, pelas
experiências dolorosas anteriores e pelas expectativas quanto ao alívio da dor.
Carpenito (1997) coloca que fatores pessoais e sociais podem influenciar na
tolerância à dor. Entre os fatores pessoais está o conhecimento da dor e a sua causa,
o significado da dor, a capacidade de a controlar e o nível de energia e de estresse.
Entre os fatores sociais esta a interação com outros indivíduos, reações dos familiares
e amigos, situações estressoras, entre outros. De acordo ainda Smeltzer & Bare
(2002), para um controle eficaz da dor é necessário entender as medidas satisfatórias
para aliviá-la. Para as mesmas autoras, o papel principal na assistência de
enfermagem é identificar e tratar as causas da dor por meio de medidas terapêuticas.
O enfermeiro é quem administra muitas das intervenções que aliviam a dor do
paciente, e é ele que intervem à favor do mesmo quando estas medidas não são
eficazes, além de atuar na educação do paciente e da família, fazendo a orientação
do controle da dor. De acordo com Piccoli (2000), a identificação do diagnóstico de
enfermagem dor é importante para proporcionar conforto ao paciente. Quanto mais
3
rápido é feita a identificação da dor mais rápido será o alívio da mesma, e para tanto
se faz necessário orientar o paciente a comunicar a enfermagem da existência da dor
logo no início para que as medidas de controle sejam eficazes.
OBJETIVOS: Os objetivos deste estudo foram: verificar a freqüência do diagnóstico
de enfermagem Dor e identificar suas características definidoras e seus fatores
relacionados em pacientes adultos submetidos a cirurgia geral no período transoperatório.
METODOLOGIA: Para a elaboração deste estudo utilizaram-se referências de livros
do acervo da Unioeste, acervo de colegas enfermeiros e acervo pessoal, periódicos
de enfermagem e bancos de dados (Medline, Scielo, Sibi, Lilacs e Dédalus). Além do
levantamento e busca bibliográfica, a presente pesquisa desenvolveu-se em três
etapas: na primeira foi elaborado um instrumento para coleta de dados referente ao
diagnóstico de enfermagem Dor identificado no período trans-operatório, na segunda
etapa foi realizada a coleta de dados na população selecionada e na terceira etapa foi
realizada a identificação do diagnóstico de enfermagem Dor com análise das suas
características definidoras e fatores relacionados. Segue-se breve explanação
referente às etapas realizadas. Na primeira etapa foi elaborado um instrumento para
coleta de dados com base na pesquisa bibliográfica da área, onde foram realizadas
buscas em literaturas específicas sobre diagnóstico de enfermagem, características
definidoras e fatores relacionados do diagnóstico em questão. Após a elaboração do
instrumento, foi realizado um teste piloto em cinco pacientes com o objetivo de
adequação do mesmo. A partir daí foram feitas às adequações necessárias
relacionadas à abordagem ao paciente cirúrgico. A segunda etapa foi a coleta de
dados propriamente dita, realizada em um hospital público de médio porte na cidade
de Cascavel, região oeste do Paraná, pertencente à 10ª regional de saúde. A escolha
deste hospital ocorreu pelo fato do mesmo ser uma instituição de ensino (Hospital
Universitário). A estrutura física da unidade de centro cirúrgico é composta de seis
salas cirúrgicas (uma desativada), sala de recuperação pós anestésica (em processo
4
de reimplantação)
e central de material e esterilização. A direção do serviço de
enfermagem foi consultada por meio de ofício quanto a autorização para a realização
da presente pesquisa e os pacientes envolvidos no estudo foram esclarecidos e
consultados por meio de termo de consentimento por escrito. O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2003,
desenvolvendo-se durante o período trans-operatório, por meio do acompanhamento
de 30 pacientes cirúrgicos de ambos os sexos com idade ente 20 e 60 anos
submetidos a cirurgia geral. Além da entrevista direta com os pacientes, a consulta ao
prontuário foi outra fonte de informação utilizada para a realização da pesquisa. Na
terceira etapa realizou-se a identificação do diagnóstico de enfermagem Dor no
período trans-peratório utilizando para isso o processo de raciocínio diagnóstico de
Risner (1990), sendo a análise e a síntese as etapas deste processo. Após,
construímos as afirmativas diagnósticas tendo como base a taxonomia da NANDA
(2002) e Carpenito (2003).
RESULTADOS: Na presente investigação observou-se que dos trinta pacientes
entrevistados, quatorze (46.66%) eram do sexo masculino e dezesseis (53.33%) eram
do sexo feminino. Com relação à idade, quatro pacientes (13.33%) tinham idade entre
20 e 30 anos, oito pacientes (26.66%) tinham idade entre 31 e 40 anos, oito pacientes
(26.66%) tinham idade entre 41 e 50 anos e dez pacientes (33.33%) tinham idade
entre 51 e 60 anos. Com relação ao porte cirúrgico, quatro pacientes (13.33%) foram
submetidos a cirurgia de grande porte, onze pacientes (36.66%) foram submetidos a
cirurgia de médio porte e quinze pacientes (50%) foram submetidos a cirurgia de
pequeno porte. Para o presente estudo, as cirurgias foram classificadas em pequeno,
médio e grande porte de acordo com o tempo de permanência do paciente em
posição cirúrgica, sendo pequeno porte até uma hora, médio porte até três horas e
grande porte mais que três horas. Dos trinta pacientes acompanhados durante o
período trans-operatório, quinze pacientes (50%) apresentaram o diagnóstico de
enfermagem Dor Aguda, quatro pacientes (13.33%) apresentaram o diagnóstico de
5
enfermagem Dor Crônica e três pacientes (10 %) apresentam o diagnóstico de
enfermagem Dor Aguda associada à Dor Crônica. Já em estudo anterior, Piccoli
(2000) identificou durante a visita pré-operatória de enfermagem a seguinte
distribuição (n=30): nove pacientes (30%) apresentaram o diagnóstico de enfermagem
Dor Aguda e um paciente (3.33%) apresentou o diagnóstico de enfermagem Dor
Crônica. Na presente pesquisa, entre os dados obtidos, evidenciamos duas
características definidoras (Comunicação verbal ou codificada, com 60% e Máscara
facial de dor, com 53,33%) e um fator relacionado (Agente de injúria, com 60%) que
obtiveram freqüência superior a 50%. De acordo com a NANDA (2002, p.272) as
características definidoras são definidas como “sugestões/ inferências observáveis
que se agrupam como manifestações de um diagnóstico de enfermagem real ou de
bem-estar”. Segundo Silamy (1998) a comunicação consiste na transmissão
intencional ou não de informações que influenciam um indivíduo ou um grupo. A
linguagem não é a única forma de comunicação, podendo a mesma ser realizada por
meio de gestos ou de mímica, não sendo a mesma um privilégio humano. A
característica definidora Comunicação verbal ou codificada é uma forma de
manifestação do diagnóstico de enfermagem Dor e podemos considerar que esta
característica definidora consiste em uma informação fundamental que complementa
a construção da afirmativa diagnóstica. Já a característica definidora Máscara facial
de dor consiste em dado objetivo que em seu conjunto pode apresentar olhar
apagado, aparência abatida, movimentos escassos ou rijos e expressão séria
(CARPENITO, 1997). A dor pode ser expressa pelo paciente de forma intencional ou
não, através de comportamentos verbais, emocionais e psicomotores. O indivíduo
pode indicar a presença da dor por palavras, descrevendo a localização e a
intensidade da mesma, ou por meios não-verbais, gesticulando, fazendo caretas,
gemendo, suspirando, adotando posições antálgicas e/ou massageando a parte
dolorida do corpo (ANDRADE, 1998). Segundo Davis (1979) a comunicação não
verbal acaba tendo mais força sobre as relações humanas do que a própria
comunicação verbal. Tal concepção colabora com a não subestimação das
informações não verbais apresentados pelo indivíduo. Diante dos dados obtidos,
podemos considerar que a característica definidora Máscara facial de dor consiste em
6
uma forma de comunicação não-verbal que se soma às demais características
definidoras identificadas e complementa a construção da afirmativa diagnóstica Dor.
Com relação aos fatores relacionados, o fator Agente de Injúria foi identificado em
60% dos pacientes e sabendo qual o agente de injúria é responsável pela causa da
dor e qual fator colabora para aumentar ou diminuir a sensação dolorosa, é possível
planejar a assistência de enfermagem e estabelecer medidas que proporcionem uma
assistência de enfermagem individualizada e de qualidade ao paciente cirúrgico. De
acordo com a NANDA (2002, p.272) os fatores relacionados são tidos como “fatores
que aparecem para mostrar algum tipo de relacionamento padronizado com o
diagnóstico de enfermagem. Tais fatores podem ser descritos como antecedentes a,
associados com, relacionados a, contribuintes para, ou estimuladores”. Analisando os
enunciados diagnósticos identificados, podemos observar que inúmeros fatores
podem interferir na conservação da energia do indivíduo (agente de injúria: trauma,
patologia, procedimento cirúrgico) e contribuir para a instalação e/ou aumento da
sensação dolorosa no mesmo, podendo ser manifestada de várias formas (relato
verbal, evidência observada: máscara facial de dor, gestos protetores, posição
antálgica para evitar a dor, entre outros). Voltamos a enfatizar que as características
individuais de cada paciente não devem ser desconsideradas e nem devem ser
analisadas isoladamente, pois a condição atual do indivíduo é resultado da somatória
de todas esses fatores. Um exemplo disso é que dos trinta pacientes pesquisados,
dezoito apresentaram o diagnóstico de enfermagem Dor Aguda e nenhum apresentou
o mesmo quadro de características definidoras e fatores relacionados.
CONCLUSÕES:
Independente da escolha para esta análise ter sido das
características definidoras e dos fatores relacionados que obtiveram freqüência
superior a 50%, não significa que as outras características definidoras e fatores
relacionados que não obtiveram grande freqüência não sejam merecedoras de
atenção, muito pelo contrário, quando da defesa da assistência individualizada,
vislumbramos que uma característica pode estar presente em apenas um paciente e
ser tão importante quanto as que se fazem presentes na maioria dos pacientes.
Carpenito (1997) coloca que se um indivíduo tem que convencer os profissionais de
7
saúde que está com dor, o mesmo pode apresentar ansiedade elevada, o que acaba
aumentando a dor, e tanto uma quanto a outra, esgotam as energias do indivíduo.
Para Levine, a conservação da energia consiste no equilíbrio entre a energia de
entrada e a energia de saída, com a finalidade de evitar fadiga excessiva (LEONARD,
1993). Diante disso, é importante que o enfermeiro faça a identificação do diagnóstico
de enfermagem Dor precocemente para controlá-lo e evitar o gasto de energia
desnecessário. Acreditamos que o presente estudo venha contribuir para o avanço da
assistência de enfermagem perioperatória além de atribuir maior cientificidade e
autonomia à profissão, possibilitando o planejamento da assistência de enfermagem
de forma integral e individualizada na unidade de centro cirúrgico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ANDRADE, Carlos Laganá. A dor e o processo emocional. In: ANGERAMI-CAMON,
V. A. Urgências psicológicas no hospital. 1998. Cap. 6, p.101-121.
CARPENITO, Lynda Juall. Diagnóstico de enfermagem: aplicação à prática clínica.
Trad. Ana Thorell. 6.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
DAVIS, Flora. A comunicação não-verbal. Trad. LIMA, Antônio. São Paulo: Summus,
1979.
LEONARD, Mary Kathryn. Myra Estrin Levine. In: GEORGE, J. B. et al. Teorias de
enfermagem: os fundamentos para a pratica professional. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1993. Cap. 12, p.164 -174.
NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA: Definições e Classificações – 1999-2000. Porto Alegre:
Artes Médicas Sul, 2002.
8
PICCOLI, Marister. Enfermagem Perioperatória: identificação dos diagnósticos na
visita pré-operatória fundamentada no modelo conceitual de Levine. Ribeirão Preto,
2000. 171 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo.
RISNER, P. B. Diagnosis: analysis and synthesis of data: In: GRIFFITH-KENNEY, J.
W; CRISTENSEN, P. J. Nursing Process: application of theories frameworks, and
Models. 2. ed. Sant Louis, Mosby, 1990.
SILLAMY, Norbert; trad. SETTINERI, Francisco Franke. Dicionário de Psicologia
Larousse. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgico. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. v.1.
9