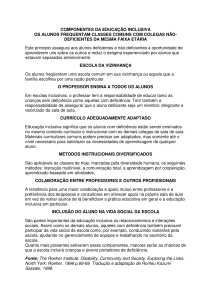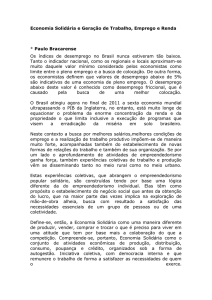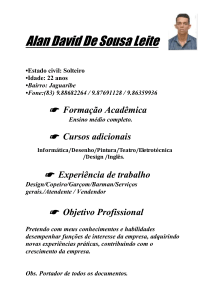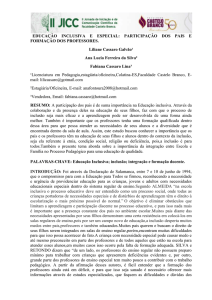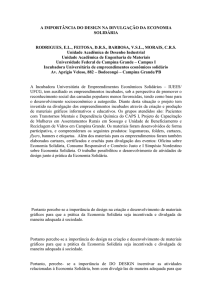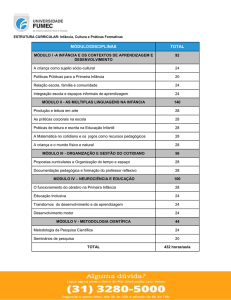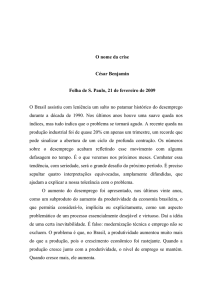AVANÇOS E DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO
DE UMA
SOCIEDADE INCLUSIVA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Presidente da Sociedade Mineira de Cultura
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Grão-chanceler
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Reitor
Prof. Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães
Vice-reitora
Profª Patrícia Bernardes
Pró-reitor de Extensão
Prof. Wanderley Chieppe Felippe
AVANÇOS E DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO
DE UMA
SOCIEDADE INCLUSIVA
ORGANIZADORA
Rosa Maria Corrêa
Sociedade Inclusiva / PROEX / PUC Minas
Belo Horizonte
2009
Ficha Catalográfica
Elaborada pela Biblioteca da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
A946
Avanços e desafios na construção de uma sociedade inclusiva /
Rosa Maria Corrêa, organizadora. - Belo Horizonte : Sociedade
Inclusiva/PUC-MG, 2008.
198 p. : il.
Bibliografia.
1. Integração social. 2. Acessibilidade. 3. Inclusão digital.
4. Direitos Fundamentais. 5. Educação inclusiva. I. Corrêa, Rosa Maria.
II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pró-reitoria de
Extensão. Sociedade Inclusiva. III. Título.
CDU: 376
FICHA TÉCNICA
Organizadora
Rosa Maria Corrêa
Revisão final
Antônio Libério Neves
Projeto gráfico da capa
Secretaria de Comunicação da PUC Minas
Produção gráfica
Segrac Editora e Gráfica Limitada
1ª edição: 2009
Reprodução parcial ou total permitida, desde que citada a fonte
SUMÁRIO
APRESENTAÇÂO
Alessandra Sampaio Chacham
Rosa Maria Corrêa......................................................................................................................7
PARTE I
Inclusão Social: Reflexões Teóricas e Conceituais
1. DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESTADO SOCIAL, SOCIEDADE INCLUSIVA
Jorge Miranda...........................................................................................................................14
2. INCLUSÃO, DIREITO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONCEITO E FORMA
JURÍDICA DE INCLUSÃO
Alexandre Travessoni Gomes...................................................................................................22
3. SOCIEDADE INCLUSIVA E PSICANÁLISE: DO PARA TODOS AO CADA UM
Ilka Franco Ferrari
Maria José Gontijo Salum.........................................................................................................35
4. A INCLUSÃO DA CULTURA E A CULTURA DA INCLUSÃO
José Márcio Barros....................................................................................................................49
5. MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL: UM PARADOXO?
Yasmine Antonini
Eneida M. Eskinazi Sant’Anna
Geraldo Mendes dos Santos......................................................................................................56
6. POR QUE AGIR CONTRA SEUS PRÓPRIOS INTERESSES?
Jose Luiz Quadros de Magalhães..............................................................................................69
PARTE II
Inclusão Social: Avanços e Desafios no Cotidiano
7. ULTRAPASSAR BARREIRAS E AVANÇAR NAINCLUSÃO ESCOLAR
Maria Tereza Eglér Mantoan....................................................................................................82
8. UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA NA PRÁTICA DO DESIGN UNIVERSAL
Marcelo Pinto Guimarães..........................................................................................................88
9. TECNOLOGIA PARA REABILITAÇÃO
Marcos Pinotti
Danilo Alves Pinto Nagem
Claysson Bruno Santos Vimieiro
Breno Gontijo do Nascimento
Daniel Neves Rocha
Kátia Vanessa Pinto Menezes.................................................................................................105
10. OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DIGITAL: ACESSO, CAPACITAÇÃO E ATITUDE
Augusto Dutra Galery.............................................................................................................116
11. AS POTENCIALIDADES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: PRÁTICAS DAS
UNIVERSIDADES
Sonia Maria Rocha Heckert....................................................................................................127
12. PROGRAMAS DE INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO: O
OLHAR EMPRESARIAL
Dener Chaves
Antonio Carvalho Neto...........................................................................................................140
PARTE III
Inclusão Social, Gênero e Raça: Questões Específicas
13. GÊNERO E RAÇA NO BRASIL: IMPASSES E AVANÇOS
Rosana Heringer......................................................................................................................161
14. INCLUSÃO, EXCLUSÃO E RAÇA: UMA ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E
SOCIEDADE
José Tiago dos Reis Filho......................................................................................................170
15. MULHER NEGRA E A INCLUSÃO NOS DIREITOS SOCIAIS
Alzira Rufino...........................................................................................................................180
16. PERFIS DE AUTONOMIA E VULNERABILIDADE NA JUVENTUDE: DIFERENTES
ASPECTOS DA EXCLUSÃO SOCIAL
Alessandra Sampaio Chacham
Ana Laura Lobato
Lucas Wan Der Maas..............................................................................................................185
7
APRESENTAÇÃO
Alessandra Sampaio Chacham1
Rosa Maria Corrêa2
Na década de noventa, alguns professores da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC Minas), preocupados com a formação de educadores que atuavam em escolas
especiais, pensaram, inicialmente, em promover um encontro em que se discutisse a prática
educacional dessas escolas. Mas logo viram que essa era uma questão complexa, que exigiria
discutir também a acessibilidade, a saúde, o trabalho, a tecnologia, a arte e o direito. Assim,
acabaram por organizar, em outubro de 1999, o I Seminário Internacional Sociedade
Inclusiva. O primeiro seminário, intitulado apenas como Sociedade Inclusiva, trouxe vários
pesquisadores de outros países como Suécia, Chile, Inglaterra, Estados Unidos e de vários
estados brasileiros, para discutir como uma sociedade poderia organizar-se a fim de ser
inclusiva. Naquele seminário, propôs-se a criação do Fórum Permanente Sociedade Inclusiva,
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da PUC Minas. Mais tarde, a Sociedade
Inclusiva: rede de inclusão social foi reconhecida pelo Conselho Universitário (CONSUNI),
pela resolução nº 02/2005.
A princípio, o Núcleo Sociedade Inclusiva, composto por professores e alunos de vários
cursos da Universidade, inspirado na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, da
Organização das Nações Unidas (ONU), deteve-se em discutir o acesso aos direitos das
pessoas com deficiência. Em um segundo momento, o Núcleo passou a discutir o acesso dos
grupos de negros e índios e, mais recentemente, o de grupos que, por questões de gênero e
orientação sexual, são discriminados e excluídos dos direitos fundamentais. A discussão de
exclusões direcionadas a outros grupos também integra os seminários realizados a cada dois
anos.
O Núcleo tem como princípios conceber uma sociedade inclusiva como aquela em que
todas as pessoas, independentemente do sexo, idade, crença, etnia, raça, orientação sexual ou
deficiência sejam, necessariamente, reconhecidas como cidadãs e a todas sejam facultados os
direitos econômicos, sociais, civis e culturais, eliminando quaisquer formas de discriminação
1
2
Doutora em Demografia e professora na PUC Minas.
Doutora em Educação e professora na PUC Minas.
8
e segregação; primar por uma sociedade aberta e acessível a todos os grupos, que encoraje a
participação e aprecie a diversidade e as experiências humanas; compreender a atividade
extensionista voltada para a inclusão social como uma das formas de expressão do
compromisso social da Universidade e de tornar público o conhecimento produzido por ela;
entender a prática de extensão como interdisciplinar e transdisciplinar, associada ao ensino e à
pesquisa e realizar parcerias de cooperação interinstitucional.
Desde o seu surgimento, o Núcleo desenvolveu várias ações de debate e promoção dos
direitos de grupos historicamente excluídos dos direitos fundamentais. A ampliação dessas
ações em seminários internacionais merece destaque por reunir pessoas com diferentes
olhares para a discussão e promoção de produção científica e sobre a temática sociedade
inclusiva. No primeiro seminário, buscou-se conceituar a expressão Sociedade Inclusiva,
porém houve muitas dificuldades em encontrar pessoas no Brasil para debater o tema. No
segundo seminário, em 2001, a discussão foi ampliada, incluindo-se a temática da
globalização, do meio ambiente e da responsabilidade empresarial, dando-se destaque à
questão da inclusão racial. No terceiro seminário, intitulado Ações Inclusivas de Sucesso,
realizado em maio de 2004, muitos trabalhos foram inscritos, mostrando que a discussão
havia provocado mudanças na sociedade. No quarto seminário, realizado em outubro de 2006,
propôs-se avaliar os impasses e avanços das propostas e das ações inclusivas devido ao
acúmulo de experiências debatidas nos seminários anteriores e que exigiam uma reflexão
mais apurada. No quinto seminário, realizado em outubro de 2008, foi discutida a questão das
diferenças – de pessoas e de grupos –, e a da sustentabilidade, um paradoxo na sociedade
contemporânea.
Outra ação do Sociedade Inclusiva envolve a mobilização de instituições civis e públicas
para a discussão e a divulgação da legislação brasileira sobre direitos de pessoas com
deficiência, étnico-raciais, sexuais e idosas, que estimularam a elaboração de livros e cartilhas
referentes a esses direitos.
Em 2002, foi realizado o Diagnóstico da Educação Inclusiva no Ensino Fundamental de
Belo Horizonte (MG) e Contagem (MG), que apontou a necessidade de investimento do
Núcleo na formação continuada dos professores. Desde então, são promovidos cursos de
extensão, especialização e palestras para educadores, com o objetivo de auxiliá-los a refletir
sobre as práticas educativas e como encontrar estratégias de ensino-aprendizagem menos
excludentes.
Já em 2007, foi elaborado o Diagnóstico da Inclusão das Pessoas com Deficiência no
Mercado de Trabalho nos municípios de Contagem e de Belo Horizonte, para subsidiar os
9
cursos do Programa de Capacitação para Pessoas com Deficiência3 e propor diretrizes para a
elaboração de políticas públicas.
Foi criado em 2008 o “Projeto Direito à Diferença”, com o objetivo de unificar as ações
promovidas pelo Núcleo e levar para as escolas, públicas e privadas, e outras instituições
sociais, a discussão sobre os desafios do convívio com o “outro”, entendido como “alguém
que é diferente de mim e que tem os mesmos direitos que eu”.
Inicialmente, os membros do Núcleo organizavam-se em eixos temáticos, para
promover pesquisas, eventos, programas e projetos, inclusive, assessorar os projetos criados
pelos cursos de graduação da PUC Minas. Esses eixos – Acessibilidade, Direitos Humanos e
Cidadania, Educação Inclusiva, Inclusão pela Arte e Cultura, Trabalho e Inclusão; Inclusão
Racial, Saúde e Inclusão e Tecnologia para Inclusão – foram organizados com base nos
direitos e nos princípios explicitados na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948,
e na Constituição Federal Brasileira, de 1988.
Atualmente, o Núcleo organiza-se em três eixos: Étnico e Racial; Gênero e Orientação
Sexual, e Necessidades Especiais. Essa nova organização temática tem como objetivo
ressaltar as pessoas ou grupos que, historicamente, vêm sofrendo discriminação e exclusão
dos direitos fundamentais4.
Na história do Núcleo, “Avanços e Desafios na Construção de uma Sociedade
Inclusiva” é o primeiro livro, entre outros tipos de publicações. Compõe este livro a produção
resultante do balanço das políticas e das ações da sociedade, para assegurar os direitos sociais,
que foram discutidas no IV Seminário Sociedade Inclusiva: impasses e avanços.
Na Parte 1, “Inclusão Social: reflexões teóricas e conceituais”, são apresentados seis
artigos que, utilizando-se de variados enfoques, levantam e refletem acerca de questões
relacionadas, tanto à noção, quanto às possibilidades de inclusão social. No primeiro capítulo,
Jorge Miranda apresenta uma reflexão sobre o processo histórico de desenvolvimento dos
direitos humanos e o papel do Estado na garantia desses direitos, com ênfase no impacto do
3
O Programa de Capacitação para Pessoas com Deficiência, desde 2003, vem capacitando pessoas com
deficiência, com mais de 16 anos, em cursos de informática básica, auxiliar administrativo, massagem
terapêutica, telemarketing, vivência de formação profissional, e promovendo a inserção no mercado de trabalho.
4
“Direitos fundamentais são direitos essenciais à pessoa humana, definidos na constituição de um Estado,
contextualizados histórica, política, cultural, econômica e socialmente. Assim, os direitos fundamentais são
direitos humanos constitucionalizados, gozando de proteção jurídica no âmbito estatal, reservando-se o emprego
da expressão direitos humanos para as convenções e declarações internacionais, que desfrutam de proteção
supra-estatal” (JAYME, 2005, p.11).
10
neoliberalismo no Estado Social, que o articulista advoga como o único capaz de garantir os
direitos sociais necessários a uma sociedade verdadeiramente inclusiva.
No segundo capítulo, Travessoni argumenta que a persistência da desigualdade social
dificultaria a fruição de Direitos Fundamentais e a inclusão social. De forma breve, o autor
apresenta o conceito de Direitos Fundamentais e sua relação com o conceito de Direitos
Humanos, define inclusão e exclusão, e discute as formas e instrumentos, com os quais o
Estado pode conseguir tal inclusão.
Ao questionar o marco individualista, sobre o qual se assenta a noção de Direitos
Humanos nas democracias modernas, no terceiro capítulo, Ferrari e Salum apresentam uma
longa reflexão sobre as relações entre direito individual e coletivo, e as relações entre
indivíduos e sociedade na contemporaneidade. Para tanto, as autoras partem de contribuições
de clássicos da Psicanálise, nesse processo, e argumentam a favor da importância da
abordagem psicanalítica no processo de inclusão social, com base em exemplos de atuação de
psicólogos com menores infratores, nas possibilidades de inclusão de cada indivíduo, a partir
de suas diferenças.
No quarto capítulo dessa seção, Barros inicia seu artigo com uma discussão dos
significados e da relação, que ele classifica como paradoxal, entre cultura e inclusão.
Buscando explicitar a complexidade dessa relação, tanto no campo das ideias, quanto na arena
de nossas práticas, Barros avança rumo a uma proposta de práxis inclusiva, menos
compensatória e altruísta e mais comprometida com as diferenças, com a dignidade humana e
a democracia, em contraponto a uma noção de inclusão mais encaminhada para o exercício da
filantropia, da compaixão e da beneficência.
No quinto capítulo, Antonini, Sant’Anna e Santos argumentam que, na América Latina,
o crescimento da população, a pobreza, a desigualdade e a exclusão social resultam no
aumento da pressão sobre os espaços naturais e sobre os recursos naturais. Os autores
discutem essa relação nos processos de favelização; de gerenciamento dos recursos hídricos
da Amazônia; educação ambiental e na sociodiversidade.
No sexto e último capítulo dessa seção, Magalhães se pergunta como explicar que o poder, em suas
variadas formas, tem levado milhões de pessoas a defender interesses que não os seus, porém, muitas vezes, são
contra os seus interesses. Magalhães argumenta, fundamentado em teóricos diversos, que o capitalismo de
mercado é uma grande religião, que se afirma com a sacralização do mercado e da propriedade privada, na qual o
fetiche do consumo escravizaria o consumidor, tanto pela incapacidade em profanar o bem consumido quanto
pela incapacidade de enxergar o processo em que se vê mergulhado até a cabeça.
Na Parte 2, “Inclusão Social: avanços e desafios no cotidiano”, são apresentados outros
seis capítulos que discutem diferentes tipos de experiências com práticas inclusivas. Mantoan,
11
no primeiro texto, discute como ultrapassar barreiras e avançar na inclusão escolar,
enfatizando as questões envolvidas na formação do professor que, entre a teoria e a prática, é
quem tem de dar conta do aluno na sala de aula e lhe garantir o direito à aprendizagem e o
respeito às diferenças.
No segundo capítulo, Guimarães propõe uma abordagem holística da prática do design
universal, com a justificativa que essa prática teria um efeito mais complexo para a
compreensão da acessibilidade para todos, do que o previsto nos instrumentos legais e
normativos. Para ele, sem essa abordagem, é provável que os resultados sejam inadequados e
estejam distantes dos objetivos de desenvolvimento de uma sociedade inclusiva.
Pinotti e outros, no terceiro capítulo, apresentam o trabalho do Laboratório de
Bioengenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, que atua, desde 1999, no
desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde. Nesse artigo, os autores descrevem as
diferentes ações realizadas no laboratório, voltadas para a Engenharia de Reabilitação, entre
elas, a tecnologia dos músculos artificiais pneumáticos; a órtese de quadril, com músculos
artificiais pneumáticos; a órtese funcional de mão e o telefone acessível.
No capítulo quatro, Galery discute os desafios da inclusão digital, com foco nos
problemas relacionados ao acesso, capacitação e à atitude do homem diante da tecnologia.
Galery inicia seu artigo, apresentando os conceitos de inclusão e de exclusão digital e outros
pontos relacionados à utilização desses conceitos para, depois, tecer considerações sobre as
principais questões relacionadas ao acesso à tecnologia, à capacitação para o uso da
tecnologia e à atitude diante da tecnologia.
No capítulo cinco, Heckert discute as potencialidades da economia solidária, a partir de
práticas oriundas das universidades e apresenta políticas públicas de economia solidária que
buscam a inclusão social, pela geração do trabalho emancipado. O foco da discussão é a
experiência das “incubadoras universitárias” como prática inclusiva que, com o apoio do
Ministério do Trabalho, expandiram-se por diferentes universidades. Heckert conclui suas
considerações, afirmando que, por meio da “incubagem”, diversos grupos foram apoiados, em
um processo de formação que vai do surgimento à consolidação de um empreendimento e
conquista de autonomia pelo grupo.
No capítulo seis, Chaves e Neto apresentam uma discussão, de olhar empresarial, sobre
os programas de inserção de jovens no mercado de trabalho. Para tanto, partem da
reconstrução da trajetória histórica do desemprego juvenil, para discutir as políticas públicas,
que focam a questão e analisar o programa Bolsa-Emprego da Prefeitura Municipal de Betim,
12
subsidiados pelos resultados de uma pesquisa realizada com os empresários, que participaram
desse programa, naquele município.
Finalmente, na Parte 3, “Inclusão Social, Gênero e Raça”, questões específicas são
apresentadas em quatro artigos. No primeiro, “Gênero e Raça no Brasil: Impasses e
Avanços”, Heringer reflete sobre a questão da diversidade racial e de gênero no Brasil, na
perspectiva de que a discriminação é uma violação dos Direitos Humanos e que enfrentar o
racismo é fundamental para a garantia da inclusão social no país. A autora apresenta
diferentes pontos de vista para pensar questões relativas à promoção da igualdade e
valorização da diversidade, no campo das políticas públicas. Heringer trabalha com diferentes
temas, passando pela educação infantil, a construção de uma proposta curricular antirracista
de educação, o ensino da história e da cultura afrobrasileiras nas escolas, a promoção de
atividades culturais para jovens negros e políticas voltadas para a questão racial e de gênero.
No segundo artigo, “Inclusão, exclusão e raça: uma articulação entre psicanálise e
sociedade”, o psicanalista Reis Filho discute sua experiência de homem negro, que trabalha há
muitos anos com a escuta de pacientes, muitos deles negros, sobre suas vivências com o
racismo e a exclusão social. Nesse artigo, o autor reflete sobre as possíveis consequências de
políticas de ação afirmativa e sobre as possibilidades de atuação da psicanálise, na superação
de preconceitos, para promoção de uma sociedade menos racista e mais inclusiva.
No terceiro artigo dessa seção, Alzira Rufino discute a situação da mulher negra e sua
inclusão nos Direitos Sociais, a partir de sua experiência como fundadora de uma ONG
voltada para a defesa dos direitos da mulher, com foco no combate à violência doméstica e ao
racismo.
Chacham, Lobato e Van der Mass analisam, no último artigo dessa seção, gênero, raça e
classe como diferentes dimensões da exclusão social da juventude, a partir dos resultados de
uma pesquisa realizada, em 2005, com mulheres jovens residentes em uma favela de Belo
Horizonte. Para a análise, os autores utilizaram o método estatístico Grade of Membership
(GoM), que permitiu construir perfis das jovens em relação aos atributos demográficos,
comportamento sexual e reprodutivo, arranjos familiares e grau de autonomia em cada uma de
suas diferentes dimensões.
A todos que participaram, direta ou indiretamente, da realização deste livro, nossos
agradecimentos e, dos leitores, esperamos que apreciem os textos.
13
PARTE I
Inclusão Social: Reflexões
Teóricas e Conceituais
14
Direitos Fundamentais, Estado Social, Sociedade Inclusiva
Jorge Miranda5
Em um resumo da evolução dos Direitos Fundamentais, indicam-se, corretamente, três
ou quatro gerações: a dos direitos de liberdade; a dos direitos sociais; a dos direitos ao
ambiente e à autodeterminação, aos recursos naturais e ao desenvolvimento; e, ainda, a dos
direitos relativos à bioética, à engenharia genética, à informática e a outras utilizações das
modernas tecnologias.
Conquanto essa maneira de ver possa ajudar a apreender os diferentes momentos
históricos de aparecimento dos direitos, o termo geração, geração de direitos, afigura-se
enganador por sugerir uma sucessão de categorias de direitos, umas substituindo-se às outras
– quando, pelo contrário, o que se verifica em Estado Social de Direito é um enriquecimento
crescente em resposta às novas exigências das pessoas e das sociedades.
Nem se trata de um mero somatório, mas sim de uma interpenetração mútua, com a
conseqüente necessidade de harmonia e concordância prática. Os direitos vindos de certa
época recebem o influxo dos novos direitos, tal como estes não podem deixar de ser
entendidos em conjugação com os anteriormente consagrados: algumas liberdades e o direito
de propriedade não têm hoje o mesmo alcance do que no século XIX, e os direitos sociais
adquirem um sentido diverso, consoante aos outros direitos garantidos pelas Constituições.
Tampouco as pretensas gerações correspondem a direitos com estruturas contrapostas:
um caso paradigmático é o do direito à intimidade ou à privacidade, só plenamente
consagrado no século XX. E há direitos inseridos numa geração que ostentam uma estrutura
extremamente complexa: é o caso do direito ao ambiente.
Finalmente, direitos como os direitos à autodeterminação, aos recursos naturais e ao
desenvolvimento sequer entram no âmbito dos Direitos Fundamentais, porque pertencem a
outra área – a dos direitos dos povos.
Nos séculos XVIII e XIX, dir-se-ia existir uma concepção de Direitos Fundamentais, a
liberal. Não obstante às críticas – legitimistas, socialistas, católicas – era o liberalismo (então,
cumulativamente, filosófico, político e econômico) que prevalecia em todas as constituições e
declarações; e, não obstante à pluralidade de escolas jurídicas – jus naturalista, positivista,
5
Professor catedrático da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa.
15
histórica – era a ele que se reportavam, de uma maneira ou de outra, as interpretações da
liberdade individual.
A situação muda no século XX: não tanto por desagregação ou dissociação das três
vertentes liberais (em especial por o liberalismo político deixar de se fundar, necessariamente,
no liberalismo filosófico) quanto por todas as grandes correntes – religiosas, culturais,
filosóficas, ideológicas, políticas – interessarem-se pelos direitos do homem e quase todas
afirmarem-se empenhadas na sua promoção e na sua realização. O tema dos direitos do
homem cessou de ser, no nosso tempo, uma exclusiva aspiração liberal.
Assiste-se, por conseguinte, a um fenômeno de universalização dos direitos do
homem, não sem paralelo com o fenômeno da universalização da Constituição, e que, como
este, se acompanha da multiplicidade ou da plurivocidade de entendimentos – porque a
uniformidade das técnicas não determina a unidade das culturas e das concepções políticas.
Pode-se antever uma “civilização do universal” também no domínio dos direitos do
homem – equivalente ao “ideal comum a atingir”, de que fala a Declaração Universal – pelo
menos, por agora, afiguram-se irredutíveis as sensibilidades e as valorações (com base
religiosa ou não) que se atinjam patamares e convergências de garantia e de efetivação.
Independentemente das divergências em nível de formulações, teoricamente e
fundamentações, ressaltam-se algumas tendências comuns:
•
A diversificação do catálogo, muito para lá das declarações clássicas;
•
A irradiação para todos os ramos de Direito;
•
A acentuação da dimensão objetiva, perscrutando-se, por detrás dos
direitos, princípios básicos do ordenamento;
•
A consideração do homem situado, traduzida na relevância dos grupos e
das pessoas coletivas e na conexão com garantias institucionais;
•
O reconhecimento da complexidade de estrutura de muitos dos direitos,
designadamente dos de liberdade;
•
A dimensão plural e poligonal das relações jurídicas;
•
A produção de efeitos não só verticais (frente ao Estado) mas também
horizontais (em relação aos particulares);
•
A dimensão participativa e procedimental, levando a falar em status activus
processualis (HÄBERLE);
•
A idéia de aplicabilidade imediata quanto aos direitos de liberdade;
16
•
A interferência não apenas do legislador, mas também da Administração na
concretização e na efetivação dos direitos;
•
O desenvolvimento dos meios de garantir e a sua ligação aos sistemas de
fiscalização da legalidade e da constitucionalidade.
Tal como o conceito de Constituição, o conceito de Direitos Fundamentais surge
indissociável da idéia de Direito Liberal. Daí que se carregue nas duas características
identificadoras da ordem liberal: a postura individualista abstrata de (no dizer de Radbruch)
um “indivíduo sem individualidade”; e o primado da liberdade, da segurança e da
propriedade, complementadas pela resistência à opressão.
Apesar de todos os direitos serem ou deverem ser (por coerência) direitos de todos,
alguns (máxime o sufrágio) são, no século XIX, denegados aos cidadãos que não apresentam
determinados requisitos econômicos; outros (v.g., a propriedade) aproveitam, sobretudo, os
que pertençam a certa classe; e outros ainda (o direito de associação, em particular, de
associação sindical), não sem dificuldade, são alcançados.
Contrapostos aos direitos de liberdade são, nesse século e no século XX, reivindicados
(sobretudo, por movimentos de trabalhadores) e sucessivamente obtidos, direitos econômicos,
sociais e culturais – direitos econômicos para garantia da dignidade do trabalho, direitos
sociais, como segurança na necessidade, e direitos culturais, como exigência de acesso à
educação e à cultura e, em último termo, de transformação da condição operária. Nenhuma
constituição posterior à Primeira Guerra Mundial deixa de outorgá-los, com maior ou menor
ênfase e extensão.
Sabe-se, porém, que são diversas – muito mais diversas de que os do Estado Liberal –
as configurações do Estado Social. Os antagonismos ideológicos, os desníveis de estágios de
desenvolvimento e as diferenças de culturas e de práticas sociais não só subjazem aos
contrastes de tipos constitucionais como explicam realizações e resultados variáveis de país
para país.
A bifurcação assim aberta dos direitos fundamentais encontra-se, de uma maneira ou
de outra, em quase todas as constituições feitas após a Primeira Guerra Mundial ou, pelo
menos, na legislação ordinária de quase todos os países; e em nível internacional, mostra-se
patente nos dois: Pacto de Direitos Civis e Políticos – ou na Convenção Européia dos Direitos
do Homem e das Liberdades Fundamentais – e na Carta Social Européia.
Mas a doutrina vê a distinção em termos muito diferentes, consoante às premissas
teóricas e ao enquadramento político-constitucional de que parte.
17
Não faltam autores que somente tomem como direitos fundamentais os direitos de
liberdade e que relegem os direitos sociais para a zona das imposições dirigidas ao legislador
ou para a das garantias institucionais. Assim como há aqueles que não admitem verdadeiras
liberdades à margem da consecução dos fatores de exercícios só propiciados pela realização
dos direitos sociais. Na óptica do Estado social de Direito (inconfundível com a dos Estados
marxista-leninistas ou com a dos Estados corporativos, fascistizantes ou fascistas) o dualismo
é imposto pela experiência: sejam quais forem as interpretações ou subsunções conceituais,
não pode negar-se a uns e outros direitos a natureza de direitos fundamentais.
Para o Estado Social de Direito, a liberdade possível – e, portanto, necessária – do
presente não pode sacrificar-se em troca de quaisquer metas, por justas que sejam, a alcançar
no futuro. Há que se criar condições de liberdade – de liberdade de fato, e não só jurídica; mas
a sua criação e a sua difusão somente têm sentido em regime de liberdade, porque a liberdade
(tal como a igualdade) é indivisível. A diminuição da liberdade – civil ou política de alguns
(ainda quando socialmente minoritários), para outros (ainda quando socialmente maioritários)
acederem a novos direitos, redundaria em redução da liberdade de todos.
O resultado almejado há de ser uma liberdade igual para todos, construída a partir da
correção das desigualdades e não por meio de uma igualdade sem liberdade; sujeita às balizas
matérias e procedimentais da Constituição e susceptível, em sistema político pluralista, às
modulações que derivem da vontade popular expressa pelo voto.
Nos direitos de liberdade, parte-se da ideia de que as pessoas, só por o serem ou por
terem certas qualidades ou por estarem em certas situações ou inseridas em certos grupos ou
formações sociais, exijam respeito e proteção por parte do Estado e dos demais poderes. Nos
direitos sociais, parte-se da verificação da existência de desigualdades e de situações de
necessidade – umas derivadas das condições físicas e mentais das próprias pessoas, outras
derivadas de condicionalismos exógenos (econômicos, sociais, geográficos etc.) – e da
vontade de vencê-las para estabelecer uma relação solidária entre todos os membros da
mesma comunidade política.
A existência das pessoas é afetada tanto por uns como por outros direitos. Mas em
planos diversos: com os direitos, liberdades e garantias, é a sua esfera de autodeterminação e
expansão que fica assegurada; com os direitos sociais, é o desenvolvimento de todas as suas
potencialidades que se pretende alcançar. Com os primeiros, é a vida imediata que se defende
do arbítrio do poder; com os segundos, é a esperança em uma vida melhor que se afirma. Com
uns, é a liberdade atual que se garante; com outros, é uma liberdade mais ampla e efetiva que
se começa a realizar.
18
Liberdade e libertação não se separam, pois se entrecruzam e completam-se. A
unidade da pessoa não pode ver-se truncada em razão de direitos destinados a servi-la. A
unidade do sistema jurídico impõe a harmonização constante dos direitos da mesma pessoa e
de todas as pessoas.
Isso mesmo pode se comprovar, considerando a estrutura dos direitos e das normas
constitucionais, nas quais constam.
Com efeito:
a) Direitos, liberdades e garantias não são o mesmo que direitos naturais. Direitos
sociais não são o mesmo que direitos civis (em certa acepção) ou direitos outorgados pelo
Estado. Não está aqui em causa senão uma análise de situações jurídicas ativas de Direito
positivo, mas, se assim não fosse, por certo seria incorreto não qualificar como tais o direito
ao trabalho ou o direito à segurança social.
b) Direitos, liberdades e garantias tampouco são o mesmo que direitos individuais,
nem direitos sociais são o mesmo que direitos institucionais ou coletivos. Entre os direitos
fundamentais institucionais contam-se algumas liberdades (v.g., a das confissões religiosas e a
das associações) e, de resto, os direitos sociais apresentam-se, de ordinário, como de
titularidade individual (poucos direitos serão mais individuais que o direito ao trabalho ou o
direito ao ensino).
c) É corrente identificar direitos de liberdade com direitos negativos e direitos sociais
com direitos positivos. A contraposição, todavia, só pode ser feita em termos radicais.
d) Por um lado, perante a atitude do Estado, vem a ser de simples abstenção.
Postulam-se condições de segurança em que possa ser exercida uma ordem objetiva a criar ou
a preservar – a ordem pública em sentido escrito ou, mais amplamente, a “ordem
constitucional democrática”. E o Estado é civilmente responsável pelas violações dos direitos
e deve tutela, civil e penal, contra violações provindas de quaisquer cidadãos.
Mais ainda: quanto a algumas liberdades, exigem-se prestações positivas ou ajudas
materiais, sem as quais se frustra o seu exercício por todos os cidadãos e todos os grupos.
Assim, a liberdade de imprensa implica assegurar pela lei os meios necessários à salvaguarda
da sua independência perante os poderes político e econômico e a possibilidade de expressão
e confronto das diversas correntes de opinião nos meios de comunicação social do setor
público. Com a liberdade de propaganda eleitoral, associada à igualdade das diversas
candidaturas e à imparcialidade das entidades públicas.
e) Pode e deve-se falar, sim, numa atitude geral de respeito, resultante do
reconhecimento da liberdade da pessoa conforme sua personalidade e de reger a sua vida e os
19
seus interesses. Esse respeito pode converter-se em abstenções ou em ações do Estado e das
demais
entidades
públicas
ao
serviço
da
realização
da
pessoa,
individual
ou
institucionalmente considerada – mas nunca em substituição da ação ou da livre decisão da
pessoa, nunca a ponto de o Estado penetrar na sua personalidade e afetar o seu ser. E é
fundamentalmente nesse sentido de respeito e preservação da personalidade e da capacidade
de ação das pessoas que se justifica ainda dizer que os direitos, liberdades e garantias no seu
conjunto ou, pelo menos, as diferentes liberdades se salvaguardarão ou se efetivarão tanto
mais quanto menos for a intervenção do Estado, ao passo que os direitos sociais poderão ser
tanto mais efetivados quanto maior ela vier a ser.
f) Uma atitude geral de respeito obriga tanto as entidades públicas como, ainda, em
certos casos e em certas condições – defini-las vem a ser um dos mais difíceis problemas do
Direito Constitucional contemporâneo –, as entidades privadas. Porque o respeito da liberdade
de todos os membros da comunidade política tem que ver não somente com as entidades
públicas como também com todos esses membros, uns perante os outros, pelo menos quando
haja relações de desigualdade ou de dependência. Importa que uns respeitem a personalidade
dos outros para que possam todos conviver.
g) Por outro lado, algo de semelhante se verifica, de resto, no domínio dos direitos
sociais. Embora esses tenham como sujeitos passivos principalmente o Estado e outras
entidades públicas, também não são indiferentes a entidades privadas; também requerem (ou
chegam a exigir) uma colaboração por parte dos particulares. Chamados à tarefa da sua
efetivação são o Estado e a sociedade.
h) Existe uma instância participativa nos Direitos Sociais fundada, ainda e sempre, no
respeito da personalidade: porque se cura de prestar bens e serviços à pessoa, não apenas é
preciso contar com o seu livre acolhimento como ainda é mais vantajoso pedir-lhe que, por si
ou integrada em grupos, contribua para a sua própria promoção. Daí, estruturas e, por vezes,
inclusive, direitos de participação.
i) Tal como nas liberdades se recorda uma vertente positiva, também nos Direitos
Sociais se encontra, pois, uma dimensão negativa. As prestações que lhes correspondem não
podem se impor às pessoas, salvo quando envolvam deveres e, mesmo aqui, com certos
limites (v.g., tratamentos médicos ou frequência de escolas). Quando a Constituição institui
formas de participação, não pode ser impedido o seu desenvolvimento. É vedado ao poder
público restringir o acesso aos Direitos Sociais constitucional ou legalmente garantidos, por
meio de medidas arbitrárias e, evidentemente, lesar os bens ou os interesses que lhes
correspondem (v.g., o ambiente ou o patrimônio cultural).
20
j) A interconexão de liberdades e direitos sociais afigura-se óbvia, seja no processo
histórico da sua formulação ou no momento atual de exercício e efetivação. A liberdade
sindical e o direito à greve constituem instrumentos de defesa dos direitos dos trabalhadores.
Há garantias ao serviço de Direitos Sociais: assim, o direito à segurança no emprego em
relação ao direito ao trabalho, e, em geral, também funcionam como tais certos direitos
específicos de participação. Em contrapartida, a efetivação dos Direitos Sociais propicia a
realização das liberdades ou de certas liberdades: assegurar, por exemplo, o ensino básico
universal, obrigatório e gratuito, ou a educação permanente, é para que todos possam usufruir
da liberdade de aprender e da liberdade de criação cultural. Finalmente, não faltam casos de
harmonização: por exemplo, o direito ao trabalho não pode ser efetivado com privação da
liberdade de profissão.
Os últimos 25 anos foram, contudo, atravessados por situações de crise e pela
afirmação de um modelo alternativo; situações de crise derivadas do peso dos aparelhos
burocráticos nascidos à sua sombra, de custos financeiros dificilmente suportáveis, de
conjunturas de recessão econômica e de quebra de competitividade em face de países com
menor proteção social; afirmação de correntes neoliberais e monetaristas triunfantes (ou
aparentemente triunfantes) frente às correntes keynesianas.
E, efetivamente, as circunstâncias e também os princípios de equidade social exigem a
superação do assistencialismo. Exigem a distinção entre necessidade e bens essenciais e
universais e as restantes necessidades, fazendo com que as respectivas prestações sejam pagas
por todos quantos as puderem pagar e até onde puderem pagar. Exigem a abertura à
colaboração da sociedade civil. Exigem ainda mudança de mentalidades, diminuindo os
egoísmos corporativos, e impulsionando, pelo contrário, formas de democracia participativa.
No entanto, o modelo neoliberal tampouco oferece solução satisfatória. Assim como a
experiência dos anos 50, 60 e 70 mostrou, o papel integrador produzido pelos esforços de
efetivação de Direitos Sociais, também agora só o Estado Social permite dar resposta a
fenômenos novos de exclusão e propiciar o acolhimento dos milhões de imigrantes que
buscam um pouco mais de bem-estar nos países ocidentais. E apenas o Estado Social é
compatível com a preservação do meio ambiente, com uma política de desenvolvimento
sustentável e com a “solidariedade entre gerações”.
Uma coisa é, pois, a atualização, a adaptação ou a reforma do modelo; outra coisa, a
sua abolição. Uma coisa é a correspondência mais com regulação econômica e social do que
com intervenção direta do Estado; outra coisa, o retorno a um laissez-faire, que, à escala da
globalização, traria imensos custos humanos. Uma coisa é a eventual passagem a uma nova
21
fase (que algumas apelidam de Estado pós-social), outra coisa a sujeição a uma pura lógica
economicista sem horizontes de esperança e de solidariedade.
Tudo isso, naturalmente, no âmbito da democracia representativa, aberta e pluralista,
em que, sem prejuízo do seu conteúdo essencial e da garantia jurisdicional, as normas
constitucionais sobre direitos econômicos, sociais e culturais podem receber concretizações
diversas (mas não retrocesso), consoante as legítimas opções das sucessivas maiorias
parlamentares. Assim, espera-se conduzir para uma sociedade inclusiva, uma sociedade de
todos e para todos.
22
Inclusão, Direito e Direitos Fundamentais: conceito e formas jurídicas
de inclusão1
Alexandre Travessoni Gomes2
Apesar de a igualdade se mostrar formalmente garantida nas declarações de direitos
das constituições ocidentais, inclusive a brasileira, de modo geral, ela não se efetiva com a
eficácia que as sociedades ocidentais gostariam de contar. Embora o problema pareça restrito
aos países antes chamados subdesenvolvidos, hoje denominados emergentes, ele vem se
mostrando presente também nas nações chamadas industrializadas ou ricas, como os Estados
Unidos e os países da União Europeia.3 A desigualdade apresenta vários aspectos e efeitos.
Pretende-se aqui abordar um deles: a fruição de Direitos Fundamentais. Vamos tratar da
desigualdade na fruição dos Direitos Fundamentais e sua relação com os conceitos de inclusão
e exclusão. Será visto, (1) primeiramente, de forma breve, o conceito de Direitos
Fundamentais e de sua relação com o conceito de Direitos Humanos. (2) Procuraremos definir
inclusão e exclusão, usando como base a ideia de fruição de Direitos Fundamentais.
Apresentaremos, então, (3) os motivos que podem levar as pessoas a quererem a inclusão,
sejam elas incluídas ou excluídas. Vamos descrever (4) a forma de Estado que pode conseguir
tal inclusão e, por fim, (5) tratar dos instrumentos que o Estado pode utilizar.
1. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS
Há várias conceituações de Direitos Humanos. Pérez Luño, por exemplo, os define
como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam
as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, que devem ser reconhecidas
positivamente pelos ordenamentos jurídicos nos planos nacional e internacional (PÉREZ
LUÑO, 1999, 48).
1
Conferência proferida em 20/10/2006, no IV Seminário Internacional da Sociedade Inclusiva da PUC Minas.
Professor Adjunto na Faculdade de Direito da UFMG e na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas.
3
Embora nesses países a desigualdade afete sobretudo os imigrantes, seus efeitos são sentidos em parcela cada
vez mais significativa dos próprios cidadãos nativos.
2
23
Embora essa definição envolva problemas que, por questões metodológicas, não serão
abordados aqui, ela pode ser útil para trilhar o caminho que se pretende, a saber, tratar da
inclusão do ponto de vista da efetividade dos Direitos Fundamentais.4
No momento de seu surgimento, no Estado Liberal, os Direitos Humanos eram
considerados Direitos Naturais. Foram, então, positivados nas primeiras declarações de
Direito. Embora a identificação das causas dessas declarações seja polêmica, pode-se dizer
que as principais foram o pensamento jusnaturalista, que ganha força com a idéia
revolucionária e, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, a tradição inglesa de cartas,
restringindo os poderes reais.
A positivação dos Direitos Humanos começa na ex-colônia inglesa da Virgínia (1776),
continua na Declaração Francesa (1789) e, posteriormente, aparece na Declaração norteamericana, em forma de emenda à Constituição (1791). Em seguida, os Direitos Humanos
passam, de modo gradativo, a integrar praticamente todas as constituições europeias e de
outros países ocidentais, como o Brasil que, em sua primeira constituição, fez constar uma
declaração.5
Já se tornou clássica a distinção doutrinária entre Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais. Aqueles seriam direitos inatos do ser humano; estes seriam os Direitos
Humanos que foram positivados. Portanto, os Direitos Humanos independeriam da
positivação, enquanto os Direitos Fundamentais não. Antes de entrar nas considerações sobre
a eficácia, que tornarão possível um conceito jurídico de exclusão, é oportuno discordar dessa
distinção, sobretudo no plano teórico, embora se possa aceitar sua validade no plano histórico.
Para isso, far-se-á uma breve abordagem da teoria dos Direitos Humanos.
Salgado afirma que há três momentos pelos quais passam os Direitos Humanos, a
saber: (a) a consciência desses direitos em determinadas condições históricas; (b) a
positivação e (c) a eficácia (SALGADO, 1996, 16).
(a) Em primeiro lugar, os Direitos Humanos surgem em nossa consciência. Surgem
como valores, como desejos. Surgem como algo que queremos realizar. Nesse momento, para
os jusnaturalistas, os Direitos Humanos estão ainda no plano do Direito Natural.
4
Tratar dessa polêmica seria desviariar do tema. Será tratada brevemente a distinção entre Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais. Para uma crítica mais detalhada dos conceitos de Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais cf. O Direito Penal e os Direitos Fundamentais, de nossa autoria, no prelo.
5
Na Constituição Imperial os Direitos, então nomeados Civis e Políticos, aparecem não no início, mas no último
título da Constituição.
24
(b) O segundo momento consiste na declaração formal desses direitos: eles são postos
em declarações (figurem estas ou não em uma constituição), saindo do plano valorativo e
entrando no plano normativo.
Como se viu acima, a doutrina majoritária afirma que, quando os Direitos Humanos
são positivados, quer dizer, postos em uma declaração, eles também se transformam em
Direitos Fundamentais. Não é de se concordar com essa distinção, sobretudo no plano teórico,
pois ela pode induzir ao erro de pensar que o caráter “fundamental” dos referidos direitos se
adquire com a positivação, o que pode ser verdade, de um ponto de vista histórico, sobretudo
se considera serem eles Fundamentais por estarem na lei fundamental (Grundgesetz), i.e., na
Constituição, mas não faz sentido do ponto de vista teórico. Vejamos.
Se os Direitos Humanos tornaram-se Fundamentais por terem sido positivados, quer
dizer, por terem se inserido nas constituições, seu conceito depende meramente da vontade de
determinado legislador histórico. A nosso ver, a característica de essência dos Direitos
Humanos (antes mesmo de sua positivação) é justamente a de serem Direitos Fundamentais.
Do contrário, todos os direitos subjetivos poderiam se considerar Direitos Humanos, por
tratar-se de direitos subjetivos de uma pessoa. Aquilo que define os Direitos Fundamentais é
justamente o fato de fundamentarem os demais direitos, isto é, de constituírem a base ou
fundamento dos demais direitos inerentes a um ser humano6, antes mesmo de terem sido
positivados. De outro modo, como já dissemos, todo direito subjetivo poderia se considerar
um Direito Humano. Entende-se, portanto, que a expressão Direitos Fundamentais compõe
melhor aquilo que a doutrina vem denominando Direitos Humanos. No entanto, como o uso já
consagrou outras expressões e como o objetivo aqui não é tratar diretamente dessa questão,
usaremos Direitos Humanos para os Direitos ainda não positivados e Direitos Fundamentais
para os direitos positivados.
Como já ressaltamos acima, a positivação dos Direitos Humanos deu-se, pela primeira
vez, mediante a consagração nas declarações e constituições contemporâneas ao Iluminismo.7
Os direitos dessa primeira geração são negativos, em outras palavras, direitos que implicam a
não-interferência ou interferência mínima do direito nas relações sociais de diversas
naturezas, ampliando o espectro das condutas não regulamentadas pelo direito ou, como
preferem alguns, regulamentadas negativamente pelo direito. Na segunda geração aparecem
os Direitos Sociais, que pretendiam dar um mínimo de conteúdo à igualdade e liberdade
6
Embora alguns possam ser atribuídos a todas as pessoas de direito.
Não desconsideramos o fato de os Direitos Humanos apresentarem uma história anterior, que passa por fatos
históricos (como as declarações inglesas) bem anteriores ao Iluminismo, bem como por teorias que já previam a
dignidade do ser humano como algo que deveria ser respeitado.
7
25
formais consagradas pelos direitos da primeira geração. Constituem direitos da segunda
geração, por exemplo, os Direitos do Trabalhador. Hoje se fala em uma terceira geração,8 que
seria aquela típica não mais do Estado Social, mas de um Estado Democrático de Direito. A
nosso ver, os modelos de Estado e suas respectivas gerações de Direitos precisam ser vistos
de forma sistemática. O Estado Social é Liberal, quer dizer, incorpora os Direitos do Estado
Liberal, mas os reformula, de modo que os direitos da primeira geração acham-se nele
presentes, mas interpretados de um novo modo. Do mesmo modo, o Estado Democrático de
Direito incorpora os Direitos da segunda geração – direitos esses que já haviam incorporado
os da primeira geração – interpretando-os, porém, de um novo modo, coerente com a ideia
atual de democracia.9
(c) O terceiro momento é o da eficácia.10 Os Direitos Humanos já positivados, então
Direitos Fundamentais, passam a ser fruídos por seus destinatários. Embora a Ciência do
Direito sempre enfatize a necessidade da passagem do segundo momento – o da garantia
formal desses direitos –, para o terceiro momento, ela pouco trabalhou as formas pelas quais
se poderia chegar a essa eficácia. Apesar de compreensível essa lacuna, quando se considera o
caráter dogmático-normativo da Ciência do Direito, deve-se lembrar de que a finalidade do
Direito se processa no âmbito da facticidade.
No Brasil, embora tenhamos uma Constituição que positiva os Direitos Humanos,
transformando-os, na terminologia clássica já mencionada acima, em Direitos Fundamentais,
sua positivação não se viu seguida da eficácia. Isso mostra-se especialmente importante
quando se considera que a positivação não constitui, no Brasil, fato recente. As constituições
brasileiras, desde a primeira, garantiram formalmente os direitos da geração correspondente
ao modelo de Estado então consagrado. A Constituição Imperial e a Constituição Republicana
consagraram os Direitos Individuais; a Constituição de 1934 consagrou, pela primeira vez, os
Direitos Sociais; e a Constituição de 1988 implantou um novo modelo de Estado, o Estado
Democrático de Direito, que trouxe consigo uma nova geração de direitos, como já
mencionado acima.
Mas, apesar da positivação, grande parcela da população brasileira, talvez a maioria,
não frui esses direitos em medida sequer mínima, quanto mais razoável. Portanto, embora não
existam diferenças significativas entre a atual Declaração de Direitos Brasileira, contida na
8
Alguns autores falam em mais gerações.
Esse conceito de democracia será abordado abaixo, na perspectiva de Pettit.
10
Usamos o termo eficácia no sentido de realização concreta dos Direitos Fundamentais.
9
26
Constituição e as declarações contidas nas constituições europeias, o nível de eficácia dos
direitos por elas prescritos é muito diferente.
2. A FRUIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO CHAVE PARA UM
CONCEITO JURÍDICO DE EXCLUSÃO
Do ponto de vista jurídico, inclusão e exclusão podem ser definidas com base no grau
de eficácia dos Direitos Fundamentais, isto é, com base no exercício ou não de Direitos
Fundamentais em certo grau. Consideramos incluídas as pessoas que fruem, em um grau
razoável, os Direitos Fundamentais. São as pessoas que exercem de fato o direito à moradia, à
saúde, à educação, ao trabalho e à renda. Consideramos excluídas as pessoas que não fruem
em grau razoável os Direitos Fundamentais; aquelas que não exercem de fato os direitos
mencionados acima ou, pelo menos, não exercem alguns deles em grau razoável.11
Se essas definições são razoáveis, podemos, então, concluir que a maioria dos
brasileiros é excluída. Naturalmente, estou considerando verdadeira uma premissa comumente
aceita: a de que a grande maioria da população brasileira não exerce de fato, em grau
aceitável, seus Direitos Fundamentais.
Constatada essa realidade, pergunta-se: como pode o Direito atuar na efetivação desses
Direitos Fundamentais? A resposta a essa pergunta não é fácil, sobretudo porque se, por um
lado, é consenso que deve haver maior eficácia dos Direitos Fundamentais, por outro, os
instrumentos necessários para se chegar a ela não são bem estudados e, quando isso ocorre,
não há acordo sobre quais são os mais eficazes. Só para citar um exemplo, consideremos a
polêmica que vêm causando as ações afirmativas no Brasil, como o projeto de lei que prevê a
criação de quotas nas instituições públicas de ensino superior e nos cursos técnicos públicos.
Não pretendemos responder definitivamente à pergunta acima, e sim apenas sugerir,
em termos gerais, os instrumentos jurídicos que podem levar à maior eficácia dos Direitos
Fundamentais. Usar-se-á a teoria republicanista de Pettit (PETTIT, 2007 e PETTIT, 1999),
que fala em uma democracia contestatória. Essa teoria pode se configurar de grande valia para
estudar os referidos instrumentos, desde que, em virtude das peculiares condições sociais
brasileiras, ela seja adequada à nossa realidade. Antes de mostrar os meios para se alcançar a
11
É impossível no âmbito deste ensaio determinar teoricamente em que grau exato uma pessoa precisa estar
fruindo seus Direitos Fundamentais para que seja considerada incluída. Pode-se aqui apenas notar que, se
considerados todos os Direitos Fundamentais, há fruição em medida razoável da maioria deles, a pessoa pode ser
considerada incluída.
27
inclusão, é preciso verificar se esta, de fato, constitui um fim a se perseguir É o que passamos
a fazer.
3. OS MOTIVOS QUE PODEM LEVAR AS PESSOAS A QUEREREM A INCLUSÃO
Antes de indagar os motivos de alguém querer a inclusão, é preciso indagar quem é
esse sujeito que promoverá a inclusão. Três opções aparecem: (i) as pessoas excluídas
incluirão a si próprias; (ii) os incluídos incluirão os excluídos ou (iii) ambos (incluídos e
excluídos) deverão procurar incluir. A nosso ver, a terceira opção é a mais razoável, como
passamos a demonstrar.
(i) Começaremos pela análise do excluído como sujeito que inclui. Por que quer o
excluído se incluir? Ou, antes disso, quer ele realmente se incluir? A resposta é simples.
Partimos do pressuposto de que exercer Direitos Fundamentais é algo desejado por todos.
Tomamos como base aqui a longa história de lutas sociais, algumas sangrentas, pela
declaração e efetivação dos Direitos Humanos. Se exercer esses direitos constitui algo que a
humanidade de modo geral vem buscando, então o excluído, integrante da humanidade, quer
se incluir. Não é necessário provar que exercer Direitos Fundamentais consista em algo bom,
embora acreditemos nisso. A menos que o ser humano em geral seja masoquista, a menos que
existisse e ainda exista um masoquismo coletivo, os Direitos Fundamentais representam algo
bom. Se existisse tal masoquismo, ter-se-ia concluir que exercer os Direitos Fundamentais é
algo ruim, mas, ainda assim, exercê-los continuaria sendo algo extremamente desejado, pois,
nesse caso, a humanidade seria masoquista. Portanto nossa suposição não se baseia em uma
especial concepção do que seja o homem, mas em uma constatação fática.
(ii) Quanto ao incluído como sujeito que inclui, poder-se-ia indagar: por que a pessoa
já incluída desejaria a inclusão do excluído? Poderíamos partir do ponto de vista de uma teoria
individualista e dizer que quem está incluído, em um mundo caracterizado por um egoísmo
extremo, não desejará incluir ninguém, pois sua situação de incluído em nada muda com a
inclusão do outro. No entanto, vemos dois tipos de razão para que o incluído deseje incluir o
excluído. A primeira razão é moral. Pelo fato de o excluído ser uma pessoa, quer dizer, um
fim em si mesmo, temos que reconhecer sua personalidade, que ele é um sujeito, e não tratálo, portanto, somente como instrumento para minha satisfação (KANT, 1995, 69). A
racionalidade moral impede que eu pergunte o que ganho incluindo, pois, nesse caso, o outro
e, consequentemente, sua inclusão, representam mero meio para satisfazer um fim. Ora, para
28
que possa me reconhecer como pessoa, tenho que reconhecer o outro. Essa é uma razão moral
que sustenta a premissa de que, para eu ser um sujeito de direito, tenho que reconhecer o
outro também como sujeito de direito. Poder-se-ia dizer que essa concepção é excessivamente
idealista e não mostra, portanto, qualquer relevância prática. Contra essa objeção, duas
respostas podem ser apresentadas. Por um lado, podemos refutá-la, dizendo que a uma teoria
moral (e lembremos que a razão aqui é moral) não só se dá o direito como também se exige
ser idealista, pois sem o idealismo não poderia jamais haver uma idéia reguladora.12 Por outro
lado, poderíamos concordar com a objeção e então apresentar outro tipo de razão. Embora
acreditemos que a razão moral represente um motivo válido, vamos considerar também a
segunda opção.
Caso a razão moral não se mostre suficiente, pode se apresentar um segundo tipo de
razão, que é estratégica. Incluir o excluído significa uma estratégia para que quem já se acha
incluído continue nessa condição. Por quê? Porque, caso não se combata a exclusão,
sobretudo se considerarmos seu grau e o número de pessoas que afeta, ela chegará a um nível
que impedirá que os incluídos exerçam de fato seus direitos (inclusive Direitos
Fundamentais). Ora, se aquele que não exerce Direitos Fundamentais é excluído, então o
incluído passaria a ser excluído! Se, portanto, não houver inclusão, em breve a maior renda do
incluído não será relevante para fins do exercício de Direitos Fundamentais. Sua renda
propiciará a ele e aos seus, por exemplo, uma boa escola, uma boa moradia, saúde, mas ele e
os seus não terão segurança (podemos dizer que já não têm!), e, portanto, não poderão exercer
esses direitos ou os exercerão de forma limitada, ou seja, em um grau muito menor.
Poderíamos objetar que os incluídos não seriam de fato excluídos, pois continuariam
usufruindo maior renda, o que é relevante para o conceito de exclusão. Essa objeção não faria
sentido algum, pois o conceito de exclusão que apresentamos é jurídico, não econômico.
Embora não neguemos a relação entre a renda e o exercício de Direitos Fundamentais, ela não
representa seu componente único. Portanto, nada impediria falar em duas espécies de
excluídos: excluídos ricos e excluídos pobres. Ambos, porém, seriam juridicamente excluídos.
Partindo do mesmo pressuposto adotado acima, a saber, que todo ser humano quer exercer
Direitos Fundamentais, seja isso algo bom ou não, podemos, então, concluir que o incluído,
para manter sua posição, tem que desejar a inclusão do excluído!
12
O termo “ideia reguladora” é aqui usado no sentido normativo. Com isso, não queremos dizer que ideias
existam, ou seja, que elas estão no plano ontológico ou que elas existam per se. O conceito de ideia aqui adotado
é, como o conceito kantiano de ideia, um conceito metodológico. Isso significa que, para nós, assim como para
Kant, as ideias não existem per se, sendo, portanto, oriundas da razão.
29
(iii) Em síntese, podemos concluir que a inclusão deve ser procurada tanto pelo
excluído quanto pelo incluído.
4. A FORMA DE ESTADO QUE INCLUI
O tópico acima mostra que querer a inclusão representa um interesse comum de
incluídos e excluídos, mesmo que alguns deles não o admitam. Segundo Pettit, um interesse
comum é um interesse que pode ser sustentado cooperativamente. Interesse sustentado
cooperativamente é aquele segundo o qual todas as pessoas que entrarem em um debate
público podem prover sem constrangimento como questão relevante a ser levada em
consideração (PETTIT, 2007, 217).
Partindo do pressuposto, então, de que a inclusão representa um interesse comum, e
partindo do pressuposto de que a democracia, em sentido republicano, pode se definir como o
regime que efetiva as políticas públicas e as ações de governo apenas e à medida que elas
derivem daquele interesse comum (cf. PETTIT, 2007, 220-222), surge a questão: como fazer
isso? Podemos pensar, ainda com base em Pettit, nas formas de alcançar essa efetivação.
Pettit afirma que, em um Estado republicano, é necessária uma forma de “contestação”
para que sejam efetivados apenas os interesses comuns das pessoas (PETTIT, 2007, 227).
Pettit defende essas formas de contestação porque, em seu entendimento, a dimensão
“autoral” da democracia é insuficiente. Entende-se por dimensão autoral aquela em que
podemos nos ver, mesmo indiretamente, como autores das leis, das decisões e das políticas
públicas que nos vinculam (PETTIT, 2007, 222-225).
Sabemos que o sistema democrático, em sua dimensão meramente autoral, tem seus
problemas. Os representantes eleitos, muitas vezes, não representam de fato os representados.
Aliás, um dos grandes problemas da democracia representativa talvez resida nesse abismo,
que precisa ser estreitado entre a vontade dos representantes e a vontade dos representados.
Muitas vezes, os representantes representam apenas formalmente os representados porque, na
prática, eles podem representar interesses não comuns, isto é, o representante que se elege em
nome de interesses comuns pode, quando do exercício do mandato, se deixar mover por
outros interesses que não aqueles pelos quais foi originalmente eleito.13 Essa dimensão
13
Poder-se-ia objetar contra isso que nenhum representante se elege em nome de interesses comuns, mas na
verdade em nome de interesses de um grupo, por exemplo, operários, empresários ou servidores públicos. Mas
isso não invalida nossa constatação, pois, se assim for, basta dizer que o representante que se elege para defender
os interesses comuns dos operários, dos empresários ou dos servidores públicos, depois de eleito pode se deixar
mover por outros interesses que não os interesses comuns da classe que representa.
30
eleitoral da democracia, embora necessária, é insuficiente. Eleições periódicas fazem-se,
portanto, necessárias, mas não bastam, pois localizam-se no plano da democracia autoral. Não
basta eleger um representante, se os interesses que ele efetiva quando toma suas decisões
podem não ser interesses comuns. Por causa dessa insuficiência do modelo meramente
eleitoral, que é autoral, Pettit defende uma democracia contestatória. Não basta que sejamos,
mesmo formalmente, autores das leis, das políticas públicas e das decisões que nos vinculam.
É necessário possuir algumas formas de controle da atividade de nossos representantes,
sobretudo dos detentores de mandatos no Executivo e no Legislativo – mas também, e hoje
cada vez mais, dos membros do Poder Judiciário.
5. FORMAS DE INCLUSÃO
Se tomarmos as formas de controle a que se refere Pettit e as associarmos aos Direitos
Fundamentais, podemos concluir que elas são formas de inclusão, à medida que, como vimos,
a efetivação dos Direitos Fundamentais represente um interesse comum.
Segundo Pettit, essas formas de controle, por ele denominadas formas de contestação,
podem se dividir em três: (i) recursos procedimentais, (ii) recursos consultivos e (iii) recursos
apelativos (PETTIT, 2007, 229-230).
(i) A primeira forma, recursos procedimentais envolve processos já garantidos
formalmente nas democracias ocidentais. São processos como a separação de poderes e a
observância ao Estado de Direito (PETTIT, 2007, 233). Tais processos, embora necessários,
são insuficientes, pois podem ser objetos dos mesmos problemas da dimensão autoral:
efetivar os interesses apenas de um grupo, em detrimento do interesse comum. Portanto,
mesmo que haja uma separação efetiva entre os poderes, assim como uma observância às
regras do devido processo legal no Estado de Direito, isso ainda resulta insuficiente.
(ii) Vem, então, a segunda forma de contestação: recursos consultivos. Essa forma
determina que as autoridades devam consultar a sociedade civil quando da tomada de
decisões, sejam elas administrativas ou legislativas (PETTIT, 2007, 234-235). Essa consulta
pode se fazer por meio de comitês, debates, consultas públicas. Não nos referimos aqui apenas
a consultas plebiscitárias ou por referendo, de difícil efetivação prática. Referimo-nos também
e sobretudo àquelas consultas que existem, por exemplo, (a) quando se realiza uma audiência
para se debater o orçamento participativo de um município, (b) quando se realiza uma
audiência com a comunidade para saber se uma hidrelétrica se instalará em determinado local
ou (c) quando se criam comitês que contam não só com a participação da comunidade
31
científica, que fornece subsídio técnico para a decisão, mas também com a participação dos
interessados. Essas formas de consulta garantem que o interesse comum seja efetivado, em
maior medida pelas políticas públicas e implementado pelos governos.
(iii) A terceira forma de contestação, os recursos apelativos, é usada quando as
políticas públicas ou as tomadas de decisão que já foram, ou estão sendo realizadas, não vêm
efetivando os interesses comuns, tornando-se necessária, assim, uma forma de apelo. Segundo
Pettit, as democracias permitem que cidadãos comuns desafiem aqueles que se acham no
governo, por exemplo, apelando ao Parlamento, para que este investigue determinada ação
governamental (PETTIT, 2007, 236). Essa dimensão mostra-se essencialmente ligada ao
Direito, à medida que se realiza também por meio do controle jurisdicional das políticas
públicas e tomadas de decisão. Daremos ênfase, aqui, ao Direito como forma de viabilizar
essa forma de contestação.
Em uma democracia contestatória a sociedade civil pode provocar o Poder Judiciário,
a fim de garantir a legitimidade das políticas públicas e tomadas de decisão em geral. Como já
ressaltamos no início, os Direitos Fundamentais, que são a chave para o conceito jurídico de
inclusão, encontram-se formalmente garantidos nas declarações positivas (no caso do Brasil,
na Constituição), mas infelizmente não surtem, em muitos casos, eficácia social. Como tornar
eficazes esses Direitos Fundamentais por intermédio da forma apelativa? Políticas públicas
que violam a Constituição podem ser entendidas como aquelas que não efetivam o interesse
comum e podem ser vetadas a partir das diversas formas de controle de Constitucionalidade.
Embora o controle jurisdicional de constitucionalidade da administração precise ainda muito
avançar, o controle de constitucionalidade das leis já constitui um primeiro passo, pois a
administração aplica a lei. Uma política pública ou tomada de decisão deve estar respaldada
pela lei.
É, porém, necessário reconhecer que apurar se determinada política pública viola ou
não a Constituição não é coisa muito simples. Tomemos como exemplo as políticas
econômicas. Alguns economistas dizem que nossa atual política econômica não é adequada,
mas outros dizem que sim. Para saber se determinada política econômica viola ou não a
Constituição seria necessário exigir dos órgãos jurisdicionais um conhecimento que eles não
têm, um conhecimento auxiliar como, no caso de políticas econômicas, o conhecimento
econômico. Em outros casos, seriam necessários conhecimentos das Ciências Sociais, de
Ciência Política ou mesmo de determinadas Ciências da Natureza (quando se acham
32
envolvidas, por exemplo, questões técnicas em decisões de impacto ambiental).14 Para
evidenciar a dificuldade do controle dessas políticas, tomaremos como exemplo a polêmica
questão da taxa de juros.
Poder-se-ia afirmar que a política econômica atual é inconstitucional porque não
efetiva os Direitos Fundamentais na maior medida possível e no menor tempo possível. Ela
não o faz devido à taxa de juros, que é alta demais15 e vem caindo em velocidade mais lenta
do que poderia e deveria. Quem defendesse essa afirmativa poderia adicionar que uma
política econômica constitucional seria aquela que estabelecesse uma taxa de juros menor,
uma vez que, dessa forma, se efetivariam mais rapidamente os Direitos Fundamentais para um
número maior de pessoas. Mas esse argumento é problemático à medida que a
constitucionalidade ou não da política econômica depende de um conhecimento
extremamente técnico e, muitas vezes, subjetivo.
Poder-se-ia dizer, contra o argumento acima, que, no momento atual, uma economia
com taxa de juros menor poderia causar um efeito oposto ao desejado, gerando, no final, mais
pobreza e, consequentemente, menor possibilidade de fruição de Direitos Fundamentais. Se
nem mesmo no âmbito específico da comunidade científica econômica há acordo a respeito de
questões como esta, como pode ela constituir objeto de um controle de constitucionalidade?
O controle de constitucionalidade de políticas públicas pode depender, portanto, de um
conhecimento auxiliar. Por certo, seria possível dizer que ao Poder Judiciário permite-se valer
do assessoramento de cientistas, como acontece com a perícia técnica nos procedimentos
jurisdicionais ordinários. Mas, assim como nos procedimentos ordinários, os peritos podem
discordar, também em um controle como o que analisamos, os cientistas podem discordar, e
caberia ao juiz decidir.
Outra dificuldade de um controle jurisdicional da constitucionalidade das políticas
públicas é que o Poder Judiciário só age quando provocado e um controle concentrado com
legitimidade ativa universal seja inviável na prática. Por isso um sistema de controle difuso
pode resultar mais interessante, mas então juízes de todas as instâncias teriam que enfrentar o
problema acima descrito. Portanto, embora o controle não só da constitucionalidade, mas
também da legalidade das ações da administração constitua importante forma de exercício de
democracia apelativa, ele apresenta dificuldades que precisam ser enfrentadas.
14
Por exemplo, para instalar uma usina hidrelétrica em determinado local ou para criar uma política que
determine se o Brasil deve investir mais em usinas hidrelétricas, termelétricas ou nucleares, faz-se necessário um
conhecimento técnico muito grande.
15
No período entre a primeira versão deste trabalho e sua publicação, houve uma sensível queda na taxa de juros
no Brasil. O exemplo toma como base a situação da época da primeira versão.
33
Para que os instrumentos apelativos cumpram a finalidade democrática, torna-se
preciso que a sociedade civil atue: a responsabilidade não recai só no poder público, mas
também nos cidadãos, individual ou coletivamente organizados. Torna-se necessário, pois,
que além dos elementos de democracia autoral, que, como vimos, constituem os elementos
formais, como eleições periódicas e garantia do Estado de Direito, existam elementos
contestatórios, como as formas procedimentais, consultivas e apelativas de democracia.
Ampliar as formas apelativas e torná-las eficazes configura um desafio posto à nossa
sociedade. Poderíamos começar revendo a dificuldade que existe em obter o provimento
jurisdicional. O Direito e a Democracia são instituições construídas por homens, em outras
palavras, obras humanas que só fazem sentido à medida que têm por fim o homem. Um
Estado em que o Poder Judiciário – poder garantidor último de direitos –, devido à
morosidade e à burocracia excessivas, não efetiva em mínima medida o direito quando
violado, não é digno de receber o nome de Democrático de Direito. Se a inclusão é, como
pensamos, interesse de todos, um Estado que ponha verdadeiramente em prática formas
apelativas de Democracia constitui, mais que um interesse comum, uma necessidade para a
afirmação democrática. Enquanto não contarmos com isso, em medida mínima, não
poderemos encher o peito e dizer que vivemos realmente em um Estado Democrático de
Direito.
34
REFERÊNCIAS
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo
Quintanela. Lisboa: edições 70, 1995.
PÉREZ LUÑO, Antonio E. Derechos Humanos, Estado de derecho y Constitucion. 5. ed.
Madrid:Tecnos, 1999.
PETTIT, Phillip. Republicanism: a Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford
University Press, 1999.
_____.Teoria da Liberdade. Tradução: Renato Sérgio Pubo Maciel. Coordenação e
supervisão: Luiz Moreira. Belo Horizonte; Del Rey, 2007.
SALGADO, Joaquim Carlos. Os Direitos Fundamentais. Revista Brasileira de Estudos
Políticos, Belo Horizonte, 82-1996, pp.15-71.
35
Sociedade Inclusiva e psicanálise: do para todos ao cada um
Ilka Franco Ferrari1
Maria José Gontijo Salum2
Uma das Cartilhas da Inclusão, que se encontra on-line3, esclarece que a sociedade que
é inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa
seja autônoma e autodeterminada. Trata-se de uma sociedade que é democrática,
reconhecendo todos os seres humanos como livres, iguais e com direito a exercer sua
cidadania. Sociedade fraterna, na qual o respeito à dignidade de todos se evidencia e há o
estímulo à participação de cada um, reconhecendo o potencial de todo cidadão, no apreço às
diferentes experiências humanas. Para tanto, considera-se necessário haver esforço coletivo
dos sujeitos que dialogam em busca do respeito, da liberdade e da igualdade.
Esses princípios, como decidimos chamá-los, podem ser objeto de estudo e discussões,
a partir de diferentes campos de conhecimento, principalmente por incluírem categorias como
sociedade, igualdade, liberdade, direito, cidadania, fraternidade, democracia, sujeito, sobre as
quais estudiosos podem divergir. Eles trazem a evidência de que na sociedade algo se põe à
margem e necessita ser lembrado pelos “cidadãos”, “sujeitos”, “homens”, termos utilizados na
cartilha. Construídos pelos caminhos da universalização dos Direitos Humanos, iniciada no
pós-guerra do século XX, mais especificamente em 1948, de certa forma, declaram que a
humanidade, em sociedade, segrega algo que precisa ser incluído para que se evite o pior.
Esses princípios mostram, ainda, certas implicações da universalização dos Direitos
Humanos: eles deixam de ser competência exclusiva da jurisdição doméstica dos Estados, que
se comprometem, diante da comunidade internacional, “a observar, garantir e implementar os
direitos consagrados nos textos por eles subscritos”. Ressalta-se também que “os povos e
cidadãos obtêm a legitimação para lutar por seus próprios direitos para além dos limites
geopolíticos de cada Estado”, ou seja, prevalece uma “exigência humanitária de se proteger a
pessoa humana como tal, para além das fronteiras do país de que é nacional” (GONÇALVES,
1998).
1
Doutora em Programa de Clínica y Aplicaciones Del Psicoanális. Professora adjunta da PUC Minas.
Doutora em Teoria Psicanalítica. Professora Assistente III da PUC Minas.
3
Acessada no site www.deficienteeficiente.com.br/cartilhainclusao.html, dia 20 de junho de 2007. Nela há a
seguinte observação: “Reproduzida, com adaptações e atualizações, mediante autorização, da ‘Cartilha da
Inclusão’ editada pela PUC Minas, site: http://www.sociedadeinclusiva.pucminas.br/socinc, elaborada por
Andréa Godoy et al, novembro de 2000”.
2
36
Os princípios situam-se, desse modo, também dentro do debate do “direito a ter
direitos”, questão insistente para a filósofa Hannah Arendt, que discutia a modernidade como
mundo no qual os próprios homens são descartáveis. Lugar de homens que não podiam estar à
vontade nem sentir-se em casa, facilmente marginalizados, tornando o “direito a ter direitos”
um tema da vida internacional (ARENDET, 1951/1997).
Nesse cenário dedicado a lançar luz sobre uma sociedade que é inclusiva, vale a pena,
então, repousar o foco no processo de segregação que lhe é inerente e fertiliza seu solo.
1. ESTAREM SEPARADOS, JUNTOS: DIFICULDADE HUMANA
Miller, no seminário O outro que não existe e seus comitês de ética (2005), diz que “a
liberdade dos modernos é o individualismo, é considerar que a sociedade não deve ter fins
coletivos” (p.51), diferentemente da liberdade dos antigos que acentuava a comunidade e os
fins coletivos. O processo segregatório faz parte do universo humano e não passa
despercebida aos estudiosos da cultura. Ele faz parte da dificuldade de viver em uma
fraternidade discreta, que supõe a capacidade de estarem separados, juntos (FERRARI, 2004).
Freud (1930/1969) ensinou, como muito se repete, que sempre haverá mal-estar na
humanidade, não importa a época, porque sempre haverá a impossibilidade dos homens no
controle do corpo, da natureza e, principalmente, dos laços sociais. Não se pode esquecer que
sua concepção de homem comporta a pulsão de morte e a agressividade. Como lembra
Cevasco (1994), em Freud, o homem é um porco-espinho simpático ou um lobo feroz, muito
longe de ter a capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Em Lacan, isso não é
diferente. Ambos, portanto, sempre se preocuparam com as formas que os sujeitos encontram
para viver juntos, portando diferenças intransponíveis. Jamais desconsideraram, como às
vezes se ouve, o que Miller (2005) vem chamando de “realidade social”, a ponto de Lacan,
enfático, dizer que o praticante que não considera a subjetividade da época, no horizonte de
sua ação, deve desistir de praticar a psicanálise (LACAN, 1953/1998:322).
No seminário O outro que não existe e seus comitês de ética (2005), Miller comenta
que utiliza a expressão “construção da realidade social”, no contexto psicanalítico, numa
referência direta ao que se discute, na atualidade da filosofia norte-americana, por meio do
livro The Construction of Social Reality, do filósofo anglo-americano John Searle,
representante da filosofia analítica, uma das principais correntes de reflexão no mundo atual.
Com certa ironia, marca que aquilo que tem sido considerado uma novidade para os filósofos
analíticos, ou seja, “a construção da realidade social”, já era assunto de Freud e está bem claro
37
em Lacan. Em ambos, há a presença de uma realidade social que é construída, transindividual
e que se impõe ao sujeito. Exemplo disso pode ser visto nos textos freudianos sobre a cultura,
para aqueles que apresentam dificuldade de situá-los em seus textos clínicos. Em Lacan,
desde o início, o social é colocado em questão, até mesmo porque Freud havia deixado as
trilhas de Durkheim, nas quais as instâncias culturais dominam as naturais e as relações
sociais constituem uma ordem original de realidades. Um bom exemplo são as formalizações
sobre o Outro, situado no lugar da palavra, da linguagem, da cultura, do institucional, do
discurso universal, até falando do inconsciente como transindividual, ou seja, como discurso
do Outro.
Ao não desconsiderarem a subjetividade da época, deixaram contribuições valiosas
sobre a ciência como uma inovação importante, mas favorecedora de problemas à
humanidade, já que o mundo estruturado por ela é regido pela razão, que segrega, aliena o
sujeito.
No texto originado da correspondência entre Freud e Einstein, favorecida pela Liga
das Nações, antecessora da Organização das Nações Unidas (FREUD,1933-32/1974), essa
questão é ressaltada por Einstein. Na Proposição de 9 de outubro de 1967 (LACAN, 2003,
p.263), texto importante no marco lacaniano, Lacan recorda aos psicanalistas que uma das
faticidades que encontrariam na prática dizia respeito aos efeitos de segregação, pois os
“processos de segregação” se desenvolveriam como consequência dos remanejamentos dos
grupos sociais pela ciência e da universalização que ela ali produz. Era um estudioso atento ao
enfraquecimento ou desaparecimento das figuras tradicionais do Outro, ao surgimento da falta
de referenciais simbólicos, que culminaria nos significantes forjados para a atualidade,
segundo Vieira: “Pós-modernidade de Lyotard, Hipermodernidade de Lipovetsky e
Modernidade líquida de Bauman” (VIEIRA, 2004, p.73).
Não é incorreto dizer, portanto, que esses psicanalistas que fizeram escola se
preocuparam com a política também em outra dimensão que a política do inconsciente, do
sintoma. Lacan, por exemplo, chegou a pensar que o discurso analítico seria uma saída para o
discurso capitalista. Duas observações fazem-se importantes neste instante: ressalta-se que ele
não pensou que o discurso analítico acabasse com o capitalismo e também tinha claro que há
social na clínica do particular, porque não há sujeito que não esteja implicado em formações
discursivas.
2. POLÍTICA, CAPITALISMO E SEGREGAÇÃO
38
O surgimento das políticas sociais a partir das quais, atualmente, temos trabalhado, só
pode ser formulado no contexto da tentativa de construção de uma sociedade de direitos. A
Declaração Universal dos Direitos do Homem, como já se disse, é um marco nessa busca. A
declaração está relacionada ao surgimento das sociedades democráticas modernas, sociedades
cujo princípio organizador da ordem política é o fundamento da liberdade. Dessa forma, a
solução democrática acaba por se constituir em um problema, ao estabelecer suas bases na
liberdade. Isso se deve à indeterminação presente nesse fundamento, segundo Rosanvallon
(1998). Em consequência da liberdade, a democracia acaba por se mostrar sujeita à abertura e
tensão constantes.
Esse novo cenário, o da liberdade, é bastante distinto das sociedades tradicionais, nas
quais havia um princípio soberano que dava sentido à vida e à existência. Nas democracias, ao
contrário, as condições de vida não se acham previamente definidas – o sentido não está dado
por uma tradição ou pela imposição de uma autoridade.
A dificuldade da democracia é constituir um campo, que Rosanvallon (1998)
denomina de político, no qual vigore a ideia de que existe uma sociedade para os membros
nela inseridos. Para ele, é necessário um trabalho político para que um agrupamento humano
adquira a característica de um campo político, quer dizer, de uma sociedade. Esse trabalho é
sempre litigioso, já que nele se elaboram as regras que dão corpo à vida em uma comunidade.
Isso quer dizer que o político é o poder e a lei; por isso, nas sociedades democráticas, a
discussão política deveria assumir maior prevalência. Essa concepção mostra-se de acordo
com a psicanálise, tal como adverte Jacques Alain-Miller (2004), tendo em vista que o laço
social entre os homens é sempre um laço de domínio de um sobre outro. E daí a preferência
de Lacan, como esclarece Miller, pela expressão “laços sociais”, ao invés de “a sociedade”.
Rosanvallon (2002) é um dos pensadores que consideram que a globalização
econômica modificou o espaço da democracia. Com o advento da economia de mercado,
torna-se cada dia mais difícil instituir um campo político. Para ele, haveria uma dissolução do
político na contemporaneidade. Essa dissolução pode ser apreendida a partir da análise de
várias formas de tentativa de recomposição de uma soberania, conforme se vê acontecer
atualmente nos movimentos fundamentalistas.
Foi exatamente nesse contexto de perda das determinações que nasceu a discussão
sobre os direitos do homem. Eles podem ser vistos como uma proteção necessária contra a
falta de garantias do mundo moderno.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi fundamentada em três premissas:
direitos humanos, democracia e paz. Tais premissas estão, necessariamente, intricadas umas
39
nas outras. O sociólogo Marcel Gauchet (2002) concorda que a declaração dos direitos é
consequência do sistema democrático: ela é um triunfo das democracias. Mas acrescenta que
proteger os direitos é insuficiente. Segundo ele, os direitos humanos, tal como os conhecemos
hoje, não definem um campo político. Há, para ele, uma diferença entre instituir uma política
dos direitos e protegê-los. Fazer a passagem da proteção – um acordo – para uma política de
direitos representa um grande desafio, segundo ele.
Cevasco (1994), psicanalista de orientação lacaniana, ao discutir efeitos de segregação
na sociedade atual, em um momento se pergunta o que é a política. Antes de tudo, conclui, a
política é um fenômeno de linguagem que precipita a identificação dos sujeitos no social,
construindo sujeitos estandardizados. Nesse sentido, ela tem uma função pacificadora,
socializadora, pois aglomera os semelhantes, funda uma coexistência e constitui, para os
sujeitos, uma realidade que é transindividual, assegurando a permanência do mundo. A
coletivização, conforme lembra Tizio (1994), supõe mesmo conjuntos reunidos sob
identificação, ou seja, a partir de um traço, espécie de relação parte/todo a definir o ser. Mas,
se o discurso político pacifica, continua Cevasco (1994), ele se singulariza por uma guerra
contra o semelhante. Ao fabricar um Outro que pode garantir a identidade, ao homogeneizar,
segrega.
Com Lacan, vimos claro como o discurso capitalista permite a articulação entre a
lógica do para todos, estabelecida pela ciência, forçando a exceção de alguns, presente em
expressões como outra raça, outra classe social, outra religião, outro sexo etc. Tais exceções
constituem os efeitos de segregação variáveis, indo de fenômenos relativos à repartição dos
bens oferecidos no mercado à intolerância frente a modos de vida diferentes. A diversidade da
cultura, por exemplo, quando não desaparece ou se esfuma, com a globalização do mundo,
transforma-se em “nacionalismo identitário intolerante que desemboca nos estragos da
purificação étnica e condena as minorias – numerosas – à deportação, à violação e ao exílio”
(CEVASCO, 1994, p.67). Lacan não hesitou em escrever como o capitalismo debilita os laços
de solidariedade e favorecem uma solidão dos sujeitos. Talvez por isso se torne tão importante
lembrar-lhes que é preciso haver esforço coletivo no diálogo em busca do respeito, da
liberdade e da igualdade, tal como propõe os princípios da cartilha de inclusão mencionada no
início deste texto.
Não parece estranho, assim, que sejam fomentados campos propícios ao
desenvolvimento das políticas de ação social para gerir os excessos, os desvios do gozo, ou
seja, da satisfação pulsional, como diria Lacan, objetivando cuidar e, principalmente, prevenir
riscos de perda ou estragos nos vínculos entre os cidadãos, em nome da felicidade e até da
40
liberdade humana. Nesse momento, vale retornar a Arendt, que acreditava na liberdade do
homem. Para ela, os homens não precisam apenas da companhia dos outros para exercer sua
liberdade. Eles precisam de um espaço comum, politicamente organizado, para manifestar
suas capacidades, “pois a liberdade política se expressa num mundo no qual a pluralidade é
parte essencial e produto da ação contínua dos homens”, (BIGNOTTO, 2001, p.118), o que é
impossível, por exemplo, no totalitarismo. O mundo da política não pode ser confundido com
o terreno da intersubjetividade. O milagre da liberdade, para ela, reside no poder de começar
e, se cada homem vem a um mundo que já existia e vai continuar depois de sua morte, diz
Bignotto citando Arendt, ele mesmo é um novo começo. Há, nessa autora, a capacidade
humana de agir e criar nova realidade social.
A psicanálise também crê em uma realidade que é transindividual, conforme já se
escreveu, bem como na possibilidade da ação humana e em seu poder criador. Seus
praticantes estão por ai, em diferentes cantos, não recuando diante das novas demandas
institucionais, culturais. Faz tempo que isso já não é mais um simples sonho freudiano. Sua
incidência na política, no entanto, depende do desejo que promove a pura diferença,
diferentemente do desejo da ciência e do político. De acordo com o que fala Cevasco (1994,
p.69), a psicanálise busca sair da coletivização do gozo para romper o círculo vicioso do
capitalismo, “que faz de toda mais valia um imperativo de gozo e todo mais de gozo um
imperativo de mais valia”. Como faz isso? Os itens desenvolvidos a seguir tratam de
esclarecer essa ação.
3. A AÇÃO DOS PSICANALISTAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A inserção dos psicanalistas nos diversos contextos das políticas públicas não
constitui, propriamente, uma novidade, ela já acontece há alguns anos no Brasil. A
possibilidade de fazer operar o discurso psicanalítico no campo social traz alguns problemas e
várias questões. Principalmente porque, a partir dessa experiência, vemos que alguns
pressupostos considerados clássicos, como o tempo e o chamado setting analítico, têm se
modificado.
A princípio, pode causar estranheza os psicanalistas se preocuparem com as políticas
públicas orientadas para os direitos sociais. No entanto, faz algum tempo que os psicanalistas
de orientação lacaniana têm saído dos consultórios e estendido a ação da psicanálise na
cidade. O trabalho da psicanálise no campo social vem sendo desenvolvido em distintos locais
e contextos, e as transformações no espaço público e sua reflexão no campo social tem sido
41
pauta de encontros e debates entre psicanalistas.
Temas como violência e criminalidade vêm despertando seus interesses, e a
psicanálise tem sido chamada a intervir nestes campos, não somente a partir de sua clínica do
caso a caso, mas formulando uma ação que visa a considerar, não as classificações que
segregam, mas a possibilidade de aparecimento de um sujeito responsável e com direitos.
Essa abertura para operar o discurso psicanalítico em outros contextos tem trazido grandes
contribuições à psicanálise, suscitando novas questões e pontos de impasse.
Um bom exemplo disso é a aplicação da psicanálise nas políticas criminais, sua ação,
não somente na perspectiva da clínica com aqueles que se encontram às voltas com a justiça
por terem praticado atos infracionais, mas também na contribuição que tem oferecido para se
criar uma política criminal que leve em consideração a possibilidade de acolher um sujeito
responsável e, por conseguinte, com possibilidade de estabelecer laços sociais. Trata-se de um
acolhimento que leva em conta os direitos de cada um, sem repetir as políticas planejadas e
executadas nessas áreas, que acabam segregando e excluindo.
Pensar em programas e projetos que trabalhem na perspectiva da inclusão de autores
de ato infracional é algo novo. Tradicionalmente, o infrator sempre foi visto como um forada-lei, devendo ser excluído do campo social. Desde a Antiguidade se tem notícia de que foi a
lei – uma obrigação – a encarregada de barrar os excessos dos homens e impor limites à
convivência. Pensar uma política para os autores de atos infracionais que leve em conta os
direitos representa um desafio.
Tanto Freud quanto Lacan se interessaram pela interlocução entre o direito e a
psicanálise. No entanto, há diferenças entre os dois na maneira de abordá-la. Freud, apesar de
vislumbrar a prática psicanalítica no campo jurídico, não chegou a formalizar as coordenadas
para que isso se efetivasse. Ele recorreu, em diversos momentos de sua obra, ao campo do
direito, principalmente, no que diz respeito aos delitos, já que ele outorgava, como causa da
lei, os crimes de parricídio e incesto. Lacan, por sua vez, nos indicou alguns caminhos para
que o discurso psicanalítico pudesse operar no campo jurídico.
4. PSICANÁLISE, DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS CRIMINAIS: NOVOS
MODOS DE PRATICAR SEM SEGREGAR
Nas sociedades democráticas, o poder judiciário tem a função de dirimir os conflitos
entre os homens. Há poucos séculos, no mundo ocidental, a justiça passou a ser a encarregada
de estabelecer os limites para manter a ordem pública e ela o faz por intermédio da lei. O
42
Direito Penal classifica o que é proibido, tipificando-o como crime, e quem o comete se
sujeita à punição prevista pelo Estado.
Entre as formas de punição que existem, o aprisionamento, a exclusão da liberdade,
tem sido a mais utilizada. A prisão foi um dispositivo criado para o cumprimento da pena de
reclusão. Ao ser idealizada no século XVIII por Jeremy Bentham, objetivava não somente
punir os infratores da lei penal, mas também prevenir novos crimes por meio do exemplo. Era
esse o ideal de Bentham (1787/2000).
O Direito Penal foi instituído considerando a existência de um indivíduo dotado de
razão, que poderia responder por seus atos e, por isso, poderia imputar-lhe uma pena. Todos
os que cometem crimes podem ser penalizados, salvo algumas exceções. Entre elas,
encontram-se os portadores de doença mental, considerados inimputáveis pela justiça, além
dos menores de 18 anos, que recebem as medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Eles não vão para as prisões, mas têm recebido o mesmo
tratamento segregatório. Os adolescentes, na maior parte do Brasil, ainda são enviados para
internação, seja em unidades específicas para eles ou até mesmo em estabelecimentos
carcerários, e os loucos para os manicômios judiciais.
As exceções à legislação colocam na cena jurídica outros saberes que não os
tradicionais, o que vem contribuindo para a formulação de políticas que levam em conta
outros modos de responsabilização, que não a punição mediante a perda da liberdade. Em
meio a essa situação, além de outras disciplinas, a psicanálise, cada vez mais, tem sido
chamada a operar neste campo, antes destinado somente aos operadores do direito e à polícia,
e que se fazia cumprir nas instituições prisionais preconizadas por Bentham.
Em Belo Horizonte, alguns psicanalistas vêm se dedicando, não somente à aplicação
da psicanálise no contexto jurídico, mas ainda participando da construção de políticas
públicas e execução de programas que visem o tratamento da violência e do crime nos mais
diversos espaços: penitenciárias, cumprimento de medidas socioeducativas previstas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, projetos comunitários, acompanhamento de medidas
judiciais para pacientes psicóticos infratores, programas para usuários de drogas,
cumprimento de penas alternativas, entre outras. Por isso, vale precisar qual o
encaminhamento que a psicanálise de orientação lacaniana tem adotado nesses espaços, ou
seja, um pouco do que já é possível formalizar a partir do trabalho de praticantes nessas
situações.
Em todos esses espaços, tem-se em vista a possibilidade de o sujeito ser
responsabilizado, de responder, do seu modo, pelo ato. Se for verdade que a psicanálise
43
mantém o preceito da exigência universal de que o sujeito seja responsável, é também verdade
que essa responsabilidade pode tornar-se possível de vários modos, considerando as
particularidades de cada um. A cada um, uma medida será possível. Cabe a nós construirmos
ficções jurídicas que tornem possível ao sujeito aparecer, desviando-nos do caminho
tradicional da classificação, segregação e exclusão.
A um sujeito adolescente que comete um ato infracional, por exemplo, várias medidas
são possíveis: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida, semiliberdade e, somente como último recurso, a internação. A um
portador de sofrimento mental que passa ao ato, não o isolamento imposto pelo manicômio e
a mordaça, mas a possibilidade de que venha a responder por seu ato utilizando-se dos
recursos que a cidade dispõe para que ele possa, em liberdade, conviver e estabelecer laços no
campo social.
A inserção da psicanálise nos projetos e programas que trabalham com adolescentes
que cometeram infrações constata uma ação do psicanalista no contexto social e jurídico. É
importante salientar que a possibilidade de a psicanálise se inserir neste campo, que há algum
tempo cabia somente às instâncias de controle, deve ser creditada, no Brasil, às possibilidades
abertas pelo ECA, a partir de 1990. O Brasil assinara o acordo internacional para a promoção
dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas não havia implantado uma política para a
infância e a adolescência que levasse em consideração esses mesmos direitos. A legislação
existente era discriminatória e segregativa, um “Código de Menores” de 1927, reformulado
em 1979. Em suas duas versões, encontram-se no código expressões que demonstram o
objetivo de controle social a partir da repressão de crianças e adolescentes que, para seus
autores, representavam um perigo para a sociedade e que, portanto, deveriam ser afastadas do
convívio social.
Em 1990, no contexto do processo de democratização do Estado brasileiro e seguindo
a Constituição do país, aprovada em 1988, surgiu uma nova legislação para as crianças e
adolescentes, o já mencionado ECA. Seu objetivo, entre outros, era modificar a concepção
que as leis anteriores tinham sobre a criança e o adolescente. Seu desafio, no que diz respeito
aos atos infracionais cometidos por adolescentes, consiste na implantação de uma política de
direitos para estes.
Acompanhando a evolução da criminologia, observa-se que cada época delimita o que
é o perigo, além de serem adotadas medidas preventivas e punitivas, em relação a quem porta
suas marcas. Toda civilização se ordena em torno de certos ideais e as leis jurídicas
produzidas pela cultura significam tentativas de unir e regular os laços sociais. Sobrevivem
44
ainda em nossos dias os mitos que derivam das concepções ontológicas da chamada
“delinquência” juvenil. Essas concepções entendem o delito como um ente natural, como
parte constitutiva de uma suposta natureza humana. Lacan (1950/1998), ao contrário, trouxe
uma concepção social do delito, na qual cada sistema de justiça constrói um tipo de infrator.
Como já foi dito, ao adolescente que cometeu uma infração, o ECA prevê as medidas
socioeducativas. No lugar da privação da liberdade como a única medida frente ao que escapa
à lei, outras medidas são possíveis.
A responsabilidade pela implantação de cada uma das medidas é compartilhada por
distintas esferas de poder, a Advertência e Obrigação de Reparar o Dano são executadas pelo
Juizado da Infância e da Juventude; as medidas de Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida, pelo município; e a Semiliberdade e Internação, pelo Estado.
Em torno de nove anos, Belo Horizonte iniciou a implantação do Programa de
Liberdade Assistida e, mais recentemente, o Programa de Prestação de Serviços à
Comunidade4. Nesses programas, busca-se operar caso a caso, acompanhando o adolescente
na construção possível de outro laço com o social, que não a infração à lei.
Portanto, a ação da psicanálise, com os adolescentes às voltas com atos infracionais,
orienta-se em direção a projetos e programas em que seja possível uma abordagem da lei, na
qual o sujeito possa aparecer e não uma imposição cega do cumprimento de uma lei. Ou seja,
busca promover uma política orientada pelo sintoma do adolescente, como no caso de
Alexandre,5 em medida socioeducativa de Liberdade Assistida, devido ao ato infracional de
furto. Revoltado em ter que cumprir a medida, Alexandre dizia: “Nasci na maloca e vou
morrer na maloca. Tudo que aprendi foi morando na rua”. Ele vivia nas ruas com sua mãe, o
companheiro desta e sua irmã. Sua mãe era viciada em crack e, numa briga, foi morta pelo
companheiro. Antes de ser morta, ela estava para ganhar uma casa da Prefeitura de Belo
Horizonte. Com a morte da mãe, ele e a irmã perderam o direito à casa, por serem menores de
idade. Encaminhados para morarem com uma tia, eles voltaram para as ruas. Alexandre que,
inicialmente, se dizia invisível, aos poucos vai contando sua história, como ele mesmo diz, e
reconstruindo sua vida sem o auxílio da caridade, seja da tia, seja da prefeitura. Passa a morar
4
Inicialmente, o Programa de Liberdade Assistida foi coordenado por Cristiane Barreto e, desde o início de
2007, Márcia Mezêncio é a coordenadora. Ambas são psicanalistas, membros da Escola Brasileira de Psicanálise
– Minas Gerais. No Programa de Prestação de Serviços à Comunidade, implantado mais recentemente, sua
coordenadora, Lívia Boareto, parte da orientação da psicanálise no acompanhamento dos adolescentes.
5
Atendido por Carla Capanema, técnica do Programa de Liberdade Assistida da Prefeitura de Belo Horizonte e
membro correspondente da seção Minas Gerais da Escola Brasileira de Psicanálise. Este caso foi apresentado no
3º Encontro Americano de Psicanálise no relatório Da norma jurídica à exceção à regra, uma torção, do
singular ao universal, elaborado por Maria José Gontijo Salum e Fernanda Otoni de Barros, em Belo Horizonte,
agosto de 2007.
45
em uma “baia”6, em um depósito de papéis, e recusa a oferta de ir para um abrigo, dizendo
não ser um menino de rua. Ele conclui que tem uma profissão, é “catador de papéis”. Para
Alexandre, o ato ilegal o levou a ter oportunidades que nunca teria, segundo suas próprias
palavras. Trouxe oportunidades de ter carteira de identidade, de voltar para a escola, de poder
conversar... Alexandre se responsabilizou pelo ato infracional a partir de sua posição de
sujeito, com deveres, mas também com direitos.
Podemos também, a partir do fragmento de um caso de um sujeito psicótico que se
encontra às voltas com a justiça, exemplificar como é possível, a partir da psicanálise, a
responsabilização em sujeitos psicóticos que cometeram crimes. O Programa de Atenção
Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
segue a psicanálise de orientação lacaniana na condução de seus casos e em sua concepção.
Foi concebido e é coordenado pela psicanalista Fernanda Otoni de Barros e busca, na
condução dos casos, a responsabilização em liberdade, já que foi construído como uma nova
ficção jurídica em substituição aos manicômios judiciários.
O caso7 a que nos referimos diz respeito a Carlos, como o chamaremos, um portador
de sofrimento mental, considerado um delinquente de alta periculosidade. Aparecia nos
jornais de sua cidade como estuprador e tinha vários processos por atentado violento ao
pudor, roubo e furto. Não subjetivava nenhum desses atos como seus. Segundo ele, isso tudo
foi inventado para prejudicá-lo.
Logo no início dos atendimentos, Carlos pede a sua psicóloga que lhe arrume um
emprego. Ao lhe ser perguntado o motivo de querer um emprego, ele explica que era para ter
acesso a uma mulher solteira. Se ela o ajudasse, seria recompensada, poderia ficar com o
primeiro salário dele. Explica que faz essa oferta porque sabe que nada é de graça, que para se
obter algo é preciso pagar. Por isso, Nívea intervém dizendo que ele tem razão, que ela está
ali por ser funcionária do Tribunal de Justiça, que paga a ela por seu trabalho. Ele sorri e diz
que a doutora havia entendido e essa intervenção marca a entrada do PAI-PJ no caso.
Posteriormente, relata à psicóloga que “herdou a inteligência poética de Carlos Drummond de
Andrade e sua “tratadora”, como ele a chama, acolhe essa sua invenção delirante. Carlos lhe
dita cartas para que escreva e, a partir de suas cartas, estabelece com ela laços que lhe
possibilita contar-lhe um sonho no qual ela lhe diz: “Vou colocar seu nome aí, mas você não
pode cometer nenhum erro”. Ao escutar este relato a psicóloga lhe pergunta: “erros?” Isso
6
Cubículo onde ficava seu carrinho no depósito de papéis e onde ele separava os papéis que “catava” na rua.
Caso acompanhado por Nívia Pimentel Teixeira, do setor de psicologia do PAI-PJ, cujo extrato foi publicado
na revista digital Assephallus, no artigo Invenção e responsabilidade na psicanálise aplicada ao judidiário, de
autoria de Maria José Gontijo Salum.
7
46
faz com que ele comece a relatar seus atos infracionais e a assegurar que, se o juiz permitisse
sua saída, ele não cometeria mais erros.
A responsabilidade pelos atos tornou-se possível, a partir desse acompanhamento ou,
como ele anuncia, desse tratamento. De início, Carlos ditava cartas para sua “tratadora”, pedia
que ela escrevesse “assinatura” e assinava. Essas cartas eram, em geral, pedidos de emprego e
de objetos diversos. Dizia que não poderia escrever, pois cometeria muitos erros. Depois do
relato do sonho, ele próprio passa a escrever as cartas e começa a “pagar” sua tratadora com
poesia. Ele solicita uma audiência com o juiz, diz que quer ser ouvido, quer conversar, quer
saber, como ele próprio diz, “a significação de seu juízo”. A equipe do PAI – PJ acolheu a
solicitação, prontificando-se a marcar a audiência.
Esses dois fragmentos e outros que poderiam ser mencionados podem demonstrar que,
na relação do campo jurídico com a psicanálise, é possível buscar uma política de direitos,
que é inclusiva, desde que se leve em conta a inclusão de cada solução particular e não, como
sempre se fez, promover uma segregação em massa nos presídios, na Fundação Estadual do
Bem-estar do Menor (FEBEM) e manicômios. Uma política que, buscando promover a
responsabilização para todos, esteja advertida de que nem todos são iguais perante a lei e cada
um se apresenta e responde a ela de forma particular.
47
REFERÊNCIAS
ARENDET, H. (1951).As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo:Cia.
Das Letras, 1997.
CEVASCO, R. Una inquietud contemporánea: efectos de segregación. Freudiana,
Barcelona, n.11, p.64-70,1994.
BENTHAM, J. (1787) O panoptico ou a casa de inspenção. Em O panoptico, Belo
Horizonte: Autêntica editora, 2000, p. 11-74.
BIGNOTTO, N. (2001). Totalitarismo e liberdade no pensamento de Hannah Arendet .
Em Hanna Arendt, diálogos, reflexões, memórias, Belo Horizonte: Editora UFMG, p.111123.
FERRARI, I.F. Trauma e segregação. Latusa, Rio de Janeiro, n.9, p.149-162, 2004.
FREUD, S. Totem e tabu (1912). Edição Standard Brasileira das Obras Completas de
Sigmund Freud (ESB). Vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969.
______O Mal-estar na civilização (1930). ESB. Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago Editora,
1969.
______Reflexões para os tempos de guerra e morte (1915). ESB. Vol. XIV. Rio de Janeiro:
Imago Editora, 1969.
_______Por que a guerra? (1933) ESB. Vol. XXII. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969.
GONÇALVES, L.M.D. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e os sujeitos de
direitos. Uma tentativa de manutenção do pacto civilizatório. Opção Lacaniana, São Paulo,
n.22, p.91-95, ago. 1998.
GAUCHET, M. La démocratie contre elle-même. Paris: Éditions Gallimard, 2002
LACAN, J. Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia. (1950).
Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 1998
_______. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. Em Outros
Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
_______ Le Séminaire livre X: L´angoisse. (1962-63). Paris: Éditions du Seuil. 2004.
_____ (1953/1998) Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Em Escritos.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. p.322.
MILLER, J. A «Un Effort de Poésie». Cours d’orientation lacanienne: 13 leçon, 19 mars
2004. Photocopie.
MILLER, J.A. El Otro que no existe y sus comités de ética. Buenos Aires: Paidós, 2005.
48
ROSANVALLON, P. Le peuple introuvable. Paris: Éditions Gallimard, 1998.
SALUM, M.J.G. Invenção e responsabilidade na psicanálise aplicada ao judiciário.
asephallus – Revista digital do Núcleo Sephora de Pesquisa sobre o Moderno e
Contemporâneo. Edição 01, novembro de 2005. www.nucleosephora.com/asephallus
TIZIO, H. Individualismo e colectivización. Freudiana, Barcelona, n.12, p.18-22, 1994.
VIEIRA, M.A. A (hiper)modernidade lacaniana. Latusa, Rio de Janeiro, n.9, p.69-82,
2004.
49
A Inclusão da Cultura e a Cultura da Inclusão1
José Márcio Barros2
1. ALGUNS PRESSUPOSTOS
Os termos aqui relacionados, cultura e inclusão, têm uma dupla e paradoxal relação.
Explicitar a complexidade dessa relação, tanto no campo das ideias quanto na arena de nossas
práticas, parece constituir-se em condição necessária e urgente para que se possa avançar
rumo a uma práxis inclusiva menos compensatória e altruísta e mais comprometida com as
diferenças, com a dignidade humana e a democracia. A inclusão, mais que um problema de
moral positivista que nos encaminharia para o exercício da filantropia, compaixão e
beneficência, constitui-se como uma questão ética, política e de educação.
O substantivo práxis é aqui utilizado de forma proposital e não apenas retórica.
Refere-se à maneira como, para além da crítica meramente conceitual, o desafio parece ser o
de construir um novo sujeito e um novo mundo. Ação e reflexão que se refundam de forma
processual e dinâmica.
Aqui está o centro de minha reflexão.
No campo das ideias, relacionar cultura e inclusão não é tarefa tão fácil quanto se
pode imaginar. Exige um delicado cuidado epistemológico, capaz de evitar que a força da
retórica culturalista e assistencialista simplifique a questão, tomando uma como decorrência
natural da outra. No campo das práticas sociais, da mesma forma, parece não ser suficiente a
declaração bem intencionada de ideais inclusivos. A inclusão não se realiza plenamente na
espontaneidade de fazeres piedosos e muito menos pela ação mágica da consciência subjetiva
de seus modernos agentes. Mais que subjetiva, a experiência da inclusão é política. Mais que
direitos provisórios, a inclusão deve constituir um padrão cultural.
Entretanto, a relação entre cultura e inclusão é marcada pela complexidade e
paradoxalidade, nos termos em que Edgard Morin as define, motivo pelo qual, para além de
uma adesão e engajamento, há necessidade de cuidado e crítica. Nomeio dessa forma o
problema: a relação entre cultura e inclusão não está isenta e ausente dos riscos redutores das
1
Conferência de abertura do Seminário Perspectivas de Inclusão pela Arte e Cultura, realizado pela Pró-reitoria
de Extensão - Sociedade Inclusiva – Núcleo de Inclusão pela Arte e Cultura em 15/05/2007.
2
Antropólogo, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, professor do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da PUC Minas.
50
perspectivas antropocêntricas e etnocêntricas. Tanto o antropocentrismo, perspectiva que
atribui ao ser humano centralidade, uma espécie de eixo em torno do qual tudo se situa e é
explicitado, quanto o etnocentrismo, perspectiva que coloca determinado modelo cultural de
humanidade em centralidade e que, assim fazendo, transforma as diferenças em
desigualdades, inscrevem o paradoxo da inclusão exclusiva e da exclusão inclusiva. Aliás,
etimologicamente, inclusão é tanto participação quanto prisão.
Por cultura, pode-se entender todo o processo de aprendizagem decorrente da vida em
sociedade. Cultura é aquilo que nos permite ir além de nossa natureza biológica, fundando
uma natureza efetivamente humana. A experiência cultural é a experiência de constituição do
sujeito social que transcende e transforma o dado natural e inaugura a experiência cultural.
Cultura é, portanto, algo construído no tear de nossas relações sociais, por meio das práticas
de cultivo como as artes e a educação, mas também a partir da busca pela sobrevivência e
produção. Aqui, a condição humana só é possível na e por meio da cultura. Ou, em outras
palavras, é possível afirmar que ninguém está fora da cultura, ao custo de, se assim estiver,
perder sua condição humana.
Mas falar de cultura é também apontar para um processo e um estado de
pertencimento a um conjunto de valores e práticas que oferecem sentido e identidade. A
cultura tanto nos inclui na genérica condição humana quanto nos faz pertencer a um grupo, a
um lugar, nos faz pertencer a determinada matriz de referenciais simbólicos.
Aqui, encontramos a primeira dimensão da paradoxalidade apontada anteriormente.
Há tanto um caráter inclusivo inerente à cultura quanto uma dimensão exclusiva que a
caracteriza.
Por meio da cultura, vivencia-se a experiência inclusiva de fazer parte de algo que nos
é maior e anterior, a condição humana. Mas também, na cultura, surge a perigosa experiência
de nos antagonizarmos à natureza a partir de um antropocentrismo autodestruidor. Nessa
dimensão, se a cultura nos oferece uma natureza humana específica, nos coloca em risco de
disrupção com a natureza de nosso corpo e do ambiente. Há aqui um complexo desafio a ser
enfrentado. A perspectiva antropocêntrica apresenta um grave risco – faz com que quanto
mais humanos nos tenhamos, mais nos ausentemos de nossa natureza biológica e mais nos
distanciemos de uma visão ecossistêmica. A cultura é uma experiência de fratura e destruição
da natureza. A cultura faz com que o ser humano se ausente de sua natureza e agrida a
natureza de seu ambiente. Há, portanto, uma sutil, urgente e permanente necessidade de
vigilância quanto ao que chamamos, invocamos e realizamos sob a denominação de cultura.
51
Se tudo que é humano é cultural, nem tudo que a cultura realiza é portador de humanidade,
porque rompe com a natureza e, por vezes, a nega.
Mas por meio da cultura vive-se, também, o pertencimento a um conjunto de
símbolos, de normas, de ritos e mitos que nos oferecem a experiência da alteridade, ou seja, a
experiência do contraste, da diferença e da distinção. A cultura constrói identidades que são
sempre contrastivas e potencialmente excludentes. A mesma experiência que permite ao
sujeito localizar-se espaço-temporalmente e construir referências inclusivas de pertencimento
a um modo de ver, pensar e estar no mundo, transforma o outro, o diferente, em desigualdade.
Aqui, o etnocentrismo tanto inclui, no próprio, quanto exclui o alheio. Aqui, o risco é o de
negar as diferenças ou o de transformá-la em desigualdades. Mais uma vez, a inclusão e a
exclusão se mostram perigosamente próximas. Aquilo que me inclui me faz pertencer, mas
também me aprisiona. A cultura que me inclui também produz a exclusão do outro.
Cultura e inclusão são realidades paradoxais. Reforçam-se tanto quanto se fragilizam,
afirmam tanto quanto se negam. E nesse redemoinho complexo e contraditório, desenvolvese, de forma hábil e cínica, retóricas e práticas que, incluindo de forma exclusiva ou excluindo
de forma inclusiva, impedem que se aponte com firmeza e crítica para o nó do problema.
Não sabemos incluir porque não sabemos operar com a natureza e as diferenças. Delas
nos apropriamos de forma antropocêntrica e etnocêntrica, e assim negamos a natureza e
naturalizamos a cultura.
Por isso, se, por um lado, depredamos os ecossistemas dos quais dependemos tanto,
por outro, tanto negamos nossa natureza submetendo-a a padrões culturais quanto tornamos
naturais determinados padrões culturais. Incluímo-nos ao custo de uma perigosa exclusão.
Excluímo-nos numa sutil aparência de inclusão.
Superar a perspectiva antropocêntrica e etnocêntrica que fundam a aparente
experiência inclusiva representa um desafio sutil e delicado. Por isso o título, “A Inclusão da
Cultura e a Cultura da Inclusão”.
A Inclusão da experiência cultural no enfrentamento prático-teórico da exclusão é
condição para a construção de uma (contra) cultura da inclusão. Muito além da utilização de
padrões e modelos artísticos e estéticos para a sensibilização e a subjetivação da sociedade
para um altruísmo condescendente, que inclui pela superfície, mas mantém a desigualdade,
trata-se de construir deliberadamente (de forma política e pedagógica) uma cultura da
inclusão que não negue a natureza e as diferenças.
52
Não há inclusão sem uma cultura da inclusão, entendida não apenas como
engajamento de artistas em campanhas de sensibilização, mas como a construção sensível de
um modelo de se ver, pensar e viver a natureza das diferenças, tanto quanto as diferenças da
natureza. A cultura define, classifica, constrói fronteiras e abismos. Evidenciar as
contradições e desvelar seus sentidos é pré-requisito para a emergência de outra práxis
inclusiva. Uma inclusão que não se alimente da exclusão. Uma inclusão que seja
pertencimento, mas não aprisionamento. Uma inclusão que politize as diferenças e inaugure
uma plataforma e uma agenda de transformação.
2. UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO CULTURAL? – A EXPERIÊNCIA DO MINC
Em 2003, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi
criada a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, com o
objetivo de iniciar o diálogo para a construção de uma política pública de cultura voltada à
diversidade e às minorias.
Em seu projeto original, a SID trabalhou ancorada no reconhecimento da cultura como
um direito, a promoção e proteção da diversidade cultural como uma necessidade universal
que possibilita a busca da solidariedade entre os povos, a consciência da unidade do gênero
humano e o desenvolvimento da cooperação e intercâmbio entre as culturas.
Os primeiros quatro anos de existência serviram para buscar a concretização de três
ordens de atividades políticas e estratégicas:
•
a participação do Estado brasileiro no debate internacional sobre a diversidade
cultural, de maneira mais explícita e direta;
•
o debate com instituições e ONGs sobre a diversidade cultural no contexto da
cultura brasileira; e
•
a construção de políticas específicas voltadas às diversas formas de expressão
dessa diversidade.
Em todos esses níveis de atuação, a questão da inclusão sempre esteve presente.
Segundo o titular da Secretaria, Sergio Mamberti 3, o final do século XX coloca em revisão os
conceitos de cultura e identidade, forçando a emergência de políticas públicas específicas,
destinadas a realizar correções históricas fundamentais ligadas ao reconhecimento de
situações específicas como as derivadas:
3
Ver no site.
53
•
de distinções de classe ou do mundo do trabalho;
•
de situações de gênero ou orientação sexual;
•
de direitos a partir da situação etária, como os idosos, jovens e crianças;
•
de desigualdades derivadas da situação étnica.
Entretanto, mais que o reconhecimento da diversidade como constituinte do
patrimônio cultural da humanidade e da sociedade brasileira, o desafio revela-se maior e mais
difícil: como traduzi-la em ações concretas de política pública? Como, para além do
reconhecimento da diversidade, pode-se instituir a pluralidade como princípio e prática de
inclusão?
Em seu parágrafo segundo, intitulado “Da diversidade cultural ao pluralismo cultural”,
a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural estabelece de forma clara e objetiva a
relação entre o reconhecimento antropológico das diferenças e sua tradução em ações
políticas:
“Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir
uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo
plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas que
favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a
vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo cultural constitui a
resposta política à realidade da diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático,
o pluralismo cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das
capacidades criadoras que alimentam a vida pública.” 4
É dessa forma que acredito fazer sentido o conjunto de ações da Secretaria da
Identidade e da Diversidade Cultural. Ao eleger ações específicas voltadas para as culturas
populares, a atuação com as culturas indígenas, tratadas no plural, a aproximação com a
cultura cigana, com a área da Saúde Mental, o movimento Hip Hop e o seguimento GLTB, o
poder público traz para o interior das decisões sobre a cultura o problema da diversidade
cultural, traduzida como pluralidade e inclusão. As parcerias com a UNE e com o Movimento
dos Sem Terra complementam um conjunto de interlocuções que visam trazer à cena aqueles
segmentos e realidades que, reconhecidos do ponto de vista acadêmico e cultural, não tinham
existência concreta no plano das políticas públicas. Seminários nacionais de políticas públicas
para as culturas populares, oficinas regionais e editais de fomento às manifestações culturais
4
UNESCO, 2001
54
ligadas aos seguimentos minoritários da sociedade brasileira foram as estratégias
implementadas pela instituição visando produzir a inclusão cultural.
Tomar esse quadro como suficiente para a efetiva inclusão cultural dos excluídos
historicamente seria ingênuo. Mas é preciso reconhecer que ninguém inclui o outro por
benevolência ou tolerância passiva. A melhor forma de inclusão é o exercício político da
convivência, especialmente aquela que se tece tanto no cotidiano do trabalho quanto nas
instâncias mais estruturantes.
Não se reconhecerá a cultura das minorias como parte integrante da diversidade
cultural brasileira se os sujeitos e seus interlocutores não ocuparem seus lugares no cenário
político. Da mesma forma, não haverá possibilidade de uma cultura da inclusão, sem que
recursos financeiros sejam destinados às ações específicas.
Mas tudo isso restará como excepcionalidade e alternativa se não enfrentarmos a
ambiguidade da experiência cultural – inclusão e exclusão como duas faces da mesma moeda.
Tal ambiguidade – tratada na primeira parte deste texto – somada à particularidade da cultura
brasileira, na qual a dissimulação dos preconceitos é marca e tradição, oferece o quadro de
complexidade do desafio de pensar a inclusão da cultura e a cultura da inclusão.
Assim, para além da obrigatoriedade do ensino de história da África, como reza a Lei
Federal 10.639/03, para além das medidas implantadas até aqui pelo Ministério da Cultura, a
ampliação do campo político para a discussão e implementação de ações que traduzam a
multiculturalidade em pluralismo cultural se faz necessária e urgente. Nesse sentido, especial
atenção aos meios de comunicação, prioritariamente o rádio e a TV digital, bem como o
espaço da educação formal e informal, constitui, com espaços prioritários para a ampliação
das ações, visando efetivamente à concretização de uma experiência cultural inclusiva.
55
REFERÊNCIAS
BARROS, José Márcio. “Diversidade Cultural e desenvolvimento humano”, BH, 2006,
PUC Minas.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989
KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e mitos do Desenvolvimento Social. Cap. 4
São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2001
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. 11 ed. Rio de Janeiro:
J.Z.E, 1996
MAMBERT, Sergio. Políticas Públicas: Cultura e Diversidade. Pronunciamento do
Secretário Sérgio na IV conferência de Educação e Cultura na Câmara dos Deputados.
MATA-MACHADO, Bernardo Novais da. Direito Culturais e Políticas para a Cultura,
20004, mimeo
MOISÉS, José Álvaro. Diversidade Cultural e Desenvolvimento nas Américas. Texto
preparado por solicitação do Programa de Cultura da Organização dos Estados Americanos –
OEA
MORIN, Edgard, Educação e Complexidade – Os sete saberes e outros ensaios, SP, Editora
Cortez, 2005
REY, Gérman. Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se transladan
disponible em : www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a04.htm
UNESCO, Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade da expressões
culturais, 2005
56
Meio ambiente e inclusão social: um paradoxo?
Yasmine Antonini1
Eneida M. Eskinazi Sant’Anna
Geraldo Mendes dos Santos2
1. INTRODUÇÃO (LEGISLAÇÃO, MARCO CONCEITUAL, ETC.)
A questão ambiental se viu restrita ao movimento ambientalista durante muito tempo.
A partir de 1992, quando da conferência Rio 1992, tornou-se tema obrigatório e do interesse
de diferentes grupos, povos e classes sociais.
Nos dias de hoje, mesmo com todo o avanço tecnológico e com os constantes alertas
de experiências anteriores, mostram-se inúmeros os casos de degradação ambiental geradores
de exclusão social. Em Minas Gerais, por exemplo, a rápida degradação da porção de Mata
Atlântica gerou, ao longo da bacia do Rio Doce, um quadro socioambiental com óbvia
exclusão social, expressa por fortes processos migratórios.
O despertar da preocupação com preservação da natureza deve-se, principalmente, à
crise socioambiental sem precedentes que atinge o planeta. O movimento ambientalista
responde, nas últimas décadas, pela construção de novos valores que questionam as formas
tradicionais de pensar a economia, a sociedade e a natureza. Destaca, entre eles, a noção de
cuidado e proteção ao meio ambiente, em face do modelo capitalista implantado desde o
século XIX. Coloca em xeque a noção de progresso, o papel da ciência, o impacto tecnológico
e a ousadia humana perante outras espécies vivas. O ambientalismo questiona as formas de
dominação e exclusão social, buscando novas formas de organização do trabalho contrárias a
interesses predatórios. Chama atenção, ainda, para o fato de que as velhas contradições sociais
refletem-se nos padrões de apropriação e consumo dos recursos naturais.
A Lei 9.795, de 25 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e constitui
a política nacional de educação ambiental, entre outras providências, expressa no art.1º:
“entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
1
Doutora em Ecologia. Professor Adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto.
Doutorando em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Pesquisador Titular III do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, INPA.
2
57
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
A legislação ambiental nacional torna explícitas duas vertentes filosóficas ambientais:
o naturocentrismo e o socioambientalismo. O naturocentrismo, vertente mais antiga e radical,
defende a preservação da natureza com o distanciamento do homem, definido como elemento
destruidor do meio ambiente natural. Por sua vez, o socioambientalismo, recém-integrado à
sociedade, defende a preservação do meio ambiente de forma sustentável e com a interação da
sociedade nos processos de busca da qualidade de vida.
Isso se deve ao fato de que o meio ambiente constitui um bem coletivo e sinaliza-se
necessária uma visão abrangente da cidadania, configurada em responsabilidades
compartilhadas e difundidas nos meios de informação, na política, na sociedade e na
economia.
2. O QUE SERIA EXCLUSÃO SOCIAL NO CONTEXTO AMBIENTAL?
Na América Latina, a pobreza, em especial a pobreza crítica, vem se agravando em
números absolutos, pois as reformas econômicas, em especial as microeconômicas, não vêm
surtindo os frutos esperados; muito menos nas zonas rurais afastadas, onde frequentemente se
inserem as áreas protegidas ou Unidades de Conservação (UCs) do continente. Isso se deve,
em grande medida, à situação de abusiva falta de equidade social, particularmente agudas no
Brasil, onde a distância entre ricos e pobres cresce de maneira desmedida.
De acordo com Dourojeanni & Pádua (2001), entre o crescimento da população, a
pobreza, a desigualdade, a exclusão social e a degradação ambiental existe uma relação
grandemente complexa, tornando difícil reconhecer a causa do efeito. No entanto, o resultado
é sempre igual: aumento da pressão sobre os espaços naturais, sobre os recursos naturais e, de
um modo ou de outro, também sobre as UCs.
Ainda de acordo com esses autores, a demografia e a pobreza se somam à redução da
capacidade dos governos para implantar a ordem que as leis demandem. Leis que, de outra
parte, se tornam cada vez mais permissivas.
3. O PAPEL DAS CIDADES NA RESOLUÇÃO DO CAOS
Verificam-se, no dia-a-dia, muitos exemplos de empobrecimento e exclusão social, e
mesmo da sucumbência de comunidades pela deterioração do meio ambiente, devido ao
58
manejo inadequado dos recursos naturais. Essa, no entanto, não é uma característica das
civilizações modernas, pois muitas civilizações antigas, tidas como exuberantes e
“modernas”, se viram forçadas a deixar suas terras ou mesmo sucumbiram ante o manejo
inadequado de seus recursos naturais (DIAMOND, 2005).
No Brasil, as cidades se acham no centro da problemática ambiental, a qual se articula
também com o quadro de exclusão social que vem se aprofundando nas últimas décadas. A
ausência de uma política habitacional traz como resposta a ocupação de áreas ambientalmente
frágeis, como é o caso da beira dos córregos, encostas íngremes, várzeas inundáveis e áreas de
proteção dos mananciais, que constituem a única alternativa para os excluídos do mercado
residencial formal.
Embora cada cidade mostre sua singularidade, do ponto de vista histórico, paisagístico
e mesmo sociocultural, há duas vertentes de problemas nas áreas urbanas que merecem ser
comentadas: uma é a proliferação de automóveis, que vem comprometendo todo o espaço
público antes reservado ao povo; a outra, em parte decorrente daquela, é a falta de
investimentos em habitação popular e, por consequência, a favelização. Esta consiste na
invasão de áreas públicas e privadas e na sua ocupação desordenada, sem nenhum
planejamento técnico, à revelia das licenças governamentais e até do bom senso em termos de
disposição de ruas, praças e áreas de serviços básicos.
A urbanização sem planejamento faz com que grande parcela da população,
geralmente a parcela mais pobre, busque áreas inabitadas nos arredores das grandes cidades.
Áreas vulneráveis, de morros e margens de córregos, normalmente são ocupadas pela
população mais carente. Tais áreas, antes parte da paisagem natural, se tornam áreas de risco.
As pessoas que as ocupam, tentam se livrar de um fator de exclusão social representado pela
falta de moradia ou de renda para pagar aluguel, mas mergulham em outra condição de
exclusão, pois se transformam em agentes de degradação ambiental.
Com a retirada da vegetação, os morros deixam de reter a água das chuvas. Esse
fenômeno é potencializado pela introdução do asfalto em praças, ruas e avenidas, o que acaba
impermeabilizando os solos. Em função disso, as águas das chuvas se deslocam com maior
velocidade e forte poder de erosão, cavando novos terrenos e não raro derrubando casas e
carreando toda sorte de material para os corpos d’água ou para as partes mais baixas, onde
também os problemas sanitários acabam se agravando.
Esse é um dos exemplos clássicos de como pobreza e meio ambiente podem se
integrar, de forma que a mazela ambiental se confunde com a social. Não há como dissociar
59
pobreza das questões ambientais, podendo-se dizer, de maneira triste e constrangedora, que a
pobreza é, ao mesmo tempo, vítima e agente da degradação ambiental.
Em alguns casos, invadidos como se fora campo de batalha, mas geralmente de modo
quase despretensioso, os espaços invadidos logo se transformam em áreas centrais das
cidades. Daí advém novos problemas, decorrentes de um processo de urbanização
incompatível com uma infraestrutura desejável para as cidades, como, por exemplo, a falta ou
deficiência no tráfego de automóveis, na circulação de mercadorias e no bom atendimento às
demandas dos próprios moradores por serviços públicos de saúde, transporte, limpeza,
segurança pública e outros. Naturalmente, tais ocorrências acabam por potencializar ainda
mais os problemas urbanos e onerar ainda mais os custos sociais. Ou seja, se em determinado
momento, a favelização pode se apresentar como uma válvula de escape para a falta de
moradia e outras mazelas, ela acaba gerando outros focos de problemas e novas tensões
sociais, num círculo vicioso e de solução cada vez mais complicada.
Um exemplo típico são as cidades do Norte do país, que se expandem de modo
vertiginoso nas proximidades das florestas, margens de igarapés, baixadas e encostas de
morros. Nelas, a favelização se torna um fenômeno comum. O poder público, então, passou a
gastar somas fabulosas de recursos para tentar solucionar os problemas decorrentes,
especialmente a poluição e a assoreamento dos igarapés e a falta de infraestrutura que acaba
por prejudicar todos os habitantes da cidade e também seus visitantes.
Talvez mais que no campo, a vida nas cidades espelha de maneira clara e contundente
o lastimável quadro do subdesenvolvimento brasileiro. Por se tratar de uma área muito
confinada e com grande aglomeração humana, os problemas ambientais e sociais das zonas
urbanas acabam se imbricando de tal maneira que se torna praticamente impossível
diferenciá-los. Assim, pode-se dizer que eles têm o mesmo conteúdo ou essência, diferindo
apenas na forma em que se apresentam.
Apesar de todos os problemas enfrentados nas grandes cidades, as pessoas do meio
rural ainda preferem deixar o campo. O Brasil viveu um grande êxodo, sem que as cidades se
mostrassem preparadas para tal evento. O “progresso” advindo do aumento populacional nas
cidades resultou em padrões de crescimento precários que afetaram sobremaneira os
processos naturais. Em partes do Brasil, o excessivo, rápido e desordenado uso dos recursos
naturais trouxe lucro e progresso no curto prazo, juntamente com danos ambientais.
Com seu consumo exacerbado e sempre exigindo cada vez mais, recursos naturais
para ampliar suas fontes de bem-estar, além de negócios e renda, os ricos acabam por
contribuir fortemente para o drama da favelização, do desequilíbrio e da poluição ambiental
60
das cidades e do campo. Desse modo, tanto a pobreza como a riqueza, quando mal
administradas e perante a falta de conscientização coletiva, acabam por se imbricarem para
agravar o processo da perda de qualidade do ambiente e da exclusão social. Nesse caso, uma
acaba sendo vítima da outra.
4. ÁGUA PARA TODOS – SAÚDE, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL
A água constitui um elemento central na vida dos cidadãos e das cidades. Sua
disponibilidade e qualidade sempre foram determinantes para o sucesso e desenvolvimento
socioeconômico dos povos. A complexidade envolvida na gestão e uso sustentável desse
recurso confronta sociedade e estudiosos em um gigantesco desafio de conciliar sua
preservação com uso em escala crescente. Além de sua importância ambiental, à água
incorpora ainda uma inquietante questão do ponto de vista social: o acesso à água de boa
qualidade configura-se, atualmente, um reflexo da condição econômica. Trata-se de um
paradoxo, visto que a água é vital para a saúde e o desenvolvimento socioeconômico dos
povos.
Menos de 2% da água disponível no mundo é o volume de água doce e menos de
0,001% dela, em forma de rios e lagos, acha-se diretamente disponível para consumo. Essa
acessibilidade limitada continua sendo uma questão central na gestão de tal recurso, mas não
se vê considerada quando se verifica o histórico de impactos a que estão submetidos os
ecossistemas aquáticos. A degradação ambiental promovida pelo homem é de tamanha
magnitude que afeta não apenas os depósitos superficiais, mas também as reservas
subterrâneas de água, com graves consequências previstas para o futuro.
Neste cenário complexo, a apropriação diferenciada da água por segmentos sociais
economicamente favorecidos agrava os riscos de escassez, reforça o desperdício do recurso e
ressalta ainda mais os mecanismos de exclusão social. Segundo dados do IBGE, cerca de 100
milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgotamento sanitário e quase 1/3 da
população brasileira é privada do acesso à água tratada.
Esses dados explicam os impressionantes indicadores de doenças de veiculação hídrica
no país, registrando-se, em pleno século XXI, a ocorrência maciça de doenças crônicas, como
malária, diarréia, cólera, leptospirose, hepatite, dengue, dermatites e muitas outras. Em alguns
países da África, a privação ao saneamento básico assume contornos dramáticos, ao impedir
que mulheres frequentem as escolas, onde não existem instalações sanitárias adequadas. Essa
realidade contribui para a perpetuação de um ciclo histórico de submissão, falta de
61
oportunidades e analfabetismo entre aquelas que são as principais responsáveis pela educação
familiar e gerenciamento doméstico. Não muito distante dessa realidade, o Nordeste brasileiro
também perpetua um ciclo de subdesenvolvimento claramente associado à restrição no acesso
à água potável.
As estimativas globais de exclusão social em função do acesso à água também são
impressionantes. Mais de um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água de boa
qualidade e grande parte desse percentual concentra-se em países subdesenvolvidos e/ou em
desenvolvimento. Anualmente, mais de 10 milhões de pessoas morrem em todo o mundo, em
decorrência de doenças relacionadas à ingestão de água contaminada e à falta de saneamento,
sendo que 50% dessas vítimas são crianças abaixo de cinco anos de idade (CANDESSUS et
al., 2005).
Some-se a esse quadro o crescente problema da eutroficação das águas, que limita seu
uso para abastecimento e dessedentação animal, pela presença de microalgas tóxicas. A morte
escandalosa de 71 pessoas por toxinas de microalgas em Caruaru, Pernambuco, configura um
registro perturbador do aspecto social associado à questão da água no Brasil: pessoas
procuraram a saúde em uma clínica de hemodiálise, mas encontraram a morte na água
inadequada ao uso hospitalar.
Os múltiplos usos associados à água também dificultam o estabelecimento de
prioridades e democratização em seu uso, já que reproduzem os interesses heterogêneos de
diferentes segmentos sociais que precisam ser harmonizados. Uma das estratégias gerenciais
adotadas para reduzir o desperdício e programar o uso parcimonioso da água é a política da
cobrança pelo seu uso. Polêmico e discutível, esse mecanismo de gestão tem sido
implementado em várias cidades latino-americanas, embora os efeitos exclusivos, associados
a esse mecanismo de gerenciamento, mostram-se preocupantes.
Inevitavelmente, o acesso à água potável se traduz em cidadania e inclusão social. O
conjunto de atividades que regulam sua gestão não pode ser regulado pela ótica exclusiva das
leis de mercado, pois comprometeria substancialmente o forte componente social implícito
em sua estruturação. Populações sem acesso à água de boa qualidade e saneamento são
expostas a doenças, ambientes sem estética e má qualidade de vida. Definir o valor de um
recurso vital à manutenção da vida, ao bem-estar humano e ao desenvolvimento econômico
das sociedades é um desafio ímpar aos envolvidos na gestão de recursos hídricos, ao corpo
legislativo – na elaboração de políticas públicas – e à sociedade em geral. Desafio maior ainda
consiste em equalizar o valor econômico da água ao seu valor social.
62
Talvez nenhum outro recurso natural possa associar tão explicitamente o direito à
cidadania e à dignidade como a água: esse bem determinante em todo o processo de nossa
história, da cultura, de formas de viver e do cotidiano. Envolver a inclusão social em seu
gerenciamento é uma questão capital para assegurar uma sociedade mais justa e
economicamente mais homogênea e harmônica, no uso e conservação desse recurso precioso.
5. MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL NA AMAZÔNIA
Embora as questões relativas ao meio ambiente e à exclusão social perpassem as
sociedades de todo o mundo, elas são mais focadas nos países subdesenvolvidos e, de modo
especial, na Amazônia. Em maior parte, isso se deve à grandeza dessa região, às suas imensas
riquezas biológicas, minerais e étnicas, e o que o fato representa como estratégia para o Brasil
e o mundo. Por outro lado, isso se deve também aos graves problemas ambientais que a região
vem enfrentando, como o desmatamento, a extinção de espécies e a produção de gases do
efeito estufa. Por essas razões, abordar-se-á o caso amazônico, por considerá-lo emblemático
da situação brasileira e de vários outros países em idêntica situação.
Para uma abordagem mais adequada desse tema, algumas características estruturantes
da natureza amazônica precisam ser lembradas, pois é a partir delas que todo projeto ou plano
de inclusão social e de preservação ambiental deve se basear, caso se tenha em mente um
desenvolvimento essencialmente sustentável. Tais características dizem respeito à
biodiversidade, representada pelos elementos da floresta e das águas.
A floresta amazônica é a maior do mundo, ocupando uma área de aproximadamente
5,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 3,2 milhões situam-se em território
brasileiro, equivalente a 27% de todas as florestas tropicais remanescentes no planeta.
O rio Amazonas, junto com milhares de rios, igarapés e lagos, forma uma enorme rede
de cursos d’água que irrigam uma área de, aproximadamente, sete milhões de quilômetros
quadrados, constituindo-se na maior bacia hidrográfica do mundo. Esta se estende por oito
países da América do Sul, sendo que sua maior porção se localiza no Brasil, representando
mais da metade de seu território. Esse sistema aquático lança no Atlântico cerca de 20% de
toda a água doce que entra nos oceanos do mundo. Tamanha é a importância do ambiente
aquático, que a região é denominada de pátria das águas.
A floresta e os rios são extremamente ricos em número de espécies, porém muito
heterogêneos, do ponto de vista biogeográfico. Isso significa que, apesar da aparente
63
semelhança, muitos grupos da fauna e da flora encontram-se limitados a certas áreas. Nesse
caso, generalizações simplistas, focadas apenas no número de espécies animal ou vegetal, no
tamanho de áreas ou na quantidade de corpos d'água têm pouco significado. Além disso, tal
heterogeneidade dificulta planos de exploração da biodiversidade, já que as peculiaridades
variam bastante entre as distintas séries espaciais e temporais.
A heterogeneidade de uma biota é normalmente tratada como biodiversidade. Tanto
uma como outra expressam a diversidade da vida em todas as suas formas e estilos, incluindo
os seres menores como os genes, vírus, bactérias e fungos até os mais conspícuos e, às vezes,
gigantescos, como certas espécies de plantas e animais.
Em temos absolutos de espécies, não há dúvida de que a Amazônia é a mais
diversificada região do planeta, daí dizer-se que ela apresenta uma megadiversidade. Disso
resulta que essa região será a mais afetada, quantitativa e qualitativamente, caso o ritmo de
conversão e destruição de seus ecossistemas venha a aumentar ou mesmo mantenha-se nos
níveis atuais. Afinal, a cada ano, 10 a 20 mil quilômetros quadrados de florestas exuberantes
são queimados para dar lugar àquilo que normalmente se chama de progresso (Ref.).
Outro aspecto importante, relacionado com a diversidade e a complexidade da
Amazônia, consiste no fato de a floresta ser capaz de influenciar e, ao mesmo tempo, ser
influenciada pelas condições climáticas. Cerca da metade das chuvas que caem sobre a região
retornam para a atmosfera por meio do processo de evapotranspiração, o que acaba
favorecendo a formação de novas chuvas que recaem sobre a região e fora dela, especialmente
no Centro-oeste brasileiro.
A variação das chuvas também apresenta decisiva influência sobre os ciclos de subida
e descida das águas dos rios e igarapés, permitindo uma simbiose constante entre os
ambientes terrestre e aquático. Isso significa que a floresta, o clima e as águas se acham
intrinsecamente relacionados e mutuamente dependentes. Significa também que a redução da
cobertura vegetal, pelo desmatamento, deverá repercutir de maneira significativa e até
irreversível sobre o ciclo hidrológico e a vida dos organismos que nela vivem e dela
dependem.
Aqui está, portanto, uma das questões-chave para o perfeito entendimento da proposta
colocada nesta análise, ou seja, como promover a inclusão social, preservando o fantástico
patrimônio biológico amazônico. Seria isso efetivamente viável, no contexto do processo
desenvolvimentista caracterizado na sociedade brasileira, tradicionalmente espoliadora dos
recursos da terra e mantenedora da exclusão? Para tentar responder ou refletir sobre tais
64
questões, seria conveniente uma rápida abordagem sobre alguns aspectos socioeconômicos,
ao lado dos aspectos ambientais, acima mencionados.
Já é de domínio público o fato de que o Brasil vem sendo vítima de um violento
processo de conversão e destruição dos ambientes naturais. Ele se caracteriza pelo avanço da
fronteira agrícola e da pecuária, a partir da região Sul-sudeste e em direção ao Norte,
patrocinado pelos planos governamentais, em nome do desenvolvimento e da integração
nacional. Durante muitas décadas esse processo esteve estacionado na região Sul-sudeste,
depois deslocou para as áreas abertas ou encapoeiradas do Centro-oeste e daí tem avançado
vertiginosamente em direção à floresta amazônica, sobretudo a partir da abertura das estradas
BR 163 (Santarém/Cuiabá), BR/364 (Cuiabá/ Porto Velho/Rio Branco) e BR 319 (Porto
Velho/Manaus).
A partir dessas frentes de penetração, muitas outras estradas secundárias foram
abertas, formando uma malha viária em forma de costela de peixe. Por conta disso, acelerouse o processo de expansão, caracterizado inicialmente pela retirada seletiva da madeira,
depois pelo desmatamento generalizado, formação de pastagens e criação de gado, e mais
tarde pela monocultura de soja, milho e outros cereais.
Nos últimos anos, vêm ocorrendo inúmeras iniciativas voltadas para o plantio em larga
escala de cana, para produção de agrocombustíveis, contando com o apoio decisivo do
governo e de maciços investimentos de empresas transnacionais. A expansão dessa fronteira
agrícola vem se processando em escala assustadora. Sua marca mais evidente é a
transformação de madeira em cinza e fumaça, a partir de milhares de queimadas que se
estendem pela periferia da porção-sul da Amazônia, na forma do famoso arco-de-fogo.
A escala também é assustadora pelo fato de que a grande maioria das áreas queimadas
tem apenas duas alternativas inconsequentes: serem abandonadas depois de pequena produção
de subsistência ou destinarem-se à grande produção de grãos para alimentar porcos, galinhas e
cavalos dos países ricos. No caso da atual onda da cana, talvez surja uma terceira alternativa,
mas essa certamente não muito distinta das demais: será, provavelmente, destinada à
produção de combustível para alimentar a frota de automóveis que já entopem as cidades e
podem ser adquiridos com incentivos generosos das empresas e do governo.
Além da destruição inconsequente e irresponsável da floresta, sua queima representa
70% das emanações de gás carbônico produzidas pelo Brasil, sendo esse gás o principal
responsável pelo efeito estufa – mal que vem se acumulando ao longo dos anos e já começa a
dar sinais de destruição desenfreada, colocando em risco até mesmo a sobrevivência humana.
É evidente que isso já esteja provocando profundas incertezas e até medo entre a população,
65
os agentes econômicos e os sistemas de governo. Mantida essa tendência, o futuro da
humanidade poderá ficar bastante comprometido, apesar da atual e generalizada confiança nas
tecnociências.
Ao lado das ameaças protagonizadas pela destruição das florestas e das mudanças do
clima, há que considerar também as mudanças que vêm acontecendo em decorrência das
pressões políticas e socioeconômicas, tendo como sintomas mais aguçados a ocupação ilegal
das terras indígenas e a famigerada cobiça internacional.
Outros elementos complicadores do processo de inclusão social e preservação do meio
ambiente na Amazônia são os desacertos das políticas públicas traçadas para a região.
Destacam-se, entre essas, o incentivo fiscal para empresas danosas ao meio ambiente e aos
interesses das culturas tradicionais, a oficialização do desmatamento como instrumento de
posse da terra, a deficiência ou mesmo a absoluta falta de planejamento para um
desenvolvimento centrado nas potencialidades regionais e a evasão de divisas pela
biopirataria e subsídios insensatos.
Tem-se enfatizado o ambiente selvagem e rural, mas é preciso lembrar que na
Amazônia existem cerca de vinte milhões de brasileiros, mais da metade deles vivendo na
zona urbana. Evidentemente, a inclusão social e a preservação ambiental também devem ser
vistas sob esse prisma, ou seja, a partir da perspectiva do que vem ocorrendo nas cidades de
grande, médio e pequeno porte.
Quanto ao ambiente urbano, o quadro não difere muito do que ocorre na zona rural:
seu meio ambiente vem sendo degradado de maneira impiedosa e as desigualdades sociais
continuam cada vez mais fortes. Exemplos óbvios são o desmatamento das matas ciliares, a
poluição dos igarapés e do lençol freático e a ocupação desordenada do espaço físico.
Com base em tais evidências, pode-se concluir que o cenário futuro da Amazônia se
mostra confuso e inseguro. Dessa maneira, para que essa perspectiva seja revertida, é preciso
medidas radicais e urgentes. Quais são essas medidas é outra grande questão, porém elas só
ocorrerão mediante a efetiva participação dos governantes e a conscientização do povo.
Evidentemente, não há soluções fáceis nem de origem personalística para os graves
problemas ambientais e sociais da Amazônia e do restante do Brasil. Assim, ao invés de
indicá-las nominalmente, é preferível invocar os princípios em que se fundamentam. Em
síntese, estes dizem respeito à ciência e à educação ambiental, incluindo nesta a
conscientização coletiva.
Quanto à abordagem científica, torna-se vital que a região passe por um amplo
processo de zoneamento ecológico e socioeconômico, como forma de se orientar o processo
66
de ocupação, determinando-se as áreas prioritárias ou potencialmente adequadas para as
distintas atividades humanas ou mesmo simples preservação. Uma boa medida para isso seria
a realização, em toda a Amazônia brasileira, de um amplo programa de levantamento das
aptidões dos solos, das potencialidades bioecológicas e das frentes de ocupação humana, de
modo semelhante ao que foi feito com o RADAM, na década de 70. Os sofisticados recursos
tecnológicos hoje disponíveis, sobretudo nas áreas de sensoriamento remoto, poderiam servir
bem a essa tarefa.
É evidente que a abordagem científica não deve constituir-se apenas numa instância
para quantificação de séries de dados sobre produção, potencialidades e atividades
desenvolvidas nas diferentes escalas de espaço e tempo. Tampouco, num álibi ou justificação
técnica para implantação dos projetos oficiais e oficiosos. Ao contrário, ela deve constituir-se
numa instância competente e eficaz para criar e direcionar as ações governamentais e
privadas,
fundamentais
para
a
implementação
do
processo
de
desenvolvimento
autossustentável da região.
A abordagem científica não pode adotar a degenerada visão do homem como ser
superior e solitário, a interpretar a natureza como um baú de bens a serem utilizados, mas um
lar a ser cuidado e compartilhado entre todas as raças e todos os seres, mesmo se considerados
inferiores nas escalas taxonômicas. Isso significa que, embora disponha de todos os seres do
planeta para sua sobrevivência e desenvolvimento, o homem deve tratá-los com a dignidade e
respeito que merecem.
Quanto à educação ambiental, talvez por constituir-se em tema relativamente novo no
contexto amazônico e mesmo brasileiro, é oportuno tecer alguns comentários sobre seu
conceito e abrangência. Trata-se do processo de incorporação do componente ambiental no
processo de ensino e aprendizagem. Ela diz respeito à estruturação de uma pedagogia
moderna, centrada no senso de cidadania plena e na incorporação dos valores ambientais nos
sistemas econômicos. Ela também estabelece um vínculo novo entre a humanidade e a
natureza, uma nova razão preocupada em manter as condições necessárias para a
sobrevivência de muitas espécies ameaçadas, inclusive a própria espécie humana.
É fácil perceber que a educação ambiental faz parte dos movimentos populares em
defesa dos recursos naturais de que dependem. Faz parte também da própria economia de
mercado, já que a exaustão dos recursos naturais e a perda da qualidade ambiental também
acabam por afetá-la, mais cedo ou mais tarde. Portanto, num contexto mais geral e sistêmico,
a educação ambiental pode ser vista como um sistema de filosofia globalizadora de valores
científicos, políticos e éticos, em prol da sociodiversidade. Nesse sentido, a educação
67
ambiental deve se primar por uma postura dialógica, democrática e solidária, e que vise
resgatar a dignidade e os legítimos direitos do homem em usufruir um ambiente saudável.
Por abrigar em seu ideário a efetivação de uma sociedade planetária solidária, talvez
seja a educação ambiental uma das poucas, senão a única instância capaz de contrapor-se aos
princípios equivocados que vêm norteando a educação formal há séculos.
Embora útil em muitos aspectos e ainda bastante valorizada, a educação formal tem
pecado pelo servilismo aos interesses capitalistas, inspirados nas ideias de egoísmo,
competição, competitividade, acumulação e abuso dos bens. Nessa lógica, o homem deve ser
o dono do mundo. Num sistema como esse, o ser humano não passa de um sujeito consumista
e para o qual o processo educativo só tem fundamento se estiver aparelhado e voltado para a
fama, a eficiência econômica e a rentabilidade financeira.
Por outro lado, a educação ambiental parece alicerçar-se nas ideias de cooperação,
colaboração e uso compartilhado dos bens, já que esses se enquadram num complexo
sistêmico, do qual o homem não é tido como dono, mas partícipe do mundo.
Mesmo constituindo-se num processo educacional revolucionário e inovador em seus
princípios, este não deve ser visto como fim em si mesmo, mas um instrumento de apoio e
promoção social, inspirador do altruismo e orientador da sociedade na busca incessante de um
caminho seguro e de um destino feliz para todos. Se não todos, ao menos a maioria.
Antes de concluir esse raciocínio, seriam convenientes algumas considerações sobre o
sentido de meio ambiente e inclusão social, já que são termos básicos do título desta resenha.
Talvez mais que à ciência, esses termos se vêem associados a uma representação
social, pois não apresentam a coerência e a universalidade típicas dos enunciados científicos
e, não raro, são utilizados de modo impróprio, fora do devido contexto.
O meio ambiente não é apenas o conjunto de elementos físicos, biológicos,
geográficos que nos cercam, mas igualmente os elementos socioculturais, cognitivos e
racionais do homem. Ou seja, trata-se de uma unidade, um todo indissociável e em interação
permanente; um sistema funcional e harmônico que os gregos clássicos denominavam de
Physis.
Inclusão social é uma contraposição moderna a uma situação crônica de exclusão em
que a grande maioria das pessoas vive sem possibilidades de acesso a certos bens da natureza
e das riquezas e comodidades produzidas pelas próprias sociedades de que fazem parte. Daqui
se conclui que meio ambiente e sociedade constituem instâncias que se sobrepõem, se
imbricam e se complementam. É na interface de ambas que o homem realiza suas ações e
sonha.
68
Nesse sentido, a inclusão social só se efetivará em um meio ambiente saudável e uma
educação ambiental que a integre. Essa integração se faz em todos os níveis e campos, mas
convém aqui destacar o conhecimento científico, a educação integral, o senso de cidadania e
os valores éticos. Esses são os instrumentos que a sociedade em geral e cada pessoa em
particular devem colocar em ação com vistas à melhoria das condições do meio ambiente e da
inclusão social. Sem esse objetivo utópico, mas sinalizador para toda a humanidade, os
instrumentos disponíveis para o homem se tornam estéreis, perdem seu sentido e deixam de
atender à sua principal finalidade, qual seja, a construção de uma sociedade verdadeiramente
digna, solidária, sustentável.
69
Por que agir contra seus próprios interesses?
Ou, como explicar que o poder, em suas variadas formas, tem levado
milhões de pessoas a defenderem interesses que não os seus e muitas vezes
são contra os seus?
Jose Luiz Quadros de Magalhães1
Quais são os reais jogos de poder que se escondem atrás das representações do mundo
contemporâneo? A representação do mundo é fundamental para a manutenção das relações
sociais, desde as comunidades primitivas até os nossos dias complexos. Representar é
significar. Não utilizo aqui o termo como representação política, mas representação como
reprodução do que se pensa; como reprodução do mundo que se vê e se interpreta e, logo,
como atribuição de significado às coisas. Representação é exibir ou encenar.
A representação pode, portanto, ajudar a compreender as relações de poder ou pode
ajudar a encobri-las. O poder do Estado necessita da representação para ser exercido e, neste
caso, a representação sempre mostra algo que não é, algumas vezes do que deveria ser, mas,
em geral, propositalmente, o que não é. Representação pode, de um lado, ao distorcer a
aparência, revelar o que se esconde atrás desta2 e, de outra forma, encobrir os reais jogos de
poder, os reais interesses e as reais relações de poder.
1
Doutor em Direito. Professor do Mestrado da Universidade Presidente Antônio Carlos, UNIPAC.
Carlo Ginsburg menciona o estranhamento e o distanciamento como mecanismos que permitem enxergar o real
escondido pelas representações. No estranhamento, a arte ao distorcer a imagem do real revela as relações reais
escondidas pela imagem. A pompa do poder, os discursos políticos, a cobertura da mídia e sua pretensa isenção,
encobrem a falibilidade e a insegurança do humano no poder. A oratória e sua forma escondem a ausência de
conteúdo ou um conteúdo que significa o oposto do que diz significar. A isenção da mídia encobre a distorção
dos fatos, a manipulação da opinião. Isso nos leva a pensar por que exércitos de pessoas ontem e hoje defendem
bravamente interesses que não só não são os seus, como são contra os seus. O melhor exemplo é dos cães de
guarda do sistema, sempre tão explorados pelo próprio sistema: mais ou menos como o policial que dá a vida
para proteger a propriedade do latifundiário. A ordem que ele pensa defender não é a sua ordem. A ordem que
ele pensa defender é contra ele, seus filhos, seus pais, sua mulher e seus sonhos. Ler GISNSBURG, Carlo. Olhos
de madeira, editora Companhia das Letras, São Paulo, 2001.
2
70
Várias são as formas de dominação. Tem poder quem domina os processos de
construção dos significados dos significantes3. Tem poder quem é capaz de tornar as coisas
naturais, “a automatização das coisas engole tudo, coisas, roupas, móveis, a mulher e o medo
da guerra4”. Diariamente repetimos palavras, gestos, rituais, trabalhamos, sonhamos, muitas
vezes sonhos que não nos pertencem. A repetição interminável de rituais de trabalho, de vida
social e privada nos leva a automação a que se refere Ginsburg. A automação nos impede de
pensar. Repetimos e simplesmente repetimos. Não há tempo para pensar. Não há por que
pensar. Tudo já foi posto e até o sonho já está pronto. Basta sonhá-lo. Basta repetir o roteiro
previamente escrito e repetido pela maioria. Tem poder quem é capaz de construir o senso
comum. Tem poder quem é capaz de construir certezas e logo preconceitos. Se eu tenho
certeza, não há discussão. O preconceito surge da simplificação e da certeza.
A dominação passa pela simplificação das coisas: o bem e o mal; darth vader e lucky
skywalker; a democracia e o fundamentalismo; o capitalismo e o comunismo. Duas técnicas
comuns neste processo de dominação são: a nomeação de grupos, criando identidades ou
identificações, e a explicação de uma situação complexa por meio de um fato particular real.
O problema não é que o fato particular seja real – o problema consiste na explicação de algo
3
Os significantes são os símbolos. Exemplo: a palavra liberdade é um significante composto de signos diversos.
A combinação das letras LIBERDADE resulta na palavra que ganha sentido ou significados diferentes em
diferentes épocas e lugares. O texto não existe se não for lido e, a partir do momento que é lido, são atribuidos
sentidos aos seus significantes. É impossível não interpretar – e interpretar significa atribuir sentido – o que, por
sua vez, significa jogar toda uma carga de valores, de pré-compreensões que pertencem a uma cultura específica,
e mesmo a pessoas específicas.
4
GINSBURG, Carlo. Olhos de Madeira, ob.cit. p.16. Nessa página, Gisnsburg cita Chklovski, que diz o
seguinte a respeito do estranhamento: “Para ressuscitar nossa percepção da vida, para tornar sensíveis as coisas,
para fazer da pedra uma pedra, existe o que chamamos de arte. O propósito da arte é nos dar uma sensação da
coisa, uma sensação que deve ser visão e não apenas reconhecimento. Para obter tal resultado, a arte se serve de
dois procedimentos: o estranhamento das coisas e a complicação da forma, com a que tende a tornar mais difícil
a percepção e prolongar sua duração. Na arte, o processo de percepção é de fato um fim em si mesmo e deve ser
prolongado. A arte é um meio de experimentar o devir de uma coisa; para ela, o que foi não tem a menor
importância”.
71
complexo com um exemplo particular que mostra uma pequena parte do todo que ele quer
explicar. Comum assistir a esse tipo de geração de preconceito na mídia, diariamente. Um
exemplo comum diz respeito à recorrente crítica ao estado de bem-estar social: o estado de
bem-estar social tem uma história longa e complexa, que apresentou e apresenta fundamentos,
objetivos e resultados diferentes em momentos da história diferentes e em culturas e países
diferentes. Entretanto, é comum ouvirmos, inclusive de intelectuais, que o Estado social é
assistencialista (ou pior, clientelista) e logo gera pessoas preguiçosas que não querem
trabalhar.
O processo ideológico distorce a realidade e cria certezas construidas sobre fatos
pontuais que procuram explicar uma situação complexa. O elemento de dominação presente
procura construir certezas na opinião pública, uma vez que a afirmação vem acompanhada de
um fato real que a pessoa pode constatar e a televisão o faz ao trazer a imagem. Portanto, a
partir de uma situação que efetivamente ocorre, mas de longe não pode ser utilizada para
explicar a complexidade do tema “estado de bem-estar social”, quem detém a mídia constrói
certezas e as certezas são o caminho curto para o preconceito. Quanto mais certezas as
pessoas tiverem, quanto mais preconceituosas forem as pessoas, mas facilmente elas serão
manipuladas por quem detém o poder de criar essas “verdades”. A certeza é inimiga da
liberdade de pensamento e da democracia enquanto exercício permanente do dialogo. Quem
detém o poder de construir os significados de palavras como liberdade, igualdade,
democracia, quem detém o poder de criar os preconceitos e de representar a realidade a seu
modo, tem a possibilidade de dominar e de manter a dominação. Entretanto, esse poder não é
intocável. A dominação tem limites e esses limites não são ficções cinematográficas.
Esse poder encoberto pela representação distorcida (propositalmente distorcida)5
funda-se em ideologias, em mentiras.6 A grande mentira em que estamos mergulhados é a
5
Importante lembrar que não negamos a condição autopoiética da vida. Somos seres interpretativos. Tudo é
interpretação e a interpretação é condicionada por toda condição humana. A representação distorcida com o
objetivo de manipulação é feita com esse objetivo. Estamos aqui falando de honestidade nas comunicações.
Honestidade dos argumentos utilizados no diálogo democrático. A representação distorcida que encobre os jogos
de poder é desonesta. O objetivo é dominar, enganar e não dialogar.
6
“...a ideologia oculta o caráter contraditório do padrão essencial oculto, concentrando o foco na maneira pela
qual as relações econômicas aparecem superficialmente. Esse mundo de aparências constituído pela esfera de
circulação não só gera formas econômicas de ideologia, como também é um verdadeiro Éden dos direitos inatos
do homem, onde reinam a liberdade e igualdade. (O Capital I, cap. VI) “Sob este aspecto, o mercado é também a
fonte da ideologia política burguesa: a igualdade e a liberdade são, assim, não apenas aperfeiçoadas na troca
baseada em valores de troca, como também a troca dos valores de troca é a base produtiva real de toda igualdade
e liberdade. (Crundise, Capítulo sobre o capital) “Mas é claro que a ideologia burguesa da liberdade e da
igualdade oculta o que ocorre sob o processo superficial de troca, onde essa aparente igualdade e liberdade
individuais desaparecem e revelam-se como desigualdade e falta de liberdade.” (Dicionário de pensamento
marxista, editado por Tom Bottomore, editora Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro, 2001, pág.184).
72
mentira do mercado, da liberdade econômica, fundada numa naturalização da economia,
como se esta não fosse uma ciência social, mas uma ciência exata. A matematização da
economia sustenta a insanidade vigente.
A força da ideologia se mostra quando ela é capaz de fazer com que as pessoas,
pacificamente, concordem com o assalto privado aos seus bolsos. É impressionante a
incapacidade de reação contra o sistema financeiro que furta do trabalhador, diariamente, sem
que este esboce alguma reação. A falta de reação pode se justificar pela incapacidade de
perceber a ação ou da aceitação da ação como algo natural. Tudo isso encontra fundamento
em uma grande capacidade de geração de representações nas quais as pessoas passam a viver.
Viver artificialmente em um mundo que não existe: matrix.
Se as pessoas acreditam que a história acabou, que chegamos a um sistema social,
constitucional e econômico para o qual não existe alternativa, pois ele é natural, não há saída.
Para essas pessoas, a alternativa que está gritando em seus ouvidos não é ouvida, a alternativa
que está em seu campo de visão não é percebida pela retina.
Se a economia não é mais percebida como ciência social, se o status de suas
conclusões passa para o campo da ciência exata, logo a economia não pode mais ser regulada
pelo Estado, pelo Direito, pela democracia. Não posso mudar uma equação física ou
matemática com uma lei. De nada vai adiantar. A matematização da economia é a grande
mentira contemporânea. Se a economia é uma questão de natureza, se a economia não é
história, quem pode decidir sobre a economia são os sábios e jamais o povo. Isso ajuda a
entender, por exemplo, como um governo que se pretendia de esquerda adota uma política
econômica conservadora de direita. Essa é a ideologia que sustenta um mundo governado pelo
desejo cego de poder, dinheiro e sexo. A razão não manda no mundo, jamais mandou. O
desejo conduz o ser humano. O problema não é o desejo comandar. O problema é que não são
os nossos desejos que comandam, mas os desejos de poucos que nos fazem acreditar que seus
desejos são os nossos desejos.7
7
Algumas palavras problemáticas apareceram no texto: ideologia e desejo. Palavras cheias de sentidos diversos,
localizadas no tempo e no espaço. A palavra ideologia aparece no sentido marxista: “Duas vertentes do
pensamento filosófico crítico influenciaram diretamente o conceito de ideologia de Marx e de Engels: de um
lado, a crítica à religião desenvolvida pelo materialismo francês e por Feuerbach e, de outro, a crítica da
epistemologia tradicional e a revalorização da atividade do sujeito realizada pela filosofia alemã da consciência
(ver idealismo) e, particularmente, por Hegel. Não obstante, enquanto essas críticas não conseguiram relacionar
as distorções religiosas ou metafísicas com condições sociais específicas, a crítica de Marx e Engels procura
mostrar a existência de um elo necessário entre formas “invertida” de consciência e a existência material dos
homens. É essa relação que o conceito de ideologia expressa, referindo-se a uma distorção do pensamento que
nasce das contradições sociais (ver contradição) e as oculta. Em consequência disso, desde o início, a noção de
ideologia apresenta uma clara conotação negativa e critica.” (Dicionário de pensamento marxista, editado por
Tom Bottomore, editora Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2001, p.184).
73
A despolitização do mundo é uma ideologia recorrente utilizada para o poder
econômico manter sua hegemonia. Nas palavras de Slavoj Zizek, “a luta pela hegemonia
ideológico-política é por consequência a luta pela apropriação dos termos espontaneamente
experimentados como apolíticos, como que transcendendo as clivagens políticas8”. Uma
expressão que ideologicamente o poder insiste em mostrar como apolítica é a expressão
“Direitos Humanos”. Os Direitos Humanos são históricos e, logo, políticos. A naturalização
dos Direitos Humanos sempre foi um perigo, pois coloca na boca do poder quem pode dizer o
que é natural, o que é natureza humana. Se os Direitos Humanos não são históricos, mas são
direitos naturais, quem é capaz de dizer o que é o natural humano em termos de direitos? Se
afirmamos os Direitos Humanos como históricos, estamos reconhecendo que nós somos
autores da história e, logo, o conteúdo desses direitos é construído pelas lutas sociais, pelo
diálogo aberto em que todos possam fazer parte. Ao contrário, se afirmamos esses direitos
como naturais, fazemos o que fazem com a economia agora. Retiramos os Direitos Humanos
do livre uso democrático e o transferimos para outro. Esse outro dirá o que é natural. Quem
diz o que é natural? Deus? Os sábios? Os filósofos? A natureza?
Neste pequeno ensaio, vamos buscar enxergar, por detrás das representações
ideológicas do mundo que encobrem o real jogo de poder, os reais interesses escondidos pelos
discursos e quais os mecanismos são utilizados para a dominação. Principalmente, entender
como legiões de pessoas são levadas a agir contra si mesmas e como os cães de guarda do
sistema agem contra eles próprios e tudo o que eles dizem proteger.
1. PROFANAÇÃO
O pensador Giorgio Agamben9 faz uma importante reflexão a respeito da construção das representações
e da apropriação dos significados: o que o autor chama de sacralização, como mecanismo de subtração do livre
uso das pessoas, as palavras e seus significados; coisas e seus usos; pessoas e sua significação histórica.
O autor começa por explicar o mecanismo de sacralização na Antiguidade. As coisas consagradas aos
deuses são subtraídas do uso comum, do uso livre das pessoas. Há uma subtração do livre uso e do comércio das
pessoas. A subtração do livre uso representa uma forma de poder e de dominação. Assim, consagrar significa
retirar do domínio do direito humano, constituindo sacrilégio violar a indisponibilidade da coisa consagrada.
Ao contrário, profanar significa restituir ao livre uso das pessoas. A coisa restituída é pura, profana,
liberada dos nomes sagrados e, logo, livre para ser usada por todos. O seu uso e significado não estão
8
ZIZEK, Slavoj. Plaidoyer en faveur de l´intolérance. Climats, 2004, Paris, p.18. Interessante não apenas ler
esse livro, como a obra desse fascinante pensador esloveno. Vários de seus livros já foram traduzidos e
publicados no Brasil: Bem-vindo ao deserto do real e As portas da revolução são duas obras importantes.
9
AGAMBEM, Giorgio. Profanation, Paris, 2005, Editora Payot et Rivages. As reflexões e interpretações livres
desenvolvidas neste tópico são todas a partir do texto do filósofio Giorgio Agambem.
74
condicionados a um uso especifico, separado, das pessoas. A coisa restituída ao livre uso é pura, no sentido de
que não carrega significados aprisionados, sacralizados.
Concebendo a sacralização como subtração do uso livre e comum, a função da religião é de separação.
A religião, para o autor, não vem de “religare”, religar, mas de “relegere”, que significa uma atitude de escrúpulo
e atenção que deve presidir nossas relações com os deuses; a hesitação inquietante (ato de relire), que deve ser
observada para respeitar a separação entre o sagrado e o profano. Religio não é o que une os homens aos deuses,
mas sim aquilo que quer mantê-los separados. A religião não é religião sem separação. O que marca a passagem
do profano ao sagrado é o sacrifício.
O processo de sacralização ocorre com a junção do rito com o mito. É pelo rito, que simboliza um mito,
que o profano se transforma em sagrado. Os sacrifícios são rituais minuciosos, nos quais ocorre a passagem para
outra esfera, a esfera separada. Um ritual sacraliza e pode devolver ou restituir a coisa (ideia, palavra, objeto,
pessoa) à esfera anterior. Uma forma simples de restituir a coisa separada ao livre uso é o toque humano no
sagrado. Esse contágio pode restituir o sagrado ao profano.
A função de separação, de consagração, ocorre nas sociedades contemporâneas em diversas esferas, nas
quais o recurso ao mito, juntamente com rito, cumpre uma função de separação, de retirada de coisas, ideias,
palavras e pessoas do livre uso, da livre reflexão, da livre interlocução, criando reconhecimentos sem
possibilidade de diálogo. A religião como separação, como sacralização, há muito invadiu a política, a economia
e as relações de poder na sociedade moderna. O capitalismo de mercado é uma grande religião que se afirma
com a sacralização do mercado e da propriedade privada. As discussões que ocorrem na esfera econômica são
encerradas com o recurso ao mito para impor uma ideia sacralizada a toda a população. No espaço religioso do
capitalismo, não há espaço para a racionalidade discursiva, pois qualquer tentativa de questionar o sagrado
constitui sacrilégio. Não há razão e sim emoção no espaço sacralizado das discussões de política econômica. Por
isso os proprietários reagem com raiva à tentativa de diálogo, pois, para eles, esse diálogo significa um
sacrilégio, questiona coisas e conceitos sacralizados há muito tempo.
Esse recurso está presente no poder do Estado e em rituais diários do poder: a posse de um juiz, de um
presidente, a formatura, a ordenação de padres e outros rituais mágicos transformam as pessoas em poucos
minutos, separando a pessoa de antes do ritual para uma nova pessoa após o ritual. Isso ganha tanta força, no
mundo contemporâneo, que várias pessoas que frequentam um curso superior hoje não pretendem adquirir
conhecimentos: o processo de passagem por um curso não é para adquirir conhecimentos, mas para cumprir
créditos (até a linguagem é econômica) para, no final, passar pelo rito que o transformará de maneira mágica em
uma nova pessoa. O objetivo é o rito, a certificação da passagem por meio do diploma e não a aquisição do
conhecimento. O espaço universitário vem sendo transformado pela religião capitalista em algo mágico, onde o
conhecimento a ser adquirido no decorrer de um processo que deveria ser transformador perde importância em
relação ao rito (a formatura) e ao mito (o diploma).
Como resistir à perda da liberdade? Como resistir à sacralização das relações sociais, econômicas e logo
à perda da possibilidade de fazer diferente, de fazer livremente o uso das coisas, das palavras, das ideias? Como
se opor à subtração das coisas ao livre uso? Como se opor à sacralização de parte importante de nosso mundo, de
nossa vida? A palavra que Agambem usa para significar essa possibilidade de libertação é “negligência” que
pode permitir a profanação da coisa sacralizada.
75
Não é uma atitude de incredulidade e indiferença que ameaça o sagrado, isso pode até fortalecê-lo.
Tampouco o confronto direto. O que ameaça o sagrado é uma atitude de negligência. Negligência entendida
como uma atitude, uma conduta simultaneamente livre e distraída perante as coisas e seus usos. Não é ignorar a
coisa10 sacralizada, mas prestar atenção na coisa sem considerar o mito que sustenta sua sacralização.
Negligência, nesse caso, significa desligar-se das normas para o uso. Adotar um novo uso descompromissado de
sua finalidade sagrada, ou seja, de sua função de separar. Logo, profanar significa liberar a possibilidade de uma
forma particular de negligência que ignora a separação, ou antes, que faz uso particular da coisa.
A passagem do sagrado para o profano pode corresponder a uma reutilização. Muitos jogos infantis
(jogo de roda; balão; brincadeiras de roda) derivam de ritos, de cerimônias para a sacralização, como uma
cerimônia de casamento. Os jogos de sorte, de dados, derivam das práticas dos oráculos. Esses ritos separados de
seus mitos ganharam um livre uso para as crianças. O poder do ato sagrado é a consagração do mito (a história) e
o rito que o reproduz. O jogo (negligência) desfaz essa ligação. O rito sem o mito vira jogo, é devolvido ao livre
uso das pessoas. O mito sem o rito perde o caráter sagrado, vira uma história. Importante lembrar que
negligência não significa falta de atenção. Uma criança, quando joga, tem toda a atenção no jogo. Ela apenas
negligencia o uso sagrado ou o mito que fundamenta o rito. A criança negligencia a proibição.
Devemos dessacralizar a economia, o direito, a política, devolvendo essas esferas ao livre uso do povo;
construir novos usos livres.
Numa época em que a dessacralização é fundamental diante da dimensão que a sacralização tomou, as
pessoas, em meio ao desespero, buscam um retorno ao sagrado em tudo. O jogo como profanação, como uso
livre, mostra-se hoje decadente. As pessoas parecem incapazes de jogar e isso se demonstra com a proliferação
de jogos prontos, sacralizados, com regras herméticas, nos quais os novos usos se apresentam quase impossíveis
ou invisíveis. Os jogos televisados como grandes espetáculos de massa acompanham a profissionalização e a
mitificação dos jogadores (os ídolos).
A secularização dos processos de sacralização que dominam as sociedades contemporâneas permite que
as forças de separação permaneçam intactas, sendo apenas mudadas de lugar. A profanação de maneira diferente
neutraliza a força que subtrai o livre uso, neutraliza a força do que é profanado. Trata-se de duas operações
políticas: a primeira mantém e garante o poder por meio da junção do mito e o rito agora em outro espaço; a
segunda desativa os dispositivos do poder: separa o rito do mito, permitindo o livre uso.
O capitalismo é mostrado por vários autores como um espaço de secularização dos processos de
sacralização. Max Weber mostra o capitalismo como secularização da fé protestante. Benjamin demonstra que o
capitalismo se constitui em um fenômeno religioso que se desenvolve de forma parasitária a partir do
cristianismo.
Para Giorgio Agambem, o capitalismo reúne três fortes características religiosas específicas:
a)
É uma religião do culto, mais do que qualquer outra. No capitalismo, tudo tem sentido relacionado
ao culto e não em relação a um dogma ou ideia. O culto ao consumo; o culto à beleza; à velocidade; ao corpo; ao
sexo etc.
b)
É um culto permanente, sem trégua e sem perdão. Os dias de festas e de férias não interrompem o
culto, mas, ao contrário, o reforça.
10
Coisa aqui significa ideias, objetos, pessoas, palavras, animais, ritos, danças etc.
76
c)
O culto do capitalismo não é consagrado à redenção ou à expiação da falta, uma vez que é o culto
da falta. O capitalismo precisa da falta para sobreviver. O capitalismo cria a falta para então supri-la com um
novo objeto de consumo. Assim que esse objeto é consumido, outra falta aparece para ser suprida. O capitalismo
talvez seja o único caso de um culto que, ao expiar a falta, mais a torna universal.
O capitalismo, por ser o culto, não da redenção e sim da falta, não da esperança, mas do desespero, faz
com que esse capitalismo religioso não tenha como finalidade a transformação do mundo, mas sim sua
destruição.
Existe, no capitalismo, um processo incessante de separação única e multiforme. Cada coisa é separada
de si mesma, não importando a dimensão sagrado/profano ou divino/humano. Ocorre uma profanação absoluta,
sem nenhum resíduo que coincida com uma consagração vazia e integral. Ou seja, o capitalismo profana as
ideias, objetos, nomes não para permitir o livre uso, mas para ressacralizar imediatamente. Um automóvel não é
mais um objeto usado para o transporte, mas é um objeto de desejo que oferece – para quem compra status –
poder, velocidade, emoção, reconhecimento. O consumidor em geral não compra o bem que pode transportá-lo
da casa para o trabalho e do trabalho para casa ou para qualquer outro lugar. O que o consumidor compra não
pode ser apropriado, pois o que é consumível é inapropriável. O consumidor compra o status, o reconhecimento,
a ilusão de poder, a velocidade, e isso não pode ser apropriado, desaparecendo à medida que é consumido. Tratase de um fetiche incessante. Ao conferir um novo uso a ser consumido, qualquer uso durável se torna impossível:
essa é a esfera do consumismo.
Na lógica da sociedade de consumo, a profanação torna-se quase impossível, pois o que se usa não é o
uso inicial do objeto, mas o novo uso dado pelo capitalista. Logo, o que se consome se extingue e desaparece e,
portanto, não lhe pode ser dado novo uso. Não há possibilidade de liberdade dentro desse sistema. O novo uso, o
da liberdade, exige enxergarmos esse processo de aprisionamento da lógica capitalista consumista.
O consumo pode ser visto como uso puro que leva à destruição da coisa consumida. O consumo é,
portanto, a negação do uso, uma vez que há a negação do uso que pressupõe que a substância da coisa fique
intacta. No consumo, a coisa desaparece no momento do uso.
A propriedade é uma esfera de separação; um dispositivo que desloca o livre uso das coisas para uma
esfera separada, que se converte, no Estado moderno, em direito. Entretanto, o que é consumido não pode ser
apropriado. Os consumidores são infelizes nas sociedades de massa, não apenas porque consomem objetos que
incorporam uma não-aptidão para o uso, mas também, sobretudo, porque eles acreditam exercer sobre essas
coisas consumidas o seu direito de propriedade. Isso é insuportável e torna o consumo interminável. Como não
me aproprio do que consumi tenho que consumir de novo e para alimentar a ilusão de apropriação. Essa
escravidão ocorre pela incapacidade de profanar o bem consumido e pela incapacidade de enxergar o processo
em que o consumidor se vê mergulhado até a cabeça.
2. MATRIX: O REAL EXISTE
O real existe. O mundo ocidental vem se reencontrando com seu passado, quando oriente e ocidente,
materialismo e espiritualismo, não eram cuidadosamente separados. Em um desses reencontros, a ideia de
autopoiesis como essencial à vida é retomada. Um desses reencontros está na obra de dois biólogos chilenos,
77
Humberto Maturana e Francisco Varela, que, após experiências com a visão de animais, reconstroem o conceito
de autopoiesis como condição de qualquer ser vivo.
Um pressuposto fático, e não apenas teórico, é a condição de, enquanto vivos, estarmos condenados a
autopoiesis. Somos, necessariamente, enquanto seres vivos, auto-referenciais e auto-reprodutivos, e essa
condição se manifesta também nos sistemas sociais.
Dois cientistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela11, trouxeram uma importante reflexão,
que, a partir da compreensão da vida na biologia, resgatam a ideia de autorreferência, que se aplica à toda a
ciência.12
Estudando a aparelho ótico de seres vivos13, os cientistas viraram o globo ocular de um sapo de cabeça
para baixo. O resultado lógico foi que o animal passou a enxergar o mundo também de cabeça para baixo, e sua
língua, quando era lançada para pegar uma presa, ia também na direção oposta. O resultado óbvio demonstra que
o aparelho ótico condiciona a tradução do mundo em volta do sapo.
A partir dessa simples experiência, temos uma conclusão que pode ser absolutamente óbvia, entretanto,
foi ignorada pelas ciências durante séculos. Ciências que buscavam uma verdade única, ignorando o papel do
observador na construção do resultado.
O fato é que, entre nós e o mundo existe sempre nós mesmos. Entre nós e o que está fora de nós existem
lentes que nos permitem ver de forma limitada e condicionada pelas possibilidade de tradução de cada uma
dessas lentes.
Assim, para percebermos visualmente, ou seja, para interpretarmos e traduzirmos as imagens do mundo,
temos um aparelho ótico limitado, que é capaz de perceber cores e uma série de coisas, mas não é capaz de
perceber outras, ou, por vezes, nos engana, fazendo que interpretemos de forma errada algumas imagens ou
cores.
Outras lentes ou instrumentos de compreensão se colocam entre nós e a realidade. Além do aparelho
ótico e de outros sentidos, somos seres submetidos a reações químicas, e, cada vez, mais condicionados pela
química das drogas. Assim, quando estamos deprimidos, percebemos o mundo cinzento, triste, as coisas e as
pessoas perdem a graça e a alegria, e assim passamos a perceber e interpretar o mundo. De outra forma, quando
nos sentimos felizes ou quando tomamos drogas, como os antidepressivos, passamos a ver o mundo de maneira
otimista, positiva, alegre ou mesmo alienada. É como se selecionássemos as imagens e os fatos que queremos
11
MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco, El Arbol Del Conoscimiento, Editorial Universitária,
undécima edición, Santiago do Chile, 1994.
12
No livro acima mencionado os pesquisadores chilenos escrevem: “Nosotros tendemos a vivir un mundo de
certidunbre, de solidez percpetual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la
manera que las vemos, y lo que nos parece cierto no puede tener outra alternativa. Es nuestra situación cotidiana,
nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de humanos.” Prosseguindo, os autores afirmam escrever o
livro justamente para um convite a afastar, suspender este hábito da certeza, com o qual é impossível o dialógo:
“Pues bien, todo este libro puede ser visto como una invitación a suspender nuestro hábito de caer em la
tentación de la certitumbre.” MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco, ob.cit.p.5
13
Nas páginas 8 e 9 do livro, os autores propõem aos leitores experiências visuais e nos demonstram facilmente
como nossa visão pode nos enganar, revelando o que não existe e não revelando o que está lá. Nas várias
experiências com a visão das cores nos é mostrado como nossa visão revela percepções diferentes de uma
mesma cor. Mostrando no livro dois círculos cinza impressos com a mesma cor, mas em fundo diferente; o
circulo cinza com fundo verde parece ligeiramente rosado. Ao final nos fazem uma afirmativa contundente, mas
importante, para tudo que dizemos aqui: “el color no es una propiedad de las cosas; es inseparable de como
estamos constituídos para verlo”. MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco, ob.cit.p.8
78
perceber e os que não queremos perceber. Mesmo a nossa história – ou os fatos que presenciamos, assim como a
lembrança dos fatos – passa a ser influenciada por essa condição química. A cada vez que recordamos um fato,
essa condição influencia nossa lembrança. A percepção diferente do mesmo fato ocorre uma vez que cada
observador é um mundo, um sistema autorreferencial, formado por experiências, vivências, conhecimentos
diferenciados, que serão determinantes na valoração do fato, na percepção de determinadas nuanças e na não
percepção de outras. Nós vemos o mundo a partir de nós mesmos.
Assim, podemos dizer que outra lente, que nos permite traduzir e interpretar o mundo, é constituída por
nossas vivências, nossa história, com suas alegrias e tristezas, vitórias e frustrações. O que percebemos,
traduzimos e interpretamos do mundo, acha-se condicionado por nossa história, que constrói nosso olhar
valorativo do mundo, nossas preferências e preconceitos.
Novas lentes colocam-se entre nós e o mundo, novos instrumentos decodificadores que, ao mesmo
tempo que nos revelam um mundo, escondem outros. A cultura condiciona sentimentos e compreensões de
conceitos como liberdade, igualdade, felicidade, autonomia, amor, medo e diversos comportamentos sociais.
Assim, o sentir-se livre hoje é diferente do sentir-se livre, cinquenta ou cem anos atrás. O sentimento de
liberdade para uma cultura não é o mesmo de outra cultura, mesmo que, em determinado momento do tempo,
possamos compartilhar conceitos, que dificilmente são universalizáveis.
Somos seres autopoiéticos (autorreferenciais e autorreprodutivos) e não há como fugir desse fato. Entre
nós e o que está fora de nós sempre existirá nós mesmos, que nos valemos das lentes, dos instrumentos de
interpretação do mundo para traduzir o que chamamos de realidade. Nós somos a medida do conhecimento do
mundo que nos cerca. Nós somos a dimensão de nosso mundo.
A linguagem e a série de conceitos que ela traduz é nossa dimensão da tradução do mundo. Podemos
dizer que, quanto maior o domínio das formas de linguagem, quanto mais conceitos e compreensões (que se
transformam em pré-compreensões que carregamos sempre conosco) incorporarmos ao nosso universo pessoal,
mais do mundo nos será revelado.
Assim, não podemos falar em uma única verdade. Não há verdades científicas absolutas, pois é
impossível separar o observador do observado14. Esse universo de relatividade se contrapõe aos dogmas, aos
fundamentalismos, às intolerâncias. A compreensão da autopoiesis significa a revelação da impossibilidade de
verdades absolutas, sendo um apelo à tolerância, à relatividade, à compreensão e à busca do diálogo. A certeza é
sempre inimiga da democracia. A relatividade é amiga do diálogo, essência da democracia.
Importante lembrar que o reconhecimento da relatividade do conhecimento não exclui a existência do
real. O real existe além da matrix. O real é relativo e histórico, mas, ao mesmo tempo, é diferente da mentira que
busca propositalmente encobrir o real, é diferente de um mundo construído pelo outro com o propósito de
encobrir algo. Nesse sentido, a matrix é real como algo que encobre propositalmente a possibilidade de intervir
na história ou provoca intervenções que não intencionalmente levem ao caminho oposto do desejado. O que
chamamos de real são as relações que se constroem no mundo da vida como possibilidade de diálogo e
intervenção na história não manipulada pelo outro. O real não busca estrategicamente encobrir os jogos de poder,
o real é a revelação dos jogos de poder. A mentira se opôs ao real ou a uma verdade historicamente construída.
Se assistirmos a um assassinato em uma praça, podemos encontrar nesse fato o real, as verdades e as mentiras,
14
Verificar ainda o seguinte livro: MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana, organização de
textos de Cristina Magro e Victor Paredes, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2001.
79
assim como o encobrimento proposital do real. Assim, o real cru está no corpo inerte, na ausência de vida, na
morte de uma pessoa. As verdades que se constroem nas cabeças das testemunhas não são únicas, uma vez que
são interpretações da morte que ocorreu e da pessoa que morreu. As mentiras intencionais distorceram
propositalmente os fatos para manipulá-los segundo interesses diversos. O encobrimento do real foi feito,
posteriormente, com a notícia não divulgada, a arma do crime adulterada e provas forjadas. O encobrimento não
é uma simples mentira que altera o fato ou exagera o fato. O encobrimento tem uma finalidade estratégica. Com
esse exemplo podemos dizer de um real, de um encobrimento, de verdades históricas e de mentiras históricas.
Matrix parte dessa compreensão e propõe algo assustador. E se nossa autorreferência não pertencer mais
a nós mesmos, mas alguém, externo, construir nossos limites de compreensão, nossas verdades? A partir desse
universo, o filme nos incita a outra reflexão: à medida que outro constrói, propositalmente, mentiras que se
transformam em verdades, estamos impossibilitados de perceber o real. Esse manipulador externo de nosso
mundo usurpa nossa liberdade.
A partir do momento em que a matrix cria um mundo artificial de mentiras, propositalmente, para que
não enxerguemos o real, podemos dizer que o real existe e pode ser alcançado. A tentação relativista da
compreensão da autopoiesis pode encontrar um limite real. O real se constitui nas relações de interpretação e de
comunicação fundadas em uma base de honestidade, de compromisso de busca de uma comunicação que parta
de pressupostos de honestidade. A matrix se constrói sobre a construção proposital da mentira com fins de
manipulação, de dominação e de pacificação pela completa alienação das condições reais de vida, das reais
relações de poder. Alguém, propositalmente, me faz acreditar em suas mentiras como sendo verdades; nas
relações falsamente construídas como sendo reais.
A matrix é real. A manipulação da opinião pública, a distorção proposital do real, a fabricação de
notícias e de fatos que encobrem os fatos, a criação de fatos falsos está presente. Assistimos a golpes midiáticos
como a tentativa de golpe contra o governo constitucional de Hugo Chaves, na qual a mídia fabricou fatos,
notícias, medos. Assistimos ao golpe midiático nos EUA com a eleição de Bush e a sustentação de um estado de
exceção mantido pela geração diária do medo pela grande mídia. A matrix está ai, mas seus limites são claros na
reação popular ao golpe na Venezuela. A matrix está aí, mas seus limites existem e a resistência à manipulação
do real conseguiu vencer as eleições – é certo que de forma apertada, na Itália, em abril de 2006.
O interessante do filme é que as agressões no mundo da matrix são reais. Talvez o único real no mundo
da matrix. Uma agressão física virtual causa feridas reais. Daí que a fuga do real, na matrix, não garante
segurança e retira liberdade.
A verdade posta no filme está na conexão do eu com o real. Esse eu que interpreta o mundo. Na matrix,
não há verdade, pois não há conexão entre o eu e o real. O real foi subtraído da experiência de vida. A pessoa
vive uma representação criada por outro.
80
81
PARTE II
Inclusão Social: Avanços e
Desafios no Cotidiano
82
Ultrapassar Barreiras e Avançar na Inclusão Escolar
Maria Teresa Eglér Mantoan1
Gostaria de falar um pouco sobre meu percurso com relação à formação de professores
e à inclusão, porque estão muito imbricados. Temos avanços e impasses e acho que este é um
bom momento para falar sobre isso, num fórum de educação inclusiva.
A questão da inclusão está relacionada a questões muito mais anteriores, ligadas ao
que a escola pode oferecer como formação para todos os alunos. Nós formamos professores
em função de uma ideia que temos do que a escola pode oferecer. Ambiente restritivo ou
ambiente desafiador? Se nós temos bem claro o que queremos na escola, podemos pensar
nessa formação. Acho que essa questão é pouco discutida. Tenho participado de algumas
reuniões, na minha faculdade, sobre as diretrizes do curso de Pedagogia, e fala-se muito
pouco sobre isso. Se imaginarmos esse ambiente como restritivo, teremos uma posição na
formação dos professores; se como desafiador, teremos outra, portanto, tudo muda.
Vejo que essa discussão tem a ver com um projeto pedagógico, muito mais da
faculdade do que, propriamente, até com as próprias diretrizes. Tenho tentado isso com muita
dificuldade. Sinto-me muito marginal no meio acadêmico, porque, quando levo uma
discussão como essa, por exemplo, para a Semana da Pedagogia, na Unicamp, as pessoas me
olham: “Mas isso tem a ver com a inclusão? Isso tem a ver com formação de professor?”. E
eu acho que isso é central. Então, prefiro fazer, às vezes, as minhas reflexões em outros locais,
mas, sem termos alguma definição quanto a esse ambiente, é meio difícil pensar na formação
do professor.
A inclusão, apesar do esforço que temos feito durante todo esse tempo, ainda tem
muita dificuldade de romper a ideia de que a escola, como ambiente desafiador, necessita
urgentemente de entender das diferenças, porque são as diferenças que estabelecem os
desafios, rompem o restritivo, o ambiente predefinido, determinado, seriado de maneira a
envolver, a “agrupar” de forma homogênea as crianças.
Discute-se sobre a formação dos professores: se a questão é formar o bacharel ou o
licenciado... A questão é formar o educador, dentro de uma perspectiva que poderia ser
discutida, tendo em vista a restritividade dos ambientes, que envolve avaliação restritiva,
1
Pedagoga, doutora pela Universidade Estadual de Campinas, professora da Universidade Estadual de Campinas
e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade (LEPED)
83
planejamento restritivo, currículo restritivo, tudo bem fechadinho, bem preparadinho para
aquele grupo, bem direcionado para tudo. Como formar professores para ambientes
desafiadores de ensino e de aprendizagem? Onde? O ingrediente fundamental é o
reconhecimento e a valorização das diferenças. Acho que essa é uma questão central na
discussão de formação de professor – seja continuada ou inicial; seja de nível básico ou nível
superior.
Trabalho na Unicamp, em um projeto de acessibilidade ao ensino superior. Vejo que
são muito mais fáceis de entender, por exemplo, as diferenças no ensino superior do que no
ensino básico, porque os professores do ensino superior não são especialistas nas deficiências.
Um dos grandes problemas que eu vejo hoje, trazidos pela inclusão, é a discussão sobre a
formação dos professores: eles teriam que aprender tudo sobre deficiência? Eu vejo
especializações em educação inclusiva para o nível básico, nas quais os professores comuns
vão para aprender como é que se ensina ao deficiente mental, ao deficiente físico, ao
deficiente auditivo – uma coisa maluca!
Tivemos um avanço no sentido de entender que a educação é um direito de todos, que
é um direito do aluno e que não podemos diferenciar pela deficiência ou qualquer outra
diferença, porque ninguém sabe – e isso é um dilema – quando mostrar o que temos de igual e
quando mostrar o que temos de diferente. Tanto que o professor Boaventura Sousa Santos
lançou aquela máxima de que podemos e devemos exigir o direito à igualdade, quando a
diferença nos inferioriza, e exigir o direito da diferença, quando a igualdade nos
descaracteriza. Diante de uma máxima como essa, mostrar a diferença – ou mostrar a
igualdade – é andar no fio da navalha. E andar no fio da navalha é formar professores para
uma educação para todos, porque, se nós tivermos clareza de que esses meninos têm uma
deficiência ou uma diferença qualquer, nós teremos que garantir que suas especificidades
sejam reconhecidas e que eles tenham na escola condição de serem atendidos nas suas
necessidades, em função dessas diferenças. É aí que começa o nó. Levar a universidade da
formação inicial a pensar nas diferenças em sala de aula é uma coisa muito difícil, porque o
aluno continua a ser, para a universidade, aquele ser ideal, que é fruto do que a teoria nos
mostrou a respeito dos seres humanos. Aí começa a influência dessas teorias na definição do
aluno, na definição do ensino, na definição da aprendizagem. Mas quem é esse aluno? Esse
aluno não existe. Quem é esse sujeito que não existe? Os professores têm nas mãos seres que
não se repetem. Não existe uma fórmula, não existe um jeito de formar – nem mesmo na
educação para pessoas ditas sem deficiência ou sem qualquer diferença mais expressiva. Não
existe um jeito de formar a partir de uma metodologia, como se pensava antes, de um método.
84
A inclusão trouxe essa questão de uma maneira muito forte para dentro da escola, e a
universidade sabe muito pouco a esse respeito.
A ideia de incluir uma disciplina na formação inicial, a Educação Inclusiva, é uma das
coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Não é por aí. É toda uma concepção que terá
de ser mudada e levará tempo, e a universidade já deveria ter pensado nisso. As discussões em
torno do curso de Pedagogia giram em torno de se vai ter bacharelado ou se vai ter
licenciatura; que é perigoso abrir brecha para tantas especializações, se vão acabar as
habilitações. Na verdade, a questão não é assim tão estrutural – é muito mais conceitual e
passa pela definição de que ambiente queremos para a educação das nossas crianças e dos
nossos jovens.
Decorrentes disso tudo, vêm duas questões. A primeira é a do professor comum que
diz: “Ah, não estou preparado para receber aluno que não caiba no meu modelo”. A outra é a
do professor especializado, que agora diz uma outra coisa: “Mas eu não estou preparado para
o atendimento educacional especializado”. Por quê? Porque, na realidade, ele nunca foi
preparado para nada. Ele é um professor comum que fica ensinando Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia para menino com dificuldade – quando não é considerado
professor que dá reforço, que dá apoio. Sala de recurso é entendida hoje, ainda, como aquele
lugar em que vão os meninos que têm dificuldades de aprendizagem, misturados com os
meninos que têm deficiência.
E quando perguntamos a um professor especializado o que é “atendimento
educacional especializado”, ele diz assim: “Ah, aquele negócio da cartilha?” (uma cartilha
que mostra que na Constituição isso está claro), “Ah isso daí a gente não fez, não. A gente não
está preparado, não. Os cursos que a gente fez não são para isso”; “E os cursos que vocês
estão fazendo durante todos esses anos?” “Também”. Eles não estão dando conta de
diferenciar o que é educação especial, depois desse entendimento novo do que é o
atendimento educacional especializado. Então, misturam atendimento clínico com
atendimento educacional; atendimento educacional escolar com reforço. É verdadeiramente
uma confusão muito grande e a formação continuada não está dando conta. A formação em
nível de pós-graduação lato sensu não dá conta e a formação inicial também não.
Estamos elaborando a política nacional de educação especial e a formação do
professor de educação especial é um dos quesitos. É dificílimo discutir esse tema, porque nem
mesmo os constituintes do grupo que está estudando essa política chegam a um consenso –
nem diria um consenso – a entender bem qual é o espírito do atendimento educacional
85
especializado. Ora, se eu não entendi, como posso ensinar? Como posso pensar num jeito de
ensinar?
Estamos num impasse diante da inclusão. Acho essa discussão salutar, em muitos
sentidos, porque nunca se pensou em nada disso. Todo mundo estava deitado em berço
esplêndido. Entendiam que a educação especial sozinha daria conta dos problemas das
escolas, seja das deficiências ou das dificuldades. A escola comum estava tranquila,
mandando todos que tivessem dificuldades para a escola especial, sem nenhum critério, e a
formação correndo solta. Há vários cursos de formação dos professores, que não resolvem o
problema, porque, de um lado, os professores querem soluções; de outro, os formadores não
têm nem as perguntas, uma vez que elas não estão muito claras.
Muito pouco ainda podemos fazer com relação à formação inicial. A universidade
anda com o peso do passo do elefante, mas no passinho da formiga. É muito difícil sair do
lugar. As questões que preocupam passam muitíssimo ao longe, nem paralelamente às
questões da inclusão, tanto na licenciatura como bacharelado. Predominam as questões
teóricas, e a integração entre teoria e prática é muito difícil nas universidades, haja vista os
estágios supervisionados, que são deixados para o fim do curso.
A educação especial, embora haja o avanço de ela hoje ter uma interpretação diferente,
ainda está presente na universidade como corpo de conhecimento, com a qual ninguém sabe o
que fazer, porque mais está servindo para gerar cursos de educação inclusiva do que cursos de
formação de professores para atender às deficiências.
Os avanços estão ocorrendo muito mais no interior da escola do que fora delas, porque
os meninos estão lá. Sem eles, nada aconteceria. É a própria experiência com as diferenças
que está nos dando condições de pensar nesse ambiente desafiador, de fazer com que eles
prossigam sua escolaridade no ambiente comum.
Por mais que a formação continuada tenha ideias de fazer currículo adaptado,
avaliação adaptada, grupo adaptado para fazer as atividades na sala de aula, tudo isso não está
resolvendo o problema. Não podemos determinar qual é o currículo ideal para uma criança;
qual é a atividade que ela terá condição de fazer; e como, diante da inclusão, podemos dizer
que uma avaliação pode ser diferente para meninos com deficiência ou sem deficiência.
Penso que o atendimento educacional especializado, acima de tudo, deve ser
desenvolvido por professores que já tiveram em sua formação uma ideia do que é trabalhar
com as diferenças, não em uma disciplina, mas em todo um entendimento da educação, a
partir da ideia de um ambiente desafiador de ensino e de aprendizagem.
86
Para chegar a isso, algumas coisas temos feito, como, por exemplo, os núcleos
temáticos na Universidade de Campinas, que têm mostrado um pouco dessas diferenças no
ensinar e no aprender. É muito pouco ainda, porque a formação inicial, verdadeiramente, vai
acontecer quando iniciarmos o nosso trabalho dentro da escola.
A formação para trabalhar com a inclusão não se esgota no profissional (no
atendimento educacional especializado). Não pode ser um clínico, mas não basta ser um
professor – é imprescindível que o seja. Mas o professor precisa ter conhecimentos muito
específicos. Por exemplo, para atender pessoas com deficiência física, precisa conhecer
tecnologias assistivas, precisa conhecer os problemas que realmente atingem pessoas que têm
determinadas patologias, trabalhando do ponto de vista educacional, ou seja, com o que pode
ser desenvolvido. Coisa que a educação especial não faz, porque ela trabalha sempre com essa
visão de deficiência e de adaptação e não de dar espaço para o sujeito recriar o conhecimento
a partir das suas próprias possibilidades.
E é essa a grande dificuldade de formar esse professor, porque, se ele vem da
educação comum, não tem capacidade de fazer isso, pois na educação comum aprende a ser
um professor para ambientes restritivos. Se ele vem da educação especial, tem só o que sabe
de específico sobre uma deficiência, por exemplo, não dá conta também de desenvolver nesse
ambiente especializado um trabalho desafiador. Ele já vem carregado, tanto numa formação
como na outra, com essa visão de impossibilidade, de deficiência, de catalogação de sujeitos,
de universalização, de essencialização, de características. Cada pessoa com deficiência é uma,
não existe “o” deficiente mental, a não ser no livro, “o” deficiente físico, a não ser no livro.
Então, eu penso que a saída seria essa formação inicial e cursos de formação continuada e
alguns cursos nos quais pudéssemos exercitar as melhores possibilidades de formar em nível
de pós-graduação, em nível superior, profissionais para a educação especial superior. Eu ainda
tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque acho que a ênfase teria que ser dada sobre a
educação, não nesse sentido tão especializado, esses conhecimentos que são típicos do
especial – por exemplo, saber Braille, saber o que é locomoção e trabalhar com locomoção e
mobilidade, saber trabalhar com o ábaco, com os textos digitalizados e os programas, no caso
do cego. No caso dos deficientes mentais, trabalhar com esses meninos, não no sentido de
ensinar orientação espacial, memória auditiva, treino de atenção, teia, aquele negócio lá do
Reuven Feuerstein – não é isso. É exercitar a capacidade cognitiva e, principalmente, fazer
com que esses sujeitos saibam lidar com o conhecimento, porque eles desaprenderam tudo
isso na escola, uma vez que lá aprenderam não foi lidar com o conhecimento: foi serem
treinados para mostrar que têm um conhecimento que dá conta de eles conviverem com os
87
que não são deficientes. Colocarem-se no lugar de pessoas que, dentro das suas
possibilidades, são capazes de aprender, ter metas, no sentido de conhecer alguma coisa.
Tenho visto muito isso acontecer em certos trabalhos dos quais tenho participado e
colaborado. Neles, a tensão não está em treinar o menino em certas habilidades para ir à
escola e prestar mais atenção, ter mais memória, saber ler e escrever melhor. Como tenho
visto, instituições se dedicam a ensinar a ler e escrever aos meninos que têm uma deficiência
mental, para depois conseguirem ir para a escola. Não é isso que a escola pede, porque, em
um ambiente restritivo, é isso que ela quer de todas as crianças, mas, em um ambiente
desafiador, a proposta é outra. A educação especial também tem que ter esse lado do ambiente
desafiador, que não é esse restringir sem ensinar o menino a ir bem na escola comum. É
trabalhar com o que é próprio dessas barreiras que eles têm, dentro dessa perspectiva
desafiadora, principalmente no caso da deficiência mental, na qual é imprescindível que esses
meninos retomem a sensação de que têm condição de aprender como todos. Precisamos ter
consciência de que “aprender” não é aprender o que o outro quer, mas ir atrás do que o aluno
tem interesse em conhecer, dentro da capacidade que ele tem de ir atrás disso e consegui-lo.
Resumindo, com relação à formação dos professores, é preciso definir bem que
ambiente nós queremos. Se é desafiador ou restritivo. Isso é fundamental para nós pensarmos
efetivamente num projeto pedagógico de universidade que queira se dedicar a uma formação
de professores, independentemente de diretriz, de não sei o quê, o porquê. Como eu sou
marginal – não no mau sentido, mas no sentido de caminho –, para mim, essas coisas têm
muito pouco valor.
Em relação à formação continuada, minha dúvida está nisto: que experiência nós
temos no atendimento educacional especializado, igual à velha educação especial, para
propormos uma formação, seja em nível de graduação ou de pós-graduação? Ou mesmo,
como a formação continuada pode nos ajudar no reconhecimento das características dessa
formação? Opto ainda por uma formação continuada dos professores que querem se dedicar
ao atendimento educacional especializado, entendido não como substitutivo, mas como
complementar da formação. Não como um atendimento escolar, mas um atendimento
específico, porque eles têm o direito à diferença, quando a igualdade os descaracteriza. Opto
para que adquiramos conhecimento, experiência, para podermos pensar numa formação
específica para esses educadores e, enquanto isso, que na formação inicial, pelo menos em
cada disciplina, se pense sobre as diferenças e sobre os ambientes desafiadores, porque se isso
for pensado, nós teremos já caminhado bastante.
88
Uma Abordagem Holística na Prática do Design Universal
Marcelo Pinto Guimarães1
1. INTRODUÇÃO
O desenho universal se traduz de uma filosofia sobre a construção de ambientes,
espaços e tecnologias de modo que o perfil do usuário seja compreendido em sua diversidade
em termos de características físicas, habilidades e experiência pessoal na relação com o
ambiente edificado. Tal conceito consta de importantes instrumentos reguladores da prática da
acessibilidade no Brasil.
De fato, tanto o Decreto Federal 5296, de 2 de dezembro de 2004, quanto as normas
técnicas NBR 9050-2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, apresentam
definições específicas sobre o desenho universal como fundamento primordial para a prática
da acessibilidade que seja inclusiva, isto é, para todas as pessoas. Como esses instrumentos
não dispõem de maior detalhamento sobre os fundamentos e os elementos práticos do
desenho universal, é pressuposto por um lado que o conteúdo da legislação e das normas
técnicas reflita a compatibilidade de aplicação desse conceito e, por outro lado, que
publicações técnicas complementares e a experiência profissional consigam preencher essa
lacuna de informação. Contudo, isso não tem ocorrido. Defendemos que somente a
abordagem holística pode justificar positivamente a prática do design universal como forma
de contextualização do benefício para todos, independentemente da rotulação sobre tipos de
deficiência.
2. A DISTINÇÃO ENTRE DESENHO UNIVERSAL E DESIGN UNIVERSAL
“Desenho universal” e não “design universal” é utilizado nos textos oficiais.
Desconsiderando uma simples tradução dos termos da língua inglesa de modo a tratá-los pela
língua oficial brasileira, podemos identificar algumas distinções básicas no entendimento
entre o desenho universal e o design universal.
1
PhD em Design, North Carolina Sate University. Professor de Arquitetura, Universidade Federal de Minas
Gerais
89
Aparentemente, a definição de “desenho universal” adotada na legislação brasileira se
prende ao campo da ergonomia (Steinfeld, 1994), que busca explorar as relações operacionais
entre uma pessoa e o meio edificado em que se encontra. Por outro lado, o termo “design
universal” indica uma definição original mais ampla (Mace, 1985), pois se aplica na maneira
como soluções de acessibilidade podem alcançar uma ênfase global e distinta de ideias
especializadas para grupos isolados de público incomum.
Em sua formulação, design universal engloba o processo em que soluções de
acessibilidade teriam um apelo para aceitação mercadológica e uma absorção na vida
cotidiana de um grande público. Devemos lembrar ainda que design tem vínculo com o termo
português “desígnio”, isto é, decisão a ser adotada numa sequência de tantas escolhas
possíveis e compatíveis com o contexto em que o produto do design se destina.
O fato dos mecanismos legais e normativos brasileiros documentarem o termo
desenho universal ao invés de design universal pode se justificar pela própria natureza
operacional dos processos de conformidade legal e normativa, a qual pressupõe elementos
palpáveis, concretos e consistentes de referência que são mensuráveis no campo da
ergonomia. Assim, torna-se mais aceitável estabelecer objetivos concretos na relação entre
pessoa e seu ambiente operacional do que na relação entre pessoa, seu ambiente operacional e
o contexto cultural, que vincula a isso os valores, atitudes e emoções.
Em suma, o desenho universal se insere no conceito de design universal, o qual
devemos utilizar preferencialmente quando nos referirmos à vivência dos usuários no meio
construído para acessibilidade. O design universal que se estrutura em princípios
generalizantes como processo e produto da acessibilidade ambiental, mas também serve de
inspiração como referência máxima de qualidade para inclusão de todos, discreta e
onipresente. Mais do que um simples traço fortuito e genial de síntese formalizada pelo
profissional, um desenho, o design universal implica em uma manifestação cultural entre
profissionais e seu público, que tem como ponto inicial de todo o trabalho, e sempre em
primeiro plano, o respeito à diversidade das características e experiências dos usuários pelos
ambientes onde atuam. Transpomos, então, o conceito da ergonomia para o da ciência
cognitiva como um todo, incluindo-se a base filosófica do construtivismo, no qual a verdade é
resultante do compartilhamento de valores e experiências.
90
3. A FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA SOBRE ELEMENTOS DO
DESENHO UNIVERSAL: ÔNUS OU BÔNUS?
Os instrumentos legais e normativos exigem que todas as soluções devam ser
compatíveis com os princípios do desenho universal, mas não exprimem com clareza uma
definição desses princípios ou sobre como eles atuam.
Essa falta de detalhamento sobre mecanismos de aplicação do desenho universal nos
instrumentos legais e normativos é evidente e incômoda para profissionais que os
desconheçam por outros meios. Contudo, essa lacuna de informação pode ser considerada
mais um benefício do que uma falha em função da natureza do processo de controle da
atividade construtiva.
Em geral, a rigidez, o controle legal e a padronização normativa cerceiam mais do que
incentivam a criatividade do profissional para desenvolver inovações sobre a acessibilidade
inclusiva para todos que impliquem numa redefinição das características das edificações (em
suas estruturas e sistemas) e do modo operacional de gerenciamento das organizações e
entidades. A oportunidade gerada pela especificação difusa está na valorização da postura
exploratória dos profissionais em crescer sua experiência e conhecimento que suplantem em
profundidade e amplitude as exigências legais e normativas.
A falta de mecanismos operacionais para o design universal das leis e normas técnicas
não é intencional. Isso se deve talvez à impossibilidade de que sejam definidos mecanismos
objetivos e mensuráveis no âmbito legal para a inclusão irrestrita dos diferentes tipos de
usuários, a partir da identificação e classificação de cada tipo. A liberalização de iniciativas
para consolidação de produtos de acessibilidade no mercado que facilitem a vida de todos, na
verdade, só é possível caso seja abolido o raciocínio pela compartimentação do conhecimento
em função de especificidades das deficiências dos usuários, como também, o preconceito e os
danos que uma ou outra categorização das características dos usuários pode acarretar.
Por outro lado, é importante aqui registrarmos certas impropriedades nos termos da
legislação e das normas técnicas, as quais definem aspectos contraditórios ao longo dos
respectivos conteúdos em exigências que podem prejudicar os processos de inclusão e o
design universal. Além disso, a legislação e as normas técnicas apresentam algumas
divergências conceituais entre si.
O Decreto Federal 5296/2004 é uma síntese de duas leis: a Lei 10048/2000 e
10098/2000, que tratam, respectivamente, do atendimento prestado às pessoas com
deficiência e com mobilidade reduzida, e das alterações a serem implantadas no meio
91
edificado e nos sistemas de inteligência virtual, de modo que esse público possa ter iguais
oportunidades de participação social. Por isso, seu texto se apresenta como uma vasta
coletânea de contribuições de origens distintas e até discrepantes.
Em processo semelhante, se originou a versão atual das normas NBR 9050-2004.
Comparativamente às outras versões, essas normas compreendem um grande número de
especificações detalhadas sobre formas de sinalização, por exemplo, e um número menor e
superficial de especificações sobre elementos de uma rota acessível para edificações a partir
da via pública.
Como o Decreto Federal indica o consenso de certos valores culturais, podemos
reconhecer que alguns tópicos de seu conteúdo têm uma referência política mais do que
técnica. Tal é o caso da categorização do público-alvo em pessoas com deficiência em
diferentes grupos distintos e reconhecíveis por critérios médicos. Tal categorização das
pessoas em grupos minoritários segundo uma deficiência motora, visual, auditiva, mental ou
múltipla é incompatível com o conceito de design universal. Assim, por exemplo, uma pessoa
não será considerada como um indivíduo com deficiência auditiva caso apresente níveis de
audição com perda de 41 decibéis ou mais em determinada frequência. Mais precisamente,
uma pessoa com perda de audição de 40 decibéis pode deixar de obter benefícios sociais
legalmente concedidos a outros cuja sensibilidade auditiva esteja distante em apenas um ou
dois decibéis da marca legal de referência.
As normas NBR 9050-2004 não chegam a estabelecer tal categorização de usuários,
muito embora apresentem alguns tópicos contrários ao objetivo de inclusão previsto no
conceito de design universal. As citadas normas técnicas determinam, por exemplo, a
destinação de áreas de uso prioritário, exclusivo e específico para certo percentual de usuários
que utilizem cadeiras de rodas em estacionamentos, auditórios ou sanitários. Em outro caso,
determinam que a utilização de certos aparelhos mecânicos para a acessibilidade como
escadas e esteiras rolantes seja possível mediante o controle do equipamento feito por outras
pessoas ou funcionários “especificamente treinados”. Tal exigência contraria os princípios de
autonomia e independência visando a efetiva inclusão tanto no Decreto Federal quanto nas
normas técnicas.
Podemos notar que, em certos trechos desses dois documentos, não houve o devido
cuidado editorial de modo que fossem evitados conflitos lógicos e ideológicos entre o escopo
das exigências e os objetivos a que devem atender. Algumas dessas discrepâncias conceituais
existem porque esses instrumentos legais e normativos não aplicam uma visão global e
coerente do conceito de design universal. De fato, mesmo argumentando contra a
92
discriminação, fazem uso da “discriminação compensatória” como estratégia para a promoção
de uma acessibilidade assistida.
De fato, se há uma lógica de afirmação positiva e compensatória em relação às
desvantagens sociais para uma ou outra categoria arbitrária, uma deficiência, essa lógica é
incoerente com a prática de se estabelecerem benefícios abrangentes para todos, sem
exclusão. Como a acessibilidade para todos pressupõe o uso do meio edificado sem
discriminação pela deficiência, podemos concluir que as medidas legais e normativas não
devem e não podem ser o único meio para se atingir o desenho universal e muito menos o
design universal.
Por isso, é benéfico o fato de que tanto a legislação quanto as normas técnicas definam
e vinculem a prática do desenho universal como essência de todas as demais exigências que
mencionam, sem contudo, explicitarem claramente como isso pode ocorrer. Desse modo, o
vazio de informação específica de como o design universal pode ser obtido torna o
entendimento, o discernimento e a adoção efetiva de soluções frente à natural complexidade
do conceito para a competente prática profissional além e acima do controle regulador legal e
normativo. De outra forma, tanto a legislação quanto as normas técnicas podem se
transformar em instrumentos de omissão, de opressão e de perpetuação do estigma sobre o
valor social de uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
4.
A
ACESSIBILIDADE
PARA
TODOS
DEPENDE
DE
ATITUDE
E
POSICIONAMENTO SOCIAL INCLUSIVOS
Pode-se afirmar que o trabalho acerca da implantação da acessibilidade no Brasil tem
evoluído muito. Afinal, dispomos de uma coletânea de leis e normas sobre o assunto
incomparavelmente superior à de muitos países. Contudo, quando nos deparamos com um
espaço que está compatível com a legislação e com as normas de acessibilidade devemos
ainda nos perguntar para “quem” este espaço está acessível... Ao fazermos isso, estamos
negando os objetivos que são próprios da essência do conceito sobre acessibilidade para
todos.
É necessário para nós termos um novo tipo de atitude, contudo, que reverta a realidade
vivenciada por todos, não só de uns poucos. Uma pessoa que, por suas características ou
habilidades incomuns, viva excluída pode ser, por exemplo, a única moradora de sua casa que
foi construída de modo específico para sua acessibilidade.
93
Por morar sozinha num lar acessível às suas condições, mas situado em um local de
difícil acesso como um todo, aquela pessoa está completamente isolada de seus vizinhos.
Leva um ritmo de vida que, de certa forma, não está vinculado ao dos outros moradores.
Enquanto isso, esses outros moradores continuam subindo e descendo pelas escadas, passando
por vãos estreitos ou saltando sobre pisos irregulares, estão alheios à própria dificuldade em
que o meio edificado possa incutir nelas mesmas por certos estágios da vida. Dificuldades
com o ambiente edificado representam o dia-a-dia de muitos excluídos, que vivem tão
próximos e tão sós. Nesse exemplo, podemos perceber que aquela pessoa vive excluída, como
também estão excluídos dela todos os outros que não podem conviver com ela e assim
aprender e compartilhar diferentes experiências de vida.
De fato, essa visão discriminatória da acessibilidade, a partir da referência de um
mundo inacessível que parece natural e comum a todos, precisa mudar. Na ideia atual de um
estereótipo existente sobre acessibilidade, fica muito claro pensar em “onde” está o local
acessível para um certo “quem” que é distinto de todos os outros ambientes. Devemos, porém,
considerar até que ponto esse espaço criado é realmente acessível, não só àquele indivíduo
identificável pelo símbolo da cadeira de rodas (o símbolo internacional de acesso), mas por
todos os que eventualmente precisem fazer uso de tal espaço, em qualquer fase de sua vida.
Quantos de nós estaremos presos dentro de casa quando atingir uma idade mais avançada?
Inclusão não é só teoria, mas prática: resultante de práticas inclusivas. Nesse processo,
mais do que uma palavra “politicamente correta” (como antes foram os termos: integração,
normalização...), temos que nos referir ao processo de construção de uma sociedade inclusiva,
na qual as diferenças das pessoas sejam reconhecidas como algo natural e valorizado. Práticas
inclusivas significam abrir oportunidades iguais, trabalhar em um espaço que seja comum e
compartilhado. A questão que fica é saber se conseguiremos colocar as práticas inclusivas em
evidência para nossas vidas.
De fato, temos de trabalhar para reduzir os conflitos ao invés de escondê-los. Devemos
ser capazes de nos reconhecermos, um na pele do outro e, mesmo assim, de nos sentirmos
felizes porque ambos estão bem – o eu e o outro. Por práticas inclusivas, temos de reverter tal
imagem da vantagem incondicional de uns sobre outros. Devemos ter em mente que, melhor
do que sair ganhando sempre é ganhar sem riscos, pois tudo foi dividido justamente. Não é
nem mesmo o fato de ganhar que importa e, sim, de se estar envolvido na construção de algo
em conjunto que é bom para todos. A prática inclusiva é o processo de valorizar um indivíduo
para que a riqueza por sua diversidade seja também a riqueza do grupo.
94
Quando começamos a pensar na diferença que nos separa como pessoas, talvez o
processo de preparação para que sempre possamos incluir habilidades distintas em nosso meio
fique mais forte como um elo que nos prende, ao invés de simplesmente rotularmos tais
diferenças. Rotular significa termos de identificar quem é e quem não é, de modo que alguma
pessoa possa ser contemplada com alguma vantagem. As práticas inclusivas não existem onde
são feitos rótulos como referência de justiça. Não podemos falar de “inclusão de...” pessoas
com deficiência ou do idoso, porque a partir do momento em que fizermos isso, já estaremos
segregando. Segregar significa caracterizar, definir, separar. Temos de falar de inclusão como
sendo um processo de todos para todos.
Tudo isso serve de base para reflexões sobre uma nova definição do público-alvo
beneficiário do design universal. Com o Decreto Federal 5296/2004 e com a NBR 9050/2004,
pela primeira contemplamos ideias que sirvam não apenas para as pessoas agrupadas em
rótulos de categorias de deficiência, mas para as pessoas que tenham sua mobilidade reduzida,
tais como mulheres grávidas, idosos e acidentados. Com isso, finalmente, parte da população
com graves problemas transitórios começou a fazer parte do público beneficiário. A noção de
deficiência desvinculada do problema geral de mobilidade reflete a noção de estereótipo.
Quando começarmos a olhar esses problemas de maneira global, sem querer caracterizá-los
isoladamente e vendo um em relação direta com os outros, estaremos contemplando como o
design universal pode ser praticado.
5. LÓGICA LINEAR E LÓGICA HOLÍSTICA
Muitas vezes, as pessoas procuram soluções que sejam práticas, deixando de dar
atenção a certos pensamentos por considerá-los abstrações e, portanto, opostos a alguma coisa
mais perceptível, palpável e familiar.
Podemos aqui nos remeter àquela forma de raciocínio pela categorização das coisas e
pela referência aos seus rótulos ao invés de seus conteúdos, pois, assim, as pessoas podem
conversar dentro de parâmetros de uma linguagem comum: os rótulos. É como se tivéssemos
de fragmentar os problemas como peças de um quebra-cabeça para que, lidando com seus
pedacinhos, conseguíssemos ver uma solução para ser aplicada num dado momento, a todo e
qualquer momento.
Esse tipo de pensamento, em nosso mundo ocidental, ocorre por uma lógica linear,
cartesiana, plana. Todos os dias, definimo-nos pelo pensamento linear a partir da exclusão,
95
que nos delimita num universo fragmentado. Afirmando-nos como sendo parte de algo,
buscamos justificativas na negação de seu oposto. Ao pensarmos de maneira linear,
concordamos de modo inequívoco e de extrema clareza que o branco é, antes de tudo, o “nãopreto”. Pelos rigores da lei, uma coisa pode ser aceita como certa, quando ela é
primordialmente uma coisa “não-errada”.
É uma lógica que tem apenas uma sequência, como se o tempo houvesse se iniciado
em um passado remoto e, com ele, como se estivéssemos caminhando inexoravelmente para
um futuro em que temos depositado nossas esperanças. Uma vez atingido esse futuro, a
realidade de então não poderá ser de outra maneira do que aquela vislumbrada inicialmente.
Podemos até imaginar que esse futuro da sequência linear será melhor do que o presente, pois
estamos resolvendo os problemas aos pouquinhos e, dessa forma, em um grande somatório de
soluções. O que nos espera sempre é que o melhor ainda esteja por vir.
Essa tal lógica linear de progresso em que estamos descrevendo, deve perder ênfase
em nosso raciocínio para o design universal por ser muito estreita e limitada. O alto custo de
agirmos assim se acumula pela necessidade de esperarmos por muito tempo para
conseguirmos gozar dos benefícios de modo compartilhado.
É como se estivéssemos comprando a vida à prestação e só pudéssemos vivenciá-la
após quitar cada parte dessa dívida. Viveríamos, então, pelo reflexo de um espelho retrovisor,
que nos mostra o que perdemos por termos encarado o todo de frente. Em uma abordagem
holística, os custos são grandes: custo de atenção, de envolvimento, de comprometimento...
Há também custos materiais em função da energia que deverá ser despendida para realizarmos
algo dessa magnitude. Uma coisa, porém, é certa: uma vez que todos estejam engajados nisso,
o benefício virá de modo mais amplo. Soluções de efeito mais consolidado e eficaz dependem
de que consideremos como importantes medidas discretas, sutis, mas coerentes, de modo
contínuo e cíclico com o contexto, alinhando às múltiplas influências de diferentes fatores. Ao
adotarmos uma lógica holística, teremos a justaposição de pontos de vistas que contemplam
lógicas lineares, transformando-as em uma única perspectiva multidimensional. Então, a
lógica holística se prende, basicamente, em contexto, em consenso e em conhecimento.
É no contexto que está a riqueza de toda a complexidade, de modo a torná-la simples.
A visão global das coisas é necessária para conseguirmos definir o contexto em que ocorrem.
Uma solução pode ser muito boa em determinado contexto, mas pode não ser em outro.
Assim, não adianta tentar ver as coisas pouco a pouco se não tivermos uma visão do todo. O
problema de não se ter uma visão do todo é que não conseguimos perceber as coisas de uma
maneira contínua. Se não conseguirmos encarar um determinado problema em toda sua
96
complexidade, poderemos, então, dizer que as soluções propostas deixam de ser adequadas ao
longo de certo prazo.
Temos de buscar o consenso ao ceder de nosso posicionamento linear. Consenso
significa respeitar as diferentes perspectivas a partir dos mais vulneráveis, pois, embora
possamos ter muitas coisas em comum, cada cabeça, cada indivíduo reinterpreta o mundo de
forma peculiar e inovadora. Antes de pensarmos em sair ganhando em alguma coisa,
devemos, pois, ganhar algo de modo coletivo. Se conseguirmos obter consenso, todos estarão
trabalhando de maneira engajada, usufruindo dos benefícios, por comprometimento de si
mesmos e, por mais que as coisas demorem, podem ser realizadas e preservadas por gerações.
Finalmente, o conhecimento, mais do que a simples absorção e enlace de informações,
garante o respeito aos envolvidos no processo de busca de consenso. O conhecimento
enriquece cada uma das pessoas com os esclarecimentos sobre os diferentes pontos de vista
que melhor retratam o contexto globalizante. Pelo conhecimento, o estigma cede lugar ao
entendimento sobre melhorias possíveis na relação entre pessoa e ambiente construído.
Outra consideração possível sobre confrontação entre lógica linear e lógica holística é
considerarmos que nossa vida é regrada por leis enquanto valorização cultural do bem
comum. Segundo uma lógica linear, enquanto não houver uma lei, nada poderá ser feito,
aceito e respeitado por todos como um referencial de valor, de moral, de integridade. Porém,
no momento em que essa lei é implantada, fica a questão sobre a dimensão holística de sua
prática no cotidiano: no ponto limítrofe em que as pessoas perdem a convicção na base de
justiça impressa e imposta por lei. Ou ainda, até o ponto em que as pessoas procuram evitar
que seu rigor seja implacável e por isso injusto para certos casos que podem representar até
mesmo onde a lei deva evoluir mais
A reformulação de comportamentos numa abordagem inclusiva não deve estar presa
apenas à legislação, e sim aos valores que justificam essa legislação. As leis são reflexos dos
nossos valores. As leis não são exclusivamente criadas como instrumentos de opressão para a
conformidade.
Alguns estudos defendem (Nisbett, 2003) que a civilização ocidental rejeita o lado
multidimensional da vida, enquanto que a civilização oriental trabalha com essa ideia de uma
maneira muito mais fácil. Esses estudos sugerem, contudo, que a tendência mundial é a fusão
entre as práticas culturais do ocidente e oriente. Sem buscar a distinção dos extremos de valor
de uma coisa em detrimento da outra (que é um pensamento segundo a lógica linear),
devemos nos conscientizar de que a discussão sobre práticas inclusivas do design universal
depende de refletirmos sobre meios de priorizar o pensamento holístico como valor cultural.
97
Em outras palavras, devemos nos esforçar em retirar a preponderância do pensamento linear e
colocá-lo num plano secundário à visão multidimensional.
Isso nos chama a atenção para o fenômeno cíclico de transformação da natureza, da
história e da vida como a conhecemos. As pessoas, de uma maneira geral, consideram suas
vidas como sendo progressões de eventos ao longo de uma linha. Consideram-na uma linha
em ascendência, desde a infância (sendo que muita gente entra em desespero quando
contempla que essa linha começa a descer). Isso é uma visão angustiante para nossa
permanência neste mundo – e também é uma visão equivocada dentro de um ponto de vista
holístico.
Essa percepção acerca dos ciclos é muito valorizada no pensamento oriental. O
aspecto cíclico da vida se manifesta com o renascer em cada dia – fato que, muitas vezes,
desconsideramos por vivemos absortos em nossa mente.
A cada dia, tudo se renova. A cada dia, o sol volta para nos dar sua força, as marés
vêm e vão, sobem e descem. Devemos ainda nos lembrar dos ciclos das estações do ano, que,
por milhares de anos, serviram como marco cultural de diferentes povos com a relação entre
passado, presente e futuro, o terreno, o sagrado e o divino. A vida também é cíclica; e assim é
em cada um de nossos estágios de desenvolvimento pessoal. A plenitude da vida é de fato
alcançada quando conseguimos passar de um estágio para outro por meio de nossas múltiplas
maturidades, sem rótulos ou tipologias de vida. A imagem que melhor se adapta a esse
conceito holístico de encarar a vida humana é, então, mais complexa e completa do que o
transcorrer do caminho por uma simples linha.
De certa forma, o nosso tipo de comprometimento com a sociedade inclusiva também
deve ser considerado cíclico. Cíclico no sentido de restaurarmos aquilo que foi deixado para
trás como algo novo e transformado e não simplesmente dizermos que algo se preserva
porque não se altera (a não alteração como sentido até de estagnação), ou que algo se perdeu
porque já não pode ser identificado e interpretado em sua forma primária, original, imutável.
Em cada momento de nossas vidas, estamos convivendo com a morte. O conceito de
morte dentro de uma visão holística significa o abandonar de um estágio quando estamos
preparados para enfrentar outro. A morte, então, não é o fim, mas a preparação para outro
estágio que a gente pouco conhece.
Ao começarmos a pensar dessa maneira, podemos ver muito mais nosso papel social e
político, um papel de não estar presos à nossa existência em si mesma, mas inclusive à
existência das gerações que virão. Sob esse ponto de vista cíclico, pensar em design universal,
no contexto inclusivo, é um desafio muito mais denso e significativo.
98
6. A ABORDAGEM HOLÍSTICA PARA O DESIGN UNIVERSAL EM PRÁTICAS
INCLUSIVAS
O holismo é a relação do universo em que um todo envolve outros todos e ainda assim
é envolvido por outros todos. Num pensamento linear, a ênfase de qualquer compreensão se
prende na análise, na quebra de um todo em suas partes constituintes.
Ao entendermos cada parte e como se relacionam umas com as outras, podemos
efetuar um processo de síntese; isto é, de reconstrução do todo ou até mesmo de todos
diferentes do original, construído por partes cujas relações sejam fortes o suficiente para
assumir novas formas.
Com o holismo, a quebra analítica não existe, como não existe uma parte vazia,
desconfigurada de sua identidade, uma vez separada de seu contexto. Assim, ao invés de
partes, o universo holístico é composto de hólons organizados em estruturas holárquicas que
são esferas abrangentes, nas quais um todo transcende, mas inclui outro todo do qual se
mantém, tal como ocorrem as cores do arco-íris (WILBER, 2004). Em uma holarquia, a
importância entre as relações horizontal e vertical dos hólons ocorre conforme o contexto, o
intuito e a atenção de quem os contempla.
Num exemplo de estrutura holárquica, apresentado por Wilber, podemos nos referir à
composição da matéria orgânica que é essencialmente holística. Num hólons mais primordial,
que se manifesta em todos os outros todos está a luz, a qual é, ao mesmo tempo,
indiscriminadamente, onda ou partícula, etérea ou concreta. Outros hólons podem ser
identificados numa sequência arbitrária, cuja importância depende do contexto: o átomo, a
molécula, o genes, a célula, o organismo... Podemos visualizar elipses que se expandem
(figura 1), umas dentro das outras; em que cada uma é um todo, e cada todo se mantém
envolvendo outros todos.
onda
energia
partícula
átomo
molécula
genes
célula
Figura 1 - Exemplo da estrutura holárquica da matéria orgânica
organismo
99
Podemos considerar, segundo Wilber, que estruturas são padrões estáveis de eventos, e
que numa estrutura de holarquia os padrões holísticos podem ser variáveis, dependendo da
perspectiva do sujeito que a estuda.
Assim, ousemos fazer uma representação metafórica de uma dimensão holística em
uma configuração de ondas em elipses, considerando que uma elipse é um círculo
contemplado numa perspectiva lateral.
Transpondo essa ideia para aplicações do design universal, podemos examinar, a
seguir, interrelações entre cinco diferentes dimensões cujas naturezas holísticas podem se
interagir. Sempre com todos envolvendo outros todos, nos permitindo uma visão mais ampla,
para a composição da sociedade inclusiva:
holarquias no contexto da ordem lógica;
holarquias no contexto de identidade pessoal pelos vínculos sociais;
holarquias no contexto da ação sobre o espaço ambiental;
holarquias no contexto do poder do indivíduo no meio em que atua;
holarquias no contexto da prática do design inclusivo.
Representando as estruturas e dimensões holárquicas citadas por meio de uma tabela
simples, e considerando-as em níveis de profundidade aproximada, podemos vislumbrar a
seguinte configuração em paralelo. Tal paralelismo é contextual e existe aqui para
vislumbrarmos com maior clareza a relação holística entre design universal, acessibilidade e
as exigências de normas técnicas.
Tabela 1 – Relações entre holarquias para a consolidação da sociedade inclusiva
conceito, ideia,
impulso
fato ou
expressão
mecanismo
modelo
rede
sistema
corpo, mente,
espírito
indivíduo
tribo
família
comunidade
população
autonomia,
independência,
espontaneidade
privacidade
acessibilidade
liberdade
solidariedade
iguais
oportunidades
espaço cognitivo
psíquico
espaço
pessoal
espaço funcional
espaço
cultural
espaço social
espaço edificado
tecnologia assistiva,
exclusiva
design
adaptado
design adaptável
design em
normas
técnicas
design
adequado
design universal
100
Devemos visualizar essa tabela como um todo holístico (no qual as relações entre os
todos representados são multidimensionais). Eis, abaixo, um modo de interpretação:
No contexto da ordem lógica, a base primordial de uma holarquia pode ser
representada por nossas “idéias”, por nossos “impulsos” para fazer algo. O conceito, ideia ou
impulso, é como uma energia sem forma que precisa ser moldada pela relação com o contexto
exterior (fato ou expressão) e que, por meio do mecanismo, modelo e rede de interconexões
com outros conceitos, ideias e impulsos que o antecederam, pode dar sentido ao sistema como
um todo. Não poderíamos lidar com a compreensão de um “novo sistema” se, de fato, não
estivéssemos nos familiarizando com um “novo conceito”. O “conceito” (que é um todo) se
consolida nas mentes como outro todo, enquanto “fato ou expressão”, que torna a ideia,
plausível, e a experiência, compartilhada. Em outra elipse, há o todo definido como
“mecanismo” pelo qual podemos reconhecer tanto a ideia quanto o fato, tomando a dimensão
necessária à aplicação operacional em procedimentos. Mecanismos, por sua vez embasam
“modelos”. Os modelos se expandem por meio de “redes”. Cada rede é por sua própria
natureza, outro todo. Quando redes se entrelaçam ao ponto de se justificarem, umas às outras,
temos aí o “sistema”.
A holarquia no contexto de identidade pelos vínculos sociais nos revela que uma
população não é um amontoado de pessoas, mas um sistema no qual um indivíduo encontra
referências de si mesmo. O indivíduo é constituído pelo hólon primordial e indissociável entre
“corpo, mente e espírito”. Cada indivíduo se reflete nas imagens de outros indivíduos afinados
com sua identidade própria que forma sua “tribo”. Cada indivíduo dá força e suporte
“família”, que é um hólons transcendente que define o conceito de “lugar”. “Indivíduos” em
harmonia reforçam tribos e famílias em paz, que atuam em conjunto com outros hólons, com
os quais convivem em “comunidade”. A “população” é, por sua vez, um hólons de expansão
das “comunidades”, que se apoiam mutuamente nos contextos locais, regionais e de nação.
Vejamos agora como são as coisas na dimensão do indivíduo. Esse é um indivíduo
que, ao mesmo tempo, é corpo, mente e espírito, além de ser a base da população. Não
podemos pensar em soluções para a população se essas irão desrespeitar o indivíduo. Não
podemos pensar em soluções que desrespeitem a relação do indivíduo com sua família.
Devemos manter em mente que aqui estamos lidando com um todo dentro do todo –
indivíduo dentro da sociedade.
Na holarquia do contexto da ação sobre o espaço ambiental, a acessibilidade é uma
dimensão que surge uma vez satisfeitas “autonomia, independência e espontaneidade”, que
são hólons primordiais indissociáveis, os quais, por sua vez, dão a um indivíduo o controle da
101
privacidade. Sem “acessibilidade” não há “liberdade”. A “liberdade de um indivíduo” se
restringe ao reconhecimento da “liberdade de seu vizinho”, senão se transforma em opressão.
À liberdade compartilhada chamamos de “solidariedade”, que resulta, por sua vez, em “iguais
oportunidades para todos”.
Todas essas imagens nos fazem refletir sobre o poder que temos dentro de nós
mesmos. Trata-se do poder que está no respeito de cada um. Não podemos conceber a ideia de
“liberdade” sem que essa esteja dentro da esfera da “solidariedade”. Não podemos ser falsos a
ponto de pensar em “solidariedade” se nem ao menos respeitamos a “privacidade”. Da mesma
forma, não podemos conversar sobre “oportunidades iguais” se noções de “autonomia”,
“independência” e “consistência” não estão presentes.
Partindo dessas noções, podemos discutir mais aprofundadamente a respeito de uma
linha de raciocínio que enfoca sobre o que deve ser a “acessibilidade”. É a “acessibilidade”
que está acima da “autonomia” e da “independência”, mas que tem como objetivo a noção de
“oportunidades iguais”. Talvez, aqui, já estejamos discutindo sociedade inclusiva.
Falemos um pouco sobre a questão do espaço. Como é que podemos nos utilizar dele?
Não é simplesmente fazendo alterações parciais num espaço edificado ou mesmo propondo
novas maneiras de lidar com o social. Essas coisas de nada adiantam se, no fundo, as pessoas
não têm contemplado seu “espaço pessoal”, seu “espaço funcional”. Não estou me referindo à
acessibilidade para pessoas específicas, mas para “a população”. O espaço construído de
países, cidades, edifícios e objetos é um amplo “sistema” que deve ser concebido com base no
“design universal”, no qual a “acessibilidade” é um “espaço funcional”, simplesmente. A
“liberdade” equivale ao maior valor de uma cultura.
O “espaço social” se distingue por “solidariedade” e preserva o “design adequado”
para uso da “comunidade”. O “design adaptado” se restringe às especificidades do
“indivíduo” para funcionar bem, como expressão de seu “espaço pessoal”.
Ao juntarmos todos esses aspectos, chegamos à última dimensão, que é a questão do
“design universal”. Esse tipo de design somente se justifica quando a gente olha em
perspectiva múltipla e, assim fazendo, conseguimos ver que precisávamos ter passado pelos
erros (ou pelas falhas do que entendemos ser design adaptado) para conseguirmos chegar a
um design que sirva a todos. A “tecnologia assistiva” é uma maneira pessoal e privativa de
ver as coisas, assim como podemos pensar em um “design exclusivo” – aquele tipo de design
que nos leva às lojas para comprar determinado produto ou artefato. Muitas são as pessoas
que buscam pelo design exclusivo, mas são poucas aquelas que estão abertas para um design
inclusivo.
102
Sete princípios do design universal (Story, 2000) foram publicados pelo Center for
Universal Design, nos EUA. São os seguintes: (1) uso equiparável; (2) flexibilidade no uso;
(3) uso simples e intuitivo; (4) informação perceptível; (5) tolerância ao erro; (6) pouco
esforço físico; (7) tamanho e espaço por aproximação e uso. O sucesso desses princípios em
todo o mundo se deve à busca de consenso entre experts para respeitarem pontos comuns em
campos do conhecimento sobre as habilidades dos usuários em relação ao meio edificado e ao
contexto da atividade. Tais princípios se tornaram consenso porque envolvem o processo
histórico de aprimoramento da acessibilidade a ser construída para todos. Se nos detivermos
aos princípios (6) e (7), veremos que se relacionam diretamente com procedimentos
operacionais dentro de um certo espaço – a questão da mobilidade propriamente dita, sendo
que essa foi a base conceitual das primeiras normas técnicas americanas. Os princípios (3) e
(4) já entram em um outro plano, que é o cognitivo: em que assimilamos e processamos as
informações. O princípio (5) lida com variações em função da diversidade do perfil dos
usuários ao lidar tanto com os princípios (6) e (7), por um lado, quanto com os princípios (3) e
(4), por outro. Os princípios (1) e (2) são fundamentais e globalizantes, pois tratam da questão
da equiparação. Essa é aquela questão que pensa a inclusão como sendo uma oportunidade a
ser dada para que cada um possa agir da melhor maneira possível.
Se juntarmos tudo isso, iremos ver, dentro da noção holística, que esses planos se
interagem. Considerando que isso acontece de fato, podemos olhar para todos esses hólons de
uma maneira mais organizada. Por exemplo, podemos estabelecer formas de relação entre o
design universal como um sistema. Feito isso, podemos pensar que um trabalho, baseado nas
normas técnicas de acessibilidade somente forma uma situação que desconsidera o contexto.
E, se o contexto é desconsiderado, o máximo que essas normas podem oferecer é um modelo,
por certo uma representação distante da realidade. É preciso ver na prática como as coisas
funcionam. Podemos pensar, então, que as oportunidades de fato serão iguais somente quando
tivermos um espaço universal edificado. Do contrário, não estaremos lidando com a busca
dessa igualdade de oportunidades.
7. CONCLUSÃO
Design Universal como design permanente de boa qualidade
Uma interpretação linear sobre design universal pode ater-se à definição de soluções
inovadoras, que possam ser incorporadas por lei ao nosso dia-a-dia, isoladamente. Por elas,
aumentamos nosso conhecimento sobre normas técnicas e ampliamos as oportunidades para
103
as pessoas. Isso pressupõe que algo possa ser criado – ou adicionado – lentamente à ordem do
dia, substituindo as soluções convencionais já existentes por algo progressivamente melhor.
A saída de lógica holística para esse impasse do pensamento linear é assegurar a
aplicações do design universal as experiências cíclicas e contextuais das práticas inclusivas,
pois o design universal resultará do processo de aprimoramento nas definições dos problemas
em cada contexto para prover meios de crescimento das habilidades intrínsecas dos usuários.
Antes de colocarmos os princípios do design em prática, devemos primeiramente entendê-los
em sua essência. O fato de que esses princípios possam ser contemplados de uma maneira
linear não implica que as relações entre eles também devam ser interpretadas dessa maneira.
Devemos percebê-los interagindo de forma circular, holística e global. Isso significa que,
embora cada um deles tenha sua própria essência, esses princípios somente se manifestam
quando têm um vínculo de envolvimento e transcendência, uns com todos os outros.
Não devemos, portanto, aplicar rótulos ou “discriminação positiva” e compensatória
para resolver problemas da acessibilidade. Devemos buscar um desenvolvimento cada vez
maior e aprofundado do conhecimento holístico para que as soluções possam ser aprimoradas
verdadeiramente para todos.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2004). NBR 9050 –
Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. In
>>http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/ABNT/NBR9050-31052004.pdf<<,
visitado em 27/06/2007.
MACE, R. (1985), Universal Design, Barrier-free Environments for Everyone. Los
Angeles, CA: Designers West.
NISBETT, R. (2004). The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think
Differently and Why. New York: Freepress.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL. Decreto Federal 5296, 02 de dezembro de
2004. Publicado no D.O.U, nº 232, sexta-feira, de 03 de dezembro de 2004. In
>>http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/sicorde/dec5296.asp<<, visitado em 27/06/2007.
STEINFELD, E. (1994). “Arquitetura Através do Desenho Universal”. Simpósio
Internacional de Acessibilidade ao Meio Físico – SIAMF/Rio - Anais. Brasília: CORDE.
104
STORY, M. (2000), “Principles of Universal Design”. In Universal Design Handbook,
edited by E. Ostroff and W. Preiser. New York: McGraw-Hill. 10.3-10.19.
WILBER, K. (2004) Psicologia Integral: Consciência, Espírito, Psicologia, Terapia. N.R.
Eichemberg (trad.). Série Psicologia, Nova Consciência. São Paulo: Editora PensamentoCultrix.
105
Tecnologias para Reabilitação
Marcos Pinotti1
Danilo Alves Pinto Nagem2
Claysson Bruno Santos Vimieiro3
Breno Gontijo do Nascimento4
Daniel Neves Rocha5
Kátia Vanessa Pinto Menezes6
A primeira dificuldade em definir a atuação de um engenheiro nesta área é especificar
o nome para tal ação. Muitos a definem como Engenharia de Reabilitação. A área de atuação
também pode ser definida como Tecnologia Assistiva ou Ajuda Técnica. A definição ou os
nomes empregados podem não significar muito para os usuários, que necessitam de
equipamentos, dispositivos ou sistemas para realizar suas tarefas cotidianas de alimentação,
higiene pessoal, deslocamento ou lazer. Por outro lado, para quem trabalha no
desenvolvimento dessas tecnologias e/ou as vem aplicando, pode ser importante defini-las por
área de atuação quando esta atividade for financiada pela sociedade.
Como em qualquer país, não há recursos suficientes para prover todos os pacientes
com as últimas inovações tecnológicas, em geral muito caras, realiza-se uma priorização das
necessidades tratadas como essenciais. Nesse contexto, países com estrutura arquitetônica e
historicamente mais sensíveis aos indivíduos com limitações sensoriais ou de movimento têm
uma definição mais abrangente de necessidades consideradas essenciais do que a de outros
países, especialmente aqueles que não dispõem de recursos para contemplar tais necessidades.
No caso de nosso país, há um componente muito positivo. Ações de conscientização e
de estudo sobre o tema, como é o caso da Sociedade Inclusiva, expõem à sociedade esses
problemas, as limitações e as desigualdades que surgem das deficiências sensoriais e motoras.
Como consequência, surge uma justa pressão para que se ampliem as definições das
1
Doutor, Professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG
Mestre em Engenharia Mecânica, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
da UFMG
3
Doutor em Engenharia Mecânica pela UFMG
4
Mestre em Engenharia Mecânica, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
da UFMG
5
Mestre em Engenharia Mecânica, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
da UFMG
6
Doutora em Engenharia Mecânica pela UFMG
2
106
necessidades consideradas essenciais. Muitas vezes, o atendimento desses anseios esbarra na
falta de recursos (a tecnologia existe, mas a um alto custo) ou na inexistência da tecnologia
adequada à demanda.
Existem tecnologias de alto custo (causado por características intrínsecas ou pelos
royalties envolvidos), tecnologias difíceis de ser implementadas e as tecnologias não
desenvolvidas ou adaptadas ainda. Para se entender o custo envolvido em seu
desenvolvimento e aplicação, pode-se dividi-lo em diversos componentes – custo de
desenvolvimento, custo de propriedade intelectual, custo de obtenção e custo de aplicação da
tecnologia.
O custo de desenvolvimento relaciona-se a todo, o recurso investido na concepção e
testes de conceito da tecnologia, sendo geralmente coberto por órgãos de fomento público ou
por pesquisas financiadas pela indústria. Esse custo tenderá a ser alto se envolver o
desenvolvimento de todo o arcabouço tecnológico; poderá ser baixo se envolver apenas o
incremento de uma tecnologia existente ou adaptação de uma tecnologia utilizada em outra
área.
O custo de propriedade refere-se à proteção da propriedade industrial/intelectual e ao
licenciamento da tecnologia. Uma vez que o valor de uma tecnologia se acha intimamente
ligado a sua capacidade de inovação e às barreiras impostas aos concorrentes, o custo de
propriedade será alto para os países que não são capazes de produzir inovação, pois terão de
adquiri-la a preço de mercado. Quando há inovação tecnológica no próprio país, os custos de
propriedade de produtos estrangeiros tendem a ser mais baixos, pois a concorrência faz com
que se atinja o equilíbrio entre a remuneração do conhecimento e a inibição da concorrência.
O custo de obtenção mostra-se relacionado com as dificuldades de se obter o produto
ou dispositivo (processo de fabricação especializado) ou a matéria-prima (material de alto
custo agregado). Esse custo será alto se os produtos ou componentes forem importados de
países com mão-de-obra mais cara, se utilizarem matéria-prima de alto valor agregado ou se
for muito específica, tendendo a ser mais baixo nas situações opostas ou se a produção se der
no próprio país.
O custo de aplicação refere-se à dificuldade de difusão da tecnologia, por exigências
de serviço especializado com distribuição, treinamento, divulgação e manutenção. Também
influencia no custo a eventual necessidade de procedimentos adicionais de treinamento
especializado e seguro, quando a aplicação inábil da tecnologia possa representar risco à
saúde. Portanto, o esforço para a inovação, ou seja, a geração de tecnologia nacional, permite,
a um só tempo, a ampliação da possibilidade de atendimento e a redução dos custos.
107
Deve-se ter em mente que alta tecnologia não significa alto custo. No Brasil, as ações
de inovação, apesar de terem a necessária componente de recuperação do investimento,
podem e devem ser implementadas para atender à imensa demanda reprimida. Uma vez que
tais tecnologias são necessárias por todo o país, essa característica favorece o
empreendedorismo regional, com duplo benefício: geração de emprego e renda, e atendimento
à demanda social. Nesse contexto, devem ser incentivadas e apoiadas as ações de fomento à
geração de tecnologias que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas e sua
difusão por todo o país, atraindo interesse de pequenos e médios empreendedores.
É nesse panorama que o Laboratório de Bioengenharia da UFMG atua, desde 1999, no
desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde. Entre as ações realizadas, uma
importante parcela se volta para a Engenharia de Reabilitação. Neste capítulo, pretende-se
mostrar algumas dessas tecnologias.
1. TECNOLOGIA DOS MÚSCULOS ARTIFICIAIS PNEUMÁTICOS
Músculos são estruturas contráteis que, ao serem acionadas, aproximam sua origem à
inserção muscular. Em engenharia, a função do músculo é classificada como a de um atuador
linear.
Diversos
mecanismos
podem
ser
utilizados
como
atuadores
lineares
e,
consequentemente, como músculos artificiais. Destes, um dos mais engenhosos é o músculo
artificial pneumático, descrito pela primeira vez por Gaylord (1958).
Seu princípio de funcionamento baseia-se no fato de que uma estrutura elástica em
forma tubular aumenta seu volume ao ser pressurizada e, como consequência, encurta seu
comprimento. A ação de encurtar-se faz com que surja, nesse tubo flexível e elástico, uma
força que aproxima suas extremidades. Essa força de contração depende da pressão imposta
ao interior do tubo. Para evitar que a estrutura se expanda até o rompimento de suas paredes, o
tubo elástico é envolvido por uma malha semielástica que limita o aumento de volume.
É possível obter combinações de tubo elástico, malha externa e pressões de
alimentação de forma que, ao ser acionado, o dispositivo resultante exiba percentual de
redução de comprimento e força de contração compatíveis com um músculo esquelético. Tais
combinações são conhecidas como “músculos artificiais pneumáticos”.
A Figura 1 mostra o esquema de funcionamento de um músculo artificial pneumático.
A literatura apresenta diferentes versões de músculos pneumáticos, alguns deles disponíveis
comercialmente. A grande limitação desses músculos é o seu custo e a pressão necessária para
108
iniciar sua operação. Para iniciar o movimento, a maioria dos músculos pneumáticos
artificiais necessita de pressões de 2 a 3 kgf/cm². Tais características não são compatíveis com
o projeto de uma órtese de quadril atuada por esses músculos, pois o movimento pode ocorrer
a pressões mais baixas. Decidiu-se, então, desenvolver uma versão de músculo pneumático
que fosse leve e operasse em níveis mais baixos de pressão, porém, que fosse capaz de
mimetizar a função dos músculos em órteses de membros inferiores.
Figura 1 – Esquema de funcionamento de um músculo artificial pneumático. A ação da pressurização
do músculo pneumático faz com que haja aumento do seu diâmetro, com consequente encurtamento e geração de
força de contração.
Fonte: Nagem, 2005.
As Figuras 2, 3 e 4 mostram a concepção da montagem (Nagem et al., 2002), a
aparência final e as curvas de operação de uma das versões do músculo pneumático
desenvolvido no Laboratório de Bioengenharia da UFMG.
109
Figura 2 – Detalhe da montagem de uma extremidade do músculo pneumático. A combinação de
materiais e a concepção de montagem permitiram diminuir a pressão de operação, tornando o músculo adequado
para uso em órteses de membros inferiores.
Fonte: Nagem, 2005.
Figura 3 – Vista do músculo artificial pneumático da UFMG.
Fonte: Nagem, 2005.
Figura 4 – Curvas de operação do músculo pneumático de 280mm de comprimento e 17mm de
diâmetro em diferentes cargas.
Fonte: Nagem, 2005.
2. ÓRTESE DE QUADRIL COM MÚSCULOS ARTIFICIAIS PNEUMÁTICOS
110
Uma vez desenvolvido o músculo pneumático, foi possível vislumbrar o próximo
passo: realizar um movimento articular como consequência do acionamento do músculo
artificial. Decidiu-se por aplicar o músculo pneumático a uma órtese para realizar o
movimento de flexão do quadril. O desafio era projetar um músculo apto a realizar o
movimento, sobrevivendo a milhares de ciclos de operação, dotado de um sistema de ar
comprimido, portátil, acionado por controle voluntário do usuário.
Os requisitos do projeto foram estabelecidos ao se escolher um caso clínico bem
definido: prover uma órtese de quadril para uma paciente com histórico de poliomielite. A
execução desse projeto fez emergir uma série de novos desafios que permitiram produzir
muitos avanços na área de dispositivos para controle voluntário de órteses (Nascimento,
2005), na área de modelagem biomecânica da marcha em situações diferentes daquelas
consideradas fisiológicas (Vimieiro, 2004) e no desenvolvimento de músculos pneumáticos
mais eficientes.
O trabalho de uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros de diferentes
especialidades (mecânicos, eletrônicos e mecatrônicos) e fisioterapeutas, foi fundamental para
o sucesso do projeto. A Figura 5 mostra a voluntária desse estudo, portando o que foi
chamado de exoesqueleto (Nascimento, 2005). Devido à severidade das sequelas da
poliomielite, não foi possível utilizar o acionamento por sinais mioelétricos. Nessa órtese, foi
empregado um sensor de intenção de movimento que era sensível à variação angular da
articulação do quadril. Ao captar o movimento, acionava o músculo artificial para realizar a
flexão do quadril.
Figura 5 – Paciente com a órtese de quadril durante teste de marcha no Laboratório de Análise de
Movimento da UFMG.
Fonte: Nascimento, 2005
111
A Figura 6 mostra a variação do ângulo da articulação do quadril (no qual o sensor de
intenção de movimento estava instalado), em função da posição dos membros inferiores e da
configuração assumida pela órtese durante o teste de marcha. É importante notar que a
posição ortostática apresenta 35º de flexão, devido às sequelas da poliomielite. Essa figura foi
muito inspiradora e precipitou a decisão de não avançar com os testes clínicos até que fosse
organizado um modelo biomecânico de menor gasto energético em função do ângulo de
flexão do quadril em posições ortostáticas. Tais configurações refletem a realidade clínica e
de posse desses resultados, se podem gerar elementos confiáveis para a produção de órteses
mais eficientes e que respeitam as limitações de movimento decorrentes das lesões. Esses
estudos estão em andamento.
FIGURA 6 - Comportamento da articulação do quadril da paciente considerando posição ortostática já
apresentando 35o de flexão.
Fonte: Nascimento, 2005.
3. ÓRTESE FUNCIONAL DE MÃO
Órtese de mão é um dispositivo externo aplicado ou unido à mão e ao pulso para
melhorar a sua função, controlando o movimento, fornecendo a sustentação para objetos,
corrigindo e impedindo deformidades. Em contraste com órteses funcionais descritas na
literatura – que se apresentam pesadas, não têm boa estética e, muitas vezes, necessitam do
movimento do punho para ser ativadas –, desenvolveu-se na UFMG uma órtese funcional
capaz de permitir à mão a realização de preensão, independentemente do movimento do
punho. Utilizou-se um atuador eletromecânico e tendões artificiais aplicados em uma luva
especialmente modificada, com controle voluntário, realizado por meio de sinais mioelétricos.
112
Testes preliminares mostraram que a órtese é eficaz para realizar a preensão de objetos
de diferentes formas, pesos e tamanhos, apresentando características importantes, como
simplicidade do controle, facilidade do uso, funcionalidade e excelente estética. Com o uso da
órtese, indivíduos com perda da função preensora da mão poderão se engajar mais
independentemente em atividades diárias, de lazer e vocacionais, melhorando sua autoestima
e qualidade de vida. A Figura 7 mostra as faces ventral e dorsal da órtese. Por se tratar de uma
luva, a órtese pode ser facilmente calçada e, devido à simplicidade de seu acionamento por
tendões artificiais, é leve e possibilita boa aparência.
(a)
(b)
Figura 7 – (a) Face ventral e (b) face dorsal da órtese funcional da mão desenvolvida na UFMG.
Fonte: Rocha, 2007.
Testes pré-clínicos foram necessários para ajustar a funcionalidade da órtese às
necessidades do seu uso em atividades cotidianas. A relação entre a força de preensão nos
dedos da órtese e a força no tendão artificial foi determinada a partir dos resultados
experimentais para cargas pré-determinadas. Foi concebido um circuito eletrônico que usa a
análise da corrente do motor de corrente contínua para controlar o torque do motor e,
consequentemente, a força de tração no tendão artificial. O sistema desenvolvido foi capaz de
controlar a força de preensão de objetos, tornando a órtese segura ao usuário. A Figura 8
mostra um exemplo de ativação da órtese, utilizando o par de músculos antagônicos bíceps e
tríceps.
113
(a)
(b)
Figura 8 – Acionamento da órtese utilizando sinais mioelétricos do bíceps: (a) Ausência de contração
muscular; (b) Acionamento da órtese pela contração do bíceps.
Fonte: Menezes, 2005.
Os testes clínicos já foram autorizados e se encontram em andamento.
4. TELEFONE ACESSÍVEL
Telefones públicos geralmente são instalados a uma altura padronizada (1,70m),
apropriada para uma pessoa adulta de estatura mediana poder manuseá-lo em pé,
confortavelmente. É possível encontrar telefones públicos instalados em uma posição mais
baixa (1,20m). A Lei nº 2.062, de 17 de junho de 2001, Artigo 2º, dispõe que: “Ao menos
uma das caixas de Correio e Telefones Públicos, quando houver, deverá ser instalada no
máximo a 1,20 metros de altura do piso”. A exigência de um telefone em altura diferenciada
ao lado dos demais, de altura padronizada, torna dispendiosa a instalação, pois eleva o número
de aparelhos num mesmo local.
Tendo em vista esse problema e com o propósito de reduzir custos, foi desenvolvido
um sistema de regulagem de altura para telefones públicos (Simões et al., 2003). Testes
preliminares do telefone acessível demonstraram sua utilidade e durabilidade. O princípio de
funcionamento baseia-se na instalação do aparelho telefônico em um sistema de contrapeso,
com movimento impedido por meio de uma trava. Essa trava, de fácil acionamento, permite
que se libere o movimento do contrapeso, fazendo com que o telefone seja erguido ou
abaixado com grande facilidade. Dessa forma, não há necessidade de se instalarem telefones
públicos a alturas diferentes. O dispositivo, denominado “telefone acessível”, cumpre a tarefa
de permitir o acesso a qualquer usuário. A Figura 9 mostra um estudo ergonômico do telefone
acessível.
114
Figura 9 – Estudo ergonômico do telefone acessível. A instalação deste dispositivo torna o telefone público
acessível a qualquer usuário.
5. COMENTÁRIOS FINAIS
O conhecimento científico e o seu método são as bases da tecnologia. Países que são
capazes de transformar conhecimento científico em tecnologia têm mais condições de
sustentar seu desenvolvimento. Qualquer tecnologia é efêmera sem aplicação. O papel
primordial de um engenheiro consiste em ser o elemento de ligação entre o conhecimento
científico e a tecnologia e entre tecnologia e sua aplicação.
Alta tecnologia não significa, necessariamente, alto custo. Por outro lado, a aplicação
de determinada tecnologia acha-se intrinsecamente ligada à sua viabilidade econômica. Dessa
forma, o sucesso da aplicação de determinada tecnologia na reabilitação ou no auxílio de
pessoas com deficiência será atingido quando precedido de trabalho na transformação de
conhecimento científico em tecnologia, no trabalho de tornar essa tecnologia viável
economicamente e no trabalho de empreendedores para tornar a tecnologia disponível a um
custo razoável. Muitos desafios devem ser vencidos e muitos deles se apresentam como
intransponíveis. No entanto, a mensagem deste capítulo é que se atingirá o sucesso ao se
acreditar que nada resiste ao trabalho.
AGRADECIMENTOS
A dedicação e o talento da equipe do Laboratório de Bioengenharia tiveram suporte no
fundamental apoio financeiro (recursos e bolsas) da Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), da
Coordenadoria de Apoio ao Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e do Serviço Brasileiro de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE).
115
116
REFERÊNCIAS
GAYLORD, R.H. Fluid actuated motor system and stroking device. United States Patent
2844126, 1958.
MENESES, K. V. P. Desenvolvimento de um protótipo de órtese funcional para mão.
2005. 66f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
NAGEM, D. A. P. Determinação da Força, da Pressão e do Volume de um músculo
pneumático em um Exoesqueleto de Membro Inferior, para Restaurar o Padrão de
Marcha Utilizando um Sinal Mioelétrico para a Ativação. 2005. 79f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brasil.
NASCIMENTO, B. G. Desenvolvimento de um dispositivo para controle de ativação do
músculo artificial pneumático por meio da variação angular da articulação quadril.
2005. 71f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
ROCHA, D. N. Desenvolvimento de um sistema de controle para a órtese funcional de
mão da UFMG. 2007. 77f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, NAGEM, D. A. P.; FABRIS, G.;
PINOTTI, M. Atuador fluido mecânico de fácil montagem constituído de dois tubos
maleáveis e sistema de fixação de anilhas. F15B 15/00, F16L 11/12, BR, MU8203338-2, 27
dez. 2002, 15 fev. 2005, Nº da Revista: 1899.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, SIMOES, D. P.; PINOTTI, M.;
MESQUITA, G. A. ; VIMIEIRO, Claysson B. S. ; PINTO, A. D. V. . Telefone público com
regulagem de altura. H04M 17/00, BR, MU8301505-1, 27 maio 2003, 01 mar. 2005, Nº da
Revista: 1899.
VIMIEIRO, C. B. S. Desenvolvimento de um exoesqueleto com aplicação de músculos
artificiais pneumáticos em sua articulação. 2004. 69f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
117
Os desafios da inclusão digital: acesso, capacitação e atitude
Augusto Dutra Galery1
Existem duas posições claras a respeito da inclusão digital, atualmente. Apesar de
ambas serem favoráveis à inclusão, seus objetivos têm se mostrado bastante diferentes.
Por um lado, existe uma pressão econômica justificando a inclusão digital a partir da
necessidade do mercado, ao defender os impactos benéficos do comércio digital, como a
diminuição dos custos e o aumento do público alcançado pelo comércio (cada computador
conectado se torna um ponto de vendas em potencial)2. Mesmo do ponto de vista dos projetos
de governo eletrônico, essa posição econômica aparece claramente, à medida que se defende
que o governo eletrônico é uma forma de universalizar os serviços, diminuindo os custos do
Estado. Além disso, a inclusão digital vem sendo discutida como um dos gaps entre os países
desenvolvidos e os em desenvolvimento, e diversos autores defendem que o avanço
tecnológico mostra-se intrinsecamente ligado ao desenvolvimento econômico de uma nação3.
Contrapõe-se a essa posição econômica uma visão social da inclusão digital, que
defende que o acesso à informação, atualmente, só é possível mediante o acesso ao mundo
digital. A Internet vem tomando um lugar central como repositório do conhecimento humano.
Silveira (2001) afirma que
Para uma pessoa incluída na rede, a navegação estimula a criatividade, permite
realizar pesquisas sobre inúmeros temas e encontrar, com maior velocidade, o
resultado de sua busca. Quem está desconectado desconhece o oceano
informacional, ficando impossibilitado de encontrar uma informação básica, de
descobrir novos temas, de despertar novos interesses (p.17).
Além disso, a Internet significa um espaço democrático,no qual as pessoas podem
expressar sua opinião a quaisquer outras que tenham acesso a um computador conectado, em
toda parte do mundo e, por isso, alguns teóricos, como Lévy (1996), vêem a tecnologia como
um potencial transformador.
Porquanto o embate entre essas duas posições ainda se prolongará por algum tempo –
e admitindo a importância de ambas – propõe-se, no presente texto, discutir um pouco sobre
os principais desafios a serem enfrentados na busca de uma sociedade digitalmente incluída.
1
Mestrando em Administração de Empresas e Professor convidado, Enquadramento Funcional da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
2
Conferir, por exemplo, Haltiwanger e Jarmim (2000), quando afirmam que a emergência do comércio eletrônico afeta a
estrutura da economia, modificando a forma com que os produtos e serviços são produzidos e distribuídos.
3
Conferir, por exemplo, Rogers (2003) e Mokyr (1990).
118
Para isso, far-se-á uma breve revisão teórica sobre o conceito de inclusão digital para, em
seguida, tratar da questão da difusão e adoção da tecnologia, entendendo-se que três fatores
devem ser esclarecidos: o acesso à tecnologia, a capacitação para usá-la e a atitude que as
pessoas têm sobre ela.
1 INCLUSÃO DIGITAL
O conceito de inclusão digital é novo e ainda não se acha sedimentado. Para Silveira
(2001, p.5), a inclusão digital relaciona-se com “prover o acesso dos segmentos mais pobres
da população às tecnologias da informação”. Para esse autor, além de, simplesmente, ter
acesso à tecnologia, faz-se necessário que essa população apresente condições de gerar
conhecimento a partir da acessibilidade à mesma.
A exclusão digital seria, então, a nova face da exclusão social, considerando que a
camada mais pobre da população não tem acesso aos recursos necessários para manter um
computador caseiro ou para conectar-se à Internet, dados os custos a isso relacionados. Ainda
de acordo com Silveira, o apartheid digital diminui as possibilidades de emprego, a
capacidade de comunicação e o acesso e questionamento aos produtores de conhecimento.
Torna-se claro, para esse autor, que a exclusão digital relaciona-se ao uso da Internet:
“A exclusão digital ocorre ao se privar as pessoas de três instrumentos básicos: o computador,
a linha telefônica e o provedor de acesso. O resultado disso é o analfabetismo digital, a
pobreza e a lentidão comunicativa, o isolamento e o impedimento do exercício da inteligência
coletiva” (p.18).
Iikuza (2003) faz uma boa revisão bibliográfica do tema inclusão/exclusão digital,
começando por citar seus “sinônimos”, como digital divide4, apartheid digital, infoexclusão,
os “sem-tela” e digital gap. De acordo com esse autor, o conceito ainda não está bem
consolidado e permite múltiplas interpretações, o que, provavelmente, se deve ao fato de ser
ele um conceito novo, pois a busca de sua compreensão começou com a introdução e difusão
da informática e, em especial, da Internet, na sociedade, a partir de 1980 (idem, 2003, p.36).
Na opinião de Iikuza, o termo exclusão digital “parece remeter a uma compreensão da
marginalidade” (idem, p.38), ou seja, de uma diferenciação entre os que fazem parte do
sistema econômico – os “incluídos” – e aqueles que se encontram à margem desse processo.
Cruz (2004, p.9), escrevendo para o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, afirma que “a inclusão digital deve favorecer a apropriação da tecnologia, (...) que
4
A tradução “divisão digital” será utilizada durante o presente texto.
119
torna o indivíduo capaz de decidir quando, como e para que utilizá-la”. Além do Instituto
Ethos, outras organizações brasileiras têm se voltado para a questão da inclusão digital. O
Comitê para Democratização da Informática (CDI) define sua missão como sendo a de
“promover a inclusão social de populações menos favorecidas, utilizando as tecnologias da
informação e comunicação como um instrumento para a construção e o exercício da
cidadania” (CDI, 2004). De acordo com essa organização, a inclusão digital vincula-se à
empregabilidade, à geração de renda, ao acesso à informação e à cidadania.
A Camara e-net afirma que a universalização do acesso às pessoas físicas, por meio da
inclusão digital via escolas, centros comunitários, bibliotecas e diversos outros, traria como
benefícios: 1) a evolução de outros processos de relacionamentos digitais; 2) a redução de
custos e a otimização de processos, em especial para as empresas e o governo; 3) o aumento
da possibilidade de contato e troca de informações entre os indivíduos, possibilitando, a um
tempo, desenvolvimento pessoal e profissional; 4) comodidade, praticidade, agilidade e
segurança no acesso a serviços públicos e privados e à cultura e 5) apoio ao processo
educacional (CAMARA E-NET, 2003).
Fora do Brasil, o presente tema vem sendo tratado como o gap de oportunidades,
experimentado por aqueles que têm um acesso limitado à tecnologia, seja por causas
econômicas, educacionais, físicas ou culturais. Tal fenômeno tem sido chamado de divisão
digital (DIMAIO, BAUM e KELLER, 2002, p.2). Uma tendência entre autores estrangeiros é
ver o fenômeno como multidimensional. Cuneo (2002) propõe, de forma bastante completa,
doze dimensões para se entender a exclusão digital: demográfica; geográfica/engenharia;
gerontológica; de gênero; educacional; econômica; sociológica; do trabalho; cultural, de
deficiências físicas; política e psicológica.
Em resumo, entendendo-se a inclusão digital como a utilização da tecnologia para
maior inclusão social. Seja por fatores econômicos ou sociais, faz-se necessário entender o
que leva os indivíduos a adotarem uma tecnologia.
2. ADOÇÃO DE TECNOLOGIA
“Fazer uma nova ideia ser adotada, mesmo quando ela tenha vantagens óbvias, é
difícil”. Dessa forma, Rogers (2003, p.1, tradução nossa) começa seu livro sobre a difusão de
inovações. Ele escreve ainda
Difusão é um tipo de mudança social, definida como o processo através do
qual ocorrem alterações na estrutura e na função de um sistema social.
Quando novas ideias são inventadas, difundidas, adotadas ou rejeitadas,
120
levando a determinadas consequências, ocorre uma mudança social (idem,
p.6, tradução nossa).
Assim, a inclusão digital pode ser entendida como a difusão das tecnologias digitais,
em especial da Internet, dentro de sistemas sociais. “Um sistema social é definido como o
conjunto de unidades interrelacionadas que se unem na resolução de problemas para alcançar
uma meta comum” (idem, p.23, tradução nossa).
O processo de adoção que leva à difusão de uma tecnologia, a partir das atividades do
adotante, reúne cinco etapas: (1) conhecimento: tomada de conhecimento sobre uma
inovação; (2) persuasão: formação da atitude, positiva ou negativa, a respeito da inovação; (3)
decisão: decisão de adotá-la ou rejeitá-la; (4) implementação: uso da nova tecnologia e (5)
confirmação: reforço ou abandono da decisão de uso.
Moore (1999) ressalta que o papel do indivíduo e da comunidade é essencial para a
adoção. O autor afirma que “a tecnologia é absorvida em uma dada comunidade em estágios
correspondentes aos perfis psicológicos e sociais dos vários segmentos dentro desta
comunidade” (idem).
Pereira (2002) argumenta que a adoção de tecnologia deve ser estudada do ponto de
vista do adotante e não das atividades de implantação ou de fatores ligados à tecnologia em si.
Para esse autor, a adoção é um processo de sensemaking5 que não começa com a adoção da
tecnologia em si, mas “com a formação das percepções iniciais e representações simbólicas da
tecnologia” (idem, p.41, tradução nossa). Ou seja, a adoção ou não de uma tecnologia depende
dos sistemas de crenças e cognições do futuro usuário. Segundo o autor, as atitudes a respeito
da adoção formam-se em experiências passadas ou provêm de experiências com tecnologias
similares, não só ditando o comportamento em relação a uma adoção atual, como também
moldando, em parte, a forma pela qual um indivíduo vê a si mesmo – sua identidade. Essas
atitudes podem se formar a partir de feedbacks recebidos no passado, de suas ações ou de sua
observação das ações de outros e de sua reflexão sobre suas percepções (idem, p.42).
Bloch, Pigneur e Segev (1996) definem alguns dos fatores ligados à adoção de uma
nova tecnologia pelos consumidores (Figura 1).
5
Sensemaking seria o “processo cíclico de tomar uma ação, extrair informações dos estímulos resultantes dessa
ação e incorporar tais informações e estímulos dessa ação nos modelos mentais que guiarão novas ações”
(PEREIRA, 2002, p.40).
121
Barreiras de Uso
• Necessidade de infra-estrutura para dar suporte à tecnologia
• Aspectos percebidos a respeito da nova tecnologia
• Curva de aprendizagem
Fornecedores
• Propensão a investir
• Propaganda
• Fragmentação do
market share do
fornecedor
Tecnologia
• Benefícios percebidos
• Custos diretos
• Custos indiretos (p.e. treinamento)
Clientes
• Taxa de renovação para
produtos substituídos
• Resistência à mudança
• Experiências passadas
com produtos similares
Soluções Alternativas
• Tecnologias concorrentes
Figura 1. Fatores que afetam a adoção de novas tecnologias
Fonte: Bloch; Pigneur; Seveg, 1996
Esses autores chamam a atenção para o fato de que a relutância das pessoas em mudar
(resistência às mudanças) representa uma questão-chave na adoção. Morris e Venkatesh
(2000) apontam que existem evidências significativas de que a atitude diante da tecnologia
influencia sua adoção, de forma veemente, seja em curto ou em longo prazo, principalmente
entre usuários jovens.
A partir dos conceitos de inclusão digital e adoção de tecnologia, acredita-se que, ao se
pensar em estratégias de inclusão digital, as estratégias a se traçarem precisam ser planejadas
e avaliadas a partir de, pelo menos, três variáveis centrais: o acesso à tecnologia, a
capacitação para seu uso e a atitude das pessoas em relação a esta.
3. ACESSO À TECNOLOGIA
O acesso à tecnologia é a dimensão mais considerada nas estratégias de inclusão
digital e, sem dúvida, seu pilar central. Por isso, o acesso constitui parte determinante de
políticas de inclusão digital governamentais, em todos os níveis.
Por acesso, é preciso entender desde o barateamento das tecnologias até os
investimentos em infraestrutura tecnológica, passando pela implantação de telecentros,
montagem de laboratórios de informática nas escolas públicas e privadas, além de outras
iniciativas. Albertin (In CAMARA-E.NET, 2003, p.18) define essa infraestrutura como a
implantação da infovia pública, ou seja, de uma
122
rede formada tanto pela Internet como pelos serviços on-line que tenham
ligações com esta, sendo que a ênfase é no acesso livre e de baixo custo e na
integração entre os vários ambientes [governo, sociedade, educação,
iniciativa privada] sem nenhuma restrição, incluindo desde os terminais
mais simples de acesso até meios de comunicações mais sofisticados para
grandes volumes de informações.
4. CAPACITAÇÃO PARA O USO DA TECNOLOGIA
Tanto a bibliografia sobre adoção de tecnologia, quanto aquela sobre inclusão digital,
reconhece o importante papel da capacitação para sua viabilização. Moore (1999), por
exemplo, ao discutir a difusão de uma nova tecnologia, afirma que a ausência de habilidade de
um indivíduo para utilizá-la o levará a postergar seu uso.
Autores que debatem a inclusão digital também veem na capacitação um de seus mais
essenciais pilares. Silveira (2001) afirma que, se não houver uma política de capacitação, os
resultados das estratégias de acesso serão pífios (p.22). Tanto para esse autor quanto para
Warschauer (2003), tal capacitação começa na educação e na alfabetização, além do
treinamento para o uso da tecnologia em si.
Ao mesmo tempo, as entidades voltadas para a inclusão digital colocam a capacitação
como uma das políticas para uma inclusão efetiva. A Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) enfatiza que a educação e o treinamento devem constituir políticas
nacionais para o combate à exclusão digital.
De acordo com Weil-Barais (1999), existem múltiplas formas de aprendizagem, indo
desde o reconhecimento à aprendizagem por instrução. Entre as formas de aprendizagem
classicamente distinguidas, Weil-Barais (1999, p.461) concentrar-se-á aqui em três formas,
por estarem associadas ao tipo de aprendizagem que se encontra na prática, quando se fala em
capacitação para o uso de tecnologia: a aprendizagem por meio da ação, a aprendizagem por
observação e imitação e a aprendizagem por instrução.
A aprendizagem por meio da ação ocorre quando “a aquisição de novos
conhecimentos pode ser atribuída à ação do sujeito, fonte de novas informações” (idem,
p.477). Assim, essa forma de capacitação se dá na interação do indivíduo que aprende e o
objeto da aprendizagem, diretamente.
A aprendizagem por observação e imitação permite o acesso à cultura dos diferentes
grupos sociais em que estamos inseridos. Aprendemos ao observar uma sequência de eventos
– um “modelo” – e somos capazes de reproduzir essa sequência na ausência do modelo. A
123
imitação é definida, por Weil-Barais, como “a utilização intencional de uma ação observada
por alguém (...) para atender seus próprios objetivos” (p.483).
Por fim, a aprendizagem por instrução “agrupa diversas formas de aprendizagem (os
tutoramentos, os cursos, os trabalhos práticos...), caracterizadas pelo fato de que um expert ou
grupo de experts (...) tem a função de transmitir aos novatos (os alunos) o conhecimento que
esses não possuíam a princípio” (idem, p. 491).
5. ATITUDE DIANTE A TECNOLOGIA
Rodrigues (1979) define atitude como “uma organização duradoura de crenças e
cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que
predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a este objeto” (p.397).
A definição de atitude criada por Rodrigues implica que ela reúne três componentes
formadores:
a) Componente Cognitivo
A atitude é um conjunto de crenças e cognições. Isso significa que nossas ideias sobre
determinado objeto – verdadeiras ou não – predispõem nossos comportamentos. Quanto mais
forte é o sistema de crenças e cognições que um indivíduo tem a respeito de um objeto – ou
seja, quanto maior o conhecimento (correto ou errôneo) que tem desse objeto –, mais intensa
será sua atitude em relação ao objeto. O grau de conhecimento de um objeto é essencial para
se entender a atitude em relação ao mesmo e extremamente importante para se traçarem
estratégias de adoção.
b) Componente Afetivo
Rodrigues (1979) afirma que, sobre determinado sistema de cognições, pode haver
uma carga afetiva pró ou contra um objeto social. Essa carga pode ter sido formada a partir de
experiências concretas no mundo (por exemplo, uma punição recebida por determinado
comportamento) ou por experiências simbólicas (por exemplo, participar de um grupo que
tem preconceitos raciais pode levar a atitudes preconceituosas).
Young; Flügel et al (1967) atribuem às atitudes o caráter direcionador de
comportamento por causa do valor afetivo, positivo ou negativo, em relação ao objeto social.
c) Componente Comportamental
Não é consenso se as atitudes são predisposições para determinados comportamentos
ou se elas são as forças motivadoras propriamente ditas. No entanto, é certo que atitudes e
124
comportamentos são fortemente ligados. Newcomb et al citado por Rodrigues (1979)
representam a relação entre atitudes e comportamentos, de acordo com a figura abaixo:
Experiências da
pessoa
Atitudes atuais
da pessoa
Situação atual
Comportamento
da pessoa
Figura 2: O Papel das atitudes na determinação do comportamento
Adaptado de Newcomb por Rodrigues, 1979.
O componente comportamental é o componente visível e facilmente observável de
uma atitude. Ele é congruente com os componentes afetivo e cognitivo.
Bem (1970) sugere que, além dos três componentes propostos por Rodrigues, a
interação com outras pessoas forma o componente social das atitudes. Isso porque os grupos
de pertença (família, escola, organizações de que um indivíduo participa etc.) desempenham
um papel decisivo na formação das atitudes, pois o compartilhamento dessas atitudes é
essencial para a aceitação do indivíduo pelo grupo e, assim, para a sensação de pertencimento
nesse grupo.
6 OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DIGITAL
Ao se apresentar essas variáveis a serem contempladas nos projetos de inclusão
digital, pode-se perceber melhor os desafios que tais projetos devem enfrentar, para serem
bem-sucedidos.
A questão do acesso à tecnologia pela população de baixa renda parece constituir a
tônica das políticas públicas para promover a inclusão digital. Iniciativas importantes, tanto
federais – como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), que
garantiu o acesso ao serviço telefônico para as populações de áreas remotas (FOLHA DE
SÃO PAULO, 2007) – quanto estaduais e municipais, como a crescente implantação de
Centros Comunitários de Acesso à Internet (OPPI, 2007)6, vêm garantindo a infraestrutura
necessária para a população obter acesso à tecnologia. No entanto, se, por um lado, esses
investimentos ainda não se mostram satisfatórios na construção de uma infovia de custo baixo
6
A esse respeito, ver AQUINO, 2007.
125
e acessível em qualquer ponto do país, por outro, faz-se necessário mais do que infraestrutura
para que haja a adoção da tecnologia pela população.
Baggio (2007) afirma: “Não se trata de disseminar o computador, mas de dar um
sentido ao seu uso como meio e suporte para a inclusão social e o desenvolvimento
sustentável”. E conclui:
Faltam-nos não somente políticas públicas de inclusão digital e
investimentos em infraestrutura tecnológica, mas a adoção de um modelo de
inclusão que propicie às comunidades de baixa renda habilidades de manejo
crítico da tecnologia (BAGGIO, 2007).
A questão da capacitação para o uso de tecnologia, em especial do microcomputador,
constitui um grande desafio ainda a ser solucionado. Os modelos de aprendizagem por
instrução formal parecem menos eficazes para essa capacitação, principalmente entre os
adultos e os idosos. É necessário construir um modelo mental exclusivo para a Internet, sem
usar metáforas como a máquina de escrever, a calculadora ou uma enciclopédia. Qualquer
uma dessas metáforas é reducionista e não leva ao pleno entendimento das possibilidades de
uso reais das novas tecnologias. É preciso inovar a forma de ensino para que as pessoas
tornem-se capazes de utilizar tanto as informações disponíveis quanto os recursos de
socialização e de desenvolvimento, contidos em um computador conectado à Internet.
Por fim, é necessário investir em campanhas e políticas que visem modificar as
crenças e cognições que o público em geral mostra a respeito dos microcomputadores e da
Internet, ou seja, tornar suas atitudes mais positivas em relação à tecnologia. DiMaio, Baum e
Keller (2002, p.4), por exemplo, citam as comunidades que “não querem, mais do que não
têm, acesso à tecnologia”. Em seguida, eles apontam diversos “medos” que fazem parte das
crenças e cognições dessas comunidades: falhas na proteção dos dados, cenários “grande
irmão”7, ruptura social e desemprego (idem).
Em nossa pesquisa (Galery, 2005) sobre a atitude como fator de adoção de tecnologia,
descobriu-se que uma das grandes barreiras para o uso do computador, nas populações de
baixa renda, é a visão de que se trata de uma atividade complexa em uma máquina frágil, que
se quebra facilmente. Apesar de essas populações demonstrarem interesse e curiosidade a
respeito do uso, há um sentimento de medo em relação ao computador que precisa ser
modificado, para facilitar a capacitação e o acesso.
7
“Grande Irmão” foi tirado do livro 1984, de George Orwell, no qual todos os indivíduos eram constantemente
vigiados por um computador central – o Grande Irmão – em prejuízo da privacidade comum.
126
Por outro lado, viu-se também que, nessas populações, as pessoas mostram dificuldade
de vincular o uso do computador ao seu dia-a-dia. O computador é associado a atividades
vistas como “superiores”, enquanto que essas populações percebem seu trabalho como
“simplório”. Essa falta de vínculo com o dia-a-dia vem sendo apontada como uma das causas
da baixa utilização dos telecentros e infocentros, relacionadas inclusive ao desmonte de
laboratórios, venda dos computadores recebidos e outros comportamentos semelhantes.
É necessário levar as pessoas de baixa renda a perceberem que o computador não se
acha vinculado a uma atividade econômica sofisticada, mas pelo contrário, que se trata de um
instrumento de conhecimento muito mais importante que, por exemplo, a televisão, por suas
características de interatividade, que dão maior escolha quanto às fontes de informação e à
efetiva participação. Por meio da Internet, uma pessoa pode realmente expor sua opinião, em
vez de figurar apenas como “estatística” de votações telefônicas, como as realizadas nos
reality shows. Ser um incluído digital significa ter maior acesso às fontes de informação e
fazer ouvir a própria voz.
É preciso, enfim, que a política de inclusão digital, mais que uma importância apenas
estatística (quantos computadores foram disponibilizados, quanto foi investido nas infovias)
se volte para um projeto maior – o da inclusão social.
REFERÊNCIAS
ALBERTIN, A. L., GALERY, A. O Indivíduo e a Tecnologia de Informação: propondo um
modelo de adoção de tecnologia para a inclusão digital. São Paulo: Núcleo de Publicações e
Pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas –
FGV/EAESP, 2004(a).
AQUINO, Y. Pesquisa mostra aumento no número de pontos de inclusão digital no país. OPPI,
2007. Disponível em <http://www.oppi.org.br/apc-aa-infoinclusao/infoinclusao/busca_results.shtml?
x=1318&slice_id=28c0788efe23f406d0fb3502b147f3e7>. Acesso em 04/06/07.
BAGGIO, R. (org.). Mapa da Exclusão Digital. Rio de Janeiro: CDI/FGV, 2003. Disponível na
Internet em <http://www.cdi.org.br/inst/port/f_med.htm>. Acesso em 22/12/2003.
BAGGIO, R. O silêncio dos que não navegam. CDI/O Globo, 2007. Disponível na Internet em
<http://www.cdi.org.br/cdi/opencms/site/regionais/matriz/noticias/ show.jsp? id_artigo=882 >.
Acesso em 04/06/2007
BLOCH, Michael; PIGNEUR, Yves e SEGEV, Arie. On the road of Eletronic Commerce – a
business value framework, gaining competitive advantage and some research issues. 1996.
Disponível em <http://www.hec.unil.ch/yp/Pub/ROAD_EC/EC.HTM>, acesso em 25/05/2004.
CAMARA E-NET. E-Brasil. Propostas para uma Política Nacional de Tecnologia da Informação e
Comércio Eletrônico. São Paulo: Câmara-e.net/FGV-EAESP, 2003.
127
CDI. Comitê para Democratização da Internet. Disponível em <http://www.cdi.org.br/>, acesso em
25/05/2004.
CRUZ, R. O que as empresas podem fazer pela inclusão digital. São Paulo: Instituto Ethos, 2004.
CUNEO, C. Globalized and Localized Digital Divides Along the Information Highway: A Fragile
Synthesis Across Bridges, Ramps, Cloverleaves, and Ladders. IN THE 33th ANNUAL SOROKIN
LECTURE, 33., 2002, Ontário. Paper apresentado… Ontário: University of Saskatchewan, 2002, p. 179. Disponível em <http://www.humanities.mcmaster.ca/~global/wps/Cuneo022.PDF>, acesso em
02/02/2005.
DiMAIO, A.; BAUM, C. e KELLER, B. Five truths and five myths to cross the digital divide.
Tactical Guidelines, TG-14-3578 Research Note Gartner Research, 1º/Fevereiro/2002.
GALERY, A. D. A Atitude como fator de adoção de tecnologia. 2005. Dissertação (Mestrado em
Administração) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas,
São Paulo, 2005.
GALERY, A. D.; ALBERTIN, A. L. Inclusão Digital. IN ALBERTIN, A. L.; MOURA, R. M. (org.).
Tecnologia de Informação. São Paulo: Atlas, 2004, p. 242-254.
Governo quer verba do Fust no Tesouro. Jornal Folha de São Paulo, edição eletrônica de 02 de
junho
de
2007,
sessão
Dinheiro.
Disponível
na
Internet
em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0206200729.htm>. Acesso em 04/06/2007.
HALTIWANGER, J.; JARMIM, R. S. Measuring the Digital Economy. IN BRYNJOLFSSON, E.;
KAHIN, B (Ed.). Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research. Cambridge: The
MIT Press, 2000, p. 13-33.
IIKUZA, E. S. Um estudo exploratório sobre a exclusão digital e as organizações sem fins
lucrativos da cidade de São Paulo. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2003.
LÉVY, Pierre. (1996), O que É o Virtual?. Rio de Janeiro, Editora 34.
MOKYR, J. The lever of riches : technological creativity and economic progress. New York:
Oxford University Press, 1990, IX.
MOORE, G. A. Crossing the chasm. Ed. Rev. Nova Iorque: HarperBusiness Essentials, 1999.
MORRIS, M. G.; VENKATESH, V. Age differences in technological adoption decisions:
Implications for a changing work force. Personnel Psychology, vol. 53, n. 2, Summer 2000,
ABI/INFORM Global, p. 375-403.
OECD.
Understanding
the
Digital
Divide.
Paris,
2001.
Disponível
<http://lacnet.unicttaskforce.org/Docs/OECD/Understanding%20the%20Digital%20Divide.pdf>,
acesso em 06/08/2004.
em
OLIVEIRA, L. C. A.; CUNHA, M. A. V. C.; SANTOS FILHO, H. P. A Tecnologia da Informação
na relação entre o Estado e o Cidadão: A expectativa dos excluídos digitais num estudo de caso
no Estado do Paraná. In ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 27, 2003, Atibaia. Anais
eletrônicos... Atibaia: ANPAD, 2003, p. 1-16. 1 CD-ROM.
128
OPPI.
Observatório
de
Políticas
Públicas
de
Infoinclusão.
<http://www.infoinclusao.org.br/index.asp >, acesso em 04/06/2007.
Disponível
em
PEREIRA, R. E. An adopter-centered approach to understanding adoption of innovations.
European Journal of Innovation Management. Vol. 5, n. 1, 2002, p. 40-49
RODRIGUES, A. Psicologia Social. 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 1979.
ROGERS, E. M. Diffusion of innovations. 5th ed. Londres: Free Press, 2003.
SILVEIRA, H. F. R. Internet, Governo e Cidadania. Ci. Inf. Brasíla, v. 30, n. 2, p. 80-90, mai/ago,
2001
SILVEIRA, S. A. Exclusão Digital. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
SILVEIRA, S. A. e CASSINO, J. (orgs). Software livre e inclusão digital. São Paulo: Conrad, 2003.
TAKAHASHI, T. (org). Sociedade da Informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério da
Ciência e Tecnologia, 2000.
WARSCHAUER, Mark. Technology and Social Inclusion: rethinking the digital divide.
Cambridge (USA): MIT Press, 2003.
WEIL-BARAIS, Annick. L´Homme Cognitif. 5ème ed. rev. Paris: PUF, 1999.
YOUNG, K. Concepto de Actitud. IN YOUNG, K., FLÜGEL, J. C. et al. Psicologia de las actitudes.
Buenos Aires: Paidós, 1967, p. 7-8.
129
As Potencialidades da Economia Solidária: Práticas das
Universidades
Sonia Maria Rocha Heckert8
1 INTRODUÇÃO
A agenda de construção de uma sociedade inclusiva requer a opção por estratégias de
desenvolvimento e de emancipação social. Com o objetivo de refletir, mais do que apresentar
respostas, o eixo temático dessa nossa exposição se restringe a uma, dentre as políticas
desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho, no âmbito da Secretaria Nacional de Economia
Solidária, que tem se colocado nessa perspectiva.
Ao focar o tema, buscamos uma abordagem com vistas à compreensão crítica do
trabalho, em suas transformações, em seu sentido e implicações para o desenvolvimento
humano, e, em suas possibilidades, como vetor de construção de uma sociedade solidária,
justa e sustentável. Segundo Boaventura, a tarefa para o século XXI é lutar e pensar, de forma
urgente, por duas razões, alternativas econômicas e sociais. A primeira passa pelo pensamento
de que a não existência de alternativas ao capitalismo nunca assumiu um nível de aceitação
tão grande. Em segundo lugar, a reinvenção por formas alternativas é urgente já que as
concepções representadas pelas economias socialistas centralizadas se tornaram inviáveis.
Dessa forma,
o que se pretende, então, é centrar a atenção simultaneamente na
viabilidade e no potencial emancipatório das múltiplas alternativas
que têm sido formuladas e praticadas um pouco por todo mundo e
que representam formas de organização econômica baseadas na
igualdade, na solidariedade e na proteção ao meio ambiente
(SANTOS, 2002, p.25).
Segundo o mesmo autor, a insistência na viabilidade das alternativas não implica uma
aceitação do que há. “A afirmação fundamental do pensamento crítico consiste na asserção de
que a realidade não se reduz ao que existe. A realidade é um campo de possibilidades em que
têm cabimento alternativas que foram marginalizadas ou que nem sequer foram tentadas”
(SANTOS, 2000, apud SANTOS, 2002).
Entre essas, destacamos as práticas cooperativas que, nos últimos anos, têm suscitado
um renovado interesse. Acadêmicos, organizações não governamentais, governos
8
Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Economia Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego –
Brasília; Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora.
130
progressistas têm recorrido de forma crescente a essas práticas, desenvolvendo-se mais
intensamente a economia solidária, no Brasil, a partir da última década do século passado.
Esta se caracteriza por práticas coletivas, de geração de trabalho e renda, fundada em relações
de cooperação, solidariedade e autogestão dos trabalhadores que se organizam em
cooperativas, associações, redes, cadeias etc. A Economia Solidária “compreende um
conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito
– organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma
coletiva e autogestionária” (ATLAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL, 2006).
Confirma esse crescimento e avanço, a criação de uma Secretaria Nacional de
Economia Solidária (SENAES), em junho de 2003, regulamentada pela Lei 10.683, de 28 de
maio de 2003, além do conjunto de iniciativas governamentais que vêm desenvolvendo
políticas de apoio e fomento à economia solidária.
Nosso objetivo, ao delimitar o tema, organiza-se em torno de duas partes. A primeira,
na qual tentamos articular as políticas públicas de economia solidária em seu potencial
emancipatório e como estratégia de inclusão e desenvolvimento. Na segunda, apresentamos
uma entre as ações apoiadas pela SENAES com essa identidade, seguida das Considerações
Finais.
2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
2.1 INCLUSÃO SOCIAL PELA GERAÇÃO DO TRABALHO EMANCIPADO
A questão da inclusão/exclusão tem sido tratada, via políticas públicas, por diversos
setores. O binômio exclusão/inclusão aplica-se também nas análises sobre as transformações
no mundo do trabalho, gerando desemprego de significativas parcelas da população. Aí a
exclusão é entendida na ação de pôr fora o que estava dentro, vitimando os trabalhadores de
processos sociais, políticos e econômicos excludentes.
Quando nos deparamos com um processo de extrema desigualdade na distribuição de
oportunidades produzidas na e pela sociedade, não cabe pensar a inclusão somente com
políticas compensatórias. Também, não podemos reduzi-la a obtenção de respostas de
inserção, precárias, no sistema econômico – estas ocorrem, por exemplo, quando o
trabalhador depara-se com situações em que recebe algo que garanta sua sobrevivência, mas
em atividades que comprometem sua dignidade. Devemos sim buscar novos caminhos, que
131
possam permitir outras relações de produção e consumo, pois a inclusão é o movimento pelos
direitos de os seres humanos participarem da vida pública sem qualquer restrição. A inclusão
não se restringe à esfera econômica, mas deve responder à necessidade do trabalhador, que é
também ética e política.
Nossa prioridade são políticas públicas que possam colocar o trabalho como fator
dinamizador da inclusão social. Nessa busca, citamos Singer, ao propor “oferecer à massa dos
excluídos uma oportunidade real de se reinserir na economia por sua própria iniciativa,
estimulando a criação de cooperativas para os ex-desempregados, uma solução não capitalista
p ara um problema capitalista” (SINGER, 1999, p.122). São formas de trabalho diferenciadas,
à medida que buscam a cidadania e o desenvolvimento humano. A propósito, a I Conferência
Nacional de Economia Solidária aponta que:
as políticas de economia solidária integram a construção de um Estado Republicano
e Democrático, ao reconhecerem a existência de sujeitos historicamente
organizados, porém excluídos, de novos direitos e novas formas de produção,
reprodução e distribuição social, propiciando-lhes bens e recursos públicos para o
seu desenvolvimento, tal qual faz a outros segmentos sociais (ANAIS..., 2006,
p.14).
Essa é a proposta da economia solidária. Constituem experiências muito recentes no
país, cujas metodologias se encontram em processo de experimentação. Apesar do
crescimento de gestores sensibilizados com o tema, é um setor ainda invisível para a maioria
dos governos estaduais e municipais.
Em se tratando de política ainda em construção e em razão da diversidade de contextos
nas quais é implementada, não encontra unanimidade na concepção, no seu nível de
estruturação e no lugar destinado na arquitetura governamental. “Tal diversidade reflete ainda
a forma de apropriação do tema da economia solidária em cada lugar, que está relacionado às
diferentes concepções de política pública neste campo...” (FRANÇA, 2006, p.260). Cabe
ainda ressaltar sua herança como política pública voltada para o trabalho, ao inaugurar uma
nova preocupação para além da noção exclusiva do emprego. Com efeito, as políticas
anteriores não inserem geração de trabalho e renda fora do paradigma da relação assalariada
clássica.
Embora recentes, essas políticas são portadoras de potenciais maiores que estão a
despontar: os princípios da cooperação e da solidariedade, por exemplo, não se restringem à
esfera das relações no empreendimento econômico solidário. Elas se ampliam com
ressonâncias nas relações de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, ecológicas, de
132
minoria. O princípio da autogestão torna-se uma dinâmica geradora da inclusão, à medida que
supera ações individualistas e outras que norteiam o trabalho subordinado; a intercooperação,
manifestada por meio das redes e parcerias, forja um mercado solidário, reinstalando as trocas
cooperativas com o território e sua população, entre os limites ecológicos e éticos.
A realização da 1ª Conferência Nacional de Economia Solidária em 2006 e a
instalação do Conselho Nacional representam um espaço importante para a definição e o
fortalecimento das políticas públicas nesta área.
2.2. A ECONOMIA SOLIDÁRIA: ESTRATÉGIA E POLÍTICA DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO
Reafirmando, a economia solidária é uma resposta organizada às situações de
vulnerabilidade impostas aos trabalhadores, que não desejam uma sociedade movida pela
competição, mas almejam a construção de novas formas de relações. Em outras palavras, é
uma proposta de inclusão social que além do viés econômico, é ética e política e demanda a
transformação social. Mas é também uma política de indução de processos de organização e
desenvolvimento.
Atuando, portanto em tecidos organizativos locais profundamente fragilizados, tais
políticas buscam em primeiro lugar estimular processos de auto-organização
coletiva. Elas induzem à organização dos grupos sociais nos territórios como
primeiro passo para uma tentativa de construção de processos mais sustentáveis de
desenvolvimento. É assim, por exemplo, através das ações de organização de
grupos informais e redes sociais, além das iniciativas de apoio ao associativismo e
cooperativismo (FRANÇA, 2006, p.266).
A economia solidária avança, inserindo iniciativas isoladas em cadeias, redes e
articulações com processos de desenvolvimento locais e territoriais. Dessa forma, as políticas
de economia solidária não podem ser avaliadas apenas em sua dimensão econômica. As suas
potencialidades vão além, afirmando-se como estratégia estruturante de um outro
desenvolvimento, socialmente humano e ecologicamente sustentável.
A SENAES tem apoiado o fortalecimento de várias dessas iniciativas, potencializando
ações, ampliando ações convergentes já existentes, que possam legitimar e dar
sustentabilidade, em longo prazo, a essa política. Destacamos nesta apresentação, as
desenvolvidas por universidades de diversas regiões do país, que criam um contexto favorável
133
ao desenvolvimento da economia solidária no meio acadêmico. São as Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares e/ou de Empreendimentos Econômicos Solidários.
A economia solidária vem crescendo de maneira muito rápida, não apenas no Brasil,
mas também em diversos países. O Atlas da Economia Solidária no Brasil, lançado pela
SENAES, em 2006, nos apresenta o seguinte panorama: 14.954 empreendimentos, em que
trabalham 1.251.882 pessoas, das quais 65% são homens e 35% são mulheres. Desses
empreendimentos, 44% estão no Nordeste, 17% no Sul, 14% no Sudeste, 13 % no Norte e
12% no Centro-oeste. Quanto à forma de organização, prevalecem as associações. A maioria
dos empreendimentos dedica-se à agricultura e pecuária (64%), prestação de serviços (14%),
produção de alimentos (13%), indústria têxtil, de confecções e calçados (12%), artesanato
(9%), indústria de transformação (6%) e reciclagem de resíduos sólidos (4%) e finanças (2%).
O crescimento dos empreendimentos é acompanhado pela ampliação de entidades que
oferecem assessoria e fomento, a exemplo das ONGs, fundações, igrejas, universidades,
gestões públicas municipais e estaduais, entidades de representação.
São práticas ainda frágeis ou incipientes, mas que nascem efetivamente com uma
proposta de inclusão social. Buscam a emancipação, o desenvolvimento humano, a
democracia e a equidade, a organização dos grupos e o fortalecimento das redes sociais e
políticas, com o fomento ao associativismo local. Em outras palavras, a prática da autogestão
solidária e cooperativa viabiliza a inclusão de pessoas no processo produtivo e rompe com as
atitudes de subordinadas e alienadas do trabalhador, pela longa vivência no trabalho
subordinado.
3.
PRÁTICAS
INCLUSIVAS:
A
HISTÓRIA
DAS
INCUBADORAS
UNIVERSITÁRIAS
Os estudos e debates no âmbito do movimento de economia solidária têm apontado,
entre as demandas dos empreendimentos econômicos solidários, o acesso a novas tecnologias,
o domínio de conhecimentos em gestão de negócios, o apoio técnico e administrativo para
garantia de melhor posicionamento de seus produtos no mercado. Essa necessidade vem
reforçar a tese de que o desenvolvimento de um modo de produção solidário demanda uma
formação continuada. Em nossos dias, várias entidades de apoio, assessoria e fomento têm se
dedicado a responder essa demanda. O Atlas da Economia Solidária, acima referenciado,
identifica 1.120 organizações com esse propósito, entre as quais, destacamos as incubadoras.
134
As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, das universidades, têm suas
raízes em movimentos como a Ação da Cidadania, quando em meio à extrema pobreza de
camadas significativas, principalmente dos grandes centros urbanos brasileiros, o saudoso
sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, conclamou todos a agirem “contra a miséria e pela
vida”. A inserção das entidades públicas, nessa proposta, deu origem, em 1993, no Rio de
Janeiro, ao comitê no Combate à Fome e pela Vida (COEP), com o objetivo de incentivar
ações de combate à fome e geração de trabalho e renda para esses segmentos da população.
A experiência piloto foi a de formação da Cooperativa de Manguinhos, junto à
Fundação Oswaldo Cruz, desenvolvida pela COPPE/UFRJ, com apoio do COEP. Nasceu daí
a primeira incubadora, em 1995. A partir desse momento, ao lado das incubadoras de base
tecnológica, familiares ao meio acadêmico, começa a se esboçar a primeira incubadora
tecnológica de cooperativas populares.
O desenvolvimento do trabalho de forma mais dinâmica e abrangente, na baixada
fluminense e favelas do Rio de Janeiro, e os resultados obtidos tornaram-se parâmetros para
subsidiar as experiências de outras universidades. Também embasaram a criação do Programa
Nacional de Incubadoras de Cooperativas (PRONINC), envolvendo a Financiadora de
Estudos e Projetos, a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o COEP e a
ITCP/COPPE/UFRJ.
Os incentivos do PRONINC resultaram nas ações de outras cinco universidades do
país, a partir de 1998. Nesse momento, foram beneficiadas as incubadoras das Universidades
Federal do Ceará (UFC), Federal Rural de Pernambuco (UFRP), Federal de Juiz de Fora
(UFJF), Estadual da Bahia (UNEB) e Estadual de São Paulo(USP). A articulação e a troca de
experiências entre elas e, em especial, o apoio técnico da incubadora pioneira, permitiram
caminhar, apesar de inúmeras dificuldades, que iam desde as indagações metodológicas do
próprio processo da incubagem, até aquelas inerentes à academia, que, a partir das equipes das
incubadoras, passa a se defrontar com um público até então não priorizado em seu meio.
Apesar dos grupos incubados esboçarem os primeiros passos, o programa teve sua
continuidade comprometida pela falta de recursos, tendo sido contratado um segundo apoio
em 2000, apenas para duas (UFC e UFJF), entre as universidades contempladas inicialmente.
Não obstante, a partir das seis incubadoras apoiadas pelo PRONINC surgiram outras
nove ITCPs e diversos núcleos universitários inspirados nessa atividade. A ideia das
incubadoras teve grande receptividade em diversos locais e algumas universidades assumiram
essa proposta, como uma atividade de extensão de grande importância. As iniciativas de
incubadoras e núcleos universitários que surgiram após esse primeiro momento do PRONINC
135
nasceram a partir da troca de experiências e, geralmente, vinculadas a duas redes
universitárias: a Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e a Rede da
UNITRABALHO.
3.1. A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO/SENAES E A
EXPANSÃO DO PROGRAMA
No segundo semestre de 2003, diante do êxito da primeira edição do PRONINC e com
a institucionalização da política de economia solidária no Ministério do Trabalho e Emprego,
a recém-criada Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Financiadora de Estudos e
Projetos, a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil e o Comitê de Entidades no
Combate à Fome e pela Vida decidiram reativar o programa como resposta às demandas das
incubadoras por meio das redes.
Essas entidades se organizaram em um Comitê Gestor do Programa, com a
participação de representantes das duas redes, na condição de convidados. O secretário de
Economia Solidária do MTE foi designado coordenador. No decorrer do período, entre 2005 e
2006, o comitê foi significativamente ampliado, com a integração de representantes do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Coordenação de Saúde
Mental/Ministério da Saúde e da SESU/Ministério da Educação. Nos últimos meses, o
diálogo formalizado com o Fórum de Pró-reitores de Extensão das universidades poderá dar
oportunidade à ampliação e ao avanço das ações.
O Comitê Gestor do PRONINC reúne-se regularmente e tem como atribuições
acordadas: a definição de metas, prioridades e mecanismos de acompanhamento do programa,
seleção e acompanhamento dos projetos e participação no financiamento. Não existe um
instrumento legal de parceria e sim um compromisso mútuo para a disseminação do
programa.
3.2. INCUBADORAS APOIADAS
Neste segundo momento, o programa apoiou incubadoras filiadas às duas redes e a
formação de novas incubadoras, totalizando 43 incubadoras universitárias. O foco permanece
na incubação de empreendimentos econômicos solidários definidos pelas incubadoras ou
priorizados segundo as demandas dos financiadores – a incubagem é um processo de
136
formação que percorre desde o surgimento do empreendimento até sua consolidação e que
busca, ao fim do processo, a conquista da autonomia do grupo.
As atividades de incubação, inicialmente focadas em grupos isolados, tendem a
ampliar cada vez mais o seu campo de atuação. Esta se dá por meio do estímulo à formação
de cadeias e redes produtivas e de comercialização ou outras formas de organização entre os
empreendimentos, visando ampliar a sua viabilidade, sustentabilidade e representatividade
social, além de uma intervenção mais ativa nos processos de desenvolvimento local e
regional.
As incubadoras vêm se destacando ainda na formação de futuros profissionais no
campo da economia solidária, no desenvolvimento do conhecimento e de novas tecnologias,
no apoio às ações governamentais e movimentos sociais, enfim, no desafio de pensar
alternativas de inclusão, pela via do trabalho coletivo e autogestionário, de milhares de
trabalhadores. Buscam a articulação com outras políticas públicas, principalmente aquelas
desenvolvidas pelos órgãos de governo participantes do programa. Os recursos financeiros
são originários das entidades parceiras.
O programa passa ainda a contar com um acompanhamento sistemático de uma
organização selecionada para tal, que o desenvolve por meio de visitas às incubadoras e aos
empreendimentos incubados, realização de seminários e elaboração de relatórios. Essa
iniciativa permitiu detectar dificuldades no desenvolvimento dos projetos das incubadoras e
uma ação mais efetiva do comitê, no decorrer do processo, resultando no redirecionamento de
alguns projetos.
Os relatos do acompanhamento demonstram uma considerável heterogeneidade entre
as incubadoras e a necessidade de valorização das redes como espaços fundamentais na
incubação de incubadoras. Elas geralmente demandam um espaço de tempo significativo para
estar plenamente capacitadas a funcionar como verdadeiras incubadoras e contam nesse
período com o apoio das redes.
Os dados disponibilizados pelo acompanhamento revelam uma forte correlação entre a
trajetória do PRONINC e a dinâmica de criação e expansão das incubadoras – de 14
incubadoras com mais de cinco anos, por exemplo, nove foram criadas, coincidindo com a
primeira fase do programa; nos últimos anos, período que compreende a segunda fase. O
número anual de incubadoras criadas corresponde ao dobro da média dos quatro anos
precedentes. Hoje, as incubadoras apoiadas estão disseminadas por todas as regiões do país:
Norte (4); Nordeste (8), Centro-oeste (4); Sudeste (17), Sul (10). O mesmo ocorre em relação
aos empreendimentos incubados: entre 2003 e 2005, por exemplo, ocorreu um aumento
137
expressivo tanto no número de empreendimentos incubados (82%), quanto no número de
participantes (110%). Esse crescimento pode ser atribuído ao surgimento de novas
incubadoras e à intensificação das ações das existentes, possivelmente como resultado da
retomada do PRONINC.
O PRONINC deu visibilidade às ações e ao potencial das incubadoras universitárias,
apresentando-se como indutor de novas perspectivas para as mesmas.
3.3. ENFRENTANDO DESAFIOS: OS PRIMEIROS RESULTADOS
O registro das experiências das 33 incubadoras inicialmente apoiadas aponta que, em
2005/2006, incubavam 315 empreendimentos, gerando 14.245 postos de trabalho em
empreendimentos econômicos solidários. Os grupos incubados originam-se, principalmente,
de pessoas sem acesso ao mercado formal de trabalho. Incluem-se nessa categoria desde
desempregados temporários até pessoas que nunca exerceram ocupação profissional (situação
mais frequente entre as mulheres). Entre o público-alvo das incubadoras citamos: coletores e
recicladores de lixo; comunidades quilombolas, de pescadores e de assentamentos de reforma
agrária; pessoas com deficiências; usuários do sistema de saúde mental e de transtornos
associados ao consumo de álcool e drogas; portadores do vírus HIV; egressos do sistema
Os dados da amostra dos empreendimentos incubados visitados pela entidade
contratada para acompanhamento, demonstram que estes se encontram em diferentes
momentos no processo de incubagem, embora a maioria (70%) apresente mais de dois anos de
existência. Apontam que 55% dos empreendimentos incubados estão legalmente constituídos
na forma de cooperativas, associações ou outras modalidades; os restantes 45% são de grupos
informais, que na sua maioria pretendem legalizar-se em um futuro próximo,
preferencialmente na forma de cooperativas. Revelam, ainda, que a participação de homens é
maior (55%); que os empreendimentos de menor porte (com menos de 40 pessoas), integrados
em sua maioria por mulheres, são os que predominam. A relação entre o tempo de existência
dos empreendimentos e as médias das retiradas em faixas salariais aponta para a concentração
das retiradas superiores a um salário mínimo nos empreendimentos com mais de um ano de
existência. Em relação aos segmentos envolvidos, indicam-se os de Prestação de Serviços
(diversos) e de Produção Agropecuária, Extrativismo e Pesca como os que apresentam melhor
remuneração.
O acompanhamento permitiu ainda constatar os impactos relativos à atuação das
incubadoras. Destacamos:
138
a) o conjunto de projetos apoiados pelo PRONINC representa um salto de qualidade para a construção de
políticas ativas de geração de trabalho e renda, sobretudo pelas inovações propostas que resultam da
percepção das metodologias de incubação enquanto tecnologias sociais que desempenham um papel
estratégico como projeto dialógico, político e educativo na contribuição para o fortalecimento da
cidadania e da organização dos setores populares;
b) as incubadoras contribuem para ordenar o quadro confuso da disputa sobre os rumos que devem tomar
as iniciativas dispersas de capacitação para o trabalho, até agora realizadas de forma pouco sistemática e
menos consistente... Neste contexto, a contribuição das ITCPs combina apoio direto, produção de
conhecimentos, formação de quadros e construção de projetos e políticas;
c) a adoção de padrão sistemático e institucionalizado para a incubação de empreendimentos coletivos
pelas Universidades é um precedente histórico para a construção de novas práticas de mobilização
democrática e produtiva dos setores populares, propiciando uma releitura dos desafios econômicos e
sociais para a construção de um novo paradigma organizacional para o trabalho e a economia solidária;
d) o sistema de acompanhamento permite observar os aspectos qualitativos gerados pela ação das
incubadoras, na medida em que estas atuam na reconfiguração das formas de organização do trabalho
autônomo, individual e de grupo, na direção do robustecimento, reconhecimento, fortalecimento e
sustentabilidade da cooperativa popular como célula desse processo de inserção socioprodutiva
(DIAGNÓSTICO E IMPACTOS DO PRONINC, FASE, 2006).
Além do que, ao trabalhar a partir dos fundamentos da Economia Solidária, as
incubadoras trazem para a academia um novo debate, uma nova cultura nas relações de
trabalho, enriquecendo e ampliando as experiências universitárias e as provendo de um novo
significado. A Economia Solidária, como ensaio de um novo projeto de sociedade, sinaliza
também para uma nova universidade, portadora de uma nova ética, de uma nova cultura
pautada nos princípios da solidariedade e da cooperação, na prática da autogestão e da
democracia. Dessa forma, apesar de seus limites, a economia solidária, com seu potencial
inovador abre perspectivas para renovar também a universidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossos dias, ganha atualidade a reflexão quanto às soluções coletivas,
efetivamente capazes de minimizar ou reverter os efeitos da desigualdade, especialmente no
mundo do trabalho. As Práticas de Economia Solidária das universidades, no Brasil,
constituíram o horizonte que vislumbramos para este debate em torno da temática.
Considerando que essas políticas são recentes, enfrentam enormes dificuldades e
muito mais ainda há a fazer para que suas potencialidades se tornem realidade. Os maiores
obstáculos a superar são no redirecionamento dos recursos públicos, incentivando políticas
públicas inovadoras, evitando-se sua fragmentação e mantendo a regularidade dos apoios de
forma a permitir uma continuidade das ações das incubadoras. Uma avaliação exige ainda um
horizonte temporal maior que permita o acompanhamento dos empreendimentos nos
territórios pós-incubação e sua capacidade de sobrevivência a longo prazo.
139
A estratégia do PRONINC, para 2007, enfrenta o desafio de caminhar na superação
desses obstáculos e equívocos, potencializando ações que criem sinergias, ampliando ações
convergentes já existentes e fortalecendo as incubadoras para que possam legitimar e dar
sustentabilidade a essas políticas.
REFERÊNCIAS
ANAIS I Conferência Nacional de Economia Solidária. Brasília: 26 / 29 jun. 2006, 108p.
ATLAS da Economia Solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE, SENAES, 2006. 60p.
FRANÇA, G. C. e outros (org.). Ação pública e economia solidária: uma perspectiva
internacional. Porto Alegre: Editora da UFRS, 2006. 326p.
Relatório Diagnóstico e Impactos do Proninc. FASE. Rio de Janeiro, 2006.
SANTOS, B. S. (org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 514p.
SINGER, P. Globalização e desemprego. Diagnóstico e alternativas. 4.ed.São Paulo:
Editora Contexto, 2000.139p.
140
Programas de inserção de jovens no mercado de trabalho:
o olhar empresarial
Dener Chaves9
Antonio Carvalho Neto10
1. INTRODUÇÃO
O desemprego juvenil agravou-se consideravelmente nas últimas décadas, gerando
muitas consequências sociais atribuídas a essa difícil passagem dos jovens da inatividade ao
mundo do trabalho. Várias saídas são propostas como programas de inserção de jovens no
mercado de trabalho. As pesquisas se baseiam em dados quantitativos, ignorando as diversas
formas alternativas que se desenvolvem no meio social para minorar os efeitos. Essas formas
alternativas se dão de diversas maneiras pelo poder local, empresas, famílias e os próprios
jovens.
Este artigo aborda, inicialmente, a questão do desemprego juvenil e as diversas
correntes teóricas que trabalham com o tema. Optou-se em destacar a situação empregatícia
dos jovens levando-se em consideração os objetivos propostos na formulação de programas
sociais voltados para este segmento. A partir do esclarecimento quanto aos méritos de tal
política pública, discute-se a percepção dos empresários parceiros do Programa BolsaEmprego de Betim (MG), no que tange à finalidade de tal programa e a relação estabelecida
entre os empresários, os gestores públicos e os jovens.
Para atender aos objetivos propostos, foi utilizada uma metodologia que procura partir
da realidade social em sua complexidade, em sua marcha histórica humana também dotada de
horizontes subjetivos, como salienta Demo (1995), configurando-se mais apropriada a
pesquisa qualitativa. Nessa abordagem qualitativa, foi realizado um estudo de caso, uma vez
que esse método supõe que se pode adquirir adequado conhecimento de um fenômeno a partir
da exploração intensa de um único caso, tendo o duplo objetivo de chegar a uma compreensão
abrangente do grupo em estudo e desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre
regularidades do processo e estrutura sociais (BECKER, 1993).
Utilizaram-se entrevistas semiestruturadas com os empresários, ou funcionários
responsáveis pelo desenvolvimento do programa nas empresas11. As entrevistas individuais
9
Mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil (2005)
Professor da Prefeitura Municipal de Betim, Brasil
10
Especialização em Pós-Graduação pela University of Stuttgart, Alemanha (1969)
Professor Adjunto IV da Universidade Federal do Ceará, Brasil
141
consistiram em questionário pré-formulado, com os representantes das empresas, que visaram
obter do entrevistado as descrições relevantes do problema. Ou seja, uma conversação guiada
em uma entrevista, também chamada semiestruturada, que deixasse ao entrevistado a
possibilidade de ir além das questões formuladas e pudesse captar insights, pensamentos ou
questões não esperadas. É necessário frisar que essa técnica foi escolhida por não apresentar
rigidez, uma vez que o desenvolvimento das entrevistas foi determinado e direcionado ao
longo do processo (YIN, 2005).
2. AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA
OS JOVENS
O capitalismo pós-Segunda Grande Guerra estabeleceu um novo padrão de
desenvolvimento que articulava regulação e compromisso. Houve a consolidação de Estados
Nacionais fortes e a implementação de políticas de bem-estar social. O pleno emprego, o
consumo em massa, o contrato coletivo de trabalho foram também implementados nos países
mais desenvolvidos. A interlocução com sindicatos organizados de trabalhadores, o
compromisso capital/trabalho, era mediado pelo Estado (ANTUNES, 1997), resultando em
conquistas sociais e democráticas que buscavam reduzir as desigualdades sociais criadas pelo
capitalismo por meio de mecanismos amplos de provisão de bens e serviços concebidos como
direito (BARBOSA; MORETTO, 1996).
A partir dos anos 1970, o Estado de bem-estar social entra em crise. A crise do
petróleo em 1973 e 1974 e a concorrência dos produtos japoneses no mercado europeu e
americano geraram problemas na balança comercial desses países. O capitalismo começa a
entrar em crise perante a queda da taxa de lucro, esgotamento do padrão de acumulação
taylorista/fordista de produção e hipertrofia da esfera financeira. Na tentativa de se fortalecer
e reagir à crise, o Estado promove a reorganização do capital, do sistema ideológico e político
dominante. As teses liberais tomam fôlego com a privatização do Estado, a
desregulamentação dos direitos trabalhistas e a desmontagem do setor produtivo estatal
(BALTAR; DEDECCA, 1996).
Diante desse quadro, a questão social assume novas configurações na sociedade
capitalista, em decorrência da imposição dos ajustes econômicos como requisitos ditados pela
globalização. De acordo com Ianni (1997), na mesma escala em que ocorre a globalização do
11
Os dados apresentados aqui fazem parte da dissertação de mestrado defendida no curso de Programa em PósGraduação em Ciências Sociais: Gestão das Cidades da PUC Minas. (CHAVES, 2005)
142
capitalismo, verifica-se a globalização do mundo do trabalho. As mudanças afetam não só os
arranjos e a dinâmica das forças produtivas, mas também a composição da classe
trabalhadora.
Nessa dinâmica, novas exigências se estabelecem para a qualificação dos
trabalhadores, condicionadas tanto pelas inovações tecnológicas quanto pela forma de
estruturação do processo de trabalho e das novas configurações organizacionais. As
transformações na estrutura produtiva e no paradigma tecnológico acarretaram profundas
mudanças nos processos de trabalho e, consequentemente, no perfil da mão-de-obra, com
exigência de um trabalhador polivalente, reunido competências para enfrentar os imprevistos
(MORETTO; GIMENEZ; PRONI, 2003).
Para Castel (1998), a precarização do emprego e o aumento do desemprego são a
manifestação de um déficit de lugares ocupáveis na estrutura social, entendendo-se por
lugares posições a que se acham associados uma utilidade social e um reconhecimento
público. Trabalhadores “que estão envelhecendo”, sem lugar no processo produtivo; jovens à
procura do primeiro emprego, que vagam de estágio em estágio e de um pequeno serviço a
outro; desempregados de há muito tempo que passam por requalificações ou redescobrem-se
“inúteis para o mundo”, o que os desqualifica também no plano cívico e político.
Diante dessa situação, o Estado não foi capaz de adotar políticas de geração de
emprego e renda consistentes para enfrentar o desemprego e a concentração de renda que têm
caracterizado a economia brasileira. A postura do governo desde os anos 1990, de desvincular
as questões relativas à geração de emprego da política macroeconômica, marcada pela rápida
e pouco seletiva abertura comercial e pela forte dependência de financiamentos externos, tem
sido um dos fatores para adoção de um tipo de política social de caráter reativo, voltada para a
correção das distorções do mercado (DIEESE, 2001). Abre-se o debate sobre o papel do
Estado na regulação e no controle dos serviços de caráter público, isto é, demandando
políticas públicas eficazes na área social, principalmente voltadas para os setores
populacionais mais vulneráveis às transformações econômicas (SANTOS JÚNIOR, 2000).
Esse cenário de altas taxas de desemprego, precarização das relações de trabalho,
exclusão social e redução paulatina da renda média da população impõe restrições distintas
aos diferentes grupos populacionais “Os jovens, que já apresentavam uma inserção mais
difícil e vulnerável no mercado de trabalho, passam a sofrer com mais intensidade os
constrangimentos impostos por este contexto” (SOUZA, 2001, p.2).
A exclusão social dos jovens sob a forma do desemprego e precariedade das condições
de trabalho apresenta efeitos perniciosos sobre a vida futura dos indivíduos, com reflexos não
143
somente em sua vida profissional, mas também psicológica e social. A integração das novas
gerações na sociedade fica comprometida (RAMOS, 1997). Um panorama de desemprego e
baixa empregabilidade dos jovens tem contribuído para o aumento da violência, da
prostituição e do consumo e dependência de drogas entre eles, gerando um nível de
vulnerabilidade social que, em alguns países como o Brasil, ameaça a estabilidade social e o
progresso econômico (OIT, 2001).
Conforme Flori (2003), a taxa de desemprego dos jovens, no período entre 1983 e
2002, foi sempre maior e menos estável que a de adultos e a de idosos para seis regiões
metropolitanas. Ao observar a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), percebe-se
que a taxa de desemprego juvenil é o triplo da taxa de desemprego dos adultos. No entanto, a
taxa de entrada no desemprego dos jovens que já trabalharam antes é bem maior que a dos
que estão em busca do primeiro emprego. O estudo da autora mostra que, na RMBH, apenas
10 a 20% dos jovens que entram no desemprego nunca trabalharam. Conclui-se que os jovens
que já trabalharam anteriormente são os principais responsáveis pela alta taxa de entrada no
desemprego dessa faixa etária.
Para fazer frente a esse quadro complexo de desemprego e precariedade do trabalho,
começou-se a discutir possibilidades de análise e resolução desse sério problema social. A
seguir, buscar-se-á sintetizar essas correntes de pensamento para que se possa estabelecer uma
crítica mais adequada sobre as políticas de emprego voltadas para os jovens e sua relação com
os programas sociais.
3. AS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA OS JOVENS
As políticas de emprego são consideradas uma parte das políticas sociais e, como tal,
fazem parte das políticas públicas implementadas pelo Estado. Nessa perspectiva, parte-se da
observação sobre em que consiste essa política social, qual a percepção da função dessa
modalidade de política, para, finalmente, abordarem-se as diversas correntes que tratam sobre
as causas do desemprego e as possibilidades de superação do problema.
A política social, segundo Rocha (2001), é uma modalidade de política pública que
visa fornecer condições básicas de vida à população. Busca uma situação de maior igualdade
e fornece um nível básico de segurança socioeconômica. Pode envolver uma ampla gama de
modalidades, como políticas de saúde, educação, habitação, amparo a desempregados,
crianças, velhos, programas de renda mínima etc. Assim, visam dar conta do problema da
desigualdade e da pobreza. Mas, no universo da política propriamente dita, as políticas
144
publicas podem ser vistas como efeitos provocados por um conjunto complexo de forças
sociais, surgidos à medida que as demandas para a resolução de certos problemas pelo Estado
são propostas. As políticas públicas seriam reações do Estado às demandas da sociedade.
Para Rua (1998), uma vez que as políticas são respostas, estas não ocorrerão a menos
que haja uma provocação. As políticas públicas se destinam a solucionar problemas políticos,
que são as demandas que lograram ser incluídas na agenda governamental. Enquanto não
entram nesse patamar, são consideradas “estados de coisas”, situações diversas que atingem
grupos mais ou menos amplos da sociedade, mas não chegam a mobilizar as autoridades
políticas. Para o estado de coisa se transformar em problema político é necessária, pelo
menos, uma das seguintes características: mobilizar ação política de grupos ou de atores
individuais estrategicamente situados; constituir uma situação de crise, calamidade ou
catástrofe; constituir uma situação de oportunidade para atores sociais politicamente
relevantes.
Segundo Ramos (1997), há uma tendência de diversos países na focalização de ações
voltadas para o mercado de trabalho. Os grupos mais vulneráveis (jovens, mulheres, adultos
sem formação) merecem um tratamento privilegiado em quase todas as políticas ativas (como
a criação direta de emprego pelo setor público, o subsídio às contratações, a oferta de crédito
às pequenas e microempresas e o incentivo ao trabalho autônomo, entre outras) e, muitas
vezes, até nas políticas passivas (concessão de auxílio financeiro por desemprego de longa
duração, redução dos requisitos para a aposentadoria precoce etc.). Essa tendência à
focalização surgiu visando elevar a eficácia e eficiência de programas e recursos, dado que
partiu do diagnóstico de que o problema do desemprego cobriria uma ampla gama de
situações e problemas específicos de determinados grupos sociais.
As políticas de emprego no Brasil, nas últimas duas décadas, principalmente as
voltadas para o segmento juvenil, obtiveram um olhar mais cuidadoso por parte do poder
público, tendo em vista os altos índices de desemprego nessa faixa etária e suas consequências
para toda a sociedade. Nos anos 1950 e 1960, a economia brasileira registrou altas taxas de
desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, não se discutiu a execução de
políticas públicas de geração de emprego. As avaliações eram de que o problema tinha origem
no caráter incipiente de um mercado de trabalho em formação, que não conseguia absorver a
população (BARBOSA E MORETTO, 1998).
O modelo e o tratamento das políticas governamentais, direcionados para o mercado
de trabalho no Brasil nos últimos anos, são acometidos por uma falta de diagnóstico preciso
do funcionamento desse mercado e da importância dessas políticas. Entretanto, o emprego no
145
país é visto como um “produto secundário do crescimento econômico e não como um objetivo
que deva orientar as políticas do governo. A qualidade dos empregos que são gerados não é
questionada e o desemprego é tratado como resultado dos desequilíbrios do mercado de
trabalho” (DIEESE, 2001, p.250).
Segundo Baptista (2004), a ideia que vem se difundindo, de que o fenômeno do
desemprego em massa resulta da desqualificação técnica do trabalhador, é o que justifica os
altos investimentos de recursos públicos, sobretudo advindos do FAT. A concepção de
empregabilidade é tida como condição de inserção do jovem no seu primeiro emprego e
aparece como o objetivo a se atingir na formação profissional do trabalhador. Nessa
perspectiva, se constituem, em uma só esfera e ao mesmo tempo, uma política nacional de
educação profissional e uma política pública de emprego e renda; uma política voltada para o
jovem trabalhador no acesso ao primeiro emprego e uma política de enfrentamento do
desemprego do trabalhador em geral. É consensual nessa perspectiva, portanto, que, a partir
de uma política educacional, alcançam-se os resultados esperados de uma política de emprego
e renda. Desloca-se o problema do desemprego para o indivíduo e esvazia-se o problema
como expressão da questão social, responsabilizando o trabalhador por sua inclusão/exclusão
no mercado.
Para Pereira (2001), com as taxas de desemprego de quase o dobro no segmento
juventude, é necessário aumentar a “empregabilidade” dos jovens, ou seja, a aquisição de
qualificações, competências e habilidades requeridas pelo mercado de trabalho como
melhorias de educação e formação profissional, de preferência, acompanhadas de esforços
especiais de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Como essas melhorias demandam
tempo, o autor sugere que se devam incrementar medidas orientadas a aliviar o desemprego e
a vulnerabilidade social dos jovens.
Moreira e Almeida Filho (2001) argumentam que, embora a educação formal se faça
necessária, o grau de escolaridade não pode ser entendido como pré-requisito fundamental à
inserção ao mercado de trabalho. Ele deve ser somado ao tempo de serviço no mesmo posto
de trabalho, ou seja, a inserção depende da educação e do acúmulo de experiência profissional
formalizada. A oferta educacional, tomada como componente isolado de ação social, constitui
estratégia insuficiente para conter a explosão do desemprego na faixa etária entre 15 e 24
anos. Imaginar que o roteiro educacional formal basta para garantir inserção no mercado de
trabalho é ilusão perigosa.
Por mais estranho que pareça, a ampliação das taxas de escolaridade da massa de
trabalhadores representa o primeiro fator que explica a impressionante exclusão dos
146
trabalhadores mais jovens do mercado de trabalho (TREVISAN, 2004). Para Pochmann
(1998), parcela significativa da população juvenil, frente ao desemprego e à inatividade,
procurou reverter seu tradicional processo de transição do sistema educacional para o setor
produtivo. O aumento da inatividade dos jovens em virtude do maior tempo dedicado à
educação (alongamento da escolaridade) decorreu, em parte, da preocupação generalizada de
fortalecimento da formação profissional como antídoto ao agravamento do desemprego. A
escola parece transformar-se em uma espécie de refúgio temporário do jovem diante do
quadro de generalizada escassez de emprego. O processo de procura de emprego, alternado
com o sistema de ensino, sem o acesso ao primeiro emprego, faz a inatividade por
continuidade no sistema educacional converter-se, cada vez mais, em estratégia oculta de
disputa por uma vaga.
Escolaridade formal é instrumento importante, obrigatório, mas não constitui o fator
preponderante e definidor dessa inserção. Sem dúvida, as políticas públicas que implicam
ativas estratégias de indução para a inserção do jovem no mercado de trabalho, como o
primeiro emprego, são mais eficientes (TREVISAN, 2004).
A percepção de que o desemprego é um fenômeno que atinge de forma desigual os
diferentes grupos populacionais induziu a proliferação de incentivos para a contratação de
segmentos vulneráveis (primeiro emprego, no caso dos jovens; desempregados de longa
duração; adultos com pouca qualificação; grupos étnicos, entre outros). Esses subsídios vão
desde a redução das cotizações sociais até o pagamento à empresa por desocupado contratado.
Para Ramos (1997), esses tipos de medida, embora muito utilizados, são extremamente
polêmicos, pois pode se estar induzindo uma substituição, ou seja, o Estado pode estar
subsidiando uma ação que se realizaria de qualquer maneira. Estudos de caso relatados pela
Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1993, mostram
um elevado desperdício de recursos na maioria desses programas, alimentando as posições
conservadoras sobre a eficiência e eficácia desse tipo de política.
Como afirma Telles (2001), as tendências da precarização do trabalho e da
desregulamentação do mercado de trabalho, bem como os novos circuitos que articulam o
mercado formal e informal ao longo das cadeias produtivas, fazem com que os programas
sociais promovam a transgressão das normas trabalhistas, favorecendo a proliferação de
empregos precários. Nessa perspectiva, um programa de inserção de jovens pode acarretar, na
verdade, uma flexibilização das leis trabalhistas, em vez de uma possibilidade de atenuação
do desemprego juvenil.
147
Para Castel (1998), crítico desses programas de inserção de jovens, sejam eles
federais, estaduais ou municipais, as numerosas medidas do tipo auxílio para a contratação,
abatimento dos encargos sociais sem obrigações de contratação pelas empresas, entre outras,
deram a prova, senão de sua inutilidade, pelo menos de seus efeitos extremamente limitados.
Quanto ao público que enfrenta dificuldades, como os jovens, teria sido necessário distribuir
menos frequentemente subvenções em favor de contratações que, de todo modo, teriam
ocorrido. O que se chama de “ganho inesperado” de algumas medidas sociais é muito
interessante para as empresas, e não se vê por que razões não se aproveitariam dele.
Conforme Madeira (2004), os programas sociais de natureza focalizada fracassam por
operarem, com frequência, na lógica de responder às pressões de urgências cotidianas,
ancoradas no voluntarismo, na intuição, em convicções que ouvem mais o coração que a
mente. Rua (1998) afirma que a formulação de políticas públicas refere-se à definição das
alternativas para solucionar o problema político e escolher a alternativa a ser adotada
envolvendo interesses materiais e ideais, raramente orientando-se por critérios estritamente
técnicos. Ao contrário, a decisão é sempre política, e cada um dos atores sociais, nessa fase,
exibe suas preferências e seus recursos de poder. Formulada, uma política só se transforma
em realidade ao ser implementada. É um engano achar que, uma vez tomadas as decisões, a
implementação simplesmente ocorrerá. A implementação implica novas decisões de
acentuada complexidade, articulando o sistema político com a realidade concreta das práticas
políticas e sociais dos interessados.
Segundo a OIT (2001), os programas devem ter objetivos claros, satisfazendo as
necessidades dos participantes e, assim, sendo mais eficientes no momento de promover
oportunidades de emprego. Como o desemprego não é distribuído de uma forma equitativa
entre a população jovem, os programas devem visar aos jovens mais desfavorecidos para
evitar o perigo da exclusão social.
Um dos grandes obstáculos à inserção dos jovens no mercado de trabalho, além das
características recessivas e de sua baixa qualificação, reside na exigência de experiência de
trabalho. Como o investimento empresarial em educação e capacitação profissional é bastante
reduzido, e ainda se exige experiência de trabalho sem que sejam oferecidas oportunidades
para tanto, o quadro só piora (RUA, 1998).
Criar estratégias para incorporar produtivamente os trabalhadores das faixas etárias
mais baixas trata de possibilitar mecanismos, em última instância, de inclusão social, à
medida que o mercado de trabalho seria o locus no qual as desigualdades são reproduzidas e
reforçadas mediante barreiras sociais e estruturais que se colocam para determinados grupos.
148
Nesse contexto em que o papel do Estado-nação encontra-se debilitado para formular
políticas públicas, tem-se valorizado o papel do governo local como aquele capaz de dar
respostas à crise de governabilidade e legitimidade do Estado (COELHO, 1996 e KLINK,
2001). É precisamente no nível do poder local que se discutirá a implementação dos
programas de primeiro emprego e, consequentemente, sua eficácia em garantir que os mais
necessitados tenham acesso aos recursos.
Para Azeredo (1998), o cenário político introduz a participação de novos sujeitos
sociais na formulação, gestão e controle social das políticas públicas. As políticas de emprego
e proteção social ganham notoriedade em nome do combate à pobreza, da erradicação e
controle do desemprego.
Há uma tendência clara de prefeituras e governos municipais de se converterem em
agentes de desenvolvimento econômico. Três aspectos ficaram ressaltados nas razões pelas
quais o governo local deve exercer o papel de protagonista do desenvolvimento: dispõe de um
conhecimento muito mais profundo da dinâmica da economia local; encontra-se próximo à
população; por essa proximidade com a população, é mais pressionado para integrar a ação de
desenvolvimento econômico com objetivos sociais (COELHO, 1996).
Segundo Sposito (2003), o aparecimento no plano regional e local de organismos
públicos destinados a articular ações do poder executivo e estabelecer parcerias com a
sociedade civil, para a implementação de projetos ou programas para jovens, é bastante
recente e decorre, sobretudo, de compromissos eleitorais de partidos que incluíram em sua
plataforma política as demandas que aspiravam à formulação de ações específicas destinadas
aos jovens.
O tema da focalização é muito controvertido, pois, se a focalização e a seletividade das
políticas sociais ameaçam a ideia da universalização, que realmente se deu apenas nas
economias desenvolvidas do pós-Welfare State, nos países em desenvolvimento, exatamente
porque os recursos mostram-se escassos e os contingentes a ser atendidos, tão numerosos, a
focalização é uma estratégia a se considerar. Mas, pela falta e escassez de recursos, a
focalização e a seletividade implicam clara definição de clientelas prioritárias como os jovens,
em especial aqueles com eminente vulnerabilidade social (RUA, 1998).
O Programa Bolsa-Emprego da Prefeitura Municipal de Betim surgiu no início da
administração 2001-2004, como uma resposta às promessas de campanha da composição
política vencedora nas eleições de 2000, confirmando as constatações apresentadas pela
literatura (DAYRELL, 2005) sobre o aumento dos programas no âmbito local, voltados para o
segmento juvenil na RMBH, no início da década de 2000, e sobre o caráter reativo das
149
políticas públicas para a juventude no Brasil (RUA, 1998). Na campanha eleitoral de 2000, o
lema dos candidatos, de uma forma geral, era o combate à violência, ao desemprego, a
melhoria da saúde e da educação e obras de infraestrutura urbana. Os três últimos itens
poderiam ser classificados como da esfera do poder municipal, com apoio dos governos
estadual e federal, mas, os dois primeiros, violência e desemprego, não configuravam,
necessariamente, tópicos da área de atuação do poder local. O desemprego é caracterizado por
mudanças macroeconômicas, como a reestruturação produtiva, as mudanças tecnológicas e a
abertura de mercado, que ocorreram na sociedade brasileira a partir da década de 1990. A
violência urbana agravou-se em todo o Brasil nesse período, talvez como um reflexo direto da
falta de oportunidades no mercado de trabalho. No município de Betim, o aumento
descontrolado e desordenado da população, a partir da migração das regiões mais pobres da
RMBH e do estado de Minas Gerais para o município, potencializou os efeitos indesejáveis
dessas mudanças, que terminaram por encontrar um ambiente propício para o aumento
considerável do desemprego, da miséria e, consequentemente, da violência.
A limitada atuação dos governos federal e estadual, para atuar no controle do
desemprego e da violência, induziu a administração local a propor ações que pudessem ser
implementadas no intuito de atacar tais problemas. Era necessário criar oportunidades para
que os jovens pudessem terminar os estudos e entrar para o mundo do trabalho. Isso com base
no pressuposto de que o estudo formal e a capacitação profissional ajudariam esses jovens a
conseguirem emprego e de que a falta de emprego seria uma das agravantes da violência
urbana.
A nova administração quis atuar no processo de seleção de funcionários, realizada
pelas empresas sediadas no município de Betim, uma vez que parte significativa dos
trabalhadores não reside no município. Esses trabalhadores são denominados genericamente
como estrangeiros, fato muito comum em regiões metropolitanas, com áreas de conurbação
que, pelo histórico do município e pela proximidade da capital do estado, assumem
proporções superiores à média, principalmente nas funções com maior especialização e
remuneração. No intuito de possibilitar, assim, a formação dos jovens do município nas
empresas e sua continuidade nos estudos, a administração municipal formulou, durante esse
período, um programa que tinha como pressuposto a união positiva do trabalho e da escola,
como forma de atuar no universo juvenil.
O Programa Bolsa-Emprego fora pensado de forma que se pudesse contar com a
parceria da iniciativa privada, para dar aos jovens residentes no município a possibilidade de
aprender uma profissão e ser inseridos no mercado de trabalho. Para a formulação do
150
programa, duas secretarias dividiram as tarefas de formulação e implementação. À Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico coube a elaboração de uma legislação específica
que pudesse dar respaldo legal e ao mesmo tempo atrair o maior número possível de empresas
para o programa. À Secretaria Municipal de Assistência Social coube assumir a gestão do
programa, no que se refere à atração das empresas, à inscrição e seleção, ao encaminhamento
dos jovens e à organização contratual dos envolvidos.
A seguir, apresenta-se a percepção dos empresários que aderiram ao programa.
Aborda-se nesse tópico aspectos como a configuração da parceria com a prefeitura, as
dificuldades e facilidades encontradas, a responsabilidade social e a oportunidade de ganhos
com o programa, bem como a adequação de um sistema de estágio dentro da empresa e a
relação com os jovens estagiários.
4. O OLHAR DOS EMPRESÁRIOS
O termo empresário é aqui utilizado para designar todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, representaram as empresas na pesquisa, podendo ser o proprietário, o gerente de
Recursos Humanos ou o funcionário responsável pelo Programa Bolsa-Emprego na empresa.
É destacado como se estabeleceram os vínculos que resultaram nessa parceria entre a
iniciativa privada e o poder local; como ocorreram os primeiros contatos com a prefeitura; as
dificuldades e as facilidades encontradas para estabelecer essa filiação a um programa
patrocinado pelo poder público local e a percepção dos empresários em relação aos gestores
públicos responsáveis pelo programa.
Observam-se os aspectos relevantes dessa construção que são apresentados a partir do
olhar do empresário, ou seja, como foi viabilizado, dentro da empresa, um programa de
estágio e as adequações, possivelmente necessárias, para que os jovens fossem inseridos na
estrutura produtiva da empresa. Ressaltam-se as perspectivas da empresa em obter os
benefícios publicitários, como, por exemplo, de empresa com responsabilidade social,
supostamente possível de ser alcançada a partir do programa, e como essa modalidade de
política social pode viabilizar, à empresa, mais uma fonte de lucro.
Por fim, explora-se a percepção dos empresários sobre os jovens que participam do
programa. Enfatiza-se como a empresa percebe o estagiário em relação ao processo de
obtenção de experiência e aprendizagem, que são os fins do programa, segundo a lei que o
regulamenta. Trata-se, aqui, de como a empresa se ocupa desse estagiário em suas
dependências, pautando-se pela opção de ensinar para que, no futuro, o estagiário seja um
151
profissional, ou colocando-o para trabalhar utilizando-se desse tipo de mão-de-obra barata
com o discurso do trabalho como instrumento de ensino.
4.1. O OLHAR DOS EMPRESÁRIOS SOBRE O PBE E A AÇÃO DA PREFEITURA
Os representantes das empresas revelam ter tomado conhecimento do Programa BolsaEmprego por meio dos meios de comunicação do município; em reuniões de classe; de
escritórios de contabilidade, que realizam a contratação dos funcionários das pequenas e
médias empresas; da visita de funcionários da prefeitura, que tinham o propósito de apresentar
o programa. Esse último foi apontado como fator principal de sua filiação, pois foram
discutidos, com o gestor da prefeitura durante a visita, os possíveis entraves legais à adesão da
empresa ao programa.
O processo que resultou na parceria entre a empresa e a prefeitura foi descrito,
positivamente, como simples e confiável. Enfatizou-se, inclusive, o fato de não haver os
entraves burocráticos típicos das relações das empresas com o poder público, como se pode
observar no depoimento a seguir:
Os processos são muito simples, tanto no âmbito de operacionalização da
contratação, quanto na busca do benefício fiscal que o programa oferece para nós.
Não existe aquela burocracia de tempo, aquela grande quantidade de formulários
para preencher, são muito simples (Informação verbal).12
A percepção de que o programa traria vantagens econômicas para as empresas foi o
motivo mais evidenciado para a participação das mesmas. No entanto, em algumas empresas,
os funcionários responsáveis pelo Bolsa-Emprego e, mais explicitamente, o dono da empresa,
destacaram o apoio, ou melhor, a simpatia que teriam pela administração municipal gestora do
programa. Essa simpatia torna-se mais visível com o reconhecimento à postura do prefeito em
assinar os contratos e a ênfase à ajuda que a empresa conferia ao programa e à administração
municipal, para resolver o problema do desemprego dos jovens.
Após a visita, esclarecidas as dúvidas, os contatos entre a empresa e a prefeitura eram
realizados por meio de telefonemas, pelos quais a empresa comunicava à prefeitura o número
de vagas e o perfil dos jovens que deveriam ser encaminhados para a seleção. Esse processo,
segundo o relato dos empresários, era o meio de contato entre os gestores da prefeitura e a
12
Entrevista concedida, em 06/07/2005, por empresário.
152
empresa. Inclusive, é ressaltada por alguns empresários a ausência do poder público no
desenvolvimento do processo de aprendizagem dos estagiários dentro da empresa.
Embora a falta de acompanhamento do programa pelo gestor público seja uma crítica
apontada pelos empresários, a flexibilidade dos gestores do PBE em atender às demandas da
empresa constitui um dos pontos do programa citados como positivos. Nesse sentido, tem-se a
opção da empresa de apresentar ao gestor do programa um jovem que já constava no seu
arquivo ou de não haver uma lista por ordem de inscrição a ser imposta à empresa, sendo
possível a seleção dos jovens pelo perfil desejado, independentemente da ordem de inscrição.
O relato a seguir é elucidativo:
Às vezes, eu encaminho o menino para fazer o contrato (...) não tem problema
nenhum. Porque, às vezes, é uma indicação mesmo, de um funcionário da empresa,
de um parente; então, a gente atende aos funcionários (Informação verbal).13
O poder de decisão da empresa de contratar o jovem que ela achar melhor não é
constrangido pelo programa, com exceção de pessoas de outras cidades. A seguir, aponta-se
como os empresários percebem o programa em relação à empresa.
4.2. O OLHAR DOS EMPRESÁRIOS SOBRE O PBE NA EMPRESA
Algumas empresas já trabalhavam com outro sistema de estágio, por meio de uma
empresa especializada em fornecer estagiários. Depois da filiação ao programa, as empresas
que tinham o sistema de estágio anterior trocavam-no pelo da prefeitura ou implantavam o
Programa Bolsa-Emprego, juntamente com o anterior. Alguns empresários destacaram que
continuam com o programa anterior porque necessitam de estagiários com perfil não
encontrado no município, principalmente os relacionados a cursos universitários que não são
oferecidos nas faculdades de Betim. Isso se deve ao fato de o programa prever que apenas os
jovens residentes no município possam participar.
Embora o Programa Bolsa-Emprego sirva para que a empresa possa realizar um
sistema de estágio em suas dependências, o sistema oferecido por empresas especializadas em
fornecer estagiários é bem diferente, segundo os empresários. A principal diferença consiste
no reembolso. Como a maioria das empresas repassa para o estagiário o mesmo valor que
recebem da prefeitura, elas terminam por obter mão-de-obra quase gratuita. Isso,
considerando que ocorrem despesas com transporte, alimentação, seguro, entre outros. As
13
Entrevista concedida, em 08/07/2005, por empresário.
153
empresas podem, também, utilizar-se da participação no programa como forma de se
enquadrar no rol das empresas preocupadas com a sua responsabilidade social no município.
É ilustrativo o depoimento a seguir:
Eu sempre reembolso quase que 100% dos valores. Então, para mim, é um belo
benefício porque é como se eu tivesse estagiários com custo zero. E eu trabalho
isso, faço marketing disso interno: “Olha, bota o estagiário aí que o custo é zero.
Pode colocar” (Informação verbal).14
Os empresários, contudo, descreveram alguns pontos negativos, como o valor do
reembolso, que não foi reajustado durante todo o período de vigência do programa. Assim, a
maioria dos estagiários do ensino médio, que recebe apenas o valor do reembolso, está com
sua remuneração sem correção desde o início do programa. Os empresários disseram também
que os jovens encaminhados para as empresas não apresentam o perfil exigido,
comprometendo o processo de seleção com jovens que não satisfazem as condições mínimas
para preencher os quesitos necessários à vaga. Outro fator de descontentamento, apontado
pelos empresários foi a demora para que o contrato fosse firmado, ou seja, para que todas as
assinaturas fossem efetuadas no contrato. São despendidos, em média, dez dias, não
permitindo que o jovem comece o estágio antes desse prazo. Foi levantada a falta de um
reconhecimento público do bom desempenho da empresa, quanto aos fins estabelecidos pelo
programa, como é descrito no depoimento a seguir:
Eu peguei esse estagiário e fiz dele um profissional, dei uma oportunidade para ele.
Você realmente participou do Bolsa-Emprego, você realmente criou um
profissional. Uma coisinha, só para falar assim: “Você é realmente um cara que está
participando e que esta ajudando”. Não é nada de remuneração (Informação
verbal).15
As empresas, também, destacaram como positiva a formação de funcionários por meio
do programa. Empresas que só admitiam funcionários com experiência profissional anterior, a
partir do programa, começaram a formar seus próprios funcionários, embora a maioria dos
jovens realize o estágio em departamentos específicos da empresa, como os escritórios, não
sendo requisitados para realizar estágio nos setores de produção das empresas, como o setor
de metalurgia. Alguns empresários afirmaram que os estagiários são, atualmente,
impreteríveis para a formação de mão-de-obra e para o bom desenvolvimento das atividades
da empresa, como pretendemos destacar no item a seguir.
14
15
Entrevista concedida, em 06/07/2005, por empresário.
Entrevista concedida, em 06/07/2005, por empresário.
154
4.3. O OLHAR DOS EMPRESÁRIOS SOBRE O JOVEM ESTAGIÁRIO
Os primeiros contatos das empresas com os jovens candidatos a realizar um estágio
em suas dependências podem dar-se de duas formas diferentes. A primeira é por intermédio
de terceiros ou do próprio Programa Bolsa-Emprego. São considerados terceiros todos
aqueles que, de alguma forma, realizam a intermediação entre a empresa e o jovem, podendo
ser um funcionário da empresa, amigo ou parente do dono. Também admite-se, como fator de
diferenciação, e, em certa medida, intermediação na hora da entrevista, o cadastro realizado
pelo jovem na empresa, independentemente do programa, já que o mesmo é usado como
critério de seleção durante as entrevistas para o estágio. Os jovens que têm acesso à empresa,
a partir da referida intermediação do programa são aqueles que foram selecionados pelos
gestores para ser direcionados à entrevista, mas, sem uma indicação dentro da empresa. No
entanto, alguém, com influência entre os gestores do PBE. Embora ocorra essa diferenciação
entre os jovens, foi afirmado, categoricamente, pelos representantes das empresas, que todos
passam pelos testes e aqueles que não se mostrem aptos, mesmo com a indicação, não são
contratados.
Por outro lado, é uma reclamação comum, entre os empresários, o modo como os
jovens se apresentam nas entrevistas, principalmente os que não foram indicados por
terceiros. Boa parte deles não tem a mínima noção de como se portar. Segundo o relato dos
empresários, os jovens deveriam ter mais qualificação ou acesso às informações necessárias
para a entrada no mercado de trabalho, como a capacidade de preencher uma ficha ou mesmo
o curso de informática. O comportamento inconveniente de alguns jovens ao se apresentar nas
entrevistas, seja no modo de se vestir ou na maneira de se portar, é descrito como a principal
desqualificação no processo de seleção e de depreciação do programa. Esse, seguido da falta
de experiência, que é um paradoxo, se considerarmos que o programa tem o objetivo de
proporcionar exatamente a experiência necessária ao jovem para sua entrada no mercado de
trabalho. O relato a seguir é elucidativo:
O que acontece no Bolsa-Emprego é que o perfil de cadastro deles é bem primeiro
emprego mesmo. São pessoas novas, 16, 17 anos, que nunca trabalharam. E apesar
de ser estágio, em alguns momentos, você precisa de alguém com uma vivência,
não necessariamente tenha que ter tido emprego. Sei lá, a família, alguém que teve
alguma experiência administrativa em algum lugar (Informação verbal).16
16
Entrevista concedida, em 09/07/2005, por empresário.
155
O conhecimento prévio sobre o jovem, mediante indicação feita por pessoas que se
relacionam com o empresário ou por outro funcionário da empresa é um costume existente.
Os empresários afirmaram que a prática existe e é incentivada como forma de se prevenir
problemas futuros. Apesar de o programa ter um caráter social de poder auxiliar jovens que
não disponham de uma rede social, atuando como uma forma de intermediar sua entrada no
mercado de trabalho, os empresários preferem os jovens que tenham esse quesito, em
detrimento dos que não o apresentem. Algumas empresas, inclusive, optam por contratar
apenas jovens indicados pelos funcionários. Essa cultura é expressa de forma singular no
relato a seguir:
É costume. Eu até pergunto: “Você conhece alguém?”. Depois, eu chamo em
particular e pergunto: “Você conhece? Quem é?” Já aconteceu muitas vezes de
falarem “Oh... não aceita não porque tem isso, e isso, e isso! (Informação verbal).17
Após a admissão, o estagiário é direcionado ao setor onde irá trabalhar, sem que
ocorram adequações que permitam ao jovem a realização de um estágio supervisionado. Os
empresários enfatizaram que o processo de aprendizagem do estagiário é realizado da mesma
forma que seria com um outro jovem qualquer contratado pela empresa. Na maioria dos
casos, os jovens foram direcionados a realizar os serviços mais simples, ou seja, de menor
responsabilidade dentro da empresa, com a ressalva de que eles poderiam, no decorrer do
tempo, aprender atividades mais complexas. Destacou-se que os jovens apresentam uma
disposição considerável para aprender as tarefas e que isso era um dos fatores que validava a
experiência com o programa.
Os empresários afirmaram que, a partir dos resultados positivos alcançados com os
jovens dentro da empresa, gostariam de poder ampliar o número de vagas para estágio, porém
não o fazem pela questão da lei, que estabelece limites para número de estagiários em relação
ao número de funcionários. Entretanto, relata-se o lado positivo dessa cota de estagiários
permitidos às empresas, pois, na necessidade de mais um auxiliar administrativo e não
podendo contratar outro estagiário, admite-se o estagiário como auxiliar administrativo e
abre-se mais uma vaga de estágio para outro jovem.
Ocorreram relatos de empresas que substituíram o modelo de contratação de mão-deobra com experiência profissional anterior (muitas, inclusive, só contratavam dessa maneira)
pela estratégia de formar sua própria mão-de-obra, a partir do Programa Bolsa-Emprego.
17
Entrevista concedida, em 09/07/2005, por empresário.
156
Alguns relatos demonstram que o programa substituiu a contratação de adultos que, também,
não tinham experiência anterior, por jovens do programa, partindo da constatação de que os
estagiários aprendiam o serviço rapidamente e se dedicavam com mais afinco às tarefas
propostas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa Bolsa-Emprego foi criado pela administração municipal (2001-2004) com
o intuito de proporcionar a abertura de postos de trabalho para os jovens, cumprindo, assim,
as promessas realizadas durante a campanha eleitoral, que se baseavam no combate ao
desemprego e à violência urbana. Como os jovens seriam os mais afetados pelo desemprego e
pela violência, os mesmos seriam inseridos no mercado de trabalho por meio de um estágio
supervisionado. No entanto, a opção por estágio de um ano e não por um programa de
primeiro emprego com registro, como outros programas do gênero, ocorreu devido às
questões legais, pois a “assinatura da carteira” poderia afastar os empresários. O sistema de
estágio adotado pela administração municipal implica em uma flexibilização das leis
trabalhistas. Essa opção fica evidente ao se observar a falta de acompanhamento e controle
das atividades realizadas pelos estagiários, que deveriam ser supervisionadas pelos gestores
públicos, pelos empresários e/ou pelos funcionários das escolas.
Os gestores públicos esbarraram nas exigências dos empresários, que não distinguem
os estagiários subvencionados pela prefeitura de outros jovens, que poderiam ser formados
dentro dos quadros das empresas, sem subvenção. Essa condição acarreta aos gestores
públicos a necessidade de diferenciar os candidatos no ato mesmo da inscrição, levando-os à
busca de estagiários que preencham as condições impostas pelas empresas e não o contrário.
Os gestores públicos procuram propor às empresas os jovens em situação de vulnerabilidade,
que mais necessitam do programa para se inserirem no mercado de trabalho, pois, sua rede
social dificulta a inserção no mercado formal de trabalho. Como o Programa Bolsa-Emprego
é perpassado pela questão político-eleitoral, em vista da visibilidade política, supostamente
obtida pela administração, os gestores públicos e o programa, como um todo, ficam à mercê
das vicissitudes da quantidade em detrimento da qualidade. Ou seja, o critério de avaliação de
desempenho imposto aos gestores do poder local encarregados do programa prioriza o maior
número de jovens atendidos, em detrimento dos benefícios que o programa possa trazer aos
mesmos. Esse “atendimento” é realizado somente pelas orientações dos empresários
157
participantes, sem que haja mais cuidado com a aprendizagem profissional do jovem e como
ocorre esse processo.
É de ressaltar, entretanto, que as regras estabelecidas pelo programa atuam de forma
positiva nos objetivos propostos, seja direta ou indiretamente. Ao estabelecer que apenas os
jovens residentes no município de Betim possam ser atendidos, o programa cria uma reserva
de mercado para os jovens do município, anteriormente em desvantagem em relação aos
trabalhadores com experiência, e oriundos de outros municípios. As empresas que primavam
pela experiência utilizando-se, inclusive, de profissionais de outros municípios, depois de
aderidas ao programa, abriram a possibilidade de formar mão-de-obra residente em Betim,
que poderia ser contratada tanto pela própria empresa como pelas demais, alterando a
configuração do processo de seleção anteriormente utilizado. Outra regra estipulada pelo PBE
que atingiu os objetivos propostos era referente à quantidade de jovens atendidos pela
empresa. Como era atrativo obter mão-de-obra juvenil de baixo custo, ao abrirem mais vagas
que pudessem ser preenchidas pelos estagiários – mas não sendo possível contratá-los, uma
vez que o número de estagiários ultrapassava a cota –, as empresas preferiam a contratação do
estagiário como funcionário e a abertura de novas vagas para outros estagiários. Dessa forma,
parte dos jovens era realmente inserida como funcionários da empresa.
As empresas que aderiram ao programa esperavam baixar seus custos de contratação e
formação de mão-de-obra, assim como participar de um programa que lhes proporcionasse o
rótulo de empresas com responsabilidade social (de preferência, com baixo custo e sem
mudanças administrativas e produtivas significativas). A maioria das expectativas das
empresas foi atendida com o programa. As situações que os representantes das empresas
apontaram como problemáticas referiam-se às questões que emperravam o processo de
contratação dos jovens, que, por ser demorado, causava prejuízos à empresa. Mas esse
“prejuízo” era devido à vaga aberta pela empresa, que, apesar de ser uma vaga precisamente
criada mais para o estágio supervisionado, na verdade espelhava a necessidade de ocupação
de um trabalhador dentro da estrutura produtiva.
A falta de acompanhamento do gestor público, apontada pelos empresários, adquire
um tom voltado mais para a falta de reconhecimento da “formação” que o jovem vinha tendo
na empresa, do que a importância pedagógica do acompanhamento das atividades no estágio.
Assim, apesar do relativo sucesso do programa em estabelecer parcerias entre a
iniciativa privada e o poder público para a abertura de postos de trabalho para os jovens, não
se verificaram os pressupostos apontados pela bibliografia quanto à prioridade para os jovens
com maiores dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Ao contrário, observou-se que
158
os costumes que os excluíam, como a intermediação de conhecidos, ainda persistem, apesar
da finalidade do programa ser exatamente romper com tal ciclo.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? São Paulo: Cortez Editora, 1997.
AZEREDO, B. (1998), Políticas públicas de emprego: a experiência brasileira. São
Paulo: ABET, 1998.
BALTAR, P. e DEDECCA, S. C. et. al. Mercado de trabalho e exclusão social no Brasil.
Revista de estudos Del Trabajo, n.2, p. 23-25, 1996.
BAPTISTA, T. A. O jovem trabalhador brasileiro e qualificação profissional: a ilusão do
primeiro emprego. In. SALES, M. A.; MATOS, M. C.; LEAL, M.C. Política social, família e
juventude: uma questão de direitos. São Paulo: Cortez, 2004, p. 131-146.
BARBOSA, A. de F.; MORETTO, A. Políticas de emprego no Brasil. In: DEDECCA, S. C. (Org.). Políticas de emprego e
proteção social. São Paulo: ABET, 1998. (Coleção ABET
Mercado de Trabalho), v. 1, p.59-100.
BARROS, R. P. e CARVALHO, M. Desafios para a política social brasileira. Rio de
Janeiro: IPEA, 2003.
BECKER, Howard S. Métodos de Estudo de Caso em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec,
1993.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica da questão do salário.Trad.
Iraci D. Poleti. Petrópolis: Vozes, 1998.
COELHO, F. D. Reestruturação Econômica e as novas Estratégias de Desenvolvimento
Local. In: COELHO, Franklin D. e FONTES, A. Desenvolvimento Econômico Local: temas
e abordagens. Rio de Janeiro: IBAM SERE/FES, 1996. p. 9-25.
DAYRELL, J. Pesquisa: Juventude, Escolarização e Poder Local Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2005.
CHAVES, Dener A. O Programa Bolsa-Emprego na cidade de Betim-MG: uma análise a
partir do olhar dos gestores públicos, dos empresários e do público alvo. Dissertação
(Mestrado) – PUC Minas/ Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais: Gestão de
Cidades. Belo Horizonte, 2005.
DEMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 1995.
DIEESE. A situação do trabalho no Brasil. São Paulo: DIEESE, 2001.
IANNI, O. Trabalho e capital. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1997. p. 155-187.
KLINK, J. A cidade-região: regionalismo e reestrutura no Grande ABC Paulista. Rio
159
de Janeiro: DP&A, 2001.
MADEIRA, F. R. A improvisação na concepção de programas sociais; muitas convicções,
poucas constatações- o caso primeiro emprego. In: São Paulo em Perspectiva, v.18, n.2,.
p.78-94, abr./jun. 2004, p. 78-94.
MOREIRA, M. J. e ALMEIDA FILHO, N. A inserção precária do jovem no mercado de
trabalho brasileiro. Disponível em: http/www.race.nuca.ie.ufrj.br. Acessado em 05-01-2001.
MORETTO, A. J.; GIMENEZ, D. M. e PRONI, M. W. Os descaminhos das políticas de
emprego no Brasil. In: PRONI, M. W. e HENRIQUE, W. (Org.). Trabalho, mercado e
sociedade: o Brasil nos anos 90. São Paulo: UNESP, 2003, p. 231-278.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Desemprego juvenil no
Brasil: em busca de opções à luz de algumas experiências internacionais. 2. ed. Brasília: OIT,
2001.
PEREIRA, A. F. Educação, formação e empregabilidade: algumas questões e opções para
combater o desemprego juvenil. In: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO. Desemprego juvenil no Brasil: em busca de opções à luz de algumas
experiências internacionais. 2. ed. Brasília: OIT, 2001. p. 13-18.
POCHMANN, M. A inserção ocupacional de emprego dos jovens. Políticas de emprego e
proteção social. São Paulo:ABET, v. 1, 1998. p.73-105. (Coleção ABET Mercado de
Trabalho).
RAMOS, Carlos Alberto. Notas Sobre Políticas de Emprego. Rio de Janeiro: IPEA, 1997.
ROCHA, C. V. Idéias dispersas sobre o significado de políticas sociais. In: STENGEL, M. [et
al] Políticas públicas de apoio sociofamiliar. Belo Horizonte: PUC-Minas, 2001.
RUA, M. G. As políticas públicas e a juventude dos anos 90. In: CNPD. Jovens acontecendo
na trilha das políticas públicas. v.2. Brasília: Comissão Nacional de População e
Desenvolvimento, 1998.
TELLES, V. A cidade e o trabalho. Cadernos Lê Monde Diplomatique, São Paulo: Instituto
ABAPORU, n. 2, 2001.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi.3ª ed. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
160
PARTE III
Inclusão Social, Gênero e
Raça: Questões Específicas
161
Gênero e Raça no Brasil: Impasses e Avanços
Rosana Heringer1
A proposta deste artigo consiste em refletir sobre a questão da diversidade racial e de
gênero, bem como dos impasses e desafios em torno dessa questão, principalmente no Brasil.
A concepção de que parte este trabalho é da discriminação como uma violação dos Direitos
Humanos. Tomar o marco dos Direitos Humanos como ponto de referência para se debater a
questão da inclusão e a questão da diversidade se faz importante porque nos remete à
compreensão do ser humano como um todo e não de determinado grupo específico. A
percepção da discriminação como violação de direitos traz embutida uma crítica à falsa noção
de um ser humano supostamente universal. Tal seria um ser humano associado com o
masculino, com o branco, com o heterossexual, com uma pessoa sem eventuais necessidades
especiais. Essa é uma noção que nos permite ampliar e pensar a questão da inclusão
(HERINGER; PITANGUY, 2002).
A ideia de respeito às diversidades mostra-se presente nos principais documentos
internacionais de direitos humanos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948. Ao longo das últimas cinco décadas, tal concepção de diversidade associada aos direitos
humanos ampliou-se e se consolidou. Pode-se tomar como exemplo a Declaração da
Conferência Mundial dos Direitos Humanos, ocorrida em Viena, em 1993, cujo texto
consolidou a percepção da indivisibilidade dos Direitos Humanos, entre outros avanços
(ONU, 1993).
O ciclo de conferências sociais da ONU, iniciado em 1992, com a Conferência
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), nos aponta para a ampliação
dessa concepção de direitos: direito ao meio ambiente, direitos humanos, direito das
populações ao desenvolvimento social, direito das mulheres. A Conferência de Durban (III
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância
Correlata), realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, representou o clímax desse
movimento, no que diz respeito à luta contra a discriminação racial. No entanto, com exceção
da Conferência de Durban (que teve como tema específico a questão da discriminação), outras
1
Doutora em Sociologia (IUPERJ), coordenadora do Programa de Direitos das Mulheres e Afrodescendentes,
ActionAid Brasil .
162
conferências pouco trataram do debate sobre discriminação racial e diversidades (Heringer &
Lopes, 2003).
Essa conferência constituiu-se em um marco importante para a redefinição da agenda
das relações raciais no mundo e, particularmente, no Brasil. A oportunidade de interferir tanto
por meio da denúncia do racismo quanto da formulação de propostas que pudessem vir a ser
incorporadas na declaração final e no plano de ação da conferência motivou a participação de
centenas de organizações do movimento negro brasileiro, juntamente com organizações
indígenas, de mulheres e de diferentes grupos religiosos, entre outros, no processo
preparatório da conferência, impulsionando um momento de ricos debates sobre o padrão
vigente de relações raciais no Brasil.
Quando se pensa no caso brasileiro e no debate contemporâneo sobre o assunto, o
princípio da diversidade, ao ser trazido para o âmbito das políticas públicas e,
particularmente, das políticas sociais, significa apontar que as chamadas políticas universais
têm efeitos diferenciados sobre distintos grupos sociais.
Na prática, as políticas universais admitem que a sociedade brasileira comporta uma
diversidade de cidadãos que não pode se reduzir às categorias com as quais tradicionalmente
as políticas públicas atuaram durante muito tempo – utilizando categorias tais como “os
excluídos” ou “os pobres”. Dentro desses grupos existem várias especificidades e isso afeta o
reconhecimento e o acesso aos direitos e à forma como esses direitos realizam-se na prática. É
importante pensar que o tradicional recorte feito com base no rendimento ou no nível de vida
se mostra insuficiente para traduzir as diferenças e, portanto, as necessidades e os direitos da
população.
No que diz respeito à questão específica da dimensão de raça e etnia no Brasil, um
conjunto de indicadores sociais demonstra as diversas desigualdades raciais e étnicas quanto
ao acesso aos direitos (Henriques, 2001; Heringer, 1999 e 2006). A própria mídia no Brasil,
além da mobilização do movimento negro e do trabalho de pesquisadores, vem fazendo com
que esses números estejam bastante conhecidos hoje em dia. Os indicadores relacionados ao
rendimento das famílias, à mortalidade infantil, ao acesso à educação, à vitimização, à
vulnerabilidade do trabalho infantil, entre outros, demonstram as desigualdades de
oportunidades, segundo o IBGE, entre os grupos que se autoclassificam como pretos e pardos
e o grupo que se autoclassifica como branco.
Esses indicadores representam o retrato de uma trajetória no campo das políticas
educacionais e das políticas sociais como um todo que traduz um contínuo de desigualdades,
do ponto de vista da autoclassificação de cor ou raça dos brasileiros. Como bem aponta
163
Paixão (2003), esses dados expressam o fato de que as supostas políticas universais
implantadas no Brasil, nas últimas décadas, não apenas não chegaram a se universalizar, mas
também não contribuíram para a redução das distâncias entre brancos e negros, no que diz
respeito às oportunidades. No ritmo em que nos encontramos hoje no Brasil, levaremos ainda
muitos séculos para chegar a uma efetiva igualdade de oportunidades entre os diferentes
grupos raciais no Brasil.
Acreditamos ser muito importante, nessa rápida reflexão, tomar como referência a
mobilização negra antirracista no Brasil, pois que sempre houve essa mobilização,
principalmente no período pós-abolição e ao longo do século XX, quando permanentemente
se apresentaram propostas de debates sobre a questão da inclusão da população negra no
Brasil.
A mobilização das organizações negras esteve presente em toda a história do Brasil,
tanto no período da escravidão, com diversas formas de resistência política, cultural e
religiosa, quanto a partir do fim do século XIX, no movimento abolicionista, e na mobilização
nas décadas seguintes pela ampliação dos direitos da população negra. A agenda das
organizações negras que surgem no país, a partir da década de 30, fundamenta-se na ideia de
aumentar o acesso dos negros à educação, a oportunidades de trabalho e a um maior espaço na
participação na vida política e econômica (Silva, 2003).
É interessante observar que todo debate que hoje ocorre sobre as cotas e sobre a ação
afirmativa, por exemplo, não se mostra isolado de uma demanda histórica. Nos últimos 25
anos e, em particular, no momento em que os vários movimentos sociais se rearticularam pósditadura militar, o movimento negro também sempre se organizou e trouxe bandeiras
específicas voltadas para a luta contra a discriminação.
São vários os aspectos que devem ser lembrados em torno dessa mobilização pela
promoção da igualdade. Devemos nos lembrar do debate sobre políticas específicas
(principalmente para população negra); da questão dos entraves à plena inserção do negro no
mercado de trabalho, e não apenas em posições menos qualificadas e de menor rendimento;
dos desafios de se enfrentar o racismo no cotidiano, talvez uma das formas mais perversas e
difíceis de racismo que temos de enfrentar para conseguir a plena inclusão2.
Na sequência, apresentamos um rol de questões para pensar em torno da promoção da
igualdade e valorização da diversidade no campo das políticas públicas. Decidimos apontar
2
Foi justamente essa situação concreta da discriminação racial que motivou um conjunto de várias organizações
não-governamentais e do movimento negro no Brasil a lançar a campanha “Onde você guarda o seu racismo?”.
O objetivo foi estimular o debate sobre o racismo vivenciado no cotidiano, motivando as pessoas a percebê-lo
para, então, combatê-lo. Mais informações na página www.dialogoscontraoracismo.org.br.
164
como foco principal a questão do direito à educação, pela sua importância na geração de
oportunidades e na contribuição potencial para uma sociedade não discriminatória.
Um tema fundamental, por exemplo, é a questão da educação de zero a seis anos e,
principalmente, na faixa de zero a três anos. Há também o tema da construção de uma
proposta curricular antirracista, além de estratégias para promover um melhor rendimento
educacional dos estudantes negros. Existem algumas pesquisas com resultados importantes
mostrando que é possível construir bons resultados, em termos de sucesso escolar, nas
diversas séries. As pesquisas mostram ainda que, à medida que se ampliam as oportunidades
de acesso às várias formas de tecnologia e a escola apresenta uma educação de qualidade, as
diferenças que os estudantes trazem na sua história pessoal e na sua origem social diminuem
(SOARES et al., 2001). Então, precisamos investir principalmente nos grupos que têm
apresentado um rendimento escolar de menor sucesso.
O movimento negro vem realizando um grande trabalho na implementação da Lei
10.639/2003 – que é a lei voltada para o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas
–, com a produção de material didático, bem como da promoção de oportunidades de
formação de professores.
Em relação à promoção de atividades culturais tendo como enfoque as crianças e os
adolescentes negros, temos visto pelo Brasil muitas experiências importantes que vêm
acontecendo em comunidades, em bairros de periferia, em favelas e, principalmente, nas
grandes cidades brasileiras – experiências que têm sido verdadeiros laboratórios, digamos
assim, de inclusão, promovendo tanto ações culturais como ações de treinamento e de
qualificação profissional. Essas experiências
atingem
grande número de jovens,
majoritariamente de jovens negros. Isso é muito importante para refletirmos sobre os
alcances, os sucessos e os limites dessas experiências, além de verificarmos até que ponto elas
podem dialogar umas com as outras.
Tais experiências têm relação com outro aspecto desse assunto: a redução do trabalho
infantil e do trabalho informal e precário. Todo mundo que trabalha com jovens –
principalmente com jovens que já terminaram o ensino médio e ainda não obtiveram sucesso
ou oportunidade de entrar em uma universidade, ou mesmo quem trabalha com aqueles jovens
que conseguiram entrar na universidade, mas ainda estão desempregados – sabe que, na
questão do mercado de trabalho, a grande massa de desempregados no Brasil de hoje é de
jovens de até 25 anos. Reconhecemos a complexidade associada a questões de desempenho
econômico do país, necessária à geração de empregos, entretanto apontamos para a
165
necessidade de promover um crescimento que não seja excludente, que não beneficie apenas
determinado grupo.
Ainda nesse campo das políticas voltadas para a questão racial, existe a situação
específica de vulnerabilidade dos jovens e adolescentes do sexo masculino. De vez em
quando, ao colocarmos essa questão, surge certa polêmica porque sempre há a tendência de se
pensar nas mulheres como um grupo específico, um grupo que demanda uma atenção maior.
Algumas pesquisas, porém, demonstram que as taxas de mortalidade por causas externas –
basicamente mortes violentas – entre jovens, negros e pobres nas áreas metropolitanas
brasileiras são bem maiores do que a taxa média do conjunto da população3. Isso nos mostra
um ponto muito concreto, qual seja a questão da segurança pública e do respeito aos direitos
em relação à juventude em geral e aos jovens negros em particular.
1. GÊNERO: O PROTAGONISMO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS PÚBLICO E
PRIVADO
O artigo 5º da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, declara que “homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações” (Parágrafo I). Essa declaração abrangente se
expressa em diferentes conquistas obtidas pelas mulheres no processo constituinte, como a
igualdade no casamento, a garantia de alguns direitos trabalhistas às empregadas domésticas e
o reconhecimento do papel do Estado em coibir a violência doméstica, entre outras4.
Essas e outras conquistas foram frutos da mobilização e atuação política de um ativo
movimento de mulheres que, desde o início do século XX, atuou intensamente na luta pela
ampliação do papel da mulher na sociedade brasileira. Nesse processo de organização das
mulheres para a conquista de seus direitos, a composição desse movimento social congregou
uma diversidade de militantes, refletindo a própria diversidade regional, social, econômica e
3
Um estudo feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) indica que as mortes causadas
por homicídios (assassinatos) são mais frequentes entre os homens negros na faixa de 10 a 24 anos do que entre
os brancos no Estado de São Paulo. Enquanto ocorrem 60,5 óbitos para cada 100 mil homens no caso dos
brancos, essa proporção sobe para quase o dobro entre os negros: 120 mortes para cada 100 mil homens. (Acesso
na página eletrônica http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/11/16/materia.2006-11-16.0421729587/view
em 08/08/2007).
4
Uma articulação que ficou conhecida como Lobby do Batom, liderada pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher (CNDM), alcançou, a partir da mobilização de centenas de organizações de mulheres, as seguintes
conquistas na Constituição de 1988: eliminou-se a supremacia dos homens nas questões familiares; conquistouse o direito da mulher casada declarar separadamente seu imposto de renda; os mesmos direitos para os filhos
tidos fora do casamento e no matrimônio; os mesmos direitos dos casados para parceiros em uniões consensuais;
direito à licença-paternidade de oito dias remunerada; violência sexual como crime contra os Direitos Humanos e
não como crime moral; direitos trabalhistas e previdenciários estendidos aos trabalhadores domésticos, na sua
ampla maioria mulheres (Pena; Pitanguy, 2003, p.94).
166
racial presente na sociedade brasileira. Entretanto, o movimento sufragista na década de 30,
assim como, ao longo das décadas seguintes, o movimento feminista, mantinham sua base
social principalmente composta por mulheres brancas, escolarizadas e de classe média e alta
(ALVES, 1980). As mulheres trabalhadoras de baixa qualificação, as empregadas domésticas,
as mulheres negras e indígenas foram personagens ainda pouco presentes na vida política
nacional até o período da redemocratização política, iniciado em meados da década de 1970.
Ao longo do século XX, marcado por intenso crescimento econômico e pela crescente
urbanização e modernização da sociedade brasileira, o papel destinado a mulheres negras e
indígenas continuou sendo subalterno: desvalorização do trabalho das mulheres na área rural;
trabalho desqualificado ou subemprego nas áreas urbanas; expressivos contingentes de
mulheres indígenas (principalmente no Norte e Centro-oeste do país) e negras empregadas no
trabalho doméstico; altos índices de prostituição e condições precárias de saúde e educação,
em comparação com as mulheres brancas.
Em relação à questão de gênero, é importante resgatarmos o histórico de mobilização
das mulheres no Brasil, mobilização que vem de longa data e se intensificou nas últimas
décadas. Creio que uma das principais vitórias do movimento de mulheres tenha sido,
justamente, a possibilidade de reconhecimento do espaço privado como espaço político. A
visibilidade das mulheres vem ocorrendo nos mais diferentes setores, principalmente, ao
deixarem de ocupar apenas o espaço dedicado à família, passando a ocupar também espaços
públicos na sociedade.
É certo que ainda existem demandas importantes. Algumas lograram vários avanços,
outras ainda têm muita coisa para alcançar, por exemplo, a luta contra a violência, a luta por
direitos sexuais reprodutivos, a luta pela participação política e maior ocupação de espaços de
poder. Enfim, temos experimentado algumas conquistas em torno dessas questões, porém
ainda há espaços para avançar mesmo em áreas nas quais as mulheres obtiveram grandes
conquistas, como é o caso do mercado de trabalho, no qual ainda são vivenciadas situações de
grande desigualdade.
Quanto à questão de gênero no âmbito educacional, os dados mostram a necessidade
de ampliar a construção de uma proposta curricular não-sexista. Temos vivido algumas
experiências importantes, e o movimento de mulheres vem desempenhando papel importante
nesse campo da formação de professores voltados para lidar com o tema da diversidade de
gênero, da luta contra a violência, de se pensar os papéis sociais de homens e mulheres.
Outra questão com que devemos nos preocupar é a do trabalho infantil –
principalmente em relação às meninas que trabalham como empregadas domésticas, um tema
167
que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres vem dando prioridade. A secretaria
tem trabalhado igualmente em temas voltados para o combate à violência de gênero, à questão
da gravidez precoce, à exposição ao HIV – sabe-se que a maioria das novas pessoas
infectadas se constitui de mulheres – e a política pública de segurança, entre outras temáticas.
2. REFLETINDO SOBRE ESTRATÉGIAS
A vivência democrática permite que se estabeleçam espaços e arenas nos quais os
diferentes conflitos existentes na sociedade brasileira possam ser negociados. Entretanto, ao
mesmo tempo, também se criam situações de impasse, em que dificilmente ocorre uma
conciliação dos interesses.
Temos uma preocupação específica com a questão da integração das agendas.
Obviamente que existem agendas inconciliáveis, porém acreditamos ser possível haver dentro
da agenda dos diversos movimentos sociais, com suas variadas agendas, também uma luta
antirracista ou uma luta pelos direitos das mulheres. A intenção é que os próprios excluídos,
de alguma forma, possam dialogar entre si e pensar como seus direitos podem ser
reivindicados em conjunto.
Outro aspecto importante, em termos de estratégia, é o monitoramento dos programas
sociais, principalmente levando-se em conta as variáveis de gênero e raça. Já existem alguns
programas de ação afirmativa sendo implementados, da mesma forma que foram implantados
alguns programas que apresentaram como foco as mulheres e jovens, entre outros grupos.
Tais programas precisam ser ampliados e mais bem monitorados. É fundamental formular
mecanismos de priorização para grupos específicos no acesso aos programas sociais, a fim de
se chegar àqueles que realmente precisam.
No campo específico da luta contra a discriminação e a desigualdade racial, é
importante refletir sobre estratégias que ampliem o acesso e a permanência de estudantes
negros no ensino superior, que se apresenta como um terreno fundamental para o movimento
negro e antirracista. Esses devem ser capazes de reunir aliados em diferentes setores da
sociedade brasileira, vencendo resistências e ampliando sua base de apoio.
Pesquisa de opinião em nível nacional, realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2003, aponta que entre a
maioria dos entrevistados, em todos os grupos, divididos de acordo com a autoclassificação racial, a aprovação
às cotas é majoritária. Entre os brasileiros brancos, a medida é apoiada por 56%. O índice sobe para 59%, se
consideradas apenas as respostas dos pardos, e para 68% entre as pessoas que se autodeclaram pretas. Entre os
168
índios, o percentual ficou em 59%. Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em 1995, com as mesmas
perguntas, a aprovação da política de cotas era de 48%, contra os 59% de hoje (SANTOS; SILVA, 2005).
Essa questão é um objetivo que as pessoas aceitam e, mais ainda, acreditam ser
importante para o Brasil. Devemos repensar as maneiras de superar o problema da
desigualdade e da discriminação racial e de gênero no Brasil, como formas de garantia dos
Direitos Humanos e realização da cidadania.
REFERÊNCIAS
AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras), Mulheres Negras: um retrato da
discriminação racial no Brasil. Brasília: AMB.
BAIRROS, Luiza, 1995. Nossos feminismos revisitados. In Revista Estudos
Dossiê Mulheres Negras. Págs. 458-463.
Feministas.
CEPIA, 2001. As mulheres e a legislação contra o racismo. Rio de Janeiro: CEPIA.
GUIMARÃES, Antonio S. Alfredo, 1999. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo:
Editora 34.
_________, 2002. Classes, Raças e Democracia. São Paulo: Editora 34.
HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condições de Vida
na Década de 90. Rio de Janeiro: IPEA (Texto para Discussão Nº. 807), 2001.
HERINGER, Rosana (org.), 1999. A cor da desigualdade: desigualdades raciais no
Mercado de trabalho e ação afirmativa no Brasil. Rio de Janeiro: IERÊ/ Núcleo da CorLPS-IFCS-UFRJ.
_________, 2000. Desigualdades Raciais no Brasil. Brasília: Escritório Nacional Zumbi dos
Palmares.
_________. Mapeamento de Ações e Discursos de Combate às Desigualdades Raciais no
Brasil. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, Ano 23, nº. 2, pp. 291-334, dezembro de
2001.
_________, 2006. Diversidade racial e relações de gênero no Brasil contemporâneo. In:
PITANGUY & BARSTED, Leila L. (orgs.), 2006. O Progresso das Mulheres no Brasil.
Brasília: UNIFEM/ Fundação Ford/ CEPIA.
_________& PITANGUY, J. Trade, Human Rights and an Alternative World Order: The
role of Civil Society. Development, Londres, v. 45, n. 2, p. 53-57, 2002.
_________& LOPES, Sonia Aguiar (org.) 2003 Sonhar o futuro, mudar o presente:
diálogos pela inclusão racial no Brasil. Rio de Janeiro: IBASE.
169
_________& MIRANDA, Dayse, 2004. ICC- Brasil: Índice de Compromissos Cumpridos:
Uma estratégia para o controle cidadão da igualdade de gênero. Rio de Janeiro/ Santiago:
CEPIA/FLACSO.
JACCOUD, Luciana de B. & BEGHIN, Nathalie. Desigualdades Raciais no Brasil: um
balanço da intervenção governamental. Brasília: IPEA, 2002.
ONU. Declaração da Conferência Mundial dos Direitos Humanos – Viena. Acessado na
página eletrônica http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html em 08/08/2007.
_________Declaração e Plano de Ação da III Conferencia Mundial de Combate ao
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Brasília: Fundação
Cultural Palmares, 2002.
PAIXÃO, Marcelo, 2003. “A hipótese do desespero: a questão racial em tempos de frente
popular”. In Observatório da Cidadania – Relatório 2003. Rio de Janeiro/Montevidéu:
IBASE/ IteM; pp. 57-70.
PENA, Maria Valéria Junho & Pitanguy, Jacqueline (orgs.) – A questão de gênero no Brasil.
Rio de Janeiro: CEPIA e Banco Mundial, 2003.
PITANGUY, Jacqueline, 2002. Gênero, Cidadania e Direitos Humanos in Bruschini,
Cristina e Unbehaum, Sandra (orgs.) – Gênero, Democracia e Sociedade Brasileira. São
Paulo: Editora 34/ Fundação Carlos Chagas.
_________& BARSTED, Leila L. (orgs.), 2006. O Progresso das Mulheres no Brasil.
Brasília: UNIFEM/ Fundação Ford/ CEPIA.
SANTOS, Gevanilda & Silva, M. Palmira da (orgs.), 2005. Racismo no Brasil: percepções
da discriminação e do preconceito racial no século XXI. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo.
SILVA, Joselina da, 2003. “A União dos Homens de Cor: aspectos do movimento negro dos anos 40 e 50". Estudos AfroAsiáticos, Ano 25, No. 2, pp.215-235.
SOARES, José Francisco, Ribeiro, Leandro Molhano and Castro, Cláudio de Moura - Valor
agregado de instituições de ensino superior em Minas Gerais para os cursos de Direito,
Administração e Engenharia Civil. Dados, 2001, vol.44, N.2.
TELLES, Edward, 2003. Racismo à Brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de
Janeiro: Relume Dumará.
ZONINSEIN, Jonas & FERES, João (Orgs.), 2006. Ação Afirmativa e Universidade:
Experiências Nacionais Comparadas. Brasília: Editora UnB.
170
Inclusão, exclusão e raça:
Uma articulação entre psicanálise e sociedade
José Tiago dos Reis Filho5
“Os mortais são aqueles que podem ter a experiência da morte como
morte. O animal não o pode. Mas o animal tampouco pode falar. A
relação essencial entre morte e linguagem surge como num
relâmpago, mas permanece impensada. Essa relação pode, contudo,
dar-nos um indício para o modo como a essência da linguagem nos
reivindica para si e nos mantém desta forma junto de si, no caso de a
morte pertence originariamente àquilo que nos reivindica”
Heidegger
Falar de inclusão numa sociedade exclusiva é, no mínimo, constrangedor! É como
percebo esse tema no Brasil. Desde nosso “descobrimento”, as práticas exclusivistas têm sido
uma constante, uma norma. Os índios foram dizimados; o que vemos hoje é uma pequena
porcentagem (10%) da população de origem. Os negros foram “assimilados”, por causa da
miscigenação ou da vida à margem. Outros povos encontraram aqui uma pátria. Afinal, o
Brasil é uma democracia racial! Doce ilusão. Quando olhamos de perto, não é isso que vemos.
A exacerbação da violência; a proletarização crescente; o baixo nível das redes públicas de
educação e de saúde... Isso afeta, especialmente, os negros, índios e nordestinos, essas
categorias historicamente marcadas pela desassistência.
A pobreza, a miséria, a falta de recursos dignos para o exercício da cidadania
envolvem uma parcela significativa da população. No presente texto darei ênfase aos negros e
sua histórica luta pela dignidade. É curioso perceber que o tráfico negreiro para o Brasil teve
início ainda nos anos 1500 e perduraram por mais de três séculos. Passados quase 120 anos da
Abolição da Escravatura, assistimos a uma pequena parcela da população brasileira (5%) que,
sendo negra, tem acesso a uma cidadania plena. Quando utilizo essa expressão – cidadania
plena –, não tenho a ilusão de que tais sujeitos sejam realmente cidadãos, mas que, pelo fato
de pertencerem à classe média, tenham acesso à educação, saúde, moradia e lazer decentes.
O fato de pertencer à classe média e ter acesso a bens de uso e consumo, não isenta
sujeitos negros de viverem ou sofrerem cotidianamente a sua negritude. Essa, muitas vezes,
5
Psicanalista. Doutor em Psicologia Clínica PUC-SP. Professor PUC Minas. José Tiago foi tirado de nós
subitamente, como em um relâmpago foi tragado pela morte. Mas na sua morte a sua vida de lucidez e alegria
ganhou nova força e significação. Este texto fica como um rastro de sua presença. Ele que foi tão cedo
reivindicado pela morte, mas desde sempre, como analista, foi também chamado pela linguagem.
171
vem acompanhada da pobreza ou da miséria, o que pode provocar sua invisibilidade. Não me
deterei nos aspectos econômicos da questão racial, mesmo considerando-os de fundamental
importância, por não me autorizar a dizer desse lugar; falarei como psicanalista e cidadão ou,
como bem diz Eric Laurent (1999), como analista cidadão.
Desde 1988, pesquiso e participo, como cidadão, dos interesses da comunidade negra
brasileira. Em minha atividade clínica, tenho dito a oportunidade de escutar sujeitos, entre
estes alguns negros. A escuta de um negro não difere da de qualquer outro sujeito. Em clínica
psicanalítica, isso não traz nenhuma especificidade, mas podemos pensar que há aí uma
particularidade. As situações de preconceito e discriminação vividas historicamente pelos
negros nos falam dessa particularidade. Quando um sujeito negro diz que foi interprelado,
revistado ou batido pela polícia e que isso se deve à sua cor, não é fantasia; sim, um dado de
realidade. No Brasil, interpelar, revistar e suspeitar de um negro não constitui algo que
surpreenda; todos sabemos disso. Desde crianças, os negros aprendem que devem tudo fazer
para não levantar suspeita. Afinal: “preto parado é suspeito; correndo é ladrão!”. Quando o
assunto é assassinato, sabemos que essa é a segunda causa de morte no Brasil; esse tipo de
delito acomete, principalmente, a população das periferias e, nas periferias – margem, reúnese a maioria da população negra. A cor preta é para ser a-batida (REIS FILHO, 2005).
Quando digo que escuto negros em clínica psicanalítica, isso causa surpresa ou
espanto em alguns. Afinal, historicamente, a psicanálise é uma prática para pouco e abastados.
Essa realidade vem mudando ao longo dos tempos, pois tanto os abastados são em número
cada vez mais reduzido, quanto o acesso aos serviços fica mais viável. A população fica
enriquecendo: não, ela cresce e consequentemente, cresce a demanda por serviços. A razão de
os negros me procurarem pode consistir no fato de eu ser negro, pesquisar e escrever sobre o
tema, ser o único analista negro de minha cidade. Procuram a mim pelos mais diversos
motivos. Alguns, inclusive, só ficam sabendo de minha cor quando me veem, o que, muitas
vezes, causa estranhamento. Dizem que os negros não frequentam consultórios de analistas, é
porque não desejam, não têm dinheiro ou moram em regiões distantes dos consultórios. Pois
os negros – metade da população brasileira – ocupam, desde que aqui chegaram, as posições
mais desprivilegiadas, a base da pirâmide social. Habitam favelas, periferias, lutam pela
sobrevivência. O acesso à saúde se dá pela via pública, e nesta, quando há atendimento
psicanalítico, é restrito, escasso.
Sempre que pergunto aos analistas se atendem negros, geralmente dizem que têm ou já
tiveram algum analisante, mas nunca se perguntaram pela questão racial. Estamos diante de
um sintoma, no sentido psicanalítico. Não reivindico uma especificidade para o negro, mas
172
também não quero negar uma diferença. Essa é visível, não só à pele, quanto ao redor das
cidades, nos orfanatos, presídios, hospícios, ruas e viadutos. Falando assim, pareço concordar
com muitos que dizem ser a questão racial fruto da situação econômica dos negros, que, de
tão caótica, realmente nos faz crer que represente a causa do racismo. Entretanto, o problema
vai além, pois os negros que não tem problemas econômicos não deixam de sentir, na própria
pele, as questões advindas de sua cor ou raça.
Quanto ao sintoma, é uma formação do inconsciente, produz satisfação pela via do
desprazer, sendo de difícil abandono, pois abandoná-lo pode produzir um desprazer ainda
maior. Mas, fala-se de um sintoma individual tão marcado por atravessamentos sociais e
econômicos que leva a pensar: um sintoma pode ser social? Sim. Koltai (2000) o percebe
como:
histórico, localizado e específico, significado pelo Outro e que, por isso mesmo,
pode mudar com o tempo, acompanhando as transformações do Outro – tanto no
plano pessoal quanto coletivo. É social ainda se o entendermos como a maneira
singular pela qual o sujeito enfrenta o discurso de seu tempo (p.111).
Ou seja, há em todo sintoma neurótico aspectos do social que vêm marcar os
significantes do sujeito; seus fantasmas são marcados pela realidade histórica. Ainda seguindo
Koltai, somos todos portadores de um nome, uma história singular, inserida na história de
cada um, seu romance familiar, seu mito individual, todos sofrem assujeitamentos de que nem
sempre foram atores, mas, no entanto, marcam sua individualidade. Cotidianamente
escutamos relatos de conflitos, traumas, humilhações, perdas, ligados aos nossos analisandos
ou a seus pais, irmãos, avós. Muitos trazem marcas de uma história transgeracional, ainda
hoje geradora de sofrimento e dor. E, em se tratando de negros, por que mais de três séculos
de escravidão seriam diferentes?
Cada sujeito, negro ou não negro, deste país carrega consigo as marcas do escravismo,
presente em dois terços de nossa História. Sendo assim, em se tratando de negros, como
possibilitar, a esse sujeito, a travessia deste fantasma? Nicéas (in Koltai, 2000), nos diz que:
Ao sujeito, uma psicanálise não pode prometer uma mudança dos determinantes de
sua história. O que ela pode tocar, modificando-a, é a maneira como o gozo deixou
sua marca na história do sujeito, particularmente sob a forma do sintoma. Ou,
dizendo mais precisamente, o sujeito será convocado, pela operação do analista, a
rever a sua responsabilidade subjetiva e, assim, poder querer modificar, ou não, o
modo pelo qual ele mesmo investiu a sua história (p.10).
Com relação à vítima, Koltai (2002) acrescenta que esta parece estar se tornando uma
representação dominante da subjetividade, em nossa sociedade da reparação, pois a vítima
173
permanece no registro da demanda, impossível de ser satisfeita. Não quero me aliar às
vítimas, mas a história aponta para algo mais que um reclame, uma queixa. Como construir
referências identificatórias para o negro e, ao mesmo tempo, operar uma desalienação desses
ideais? Quando o negro sai de seu lugar historicamente marcado – o navio negreiro, a senzala,
a favela, a cela –, se depara com uma dura realidade: a de não possuir referências
identificatórias, não contar com algo ou alguém em quem se espelhar, se mirar. Isso, devido a
experiências cotidianamente vividas de preconceito, discriminação e até racismo.
Aqui é necessário fazer uma diferenciação entre preconceito e discriminação.
Preconceito significa um pré-julgamento, uma maneira de se obter uma conclusão antes de
qualquer análise; significa posição irrefletida e também entendida com prejuízo. É uma
atitude negativa, contra alguém, baseia-se numa comparação social em que a pessoa se coloca
como referência positiva e o outro, objeto de preconceito, é visto em situação de desvantagem
ou inferioridade social, econômica, cultural ou biológica. O preconceito faz parte do humano,
assim como o incesto e o crime. Esses, por constituírem efeitos de civilização, devem ser
combatidos, para não ficarmos entregues à barbárie. Uma forma de se manifestar é a
disfarçada, que se esconde sob um véu qualquer de neutralidade – sempre suspeita – como é o
caso da suposta cordialidade característica do povo brasileiro (BENTO, 1992). Ela não passa
de máscara e oculta, além da questão racial, nossa divisão social, destacando dois extremos: o
das carências, no qual se situa boa parcela de nossa população e a imensa maioria dos negros
e dos privilégios, geralmente desfrutados pelas classes média e alta. Como as pessoas não se
dispõem a abrir mão de seus privilégios, transformando-os em um bem comum, resta a
carência como condição de muitos. O fato de a classe média desfrutar privilégios não se torna
seus integrantes cidadãos, pois cidadãos têm a mesma cor daqueles que são barrados, o que
costuma causar ainda mais estranheza, admiração e susto.
O preconceito não se confunde com a discriminação. Esta é a manifestação
comportamental do preconceito; são ações promovidas com o objetivo de manter as
características do grupo de posição privilegiada e referência positiva. A discriminação é mais
individualista, esporádica, episódica, aberta, “escancarada”. Alguns exemplos: os testes de
seleção de pessoas para admissão no trabalho, uma carta da promoção, um anúncio no jornal
dando preferência a um grupo ou a um segmento da população. No mercado de trabalho, os
negros sofrem basicamente três tipos de discriminação: ocupacional, uma dificuldade em
obter vaga para funções mais bem remuneradas e valorizadas; salarial, que diz respeito às
diferenças salariais, quando exercidas as mesmas funções, ou seja, o trabalho do negro não
vale tanto o dos demais; visual, que impede o negro de obter uma vaga pela sua aparência, o
174
que pode ocorrer para um emprego em uma resistência ou numa grande empresa (SANTOS,
2000, p.90).
Quanto ao racismo:
É uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual, grupos específicos, com
base em características biológicas e culturais verdadeiras ou atribuídas, são
percebidos como uma raça ou grupo étnico inerentemente diferente e inferior. Tais
diferenças são, em seguida, utilizadas como fundamento lógico pra se excluírem os
membros desses grupos do acesso a recursos materiais e não materiais (ESSED,
1995, p.174)
O racismo pode ser entendido como um princípio de inferioridade do grupo segregado,
antes de tudo desigual e injusto. Ele pode ocorrer sob três formas: individual, quando uma
pessoa se crê superior a outra em função de sua raça; institucional, quando instituições,
estados e/ou governos entendem que determinado grupo racial deve ter primazia em relação a
outros grupos; cultural, ocorre quando determinado grupo racial entende que a sua herança
cultural se sobrepõe em importância à de outros grupos.
Uma das consequências do racismo é a autorrejeição do eu outro. O nosso chamado
“racismo cordial” é marcado e, por isso, de difícil combate. O fato de a sociedade brasileira
considerar os negros incapazes por natureza se reflete diretamente em três setores sociais: nos
meios de comunicação, que reproduzem estereótipos; na polícia, que reprime os considerados
perigosos, e nos próprios negros, que assimilam tais ideais, podendo gerar ressentimento, o
ódio de si. Mas, conforme afirma Koltai (2000), não há racismo sem discurso, lembrando que
o discurso do sujeito se constitui no discurso outro. As particularidades do sujeito no mundo
são significados pelo sintoma. A partir dessas definições, cabe perguntar: como se dá, para o
sujeito negro, a elaboração, no plano psíquico, dos significados que racismo traz consigo?
Em seu artigo “O estranho” (1919), Freud nos apresenta a versão daquilo que nos é
familiar, sendo estranho, estrangeiro. O familiar se torna estrangeiro devido à ação do
reclamento. A essa terra estrangeira interior, Lacan (1998) chamou “extimidade”, designando
com isso o rela simbólico: simbólico que organiza a experiência, enquanto o real é aquilo do
qual não se pode dizer. O estranho é esse enlace entre o real e o simbólico, articulados pelo
imaginário que tudo representa, a partir de nossas criações, imagens, sentidos e fantasmas. O
estranho vem, então, se apresentar sob três formas: a do autômato, daquilo que rouba o lugar
do que deveria ser espontâneo e natural, passando despercebido; a do duplo, que aparece
como imagem especular ou como sensação de pura presença que, mesmo invisível, se faz
existir, sem sobra de dúvidas.
175
Radmila Zygouris (1995) denomina assombração àquilo que vem de algo que
efetivamente aconteceu na realidade, vindo a assumir autonomia psíquica e, por isso, podendo
ser esperado novamente em uma realidade futura. Ela se difere do fantasma, uma vez que este
designa a sujeição originária ao Outro, traduzida pela pergunta: Que queres? A outra forma do
estranho é o feminino: feminino pensado como diferença, como Outro. É um Outro que se
opõe ao Mesmo, resistindo ao um da norma, fazendo objeção ao todo. A norma é o
masculino, o adulto, o branco; norma fálica. O estranho vem de onde não se espera, da mais
absoluta proximidade mantendo-o à distância ou ignorando sua estranheza.
Freud distingue o outro como semelhante, no qual nos reconhecemos, segundo as
regras do bem e da identificação; e o próximo propriamente dito, esse outro inominável, que
ameaça aquela que sofre as consequências do racismo: estranhar no outro aquilo que julgo
oposto aos costumes, o que é diferente do esperado e, por isso, causa espanto, admiração,
surpresa; daí desviar, fugir, atacar, desumanizar, matar. O que inquietante no outro é o seu
modo particular de gozar, pois o racista não reconhece outra forma de gozo que não a sua:
reconhecer outra forma de gozo é reconhecer que todo o gozo não lhe pertence. Segundo
Koltai (1998):
O racismo é ódio do gozo do outro. Tentar se libertar do gozo do outro é uma
tentativa mortífera, em que o estrangeiro aparece como representante do gozo e
tem, portanto, de ser destruído. Não existe, nem pode existir, sociedade que ofereça
a todos um gozo igual, uma vez que, do ponto de vista do fantasma, é sempre o
outro que goza. Imputa-se sempre ao outro um gozo excessivo, acusando-o de
querer estragar nosso modo de vida. O que nos incomoda no outro estrangeiro é
justamente seu modo particular de organizar seu gozo e, mais precisamente, o
excesso que é o seu (p.110).
A problemática da alteridade tem três eixos. O primeiro diz do juízo de valor: o outro
é bom ou mau, amado ou não, igual ou inferior. No segundo, aceitam-se ou não os valores do
outro, assimilando-os, ou então impondo a ele minha própria imagem e o assimilo a mim, na
tensão que submete quem. No terceiro eixo, posso conhecer e reconhecer a alteridade que se
constitui na superação dos eixos anteriores (de amor-ódio, dominação-submissão). O oposto
do discurso discriminador seria a fraternidade, pois esta domestica o estrangeiro, tornando-o
semelhante. O semelhante introduz a amizade, a ternura, a solidariedade entre os humanos,
que não deve ser pensada apenas como uma redução da agressividade, uma formação reativa
secundária, mas como essa tentativa de humanizar o outro (TODOROV, 1995). Qualquer
modalidade de poder visa sempre dominar os homens e submetê-los docilmente neuróticos,
mas só, aliam-se a outros indivíduos, entidades, instituições, partidos, traficantes, em um
176
pacto rofanamente sagrado, em busca de alguns podres poderes, com marcas de gozo, para
além do prazer, desafiando a castração.
Assistimos ao estrangeiro, no nosso caso, o negro, exercendo fascínio, principalmente
pelo exotismo e provocando horror, expresso pelo meio de racismo. Wiesel (in Koltai, 2000)
distingue três categorias de estrangeiros: o neutro, que é indiferente, quase ausente; o que
agita, estimula, é criador e, devido à sua presença, uma sociedade adormecida em seus hábitos
pode se permitir recuperar seu brilho; e há aquele estrangeiro hostil, quase odioso, a quem se
teme.
Preconceito, racismo e discriminação formam o conjunto daquilo que Freud (1930),
em “O mal-estar na civilização” nomeou o “narcisismo das pequenas diferenças”. Diferenças
nem tão diferentes assim e pequenas, às vezes, nem tão pequenas. Mas todas narcísicas.
Segundo Laca (1998), cada vez que o sujeito se aproxima da alienação primordial, que ele
descreve como o estágio do espelho, surge a agressividade radical, o desejo de aniquilamento
do outro, como suporte do desejo do sujeito. O discurso racista surge, então, como uma das
manifestações da universalidade do discurso científico, baseando-se na negação do outro, de
qualquer subjetividade, destituindo-o de seu estatuto humano, reduzindo-o a mero traço
diferencial. Ele é baseado numa lógica totalizante, que implica pensar em fronteiras, margens,
separações – físicas, ideológicas, culturais, psíquicas.
Essa diferença, esse narcisismo das pequenas diferenças, nos remete ao gozo, a outra
forma de gozar que não a que se conhece. Isso marca uma estrangeiridade: se há outra forma
de gozar, “alguém” pode estar gozando mais e melhor do que “eu”. O “mais gozar” de um
implica um “menos gozar” do outro e esse gozar provoca ira, ódio, agressividade. A
psicanálise vem mostrar que não existe nada mais estrangeiro para o sujeito que sua própria
exterioridade, e a maneira como lida com essa exterioridade determina o que define no Outro
como estrangeiro. O que ela pode propiciar é o fim desse processo sacrificial, apontando outra
solução à questão do desejo do Outro. Ela aposta em uma mudança de posição em relação ao
desejo do Outro, que consiste em separar-se dele, não mais esperar que dele venham as
respostas para viver e gozar. Uma psicanálise pode levar um sujeito – receptor ou
discriminador – a não mais rejeitar esse heterogêneo sobre os outros, encontrando seu próprio
destino, aceitando suas particularidades, sua parte de outro gozo e dos outros. Enfim,
encontrar uma outra lógica, não mais baseada na segregação (KOLTAI,2000).
Nessa luta entre as pulsões de vida e as de morte, temos de reconhecer um limite,
saber que existe um ponto último no sujeito a partir do qual o outro só poderá ser apreendido
como estrangeiro, inimigo, predador, um assassino em potencial, possibilitando a expressão
177
do não e a individuação, mesmo que pela divisão. É nesse limite que residem brancura e
negritude.
Ser discriminado, xingado, humilhado, negligenciado em sua capacidade, reduzido à
condição de objeto para o gozo do outro, tudo isso tem por base a cor da pele e outros traços
físicos, significantes encarnados, incorporados e marcados em corpos e psiquimos de negros.
Como ilustra Neusa Souza (1991): “Saber-se negra é viver a experiência de ter sido
massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências,
compelida a expectativas alienadas” (p.17-18).
A luta permanente de setores organizados, buscando dar maior visibilidade ao negro e
à questão racial no Brasil, tem contribuído com algumas propostas e alternativas para curar
essa ferida social. Uma dessas propostas é a implantação das ações afirmativas, que servem de
referências para políticas públicas para a população negra, pelo governo brasileiro. Mesmo
reconhecendo a necessidade de criação de ações afirmativas, como o sistema de cotas, pode
ser uma “faca de dois gumes”, pode-se correr o risco de congelar o negro numa posição de
escravo, a exemplo do que ocorreu com a Lei Áurea. Se a cidadania passa pelo acesso de bens
de uso e consumo (educação, saúde, trabalho, moradia, lazer), esse acesso deve ser
possibilitado com uma modificação nas formas de distribuição de renda, e não com
privilégios.
Também acredito que um sistema de cotas que pode sofrer as vicissitudes da ideologia
do branqueamento, tendo como balizadores o nosso contínuo de cor, em que o mulato ou o
moreno teriam prevalência sobre os negros. O outro balizador é a dificuldade de sujeitos
negros se verem como tal. Nas recentes tentativas de implantação da política de cotas nas
universidades, assistimos a vários indivíduos se declarando negros. Se, à primeira vista, isso
pode ser um aspecto positivo no sentido da conscientização acerca da identidade étnico-racial,
pode ser também um oportunismo de muitos, buscando, dessa forma, a inserção em nossa
pequena parcela de privilegiados.
Outro aspecto é a manutenção do negro numa atitude de eterna vitimização, com seu
choro, seu lamento. Cidadãos não lamentam; reivindicam o respeito a seus direitos.
Desescravizar os negros torna-se um desafio a ser enfrentado por toda a sociedade. A vertente
subjetiva dessa questão diz respeito à escravidão psíquica. Aqui, saímos do âmbito do
coletivo, sem deixá-lo de lado, para a dimensão do particular. O negro tem que se haver com
um corpo historicamente marcado pelo escravismo. Ele faz parte de uma sociedade que não o
vê, não o aceita.
178
Para concluir, retomo o conceito de analista cidadão, forjado por Eric Laurent (1999).
Ele diz do analista que sai de sua reserva (suposta neutralidade) e participa da sociedade
democrática. Um analista sensível às formas de segregação, capaz de entender sua função e ir
além, dizendo muito com seu dizer silencioso e, justamente por isso, não se calando perante
as injustiças. Assim, o dizer silencioso contribui para que, cada vez que se tentar erigir um
ideal, faça-se a denúncia de que a promoção de novos ideais não é a única alternativa, daí
devemos insistir no debate democrático. Não é possível a um analista ficar alheio aos ruídos
do mundo exterior que chegam a seu consultório. É importante interrogar-se sobre os aspectos
do social e do político que marcam os significantes de seu analisando, assim como que
conteúdos do fantasma encontram argumento na realidade histórica, pois o social e o político
marcam a escuta do analista.
REFERÊNCIAS
BENTO, Maria Aparecida Silva. Resgatando a minha bisavó: discriminação racial no
trabalho e resistência na voz dos trabalhadores negros. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica, 1992. Dissertação de Mestrado
ESSED, Philomena. “Por trás da fachada holandesa: multiculturalismo e a negação do
racismo nos Países Baixos”. Estudo Afro-asiáticos. Rio de Janeiro, v.28, out.
FREUD, Sigmund. “O estranho” (1919). Edição Standart Brasileira das Obras psicológicas
completas de. Rio de Janeiro: Imago,1976.
FREUD, Sigmund. “O mal-estar na civilização” (1930). Edição Standart Brasileira das
Obras psicológicas completas de. Rio de Janeiro: Imago,1976.
KOLTAI, Caterina. Política e psicanálise: o estrangeiro. São Paulo: Escuta 2000.
KOLTAI, Caterina. (org). O estrangeiro. São Paulo: Escuta 1998.
LACAN, Jaques. O Seminário. Livro 4: A relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1998.
LAURENT, Eric. “O analista cidadão”. Curinga, nº 13, set. 1999.
REIS FILHO, José Tiago. Negritude e sofrimento psíquico. São Paulo: PUCSP, 2005. Tese
de doutorado. 143 pp.
SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: LERNER, Julio (org.). O preconceito. São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1997.
179
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes de identidade do negro brasileiro
em ascensão social. 2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1991.
TODOROV, Tzvetvan. Em face do extremo. São Paulo: Papirus, 1995.
ZYGOURIS, Radmila. Ah! As belas lições. São Paulo: Escuta, 1995.
180
Mulher Negra e a Inclusão dos Direitos Sociais
Alzira Rufino6
Entramos hoje nas universidades não mais pela porta dos fundos ou pelo elevador de
serviço. Viemos aqui para falar das nossas especificidades.
Sou filha de Yansã, a primeira ancestral feminista em África, e com ela aprendi a
dividir o poder com os homens. Estarmos hoje organizadas como mulheres negras significa a
luta constante para se atingir a igualdade garantida na Constituição Brasileira. Atuar há 22
anos no movimento de mulheres é fazer com que nossas aliadas percebam que nós, mulheres
negras, temos nossas especificidades e falamos por nós. Na história, nós, mulheres negras,
somos a resistência desse povo negro que ainda sobrevive. Fomos as amas-de-leite, e nossos
tabuleiros, ainda hoje, continuam alimentando nossas famílias. Somos 80% das trabalhadoras
domésticas e 76,5% trabalham sem carteira assinada. Estas, entre outras, já deveriam ter sido
resolvidas há muito tempo.
Entendo que precisamos avaliar o que conseguimos por meio de nossa luta cotidiana,
clamando por justiça às portas dos fóruns, nas passeatas, nas intervenções em conferências
nacionais e internacionais.
Foram anos de pressão na mobilização para dar visibilidade à violência racial e
doméstica;sempre estaremos mobilizadas com o Movimento de Mulheres e Negros, para
2
Foi a primeira escritora negra a ter seu depoimento gravado no Museu de Literatura Mário de Andrade, em São
Paulo/SP.
É a mulher negra brasileira que recebeu o maior número de prêmios e menções honrosas no exterior, por sua
atuação no combate à Violência Doméstica, Racial e Sexual.
É ativista e articulista do Movimento Negro e do Movimento de Mulheres.
Coordena, desde 1991, um serviço de apoio jurídico e psicológico, que atende, anualmente, cerca de 500 pessoas
vítimas de violência racial, doméstica e sexual.
Articulista pioneira, em sua região, ao escrever para a imprensa com recorte de gênero e raça e sobre a violência
contra a mulher, sendo responsável pelo debate e por um crescente envolvimento da mídia, do poder público e da
comunidade nessas questões, além de dar visibilidade política às mulheres negras da Baixada Santista.
Convidada de vários países como França, México, Canadá, Peru, Panamá, Equador, Chile, EUA, Inglaterra,
Alemanha, Índia, Bélgica, África do Sul, Áustria, Itália e Holanda, onde dá consultoria, capacitação, palestras
sobre Violência Racial, Doméstica e Sexual. Destaca-se em consultoria, avaliação e assessoria para agências
internacionais em projetos de Casas Abrigo e Violência contra a Mulher, na área rural da África do Sul, nos anos
de 1997 e 1998.
Lançou, em 1986, o Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista.
Em 1987, criou o Coral Infantil Omo Oyá e o grupo de Dança Afro-Ajaína; 1988 – Eleita Madrinha das
Profissionais do Sexo da Baixada Santista; 1989 – Eleita Madrinha da Comunidade Gay.
Em 1990, fundou a Casa de Cultura da Mulher Negra.
Primeira representante da Comunidade Negra e única mulher negra a receber o Título de Cidadã Emérita da
Cidade de Santos.
Indicada para o Prêmio 1.000 Mulheres para o Nobel da Paz em 2005.
Portadora da Medalha de Mérito da Câmara Federal em 2006.
Prêmio Mulher Destaque do Clube Soroptmista Internacional.
181
assegurar a inclusão de nossos direitos; a exemplo da Lei 11.340/06, batizada de Lei Maria da
Penha, e a Lei 10.639/03.
A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Secretaria da Promoção da
Igualdade Racial não foram criadas por conta da boa vontade do presidente. Pelo contrário,
essas secretarias com status de ministérios, se hoje constituem uma realidade, o fato se deve à
pressão do Movimento de Mulheres e do Movimento Negro. Queremos que o poder público
implante as alternativas que fornecemos para a luta contra o racismo e o machismo. Falta
ainda um orçamento para atender à demanda de nossas especificidades.
Queremos, com a Lei 10.639/03, que trata do ensino da cultura negra nas escolas, a
implantação de nossa verdadeira história. Este país tem uma dívida muito grande com o povo
negro e que precisa ser paga. Na Antiguidade, nossa comunicação se fazia através dos
tambores, hoje falamos de inclusão digital. Tão velozes são as informações, quão lentas e
inacessíveis são elas para nosso povo, principalmente para as mulheres negras.
Em relação à questão dos quilombolas, nossa luta tem sido gradativamente reparada,
mas ainda há muito por fazer. Falta acesso à saúde, educação e capacitação para o trabalho a
partir da realidade das comunidades remanescentes de quilombos. Ser mulher negra e pobre
neste país significa sobreviver ao grau máximo das injustiças. É uma violência racial
cotidiana.
Não dá mais para aceitar o genocídio por parte da polícia contra a juventude negra.
Nossa gente, nossa cor, não pode mais estar mais associada à marginalidade. Somos nós que
enterramos os nossos jovens, com o coração em sangue.
Durante a mobilização para a Marcha Zumbi realizada em Brasília, no dia 16/11/05,
em maio de 2005, lideranças de Mulheres Negras reunidas em Guarulhos elaboraram o
documento
da
Mulheres
Negras,
que
se
acha
disponível
em
nosso
site
www.casadeculturadamulhernegra.com.br.
Eis algumas propostas e ações inclusivas para as Mulheres Negras:
-
Garantir o cumprimento dos tratados firmados nas convenções internacionais
pelo governo brasileiro, especialmente a convenção sobre a eliminação de todas as
formas de discriminação contra a mulher;
-
Reconhecer o estatuto da igualdade racial, apoiando o fundo nacional de
verbas;
-
Assegurar mecanismos que permitam uma participação real das mulheres
negras nas instâncias de decisão em todos os âmbitos do poder e da sociedade;
182
-
Garantir que os contratos públicos, celebrados pelo governo com agências de
publicidade, propaganda e mídia em geral, contenham cláusula específica referente à
participação de negros e negras e à não-discriminação;
-
Reconhecer que as mulheres negras são detentoras de saberes ancestrais da
cultura de matriz africana, garantindo nas diversas áreas onde a cultura se insere;
-
Implementar ações de promoção de direitos referentes às religiões de matriz
africana, para que sejam também baseadas na Lei nº 10.639/03, como pressuposto
educativo e antidiscriminatório;
-
Estimular as lideranças do movimento de mulheres e do movimento feminista a
participar dos fóruns de orçamento participativo, bem como de outros organismos de
controle social, buscando a priorização da perspectiva de gênero nas políticas, no nível
local, além de criar e implementar políticas para a equidade de gênero, raça, etnia,
faixa etária e orientação sexual nas candidaturas a cargos eletivos, nos três níveis de
governo, com igual estrutura de campanha;
-
Assegurar via implantação da Lei 10.639/03, a revisão dos materiais didáticos
no que diz respeito ao papel da mulher negra na história da resistência negra deste
país, recuperando a imagem das heroínas negras, apresentando-as como protagonistas
no processo de resistência e construção da identidade nacional, afirmando e
valorizando a imagem feminina;
-
Introduzir nos materiais nos materiais didáticos o reconhecimento do papel da
mulher negra como pilar de sustentação das fragmentadas famílias negras, vítimas da
prática escravista, seja nos espaços religiosos, comunitários, quilombolas, urbanos e
rurais, atuais e passados.
-
Capacitar os professores dos ensinos fundamental, médio e universitário para
concretização da Lei 10.639/03;
-
Implantar cotas em todas as universidades, assegurando a igualdade de gênero;
-
Criar campanhas de sensibilização e prevenção e tratamento da epidemia de
HIV entre mulheres negras;
-
Elaborar políticas de visibilização nacional e internacional acerca do genocídio
da população negra nas ações de grupos de extermínio, violência policial e urbana;
-
Capacitar agentes e outros profissionais de saúde para atendimento às
comunidades quilombolas;
-
Implantar programas de geração de emprego e renda para mulheres em
situação de risco social, tendo como eixo o incentivo à organização de associações,
183
cooperativas e grupos de produção de mulheres em superação da situação de
violência;
-
Criar políticas de acesso à moradia para mulheres em situação de violência;
-
Garantir o acesso aos direitos, à saúde, exames ginecológicos, atendimento à
saúde mental;
-
Garantir o atendimento integral e regionalizado às mulheres em situação de
violência e suas famílias;
-
Criar e fortalecer centros de atenção às mulheres vítimas de violência, com
atendimento de saúde, psicológico e serviço social, regionalizados, próximos às
DEAMs;
-
Ampliar o atendimento às vítimas de violência sexual, nos hospitais, com
aplicação do protocolo que garante a profilaxia das doenças sexualmente
transmissíveis, incluindo HIV/Aids e anticoncepção de emergência;
-
Apoiar a efetivação dos direitos trabalhistas de jovens trabalhadoras
domésticas;
-
Estabelecer campanhas de conscientização contra o assédio sexual,
cumprimento e ampliação da lei referente, e a exploração de jovens negras;
-
Promover a efetivação da CLT, no que tange ao trabalho aprendiz, referente
aos estágios;
-
Priorizar o programa “Meu Primeiro Emprego” para jovens negras;
-
Estimular o diálogo direto e aberto entre empresas e instituições públicas a fim
de estabelecerem cotas para que jovens negras entrem no mercado de trabalho.
Os direitos da mulher só poderão avançar quando acreditarmos que o lugar da mulher
não é só na cozinha, que deve estar atuando nos movimentos populares, nos sindicatos, nas
câmaras, em instâncias de decisão em todos os âmbitos do poder.
Nossa estratégia hoje é outra. Se continuarmos batendo panelas às portas das Câmaras
Legislativas sem que lá dentro haja pessoas comprometidas a encaminhar e articular com
parlamentares nossas propostas, vamos continuar ao vento.
Prosseguiremos com as mesmas reinvidicações, articulando também estratégias para
que, nas próximas eleições, tenhamos um número maior de mulheres nas esferas do poder.
Estaremos trabalhando para que, dentro da cota de 30% de presença feminina nos partidos,
15% dela sejam para as mulheres negras. Entendo que a luta contra o racismo deve ser
184
prioridade de todos os segmentos da área dos Direitos Humanos, enfim de toda sociedade
brasileira.
Queremos parcerias de todas as cores, na luta por políticas públicas concretas para
nosso povo, em todos os níveis dos governos federal, estadual e municipal.
185
Perfis de Autonomia e Vulnerabilidade na Juventude:
diferentes aspectos da exclusão social
Alessandra Sampaio Chacham77
Ana Laura Lobato78
Lucas Wan Der Maas79
O objetivo deste artigo é analisar as diferentes dimensões da exclusão na juventude,
com ênfase nas questões de raça, gênero e classe social. Para tanto, utilizaram-se dados de
uma pesquisa realizada com mulheres de 15 a 24 anos de idade, em sua maioria negras ou
pardas, residentes em uma favela de Belo Horizonte, o Taquaril. Nessa análise, utilizou-se o
método estatístico Grade of Membership (GoM), que permitiu construir perfis das jovens em
relação a seus atributos demográficos, seu comportamento sexual e reprodutivo, arranjos
familiares e grau de autonomia em cada uma de suas diferentes dimensões.
1. DIMENSÕES DA EXCLUSÃO NA JUVENTUDE
A exclusão social entende-se aqui como um processo “inseparável” da cidadania à
medida que o direito de participar da sociedade e usufruir os benefícios considerados básicos
não é alcançado igualmente por todos indivíduos (SCHWARTZMAN, 2004). Isso implica,
indubitavelmente, chamada desigualdade e seus múltiplos aspectos. Pode-se falar em exclusão
por diferentes recortes, seja pelas questões de geração, classe, gênero ou raça, como também
pela questão das necessidades especiais, além de muitas outras. Portanto, para se entender o
que significa permanecer nesse processo de exclusão e desigualdade dentro da sociedade
brasileira – uma das mais desiguais, com uma das maiores concentrações de renda do mundo
–, além da questão de classe (que é bastante discutida), faz-se necessário voltar a todas
aquelas outras dimensões.
Neste artigo, dar-se-á um foco maior na questão da especial vulnerabilidade de ser
jovem no Brasil, bem como de ser mulher e de ser negra. Afinal, a despeito dos esforços de
garantir em lei os direitos civis, políticos e sociais, tal garantia não se observa efetivamente;
existe ainda uma grande massa de indivíduos que não pertence de fato à comunidade políticosocial, especialmente quando se trata de indivíduos com perfil de mulheres e não de homens,
77
Doutora em Demografia e Professora Adjunta do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas.
Mestranda do Programa em Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp.
79
Mestrando do Programa em Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas.
78
186
de jovens ao invés de adultos, de pobres e não de ricos, e também negros ao invés de brancos.
Essas são pessoas que trazem contribuição à sociedade, embora não tenham acesso aos bens e
à cidadania.
Em que pese a dimensão da geração, a escolha da juventude se justifica, uma vez que
crianças e adolescentes encontram-se entre a maioria dos socialmente excluídos no Brasil. No
ano de 2002, dos 34 milhões de jovens entre 15 e 24 anos no Brasil, 40% viviam em famílias
com renda abaixo de três salários mínimos (CASTRO, 2006). Esses jovens são os que têm
menos oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e à continuidade dos estudos, embora
seja esse um pré-requisito fundamental na sociedade de hoje, que demanda um alto grau de
especialização para se obter sucesso profissional. Entre as mulheres jovens da mesma faixa
etária, menos da metade exercia atividade remunerada e a maior parte delas estava empregada
dentro do serviço doméstico, e se declaravam negras.
Comparando renda e escolaridade, quanto maior a escolarização da pessoa, maior será
sua probabilidade de inserção no mercado profissional, assim como maior será sua renda.
Entre a população mais pobre, o número médio de escolarização, que é de cerca de seis anos,
tem aumentado desde o ano de 2000; porém, entre a população de renda mais alta, essa média
é de 10 anos (HEILBORN et al, 2006). A educação é a chave para maior possibilidade de
mobilidade social e de superação das condições de pobreza. No entanto, a população de renda
mais baixa continua longe de ter a mesma escolaridade que a população de renda mais alta.
Em se comparando renda, gênero e diferentes classes sociais, a idade média com que
as mulheres de baixa renda tinham seu primeiro filho era 19 anos – esses dados são do Rio de
Janeiro, no ano de 2000. O curioso é que em 1970 essa idade média era de 21 anos, o que nos
mostra que hoje em dia, entre as jovens mais pobres, vem caindo a idade média com que elas
têm o primeiro filho. Isso também significa que vem ocorrendo um aumento da fecundidade
nos anos de adolescência e de seu final, justamente o período em que a mulher estaria
ingressando no mercado de trabalho, ou pelo menos se qualificando para tal. Comparando
com a percentagem das jovens com renda mais alta, pode-se ver que a idade média com que
elas têm seu primeiro filho passa para os 24 anos, significando que somente depois de
qualificada profissionalmente é que a classe média opta por ter filhos. Já entre as mulheres
jovens de classe alta o primeiro filho vem, em média, aos 25 anos (HEILBORN et al, 2006).
Esses dados também apontam para uma proporção muito grande de mães adolescentes.
Infelizmente, nessa pesquisa, os dados não foram desagregados por raça, mas sabe-se que,
toda vez que fala-se da população feminina de baixa renda, fala-se sobre um percentual de
70% a 80% de negros. Portanto, isso significa que, além de serem jovens e pobres, são as
187
mulheres negras aquelas que têm o primeiro filho em uma idade mais baixa. Quando se
comparam os dados de jovens negros e jovens brancos, fica clara a diferença existente na
idade média, tanto ao terem seu primeiro filho quanto ao entrarem no mercado de trabalho. Os
dados da pesquisa do GRAVAD (HEILBORN et al, 2006) realizada em três capitais
brasileiras (Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador) servem para ilustrar a situação em todo o
Brasil. Verifica-se um aumento da fecundidade na adolescência entre as mulheres de classe
mais baixa, o que significa que o fato ocorre entre uma maioria de jovens negras.
Outro indicador da maior vulnerabilidade social da mulher jovem, pobre e negra foi o
aumento nos casos diagnosticados de AIDS no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde (2004),
a razão homem/mulher de casos notificados de AIDS, que era de 6,1 em 1980, caiu para
menos de 2,1 em 2000 e continua caindo ano a ano. Entre janeiro e julho de 2004, a razão
homem/mulher infectado(a) caiu para 1,5. Entretanto, essa razão é diferente, de acordo com o
grupo de idade, entre pessoas entre 13-24 anos de idade, a taxa de infecção é mais alta entre
mulheres e pessoas com baixa escolaridade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). A baixa
escolaridade, a maior incidência de gravidez na adolescência e também a maior probabilidade
de infecção pelo HIV representam indicadores dramáticos da grande vulnerabilidade social
desse segmento da população.
2. EXCLUSÃO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DAS JOVENS DO TAQUARIL
Dados da pesquisa “Autonomia e susceptibilidade ao HIV/AIDS entre mulheres jovens
moradoras de uma área de favela em Belo Horizonte” (CHACHAM et al, 2007), realizada
em Belo Horizonte em uma favela conhecida como Taquaril, apontam para um alto índice de
exclusão social na população estudada. Nessa pesquisa, foi realizado um survey (uma
pesquisa por amostragem com aplicação de questionário) com mais de 350 mulheres jovens,
entre 15 e 24 anos de idade, residentes na região. Nesse trabalho, buscou-se entender as
diferentes dimensões dessa vulnerabilidade entre as mulheres jovens e pobres que
impactavam tanto nos índices de gravidez indesejada na adolescência quanto de infecções por
HIV.
O Taquaril é uma região de favela com alto índice de pobreza – mais da metade da
população tem renda abaixo de um dólar por dia, que é o limite de pobreza dado pela ONU. A
concentração de população negra: 86% das mulheres entrevistadas se declararam pretas,
pardas ou negras. As mulheres entrevistadas tinham entre 15 e 24 anos, sendo que 30% delas
estavam casadas ou unidas, no momento; no entanto, mais de 60% dessas jovens já tinham
188
sido unidas pelo menos uma vez. A maior parte delas estava fora da escola e, em média, tinha
nove anos de escolaridade. Um dado muito curioso é que 24% delas já tinham completado o
2º grau. Isso é um número alto, muito mais alto do que o esperado em regiões de periferia. No
entanto, esse índice elevado de escolarização não impactava positivamente em sua inserção
profissional, pois somente 27% delas estavam trabalhando no momento da pesquisa. Entre as
ocupadas, todas tinham empregos como babás, balconistas, empregadas domésticas, caixas,
cabeleireiras, manicures, garçonetes e algumas poucas como secretárias e recepcionistas. Tais
profissões revelam baixa possibilidade de ascensão ou mesmo de elevação da qualificação
profissional.
Viu-se que a exclusão social é um processo por meio do qual os indivíduos têm acesso
diferenciado, ou mesmo inexistente, à garantia de seus direitos. Considerou-se a autonomia,
ou seja, o acesso e controle sobre recursos materiais e sociais (DIXON apud JEJEEBHOY,
2000) como um instrumento de superação das barreiras que permeiam as várias dimensões da
desigualdade.
A autonomia reflete basicamente a extensão do controle da mulher sobre as tomadas
de decisões, especialmente aquelas realizadas no âmbito familiar. Em outras palavras, mais do
que aumentar o acesso aos recursos materiais (incluindo alimento, renda, terra e outras formas
de riqueza) e sociais (incluindo conhecimento, poder e prestígio), a mulher precisa ter também
capacidade de decidir sobre eles. Jejeebhoy criou cinco dimensões de autonomia e selecionou
indicadores para cada uma delas, os quais foram utilizados no survey do Taquaril. São elas:
autoridade para tomar decisões econômicas e relacionadas com os filhos; mobilidade;
ausência de ameaça do companheiro; acesso a recursos econômicos e sociais; controle sobre
os recursos econômicos.
Integra-se aqui a autonomia na esfera sexual e reprodutiva, significando que a mulher
pode, com segurança, determinar quando e com quem estabelecerá relações sexuais e que ela
pode fazê-lo sem medo de violência, infecção ou gravidez não desejada (SEN;
BATLIWALA, 2000). Desse modo, a autonomia tem efeito diferenciado na capacidade de
impor sua vontade quanto ao desejo de ter ou não relações sexuais com seu parceiro, por
exemplo. As dimensões e seu respectivos indicadores encontram-se no quadro a seguir.
189
Área de
Indicador usado no estudo
autonomia
Decisões
Quem comprou os principais e mais caros utensílios domésticos, como a
econômicas
casa ou um carro.
Mobilidade e
Lugares onde a mulher pode ir sozinha: centro de saúde, centros
acesso a
comunitários, casa de amigos e parentes, shopping ou outra cidade. Se ela
recursos sociais
tem atividades de lazer. Se tem acesso a TV, rádio ou livros. Se tem a
chave de casa. Se tem hora marcada para chegar em casa. Se pode sair com
os amigos. Se pode usar a roupa que quiser. Se pode se maquiar.
Controle sobre
Se tem trabalho remunerado e se controla como seu dinheiro e/ou o
recursos
dinheiro da casa será gasto. No caso de não ter trabalho, se tem alguma
econômicos
fonte de renda. Se tem liberdade para comprar objeto de uso pessoal. Se
tem conta bancária.
Liberdade de
Se tem medo e/ou foi exposta a violência física, psicológica ou sexual ou
ameaças
outro abuso por parte do parceiro ou parente. Se já viu a mãe ser vítima de
violência doméstica. Se sente que pode evitar ou interromper a relação
sexual, se quiser. Se pode demandar o uso do preservativo com segurança.
Se ela desejou ter a primeira relação sexual; discutiu com o parceiro sobre
Sexualidade
contraceptivo/camisinha antes da primeira relação sexual; o parceiro já
recusou usar camisinha; se sentiria confortável em demandar o uso de
preservativo; usou preservativo na primeira relação; usou preservativo na
última relação; se gosta de fazer sexo; sente que poderia recusar a ter a
relação.
Quadro 1: Indicadores por dimensão de Autonomia
Fonte: CHACHAM et al, 2005.
2.1. A DEFINIÇÃO DOS PERFIS
A partir do tratamento dos dados da pesquisa do Taquaril e dos indicadores de
autonomia, buscou-se explorar melhor os diferenciais de autonomia e vulnerabilidade entre as
jovens entrevistadas no delineamento de perfis. Para tal, lançou-se mão de um método
estatístico de análise multivariável – que abrange mais de uma variável resposta –, mediante o
qual se definem agrupamentos de atributos pessoais pela associação, não observada, das
categorias das variáveis do modelo (LACERDA et al, 2005). O método é denominado Grade
of Membership. Seu uso permite definir agrupamentos de características descritivas de uma
190
população heterogênea (neste caso, jovens que se diferenciam principalmente pelo grau de
autonomia e pelas trajetórias afetiva e sexual). Portanto, quanto maior o número de variáveis,
melhor fica definido um perfil (SAWYER et al, 2002).
A forma de estimação ocorre pela probabilidade de resposta a uma categoria de uma
variável. Simultaneamente, são definidos para cada caso da amostra graus ou escores de
pertinência aos perfis, que variam dentro do intervalo [0,1]. Apresentar grau de pertinência
igual a um é reunir todas as características predominantes de dado perfil extremo; já o
inverso, não apresentar nenhuma das características, é ter escore igual a zero (SAWYER et al,
2002). O pertencimento a mais de um perfil ocorre à medida que a entrevistada não apresenta
escore igual a um.
Trata-se de um processo interativo, pelo qual a associação de características se dá pelo
cálculo da probabilidade de que exista na população uma entrevistada com os atributos
agrupados aleatoriamente, isto é, com grau de pertinência total ao perfil. Para os casos que
não apresentem grau de pertinência total, este variará dentro do intervalo permitido. Portanto,
à medida que uma entrevistada se aproxima do perfil extremo, maior é seu grau de pertinência
com relação a este e menor em relação aos demais (LACERDA et al, 2005).
Para fins comparativos, as mulheres entrevistadas foram divididas pelo survey em dois
grupos, e em cada caso aplicou-se o método separadamente. Os grupos foram: mulheres entre
15 e 19 anos e mulheres entre 20 e 24 anos. Em cada caso foram estimados dois perfis. A
escolha por essa divisão da população resulta de teste anterior à definição do modelo final
feito com todo o universo. Nesse teste, os resultados apontaram perfis que se diferenciaram
principalmente pela faixa etária – de um lado mulheres mais jovens, até os 19 anos, e do
outro, mulheres entre 20 e 24 anos – o que não permitiu observar particularidades internas a
cada um desses segmentos. Em geral, em função dessa separação, foram observados perfis
puros, com predominância de um lado de solteiras, concentradas entre as mais jovens, e do
outro de casadas, concentradas entre as menos jovens. Assim, não se pôde compreender a
situação das que tinham estado civil diferente ao predominante no grupo, tampouco as
diferenças entre mulheres na mesma situação conjugal.
Quanto à análise dos perfis, é importante destacar que seu objetivo é descritivo e
comparativo, ou seja, observar de que maneira a população em estudo se organiza,
aleatoriamente, em função das variáveis selecionadas e entre os distintos perfis delineados. Os
resultados obtidos no modelo final permitiram uma análise pormenorizada, a partir da qual se
verificaram diferenciais em termos de: tipos de estrutura familiar, autonomia, entrada na
conjugalidade e susceptibilidade ao HIV e gravidez indesejada (LOBATO, 2007). Em uma
191
população extremamente homogênea, no que tange aspectos socioeconômicos, nível de
informação e acesso aos serviços de saúde, a observância conjunta de atributos pessoais em
múltiplas esferas da vida permitiu a análise de certos grupos que se diferenciam, entre si, em
função das relações de gênero e das trajetórias afetiva e sexual, como será explorado no
próximo tópico.
2.2. DESCRIÇÃO DOS PERFIS
A Tabela 01 expõe a distribuição da população em cada perfil. As jovens entre 15 e 19
anos representam 50,57% do total da população e estão distribuídas nos perfis P1 e P2; foram
179 entrevistadas no total. Já as jovens entre 20 e 24 anos somam 49,43% do total do universo
ou 175 casos, e estão distribuídas nos perfis P3 e P4 e nos mistos MP3 e MP4. Estes últimos
se diferenciam por apresentar características de P3 e P4 ao mesmo tempo, no entanto com
predominância de características de um ou de outro extremo, respectivamente.
Tabela 01
Distribuição da População Total por Perfil
Freqüência
%
% Acumulado
P1
85
24,01
24,01
P2
P3
94
45
26,56
12,71
50,57
63,28
P4
MP3
99
18
27,97
5,08
91,25
96,33
MP4
Total
13
354
3,67
100
100
Fonte: os autores; dados: CHACHAM, et al (2005).
Perfis das jovens de 15 a 19 anos de idade
No Perfil Um (P1), há adolescentes de todas as faixas etárias, no entanto predominam
as que têm 15 anos de idade, por ocasião da entrevista. O nível de escolaridade e o rendimento
familiar não se mostraram relevantes para explicar o pertencimento a esse perfil, uma vez que
não houve predominância de nenhuma categoria em ambas as variáveis. Destaca-se, contudo,
que praticamente todas as 85 jovens do perfil estudavam. Quanto ao estado civil e estrutura
familiar, todas se declararam solteiras, e a maioria residia em domicílios do tipo casal, onde
192
ocupavam a posição de filha. Apesar dessa maioria, a categoria predominante em tipo de
família foi a de domicílios chefiados por outros parentes que não os pais.
Em relação à autonomia financeira, a maioria não trabalhava, apesar de não ter sido
uma categoria de probabilidade predominante. Também não houve destaque para o poder de
compra de artigos pessoais, ainda que a maioria tenha mostrado alta autonomia neste quesito.
Quanto aos indicadores de autonomia sexual não foi possível fazer nenhuma inferência para
esse grupo, uma vez que a grande maioria respondeu não ter se iniciado sexualmente.
Para autonomia de gênero, observou-se uma variação entre os diferentes indicadores.
A maior parte delas não sofreu proibição de ter algum amigo, mas predominou a interferência
do pai. Na pergunta quanto à proibição de usar alguma roupa, houve equilíbrio tanto em caso
de negativa quanto em caso positivo, seja pelo pai ou pela mãe. Quanto a ter horário para
chegar em casa, a predominância foi da autoridade do pai. Finalmente, os indicadores de
informação sobre o HIV se apresentaram com níveis elevados.
Apesar de não ser possível analisar a vulnerabilidade desse grupo decorrente do nãouso de preservativo, uma vez que nele predominam as jovens que nunca tiveram relação
sexual, é preciso destacar sua autonomia limitada nos indicadores de autonomia de gênero,
especialmente pela figura do pai. No entanto, são também jovens, em geral, com bom nível de
informação sobre o HIV e que continuam estudando, podendo isso significar que esse grupo
teria menor vulnerabilidade social.
No Perfil Dois (P2), predominam jovens com idade de 18 e 19 anos e com renda
familiar de até meio salário mínimo, ainda que a maioria apareceu na categoria entre um e três
salários. Assim como em P1, o perfil escolaridade não se mostrou relevante, mas boa parte
das jovens parou de estudar. Já o estado conjugal predominou nas categorias “casada”,
“unida” e “separada/divorciada”, isto é, de mulheres que estavam ou já estiveram unidas.
Consequentemente, em posição na família, predominaram aquelas que são chefe, cônjuge ou
que compartilhavam a chefia do domicílio com o parceiro.
Em relação ao que se chamou de autonomia financeira, o fato de trabalhar não foi
relevante, embora o grau de poder de compra de artigos pessoais tenha sido alto. Na variável
“já ter tido sexo” a categoria “sim” foi predominante, o que reflete o estado conjugal. Em
relação às variáveis relativas à autonomia sexual, tem-se um grupo bastante heterogêneo, pois
em todos os indicadores predominam todas as categorias. Há mulheres que conversaram e
outras que não sobre como evitar filhos antes da primeira relação, que gostam e que não
gostam de fazer sexo, que conseguiriam ou não evitar ou interromperam a última relação, que
193
já ficaram grávidas ou não. O uso do preservativo, tanto na primeira quanto na última relação
sexual também variou entre negativa e afirmativa.
No entanto, destaca-se que, para o nível de informação sobre o HIV e autonomia de
gênero, os indicadores são um pouco mais precários em comparação ao perfil anterior.
Predominam aquelas que mostram pouco conhecimento de como prevenir HIV e que já
sofreram proibição do parceiro para usar determinada roupa ou ter algum amigo, além do
estabelecimento de horários para chegar em casa. Também ficam evidentes, neste perfil,
aquelas contra as quais o parceiro foi o agressor de violência física que porventura sofreram,
ficando evidente, portanto, a relação entre status conjugal, baixa autonomia e vulnerabilidade.
Mesmo tendo sido poucas as mulheres, neste perfil, que sofreram violência, é preciso
destacar que, provavelmente, a associação dessa agressão com a ocorrência de terem um
parceiro que as proíbe de ter um amigo, que vigia o tipo de roupa usada e que estabelece
horários para chegar em casa, implica probabilidades muito menores de terem usado
camisinha alguma vez ou de terem ido ao serviço de planejamento familiar. Não deixa de ser
interessante o fato de que a violência contra a mulher pode ser medida de maneira
quantitativa. A jovem usa menos a camisinha quando se apresenta em um padrão de relações
mais tradicionais, quando existe violência e controle por parte do parceiro.
Perfis das jovens de 20 a 24 anos de idade
No Perfil Três (P3), predominam as jovens de 20 anos de idade e que residiam em
domicílios com rendimento acima de três salários mínimos, uma peculiaridade frente aos
outros grupos. Além da renda, outro indicador socioeconômico que diferencia esse grupo dos
demais, demonstrando melhores condições, é a existência de mulheres cursando o ensino
superior ou que já concluíram o ensino médio. São todas solteiras, exceto para o caso da única
jovem viúva entrevistada pelo survey. Quanto à estrutura familiar, predominam tanto
domicílios do tipo casal quanto do tipo monoparental; em ambos, sua posição é de filha.
Os indicadores de autonomia financeira foram os melhores, no total da população:
predominam as jovens que trabalham e com alto poder de compra de artigos pessoais. Já na
dimensão sexual, todas já tiveram a primeira relação, ainda que não quisessem; contudo,
houve predomínio das que assim pensavam por achar que não era hora e não aquelas que
foram forçadas. Seguindo as variáveis de autonomia sexual, predominam aquelas que
conversaram sobre como evitar filhos antes da primeira relação e que talvez conseguissem
evitar ou interromper a última relação. Para o indicador de gravidez, predominam aquelas que
194
nunca engravidaram. Entre as que engravidaram, assim o fizeram entre os 19 e 20 anos, acima
da média geral, que foi de 17 anos. Quanto à utilização de camisinha na primeira relação, a
maioria usou o método. Destaca-se que esses resultados demonstram menor probabilidade da
jovem quanto à infecção pelo HIV ou gravidez indesejada o que, curiosamente, se vê
relacionado pela existência, neste perfil, de casos de entrevistadas residentes em domicílios
chefiados pela mãe, justamente aqueles que as moradoras apresentaram os melhores
indicadores de autonomia sexual.
Nas questões relativas ao conhecimento sobre HIV, ocorreu predominância de um
ótimo grau de conhecimento quanto a pegar e ruim quanto a prevenir o vírus. Na dimensão da
aqui chamada autonomia de gênero, observou-se que a maioria apresentava alta autonomia,
contudo predominaram as categorias referentes à proibição, seja pelo pai ou pela mãe. Para
violência física, prevaleceram aquelas que já sofreram pelo pai e aquelas que nunca sofreram;
estas últimas constituem também a grande maioria.
No Perfil Quatro (P4), não há prevalência de idade. Em geral, caracteriza-se por
aquelas que percebem renda familiar de meio a um salário mínimo, ainda que a maioria
vivesse em domicílios com renda de um a três salários. A escolaridade se apresentou limitada
ao ensino fundamental, isto é, ou de 2ª a 5ª séries completas ou de 6ª a 8ª séries completas.
São jovens, predominantemente, em união (civil ou consensual) ou separadas ou divorciadas.
Seguindo o estado civil, a estrutura familiar é de domicílios do tipo casal, tanto chefiados pelo
companheiro, pela entrevistada ou por ambos; no entanto, a maioria ocupava a posição de
cônjuge.
Na dimensão econômica, não houve predominância para existência ou não de trabalho,
e o poder de compra de artigos pessoais mostrava-se baixo. Quanto à autonomia sexual, este é
o grupo que apresenta os piores indicadores, pois predominam aquelas que não queriam ter
tido a primeira relação sexual, mas tiveram por pressão do namorado, que não conversaram
com o parceiro sobre como evitar filhos antes dessa relação, que não conseguiriam evitar ou
interromper a última relação e que declararam não gostar de fazer sexo. Também são
mulheres que, em sua maioria, não utilizaram condom na primeira relação.
Em relação à gravidez, predominou aquelas que ficaram grávidas uma vez, duas vezes,
três vezes ou mais. A idade, à primeira gravidez, variou no intervalo de 13 a 18 anos, e de 21
a24 anos, isto é, entre as que engravidaram precocemente e aquelas que assim estiveram
provavelmente após o casamento. No grupo de variáveis chamado de autonomia de gênero,
prevaleceram aquelas a quem o parceiro já estabeleceu horário para chegar em casa, também
proibiu de usar algum tipo de roupa ou de ter algum amigo. No quesito referente à agressão
195
física, encontram-se mulheres que sofreram agressão por parte do companheiro ou de outra
pessoa.
Uma informação que fica patente entre as jovens deste perfil e que mostra uma
situação muito parecida entre as pertencentes ao segundo perfil (mulheres casadas entre 15 e
19 anos) é o impacto de sair da escola e de não ter acesso ao mercado de trabalho. Quando as
meninas de 15 a 19 anos eram perguntadas sobre seus planos para a vida (planos de futuro),
todas queriam continuar estudando, todas falavam que queriam estudar para conquistar uma
vida melhor do que suas mães tiveram. Mas, das quase 400 mulheres entrevistadas, somente
três estavam na universidade. E entre as de 20 a 24 anos, menos de 30% trabalhavam fora.
Estas últimas, quando perguntadas sobre quais eram seus planos de futuro, estes já apareciam
muito mais limitados, pois praticamente nenhuma falava em estudo. Todas falavam que ou
não tinham nenhum plano definido ou pretendiam arrumar um emprego para sustentar os
filhos, para dar uma vida melhor aos filhos.
Isso mostra que, dentro deste grupo, há, em muito pouco tempo (quatro anos), um
choque de realidade: estamos garantindo o acesso dos jovens à escola, mas não sua entrada no
mercado de trabalho – principalmente em relação às mulheres jovens. E aqui vem o problema
de que não existem políticas, nem programas, para mulheres jovens a partir dos 12 ou 15
anos, no sentido de garantir uma entrada no mercado de trabalho ou de permanência na
escola. Os programas que existem focalizam muito as necessidades dos homens. Claro, estes
têm uma vulnerabilidade muito grande em termos de exposição à violência, mas o que existe
de qualificação profissional para mulher, comparativamente aos homens, é muito voltado para
mantê-las em setores pouco qualificados. Pois, como se destacou anteriormente, há verdadeira
manutenção das mulheres em empregos como os de manicure, cabeleireira, bordadeira, babá,
empregada doméstica, entre outros.
Entre as jovens entrevistadas, 71% eram sexualmente ativas e 63% já haviam ficado
grávidas. Elas ficam grávidas, em média, um ano depois da primeira relação sexual. Isso
mostra que, apesar de conhecerem os métodos contraceptivos, o acesso ao serviço de
planejamento é muito baixo. Curiosamente, o fato de fazer um planejamento familiar
aumentava a probabilidade das jovens de ter um filho – o que é uma relação inversa, na
verdade. Elas só iam ao planejamento depois que engravidavam, pois, uma vez grávidas, o
serviço de saúde fazia encaminhamento. Por isso, apesar de terem acesso ao centro de saúde
local, o modo como esse planejamento familiar é feito não inclui os jovens antes do início da
vida reprodutiva nem mesmo antes do início da vida sexual.
196
Em geral, quando engravidam, ou já deixaram a escola (o que é mais comum) ou
largam a escola em seguida. Também são as que têm o menor grau de inserção no mercado de
trabalho. Por se verem excluídas do mercado de trabalho e excluídas da escola, ter filhos não
chega a representar algo indesejável para essas jovens. É manifesto, no discurso delas, que um
filho, muitas vezes, é um plano de vida, em substituição a qualquer outro tipo de projeto, pois
sabem não existir possibilidade real de mudanças para quem não estiver se qualificando
profissionalmente.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados aqui reunidos apontam que, em uma população com a maioria
das mulheres jovens em situação de exclusão social, em geral, reunir informações sobre
práticas preventivas e ter acesso à camisinha não garante seu uso, uma vez que há maior
associação entre uso do preservativo com idade, status conjugal e graus de autonomia. Outro
resultado importante é a evidência de que a entrada precoce em relações conjugais tem um
impacto negativo na autonomia da mulher jovem, aumentando sua vulnerabilidade social: os
perfis de mulheres casadas/unidas, entre 20 e 24 anos, e com baixo grau de autonomia,
apresentaram maior vulnerabilidade ao HIV e à gravidez indesejada, comparativamente aos
perfis de mulheres solteiras, entre 15 e 19 anos, e com melhores níveis de autonomia. O
último ponto a ressaltar é que os resultados também deixam claro que existe uma necessidade
de se estudar melhor a relação entre escolaridade e profissionalização, no caso de mulheres
jovens de baixa renda, que parece estar longe de ser linear quanto preconizam os modelos
tradicionais de análise. A ausência de políticas públicas voltadas para esse segmento da
população também reflete essa falta de entendimento sobre tal realidade.
REFERÊNCIAS
CASTRO, Mary G. 2006. Juventude e participação: perfil e debate. XV Encontro Nacional
de Estudos Populacionais, ABEP, Caxambu - MG.
CHACHAM, Alessandra S., MAIA, Mônica Bara, GRECO, Marília, SILVA, Ana Paula,
GRECO, Dirceu B. Autonomy and susceptibility to HIV/AIDS among young women living in
a slum in Belo Horizonte, Brazil. AIDS Care. V.19, S12 - S22, 2007.
197
HEILBORN, Maria Luiza, AQUINO, Estela M. L, BOZON, Michel, KNAUTH, Daniela
R.(Org.). 2006. O aprendizado da sexualidade: Reprodução e trajetórias sociais de
jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Garamond e Fiocruz.
JEJEEBHOY, Shireen. 2000. Women's Autonomy in Rural India: Its dimensions,
determinants and the influence of the context. In: PRESSER, Harriet B. e SEN, Gita. (org.)
Women's Empowerment and Demographic Processes. Oxford: Oxford University Press.
LACERDA, M. et al. 2005. Mensuração e perfis de demanda insatisfeita por contracepção
nos municípios de Belo Horizonte e Recife, 2002. Revista Brasileira de Estudos
Populacionais, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 113-129.
LOBATO, Ana Laura. 2007. Perfis de Autonomia e Vulnerabilidade de Mulheres Jovens
residentes do Taquaril, Belo Horizonte. Monografia (Conclusão de Curso) Puc Minas.
Curso de Ciências Sociais. Belo Horizonte.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2004. Coordenação Nacional de DST/AIDS. Boletim
Epidemiológico AIDS. Ano XVII, n. 1, p. 01 – 52. Semanas Epidemiológicas.
SAWYER, D. O.; LEITE, I. C.; ALEXANDRINO, R. 2002. Perfis de utilização de serviços
de saúde no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 7, n. 4, p. 757-776.
SCHWARTZMAN, Simon. 2004. Pobreza e exclusão. In: As Causas da Pobreza. Ed. FGV.
Rio de Janeiro.