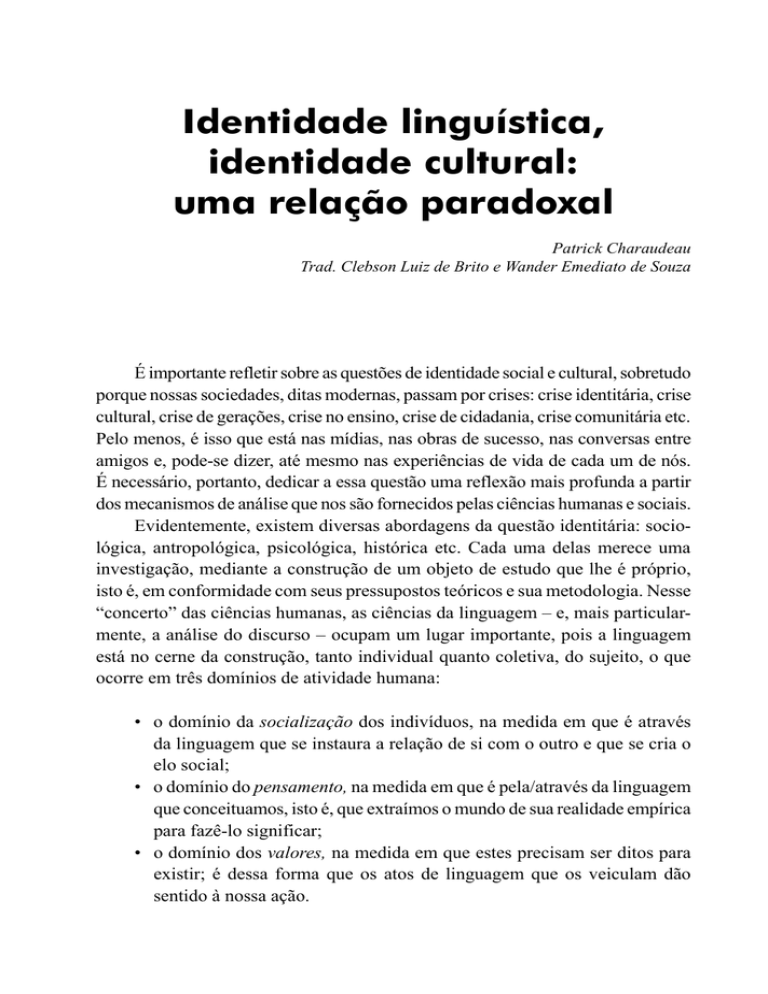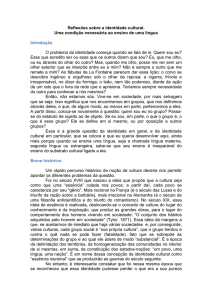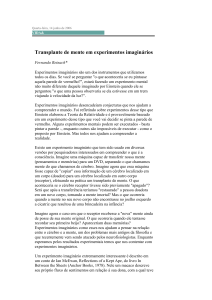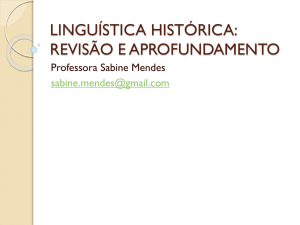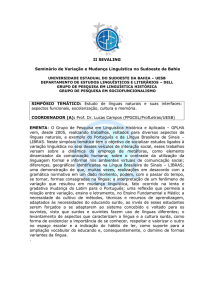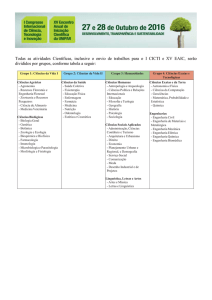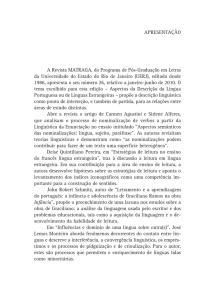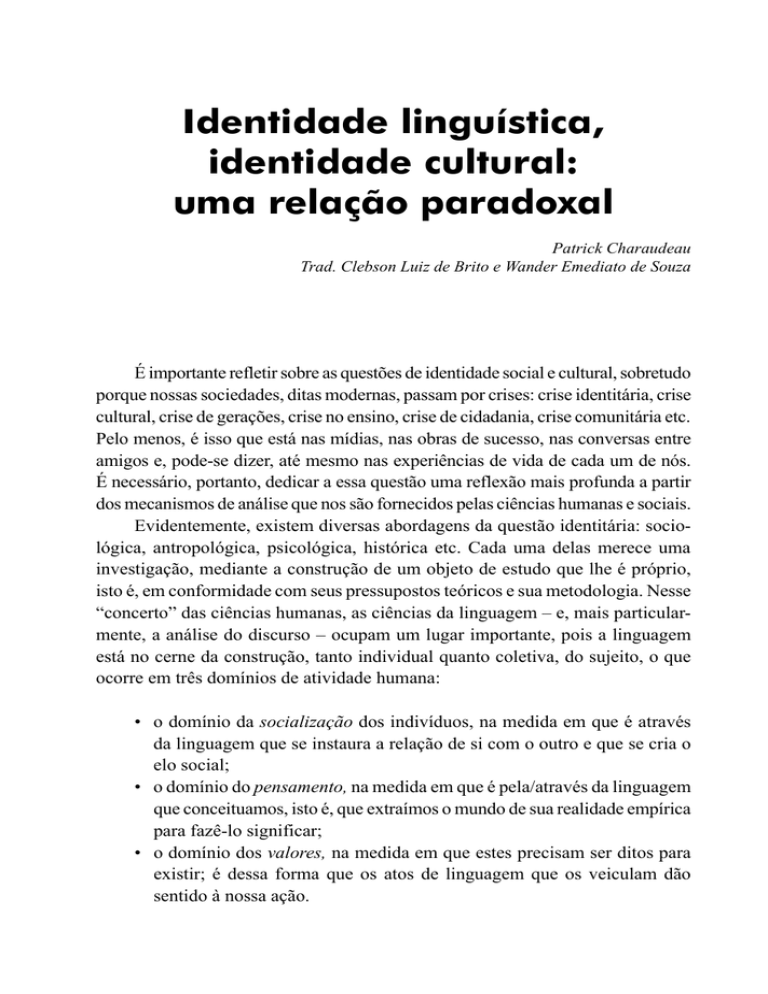
Identidade linguística,
identidade cultural:
uma relação paradoxal
Patrick Charaudeau
Trad. Clebson Luiz de Brito e Wander Emediato de Souza
É importante refletir sobre as questões de identidade social e cultural, sobretudo
porque nossas sociedades, ditas modernas, passam por crises: crise identitária, crise
cultural, crise de gerações, crise no ensino, crise de cidadania, crise comunitária etc.
Pelo menos, é isso que está nas mídias, nas obras de sucesso, nas conversas entre
amigos e, pode-se dizer, até mesmo nas experiências de vida de cada um de nós.
É necessário, portanto, dedicar a essa questão uma reflexão mais profunda a partir
dos mecanismos de análise que nos são fornecidos pelas ciências humanas e sociais.
Evidentemente, existem diversas abordagens da questão identitária: sociológica, antropológica, psicológica, histórica etc. Cada uma delas merece uma
investigação, mediante a construção de um objeto de estudo que lhe é próprio,
isto é, em conformidade com seus pressupostos teóricos e sua metodologia. Nesse
“concerto” das ciências humanas, as ciências da linguagem – e, mais particularmente, a análise do discurso – ocupam um lugar importante, pois a linguagem
está no cerne da construção, tanto individual quanto coletiva, do sujeito, o que
ocorre em três domínios de atividade humana:
• o domínio da socialização dos indivíduos, na medida em que é através
da linguagem que se instaura a relação de si com o outro e que se cria o
elo social;
• o domínio do pensamento, na medida em que é pela/através da linguagem
que conceituamos, isto é, que extraímos o mundo de sua realidade empírica
para fazê-lo significar;
• o domínio dos valores, na medida em que estes precisam ser ditos para
existir; é dessa forma que os atos de linguagem que os veiculam dão
sentido à nossa ação.
14
Discurso e (des)igualdade social
A atividade de linguagem constitui uma espécie de garantia de liberdade do indivíduo como possibilidade de interrogação e análise sobre o outro e sobre si mesmo,
e como possibilidade de controle de nossos afetos. Nada mais complexo, portanto,
do que a identidade, que resulta de um cruzamento de vários fatores, sem contar a
dificuldade de abordá-la, tendo em vista seu impacto social e político: será que é
possível falar de identidade sem ser tachado de comunitarista ou de anticomunitarista?
Eis o desafio que se me apresenta neste texto, e que tentarei resolver sem
tomar partido ou fazer concessões, tendo consciência de que essa é uma questão,
ao mesmo tempo, complexa (mais do que nunca), delicada (do ponto de vista
político) e, por vezes, enganosa (no plano social).
Alguns problemas
preliminares à questão identitária
Um certo número de problemas aparece quando se pretende abordar a questão
da identidade: quem a julga? Ela é individual ou coletiva? Qual é sua origem? Ela
resulta da natureza ou da cultura?
Quem julga a identidade de alguém? É o olhar do outro sobre si mesmo,
do outro que me julga desta ou daquela maneira? É o olhar de si sobre si mesmo,
como quando eu me avalio diante do espelho ou quando, às vezes, revelo aquilo
que acredito ser? É o meu olhar sobre o outro, quando me ponho a julgá-lo? Em
todo caso, o problema da identidade começa quando alguém fala de mim, o que me
obriga a interrogar-me sobre “quem sou eu?”: aquele que acredito ser, ou aquele que
o outro diz que eu sou? Eu, que me olho, ou eu mesmo através do olhar do outro?
Mas, quando eu me olho, consigo me ver sem um olhar exterior que se interpõe
entre mim e mim mesmo? Não é sempre o outro que me remete a mim mesmo?
A identidade é individual ou coletiva? Questão difícil de resolver, pois todo
indivíduo é um ser social pelo fato de viver em sociedade. Mas esse indivíduo pertence a que grupo? A um grupo de referência ideal, imaginado, ao qual ele acredita
(deseja) pertencer, ou a seu grupo de pertencimento real? Pertencemos a apenas um
grupo ou possuiríamos um “multipertencimento” em função de nossa idade, nosso
sexo, nossa profissão, nossa classe social etc.? É verdade que temos dificuldade
em pensar em nós mesmos como pertencendo a uma coletividade. Gostaríamos
de acreditar, sempre, que “eu sou eu, você é você e ele é ele”; vemo-nos sempre
como um ser singular, diferente dos outros, que se recusa a confundir-se com o
grupo, a pensar como os outros membros do grupo, a desaparecer na massa de
Identidade linguística, identidade cultural
15
um pensamento coletivo. Talvez, aliás, porque não estejamos convencidos dessa
singularidade absoluta que reivindicamos, às vezes, no grito: “quanto a mim, eu não
sou como os outros”. Uma espécie de reivindicação do “direito a ser eu mesmo”.
Porém, não há ato que realizemos, nem pensamento que exprimamos que
não contenha o traço de nosso pertencimento à coletividade. Vivemos em grupo,
a começar pela família, reunindo-nos com os amigos, estabelecendo relações de
dependência no ambiente de trabalho ou agindo como cidadãos (pelo voto ou pela
ação militante). Pois, para viver bem em sociedade, o indivíduo é levado a elaborar
com outros membros do grupo normas de comportamento social e a respeitar tais
normas, sem as quais não haveria senão anarquia incontrolável. Por mais selvagem
que sejamos, vivemos em sociedade, isto é, em relação com os outros.
Então, surge novamente a questão: quem sou eu no grupo ou, mais exatamente, passando-se da condição de sujeito à de objeto: o que sou eu no grupo?
Se sou, em parte, o que é o grupo, qual é ele? Ele se define nele mesmo pelo que
lhe é imposto, ou por oposição a outros grupos? Por exemplo, na minha condição
de francês, sou cartesiano, gaulês, arrogante, tal como isso me é, geralmente,
atribuído pelos outros, ou devo jogar fora os estereótipos?
E, no entanto, mesmo que não queiramos nos ver como indivíduos dependentes do grupo, é pelo olhar dos outros que somos marcados, etiquetados, categorizados: nossas vestimentas, nossa maquiagem, nosso penteado, nossa linguagem,
nosso andar, e mesmo o que nos é mais inerente, como o sexo e a idade, tudo
isso atesta nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos, o que permite aos
outros classificar-nos nesta ou naquela categoria.
Soma-se a isso uma outra característica igualmente difícil de aceitar: a
identidade de um grupo não é a soma das identidades individuais, e a opinião de
um grupo não é o resultado da adição das opiniões individuais. Os julgamentos
que fazemos sobre o mundo e as opiniões que acreditamos ser individuais se
mesclam às do grupo, tornando-se mais globais. E, quanto mais expressivo é o
grupo em número de indivíduos, mais gerais e abstratas são essas representações:
a opinião de um grupo é o menor denominador comum das opiniões de cada um,
o que oculta as particularidades individuais. Na identidade coletiva, um mais um
não são dois, mas um novo um que engloba ambos.
Eis porque geralmente temos dificuldade de nos reconhecermos no julgamento
dos outros. Não sabemos exatamente qual é a parte de nossa singularidade, de nosso
pertencimento ao grupo e do efeito do olhar dos outros sobre nós. Fazemos parte de
uma mise en scène social no interior da qual agimos e pensamos, interrogando-nos
constantemente: “quem somos nós?” ou “o que somos nós?”. A identidade é, assim,
16
Discurso e (des)igualdade social
um problema complexo, pois ela não é apenas um problema do indivíduo, mas também dos outros ou, mais exatamente, o problema de si através do olhar dos outros.
De onde vem a identidade cultural? Ela é herdada? Imposta? Ela tem
uma origem? Circula, a esse respeito, a ideia de que a identidade cultural viria
dos primórdios e que seria preciso reencontrá-la: seria um “paraíso perdido” a
reconquistar. Essa ideia é particularmente dominante em nossa época, e talvez
seja uma marca de nossa modernidade. Foi necessário para isso que as guerras se
afastassem em horizontes de tempo e espaço longínquos, que as grandes causas
de lutas sociais entrassem em colapso e que, desaparecendo as referências tradicionais, os elos sociais, inevitavelmente, se afrouxassem. A identidade do grupo,
não podendo mais se construir na ação, nem na perspectiva de um “ser conjunto”
contra um “outro-inimigo”, traz à memória um passado, uma origem para a qual
nos voltamos com nostalgia e que desejamos resgatar.
A partir de então, opera-se um movimento de retorno em direção a essas
origens tanto por parte dos indivíduos, como por parte dos grupos sociais, com
uma vontade mais ou menos evidente (mais ou menos combativa) de reaver esse
paraíso perdido. Essa origem se concretiza, aqui, como um território (a Córsega);
ali, como uma língua (o catalão, o basco); aqui, no ressurgimento de costumes
antigos (o tribalismo na África ou na Índia); ali, como uma etnia que tinha se
misturado e que é preciso purificar (na Sérvia, no País Basco); ou ainda como
releitura dos valores religiosos (os integrismos). É uma espécie de busca de si
mesmo, em nome de uma busca da autenticidade: alcançar sua identidade seria
alcançar a autenticidade do seu ser. Movimento de retrocesso ou de purificação?
A identidade resulta da natureza ou da cultura? É no século XVIII que nasce
essa ideia de que a cultura é como uma “essência” que se fixa nos povos, uma
essência que é expressa pelas obras de arte; daí que cada povo se caracterizaria por
seu gênio. Este seria mais racional na França (é o Século das Luzes e o triunfo da
razão sobre a barbárie), mais irracional na Alemanha (é o século de uma filosofia
anticientífica e o triunfo do romantismo).
No século XIX, essa ideia é reativada, ocorrendo um deslocamento do conceito
de cultura do lugar do conhecimento e da inspiração que produzem as grandes obras
para o do lugar do comportamento dos homens que vivem em sociedade: “O conjunto
dos hábitos adquiridos pelo homem em sociedade”, diz Tylor, em 1871. Ora, se aceitamos prontamente que há várias sociedades e, portanto, várias culturas, cada grupo
social é sua própria cultura, da qual ele é herdeiro, contra a qual ele nada pode fazer
(fatalidade), que o sobredetermina e à qual ele adere de modo substancial. É a época
da delimitação dos territórios, da homogeneização das comunidades no interior desses
Identidade linguística, identidade cultural
17
territórios; em suma, da constituição dos Estados-Nação. É em nome dessa concepção
de identidade como essência nacional que se farão as guerras do século seguinte.
Porém, é curioso verificar que é nessa mesma época que se reconhece que
essa identidade pode perder sua pureza original. Isso ocorre porque, diante dos
grandes movimentos migratórios que levaram a deslocamentos e misturas de populações, é forçoso constatar que algumas delas perderam sua cultura de origem
e se apropriaram em parte de uma nova cultura. Consequentemente, os processos
de aculturação justificam, ao mesmo tempo e por reação, que o ser humano vá
em busca de sua cultura original.
É com base nessa última constatação que o século XX chegará a declarar, como
explicam E. Durkheim e M. Mauss, que a cultura não preexiste aos indivíduos, que
são eles que, vivendo em grupos, criam um “enraizamento social”. Em razão das
inúmeras trocas, e na busca por regular as relações de força que se instauram no
grupo,1 os indivíduos se dotam de traços que os caracterizam de modo particular,
mas, ao mesmo tempo, criam múltiplos subgrupos no interior de um grupo, fenômeno que corresponde ao que C. Lévy-Strauss chama de “as variantes culturais”.
Disso resulta a ideia de que a identidade cultural é, ao mesmo tempo, estável e movediça. Ela pode até evoluir no tempo, mas ela também se reconhece
nas grandes áreas civilizacionais, históricas: é o que os antropólogos chamam de
hipótese do “continuísmo”. Não se diz que o século XVI foi ítalo-ibérico; o XVII
e o XVIII, franceses; o XIX, anglo-germânico, assim como o XX seria americano?
Mas o que isso quer dizer? Trata-se ainda de uma essência?
O “essencialismo” e “a busca da origem” que acabamos de considerar são
duas ideias falsas. A ideia, segundo a qual o indivíduo ou um grupo humano
funda(m) sua existência sobre uma perenidade, sobre um substrato cultural estável, que seria o mesmo desde a origem dos tempos, sobre uma “essência”, não
se sustenta. Se, no entanto, existe uma identidade coletiva, esta só pode ser a que
está relacionada àquilo que é partilhado, logo, à produção de um sentido coletivo.
Trata-se, porém, de uma partilha instável, cujas fronteiras são imprecisas e na qual
intervêm influências múltiplas. É uma ilusão crer que nossa identidade repousa
sobre uma entidade única, homogênea, uma essência que constituiria nosso substrato do ser: “Não existe identidade ‘natural’ que nos seria imposta pela força das
coisas. Não há senão estratégias identitárias, racionalmente conduzidas por atores
identificáveis. Nós não estamos condenados a permanecer reféns desses sortilégios” (Bayard, 1996). Infelizmente, essa ilusão – esse sortilégio – é o que impede
que se atinja a identidade plural dos seres e das comunidades e, infelizmente, é
uma ilusão em nome da qual muitos abusos são cometidos.
18
Discurso e (des)igualdade social
Quanto à “busca de si”, eis outra falsa ideia igualmente perigosa. O que é a
autenticidade de um indivíduo ou de um grupo? O retorno à condição de feto para o
indivíduo, à origem da espécie para o grupo? A busca pela origem não é sempre uma
fantasia? Vamos nos desvencilhar dessas duas noções e estabelecer que “ser eu mesmo”
é, primeiramente, me ver diferente do outro; que, se há uma busca do sujeito, isso é,
antes de mais nada, a busca de não ser o outro. De forma similar, o pertencimento a
um grupo é, em primeiro lugar, o não pertencimento a um outro grupo, e a busca do
grupo, enquanto entidade coletiva, é igualmente a busca do “não outro”. A identidade
é uma questão de construção permanente sobre uma base de história.
O mecanismo de construção identitária
Convém, então, examinar o mecanismo psicológico e social que preside a
construção da identidade. Para tanto, fundamentamo-nos na reflexão elaborada
pela filosofia contemporânea (particularmente a fenomenologia) acerca da noção
de “sujeito” e na abordagem da psicologia social: para que haja tomada de consciência identitária, é necessário que se perceba uma diferença e que se estabeleça
uma certa relação face ao outro.
Percepção de uma diferença
Não há tomada de consciência da própria existência sem percepção da existência
de um outro que seja diferente. A percepção da diferença do outro constitui, antes de
mais nada, a prova da própria identidade. É o princípio da alteridade. É essa diferença
do outro que faz com que eu olhe para mim mesmo, comparando-me a ele, procurando
detectar os pontos de semelhança e de diferença; do contrário, como perceber os traços
que me seriam próprios? “Ele é diferente de mim, logo eu sou diferente dele, logo
eu existo”. Seria necessário corrigir ligeiramente Descartes e fazê-lo dizer: “Penso
diferentemente, logo existo”. É somente percebendo o outro como diferente que pode
nascer a consciência identitária. Sendo percebida a diferença, desencadeia-se, então,
no sujeito um duplo movimento: de atração e de rejeição em relação ao outro.
Movimento de “atração”
Esse movimento se explica porque há um enigma a ser resolvido. Poderíamos chamá-lo de “enigma do persa”, pensando em Montesquieu: “como alguém
Identidade linguística, identidade cultural
19
pode ser diferente de mim?”. Descobrir que existe o diferente de si é descobrirse incompleto, imperfeito, inacabado. E quem pode suportar impassível essa
incompletude, essa imperfeição, esse inacabamento? É o que explica essa força
subterrânea que nos move para a compreensão do outro; não no sentido moral,
de aceitação do outro, mas no sentido etimológico de apreensão do outro, de
seu controle, que pode chegar a sua absorção, sua “predação”, como se diz em
etologia. Não podemos escapar a essa fascinação do outro, a esse desejo de “um
outro de si mesmo”. Trata-se de um movimento de apreensão do outro para, em
última instância, estabelecer uma partilha, chegar a dividir algo comum, a fim
de resolver esse problema da diferença.
Movimento de“ rejeição”
Tal movimento se dá porque essa diferença representa uma ameaça para o
sujeito. Essa diferença faria com que o outro fosse superior a mim? Que fosse
mais perfeito? Que tivesse mais razão de ser do que eu mesmo? É por isso que a
percepção da diferença é acompanhada, geralmente, de um julgamento negativo.
Trata-se da sobrevivência do sujeito. É como se não fosse suportável aceitar que
outros valores, outras normas, outros hábitos – senão os próprios – fossem melhores ou que simplesmente existissem.
Quando esse julgamento se consolida e se generaliza, ele se torna o que
chamamos tradicionalmente de estereótipo, clichê, preconceito. Convém não
desprezar os esterótipos; eles são uma necessidade. Eles constituem, em primeiro
lugar, uma proteção, uma arma de defesa contra a ameaça representada pelo outro
na sua diferença e, além disso, eles nos são úteis para estudar os imaginários dos
grupos sociais. Evidentemente, esses julgamentos negativos apresentam um inconveniente: ao julgar o outro negativamente, protegemos nossa identidade, mas
também caricaturamos a do outro e, por conseguinte, a nossa própria, persuadindonos de que temos razão face ao outro. Nesse sentido, o julgamento estereotipado é
como o fenômeno da refração/reflexão de um raio luminoso sobre uma superfície
líquida: o julgamento que eu faço do outro diz algo sobre o outro, deformando-o
(refração); reciprocamente, esse julgamento diz algo sobre mim mesmo (reflexão).
É assim que, no contato com o estrangeiro, o julgaremos demasiadamente racional, frio ou agressivo, persuadidos de que somos, nós mesmos, sensíveis, afetuosos,
acolhedores e respeitosos para com o outro. Ou então, ao contrário, julgaremos o
outro como anarquista, extrovertido, pouco confiável, persuadidos de que somos,
nós mesmos, racionais, controlados, diretos, francos e confiáveis. Assim, somos
20
Discurso e (des)igualdade social
levados a julgar o outro negativamente, sobretudo porque estamos convencidos
de que nossas normas de comportamento e nossos valores são os únicos possíveis.
Vê-se o paradoxo sobre o qual se constrói nossa identidade. Precisamos do
outro, do outro na sua diferença, para tomar consciência de nossa existência, mas,
ao mesmo tempo, desconfiamos dele, sentimos a necessidade seja de rejeitá-lo,
seja de torná-lo semelhante a nós para eliminar essa diferença: se o rejeitamos,
maior é a possibilidade de nos vermos diferentes; se o tornamos semelhante,
nossas particularidades desaparecem.
Não é, portanto, simples sermos nós mesmos, visto que isso implica a existência
e a conquista do outro. “Eu é um outro”, dizia Rimbaud. Caberia especificar: “eu é
um outro eu-mesmo semelhante e diferente”. A identidade se constrói, como foi dito,
segundo um princípio de alteridade, que põe em relação, em jogos sutis de atração
e rejeição, o mesmo e o outro, os quais se autoidentificam de maneira dialética.
Os efeitos sobre a construção identitária do grupo
Para os grupos, os efeitos desse duplo movimento são de quatro ordens:
1.A inclinação do grupo para si mesmo. O grupo que se sente ameaçado na
sua identidade pela presença de um outro grupo que tende a dominá-lo
poderá reagir reivindicando valores que lhe são próprios e voltando-se
para si mesmo. Assim se constroem os regionalismos, os comunitarismos,
os partidos e outros agrupamentos comunitários. Esse movimento corresponde ao que os dialetólogos chamam de “força local”, quando se trata
de explicar o fenômeno da constituição das línguas.
2.A abertura do grupo para os outros. O grupo se abre às influências exteriores, vai em direção aos outros ou os deixa vir até si, assimila-os ou
se deixa penetrar por eles. Esse movimento corresponde ao que os dialetólogos denominam “força de intercurso” para explicar o fenômeno da
contaminação das línguas.
3.A dominação de um grupo pelo outro. O grupo que se sente superior tentará ou integrar o outro grupo, fazê-lo fundir-se consigo, digeri-lo – é o
que se produz por ocasião da colonização e de movimentos de imigração
vistos do lado do país de entrada, o que, às vezes, vem acompanhado da
imposição de uma língua –; ou eliminar o outro grupo, de forma mais
ou menos radical, sobretudo se este já se encontra no território do grupo
dominante; é assim que se produzem os massacres e outros genocídios.
Identidade linguística, identidade cultural
21
4.A mescla do grupo. O contato entre dois grupos, o estreitamento de suas
relações e de sua coexistência, acaba por produzir uma mistura das características de cada um deles, por meio de múltiplos cruzamentos (casamentos,
associações, terceira geração de migrantes). Mas, para que o grupo não
se desagregue, é necessário que, para além dessa hibridização, o grupo
possa se referir a um valor comum que lhe sirva de elo identitário. Esse é
o caso do “sucesso social” no melting-pot americano, da “República” para
os imigrantes na França, da “crença religiosa” para a diáspora judaica.
Assim se diferenciam as culturas ocidentais segundo elas correspondam a
um ou outro desses modelos, como se vê ao longo da história e ainda hoje em
diferentes partes do mundo. Uma vez mais, constata-se que a construção identitária
do sujeito se faz numa contradição entre o desejo de ser singular, único, específico,
e o desejo de pertencimento coletivo. Afinal, como se sentir existindo a não ser
referindo-se a um absoluto único, e, ao mesmo tempo, como se sentir existindo
quando se está sozinho, sem pertencimento a um grupo? Reside aí a contradição
que nunca se resolverá.
Os imaginários socioculturais
Esse encontro de si com o outro se realiza não apenas por meio de ações
que os indivíduos praticam na vida em sociedade, mas também por meio
de seus julgamentos sobre a legitimidade dessas ações, de si e dos outros,
isto é, por meio de suas representações. Essas representações evidenciam
imaginários coletivos que são produzidos pelos indivíduos que vivem em
sociedade, imaginários esses que manifestam, por sua vez, valores por eles
compartilhados, nos quais eles se reconhecem e que constituem sua memória
identitária. Convém, então, estudar esses imaginários para se ter a dimensão
das identidades coletivas, pois eles representam aquilo “em nome do que” tais
identidades se constroem.
São inúmeros os imaginários coletivos, e seu estudo é um vasto domínio que
deveria ocupar o centro das ciências humanas e sociais, nas próximas décadas.
Faremos referência a apenas alguns deles, sem essencializá-los, identificando o
que chamaremos de “traços identitários”. Distinguiremos três tipos de imaginários:
1) os imaginários antropológicos; 2) os imaginários de crença; 3) os imaginários
socioinstitucionais. Vamos a eles:
22
Discurso e (des)igualdade social
1.Os imaginários antropológicos resultam do comportamento dos indivíduos
que vivem em grupo e cujos motivos são, em grande medida, inconscientes,
mas cujos discursos de justificação erigem-se em norma social absoluta.
A seguir, evocaremos alguns deles:
• Os imaginários relacionados ao espaço atestam a maneira como os indivíduos de um grupo social representam para si mesmos o seu território,
como aí se movimentam, como o estruturam, determinando nele pontos
de referência, e como aí se orientam. Nesse sentido, perguntamo-nos em
que medida as dimensões do território, seu relevo, seu clima influenciam
os comportamentos e as representações dos indivíduos que nele vivem.
Por exemplo, observa-se que a relação cidade/campo não é a mesma no
continente europeu e no continente americano. Isso tem incidência sobre
a maneira como os indivíduos que vivem em cada um desses continentes
concebem a cidade (lugar de recolhimento) e o campo (lugar de abertura).
• Os imaginários relacionados ao tempo evidenciam a maneira como os
indivíduos representam para si mesmos as relações entre o passado, o
presente e o futuro, bem como a extensão de cada um desses momentos.
Há povos para os quais o tempo é racionalizado de tal maneira que este
é demarcado em função de atividades bem determinadas. Há outros que
o racionalizam diferentemente, ou dizem que não o racionalizam. Há
alguns que “recortam” o tempo e outros que o atravessam. Além disso,
o imaginário do tempo também incide sobre o lugar simbólico que
ocupam, numa sociedade, as idades e as gerações, o passado e o futuro.
• Os imaginários relacionados ao corpo mostram a maneira como os
indivíduos representam para si próprios o lugar que o corpo ocupa no
espaço social. Como os corpos se movem? Eles podem estar em contato
fora de uma situação de intimidade, como em certas sociedades (Brasil),
ou eles se mantêm à distância (Estados Unidos)? O corpo pode ser
exposto na sua nudez? E quais partes podem ser mostradas? Ele é alvo
de cuidados, de manutenção; mas, afinal, quem faz com que ele seja
julgado “limpo” ou “sujo”, em relação às aparências (acessórios, vestimentas) e aos odores? Quais são os tabus (gestuais) que a ele se ligam?
• Os imaginários ligados às relações sociais, que evidenciam a maneira
pela qual os indivíduos representam para si mesmos como devem ser seus
comportamentos em sociedade e que engendram os chamados “rituais
sociais”: rituais de cumprimentos, de desculpas e de polidez; rituais de
injúrias e insultos. Observando-se a maneira como os indivíduos de um
Identidade linguística, identidade cultural
23
grupo gerem o humor, pode-se constatar que determinado povo é mais
propenso a praticar a derrisão; outro, a ironia; e ainda outro, o absurdo.
Mas pode-se observar também o modo como os indivíduos costumam
discutir – até mesmo criar polêmicas –, e será possível notar que alguns
o fazem de maneira direta, contradizendo explicitamente o outro; outros,
de modo indireto, por meio de subentendidos, evitando magoar o outro.
Por exemplo, sabe-se que a sociedade francesa tem um gosto notável
pelo debate polêmico (político, cultural), enquanto as sociedades latinoamericanas, por receio de ofender o outro, jamais criticam abertamente.
Poderíamos ainda buscar traços em outros domínios, como os imaginários relativos ao sexo, à idade, aos sentimentos (como se dá a
linguagem amorosa; que tipo de linguagem – e, portanto, de autoridade – se dá entre pais e filhos; linguagem entre amigos, sejam
eles homens ou mulheres etc.), mas a lista seria longa demais. Nesse
sentido, procuramos apenas dar alguns exemplos.
2.Os imaginários de crença (embora todos os imaginários sejam de crença)
são elaborados por discursos de representação e transmitidos em lugares
de inculcação, tais como as instituições (a escola, a família etc), os locais
de trabalho, os escritos, as mídias. Seguem também aqui alguns casos:
• Os imaginários relacionados à história e à linhagem. O peso da história
não significa o retorno ao passado, mas o processo pelo qual um povo,
à força de ações e palavras, constitui para si um modo de pensamento,
uma moral veiculada por sistemas de valores, uma sensibilidade por meio
dos modos de vida que elabora. Esses imaginários dizem muito sobre a
maneira como os indivíduos representam para si próprios suas heranças
históricas que dão mostra do valor simbólico atribuído a suas filiações:
em relação a que herança nos sentimos responsáveis? Que sistemas de
valores cremos que devemos transmitir? Assim, vemos certos países se
inscreverem numa filiação de “direito de sangue”, que instaura sociedades fundadas na “segregação”, concebida como uma coexistência de
diferenças, em que o outro é aceito com seu pertencimento identitário,
desde que tal pertencimento não exceda o grupo no interior do qual ele
se origina. Disso resulta uma organização social em grupos, clubes ou
mesmo guetos e em cotas de representação social (idade, sexo, etnia
etc.). Outras sociedades se inscrevem numa filiação de “direito de solo”,
fundada na integração, que implica que o outro seja “re-identificado”
segundo os valores da cidade (República) ou do solo (Nação). Daí uma
24
Discurso e (des)igualdade social
organização social centralizada em torno de “máquinas integrativas”,
como o sistema educativo, as forças armadas, as atividades de lazer etc
(Todd, 1994). Outras se inscrevem numa filiação ainda mais complexa:
é o caso de sociedades que se constituíram por “ondas” de imigração e
nas quais aos dois imaginários anteriores se sobrepõe o imaginário do
“direito ao/pelo sucesso”, como na América do Norte. Isso permite pensar
que a visão sobre o estrangeiro não é a mesma, segundo se tenha sido
educado neste ou naquele tipo de sociedade.
• Os imaginários relacionados às crenças religiosas fazem parte desses
imaginários de crença. Não haveria espaço suficiente para descrevê-los
em detalhes. Sabe-se, no entanto, que, segundo se supõe ao catolicismo,
ao protestantismo, ao judaísmo ou ao islamismo, as visões acerca da vida
em sociedade, os valores (em relação ao dinheiro, ao sexo, à linguagem)
e os comportamentos não são os mesmos. Esta é provavelmente uma das
razões do efeito polêmico produzido no caso das caricaturas de Maomé.*
3.Os imaginários socioinstitucionais. Trata-se dos imaginários que resultam
de uma certa mistura das práticas e das representações sociais mantidas
pelas formas de organização da vida em sociedade. Isso porque a identidade
coletiva e o sentimento identitário que a acompanha precisam ser mantidos por uma organização político-administrativa sólida, que desempenha
o papel de espelho, cujas leis e regras de funcionamento constituem as
referências às quais o indivíduo tem necessidade de se vincular para fortalecer as representações coletivas e constituir, assim, um escudo contra
uma diluição do sentimento identitário. Desse modo, uma organização
socioeconômica sólida (que implica ter trabalho e um poder aquisitivo para
manter a casa) favorece a integração e o sentimento de pertencimento. A
escola desempenha aqui um papel essencial, pois, como lugar de inculcação do saber e dos valores, constitui um fator de integração.
É por um entrecruzamento desses diversos imaginários que se constrói
a identidade coletiva, na proporção do tamanho do grupo e do que ele
representa, e, particularmente, as identidades nacional, regional, comunitária ou supranacional. É à luz desses entrecruzamentos que podemos
interrogar-nos se existe uma identidade europeia.
* N.T. O autor se refere à publicação, pela revista francesa Charlie Hebdo, de uma caricatura de Maomé na capa
do número de 19/09/2012, época de clima tenso no mundo árabe por causa de um filme anti-Islã produzido nos
Estados Unidos. Sete anos antes, um jornal dinamarquês já havia publicado caricaturas do profeta, gerando
revolta e protestos entre os muçulmanos.
Identidade linguística, identidade cultural
25
A identidade europeia em questão
Como acabamos de ver, a identidade nacional não é algo simples de se determinar, já que ela depende de múltiplos fatores. Do ponto de vista cultural, na França,
na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, não se têm os mesmos hábitos
comportamentais (a maneira de comer, de se movimentar no espaço, de entender o
tempo); as mesmas sensibilidades (as mesmas papilas gustativas, o mesmo olhar estético); os mesmo modos de raciocínio (mais pragmático aqui, mais retórico lá; mais
sóbrio aqui, mais prolixo lá; mais abstrato e teórico aqui, mais concreto e aplicado lá);
os mesmos sistemas de valores: as mesmas maneiras de viver as crenças religiosas
e pagãs, as mesmas concepções e práticas jurídicas, políticas, econômicas, culturais
e educativas; os mesmos rituais, que evidenciam a forma como cada povo concebe
suas relações com o outro (maneira de abordá-lo, de submetê-lo, de ajudá-lo), suas
relações com as instituições (respeito ou desprezo a priori), com a vida cotidiana
(horários, passatempos). Enfim, é preciso acrescentar, não se tem a mesma língua,
marca de uma forma de pensamento, de uma visão particular do mundo, de valores
próprios e de especificidades culturais, como se verá mais à frente.
A identidade nacional não se decreta. Ela se constrói através da história e,
para os povos europeus, isso se fez de forma árdua, cruelmente, com lágrimas e
sangue. Alguns desejariam abolir as fronteiras nacionais, mas o que há de comum
entre um alemão, um inglês, um espanhol, um italiano, um português, um grego
e um francês? Uma vez mais, uma entidade supranacional não é a soma das entidades nacionais. Será preciso tempo para constituir uma unidade europeia. Mas
uma nova questão surge: como construir uma identidade europeia consensual e
sem inimigos? Isso não quer dizer que esses povos não devam trabalhar para estabelecer trocas e para tentar se entender, mas é preciso não confundir vontade e
estratégia política para fins de pacificação com comunidade cultural homogênea.
Imaginários sobre a língua
É preciso dar especial destaque aos imaginários sobre a língua, pois eles denotam
a maneira como os indivíduos se veem enquanto pertencentes a uma mesma comunidade linguística. Aqui dois pontos de vista se confrontam. Existe uma representação
unitária da língua, amplamente compartilhada em diferentes culturas, que afirma que
os indivíduos se identificam com uma coletividade única, graças ao espelho de uma
língua comum que cada um estenderia ao outro e na qual todos se reconheceriam. Essa
26
Discurso e (des)igualdade social
é uma ideia que remonta aos tempos em que as línguas começam a ser codificadas sob
a forma de dicionários e, sobretudo, de gramáticas. Na Europa, na Idade Média, começam a florescer gramáticas2 como uma tentativa de unificar povos cujos componentes
regionais e feudais guerreavam entre si. Já no século XIX, sabe-se que a fórmula “uma
língua, um povo, uma nação” contribuiu para a delimitação de territórios nacionais
e, ao mesmo tempo, para o desencadeamento de conflitos relacionados à defesa ou à
apropriação desses territórios, cujo interesse era a criação de uma consciência nacional.
Tal ideia foi defendida com mais ou menos vigor pelas nações, segundo
tivessem conseguido integrar e homogeneizar as diferenças e as especificidades
linguísticas locais e regionais (como na França), ou tivessem encontrado resistência, criando uma situação linguística fragmentada (como na Espanha ou no Reino
Unido). Esse imaginário da identidade linguística é mantido por dois discursos
que se reforçam mutuamente. Um deles sustenta a ideia de que a língua seria um
dom da mãe natureza que nos seria oferecido desde o nascimento e que constituiria
nosso ser de maneira própria: foi assim que se construiu a simbologia do gênio
de um povo. O outro discurso afirma que esse dom, pelo qual seríamos todos
responsáveis, seria recebido como herança e deveria ser transmitido dessa mesma
forma. É por isso que se continua a dizer que aqui se fala a língua de Molière: lá, a
língua de Shakespeare; lá ainda, a de Goethe, de Dante, ou de Cervantes, quando,
na verdade, são outras línguas que falamos na nossa modernidade.
É evidente que a língua é necessária à constituição de uma identidade coletiva,
que ela garante a coesão social de uma comunidade e que constitui o “cimento” dessa
comunidade, quanto mais presente se faz. É por meio dela que se dá a integração
social e que se forja a simbólica identitária. É igualmente evidente que a língua nos
torna responsáveis pelo passado, com o qual cria uma solidariedade, fazendo com
que nossa identidade seja moldada na história e que, consequentemente, tenhamos
sempre algo a ver com nossa própria filiação por mais longínqua que seja.
Um outro ponto de vista assenta-se sobre a ideia de que a língua não é a totalidade
da cultura. Com efeito, pode-se perguntar se é a língua que tem um papel identitário ou
se é aquilo que chamamos de discurso, isto é, o uso que se faz da língua, por meio do
ato de enunciação que a coloca em funcionamento. Contra uma ideia tão disseminada,
seria necessário dissociar língua e cultura, e associar discurso e cultura.
Se língua e cultura coincidissem, as culturas francesa, quebequense, belga e suíça
seriam idênticas, sob a alegação de que há uma comunidade linguística. O mesmo se
daria com as culturas brasileira e portuguesa, de um lado, e as diferentes culturas de
países de língua espanhola ou inglesa na América e na Europa. Ora, estamos certos de
que nos compreendemos perfeitamente, apesar da existência de uma língua comum?
Identidade linguística, identidade cultural
27
Não são tanto as palavras na sua morfologia nem as regras de sintaxe que são
portadoras de cultura, mas, sim, as maneiras de falar de cada comunidade, as maneiras
de empregar as palavras, os modos de raciocinar, de relatar, de argumentar para fazer
rir, para explicar, para persuadir, para seduzir. É necessário distinguir o pensamento em
francês, em espanhol ou em português do pensamento francês, espanhol, mexicano,
português e brasileiro. Podemos expressar uma forma de pensamento construída em
nossa língua de origem por meio de outra língua, mesmo se esta tem, em contrapartida,
alguma influência sobre esse pensamento; inversamente, uma língua pode veicular
formas de pensamento diferentes. Todos os escritores que se expressaram diretamente
numa língua que não a sua língua materna são uma prova viva disso.
O que ocorre é que o pensamento se concretiza no discurso, e o discurso é a
língua empregada socialmente, segundo os hábitos culturais do grupo ao qual pertence
aquele que fala. A questão pertinente é, pois, a seguinte: troca-se de cultura quando
se troca de língua? A resposta não é simples. Um francês que atravessa a fronteira
espanhola vê, em primeiro lugar, espanhóis, não percebendo qualquer diferença entre
um catalão, um basco, um galego, um castelhano, diferenças que são percebidas entre
eles no interior do território espanhol. Será que um francês que fosse viver no Quebec
poderia dizer que os quebequenses partilham com ele a mesma cultura, apesar de existir
uma comunidade de língua? O que ocorre quando num mesmo território coexistem
vários falares? O que prevalece: comunidades de discurso com línguas diferentes ou
uma comunidade de língua com discursos diferentes?
Responder a essas questões torna-se bem mais difícil quando, em certas
circunstâncias históricas, a identidade linguística como língua se funde com
uma identidade étnica, social ou nacional. Isso se produz a cada vez que uma
comunidade se sente ameaçada e busca reaver uma identidade perdida, como nos
países ou regiões que passaram por uma colonização cultural ou política. Mas é
necessário, de todo modo, que se coloquem tais questões e que não se dê como
adquirido aquilo que é sintoma do estado identitário de um grupo social.
De qualquer forma, isso nos incita a reconhecer que nenhuma língua, em si,
pode pretender à universalidade. Sabe-se, inclusive, que as línguas não desaparecem por causa de uma fraqueza inerente a seu sistema, mas por razões políticas,
econômicas e sociais: de um lado, a vontade dos Estados que buscam estender sua
hegemonia (imposição) ou preservar sua integridade (defesa); de outro, a vontade
dos povos de preservar suas diferenças.
Entre essas duas tensões, que jogo de regulação é mais vantajoso aos povos?
Vários casos podem apresentar-se: um bilinguismo coletivo, uma situação de diglossia, em lugares onde a história permitiu uma coexistência entre duas línguas,
28
Discurso e (des)igualdade social
como na Catalunha – mas essa situação diz respeito ao conjunto da população
que vive no mesmo território? –; um pluri- (ou multi-)linguismo, nos lugares onde
coexistem comunidades linguísticas, elas próprias bilíngues ou até trilíngues,
como é o caso em certos países da África – mas aí também pode-se perguntar:
que parte da população está envolvida? –; um mono- (ou uni-)linguismo, por um
longo processo de assimilação de diferentes falares locais numa língua comum,
como é o caso da França.
Conclusão
É em nome desses imaginários que se criam diversos comunitarismos, de
Estados-Nação, de territórios, de grupos, de etnias, de doutrinas laicas ou religiosas.
Mas o comunitarismo encerra armadilhas: a do aprisionamento dos indivíduos
em categorias, em essências comunitárias, o que os leva a agir e a pensar apenas
em função das etiquetas que carregam sobre a testa; a da dupla exclusão, de si
em relação aos outros e dos outros em relação a si mesmo, o que, às vezes, os
leva a bradar slogans de morte ao outro; a da autossatisfação, que consiste em
se comprazer com sua própria reivindicação e em não mais ver como é o resto do
mundo, o que não pode senão exacerbar as tensões entre comunidades opostas.
Aí reside a origem dos conflitos pela marcação de uma diferença e pela apropriação de um território, como se viu nos Bálcãs e como ainda se vê no Oriente
Médio. Inversamente, o imaginário do poder, da eficácia e mesmo da justiça
(estender a igualdade ao maior número de pessoas) leva à extensão, à expansão
e ao agrupamento do maior número, seguindo um processo de homogeneização
uniformizante. É o mundialismo.
Com isso, diante dessas tendências ao comunitarismo estreito ou ao mundialismo do anonimato, é preferível defender a ideia de que uma sociedade se
compõe de múltiplas comunidades que se entrecruzam num mesmo território, ou
se reconhecem a distância. No fundo, todas as sociedades, inclusive as europeias,
são compósitas e tendem a sê-lo cada vez mais: movimentos complexos de migrações e de integrações, de um lado; multiplicação dos comunitarismos, do outro.
É preciso defender a ideia de que a identidade cultural é o resultado complexo
da combinação entre o “continuísmo” das culturas na história e o “diferencialismo”
promovido pelos encontros, conflitos e rupturas; entre a tendência ao universalismo dos valores e a tendência à sua especificidade. A história é feita, já se disse,
de deslocamentos de grupos humanos, de encontros de indivíduos, de grupos, de
Identidade linguística, identidade cultural
29
populações, o que é acompanhado de conflitos, confrontos, cujo resultado é tanto
a eliminação de uma das partes, quanto a integração de uma delas ao outro ou a
assimilação de um pelo outro, mas sempre por meio de relações de dominaçãosujeição, como postula M. Weber (1971). E, se uma das partes consegue impor
sua visão de mundo ao outro, ocorrem, ainda assim, entrecruzamentos de etnias,
de religiões, de pensamentos, de usos e costumes, o que faz com que todo grupo
cultural seja mais ou menos mesclado.
Os grupos sociais devem saber se situar entre a tendência à “hibridização”
das formas de vida, de pensamento e de criação e a tendência à “homogeneização”
das representações para fins de sobrevivência identitária: “É no cerne da metamorfose e da precariedade que se abriga a verdadeira continuidade das coisas”,
diz o antropólogo S. Gruzinski (2001).
Notas
Ver: o interacionismo simbólico da Escola de Chicago.
Não esqueçamos que 1492 foi o ano de publicação da primeira gramática da língua espanhola, de Juan Antonio
de Nebrija, que teve como efeito a instituição do castelhano (língua do povo espanhol).
1
2
Referências
BAYART, J. -F. L’Illusion identitaire. Paris: Fayard, 1996.
Gruzinski, S. La Pensée métisse. Paris: Fayard, 2001.
TODD, E. Le Destin des immigrés. Paris: Le Seuil, 1994.
WEBER, M. Économie et société. Paris: Plon, 1971.