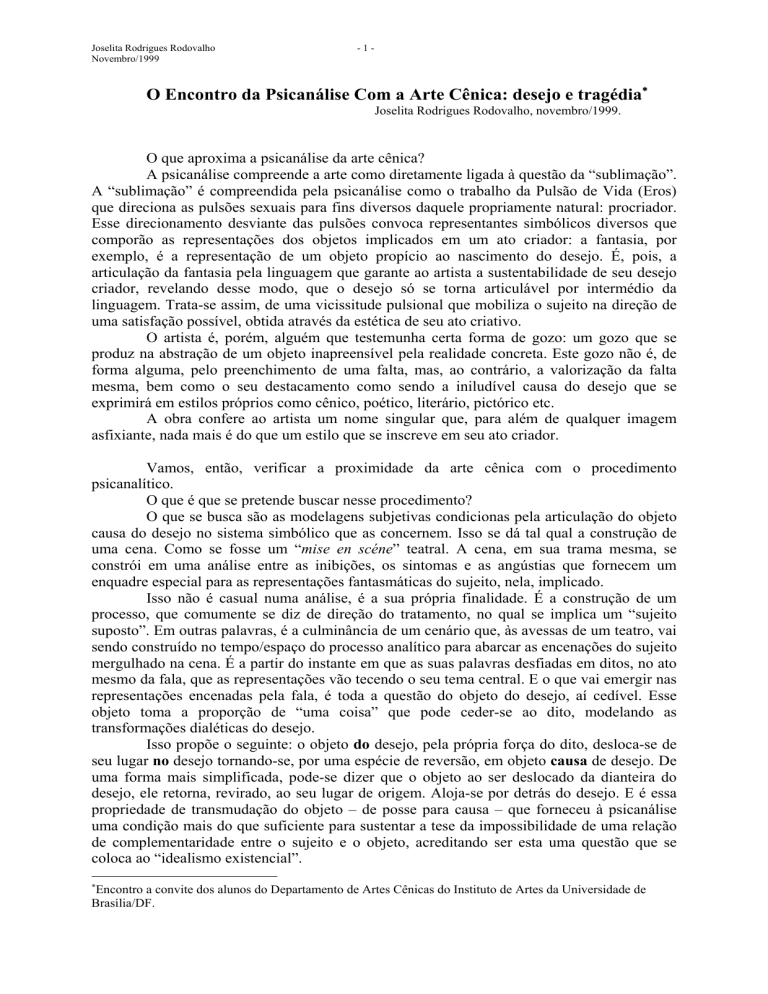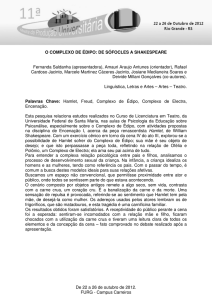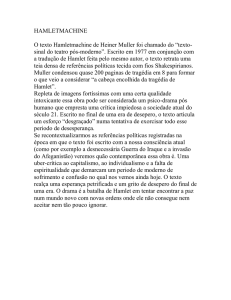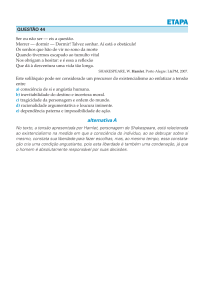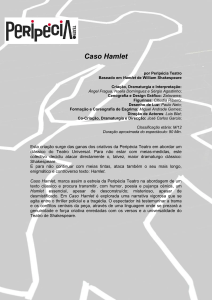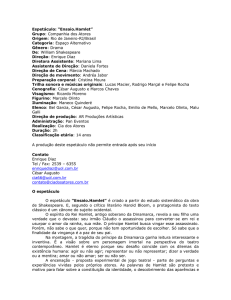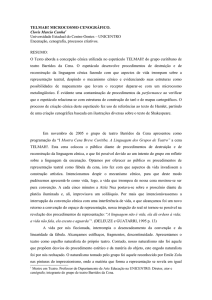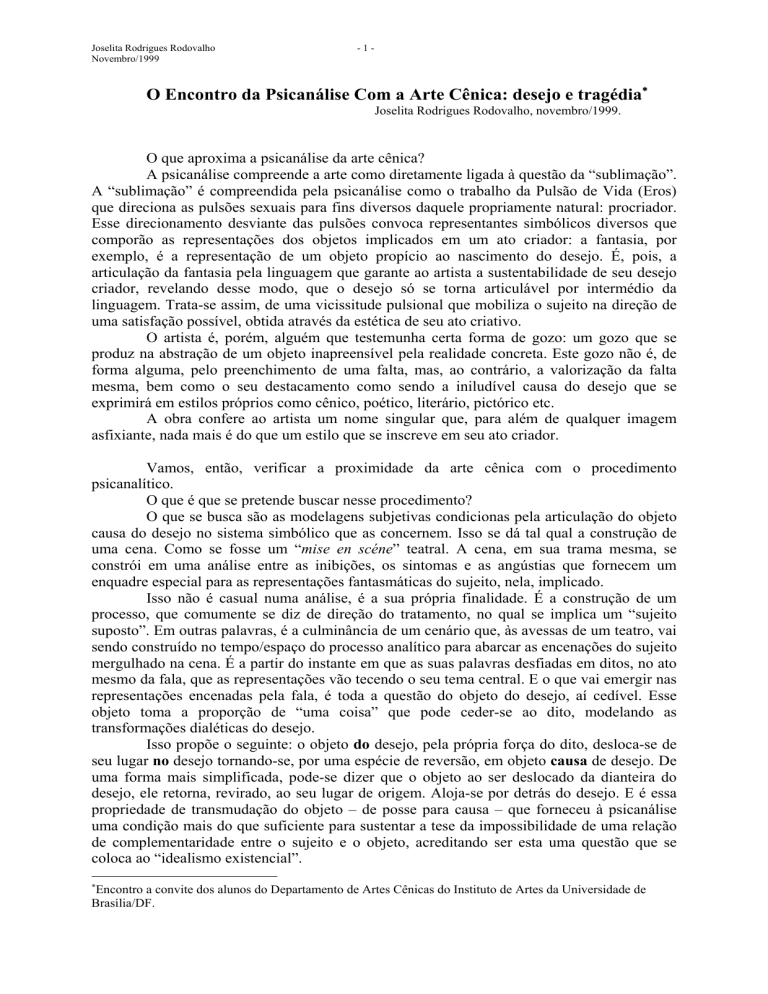
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-1-
O Encontro da Psicanálise Com a Arte Cênica: desejo e tragédia∗
Joselita Rodrigues Rodovalho, novembro/1999.
O que aproxima a psicanálise da arte cênica?
A psicanálise compreende a arte como diretamente ligada à questão da “sublimação”.
A “sublimação” é compreendida pela psicanálise como o trabalho da Pulsão de Vida (Eros)
que direciona as pulsões sexuais para fins diversos daquele propriamente natural: procriador.
Esse direcionamento desviante das pulsões convoca representantes simbólicos diversos que
comporão as representações dos objetos implicados em um ato criador: a fantasia, por
exemplo, é a representação de um objeto propício ao nascimento do desejo. É, pois, a
articulação da fantasia pela linguagem que garante ao artista a sustentabilidade de seu desejo
criador, revelando desse modo, que o desejo só se torna articulável por intermédio da
linguagem. Trata-se assim, de uma vicissitude pulsional que mobiliza o sujeito na direção de
uma satisfação possível, obtida através da estética de seu ato criativo.
O artista é, porém, alguém que testemunha certa forma de gozo: um gozo que se
produz na abstração de um objeto inapreensível pela realidade concreta. Este gozo não é, de
forma alguma, pelo preenchimento de uma falta, mas, ao contrário, a valorização da falta
mesma, bem como o seu destacamento como sendo a iniludível causa do desejo que se
exprimirá em estilos próprios como cênico, poético, literário, pictórico etc.
A obra confere ao artista um nome singular que, para além de qualquer imagem
asfixiante, nada mais é do que um estilo que se inscreve em seu ato criador.
Vamos, então, verificar a proximidade da arte cênica com o procedimento
psicanalítico.
O que é que se pretende buscar nesse procedimento?
O que se busca são as modelagens subjetivas condicionas pela articulação do objeto
causa do desejo no sistema simbólico que as concernem. Isso se dá tal qual a construção de
uma cena. Como se fosse um “mise en scéne” teatral. A cena, em sua trama mesma, se
constrói em uma análise entre as inibições, os sintomas e as angústias que fornecem um
enquadre especial para as representações fantasmáticas do sujeito, nela, implicado.
Isso não é casual numa análise, é a sua própria finalidade. É a construção de um
processo, que comumente se diz de direção do tratamento, no qual se implica um “sujeito
suposto”. Em outras palavras, é a culminância de um cenário que, às avessas de um teatro, vai
sendo construído no tempo/espaço do processo analítico para abarcar as encenações do sujeito
mergulhado na cena. É a partir do instante em que as suas palavras desfiadas em ditos, no ato
mesmo da fala, que as representações vão tecendo o seu tema central. E o que vai emergir nas
representações encenadas pela fala, é toda a questão do objeto do desejo, aí cedível. Esse
objeto toma a proporção de “uma coisa” que pode ceder-se ao dito, modelando as
transformações dialéticas do desejo.
Isso propõe o seguinte: o objeto do desejo, pela própria força do dito, desloca-se de
seu lugar no desejo tornando-se, por uma espécie de reversão, em objeto causa de desejo. De
uma forma mais simplificada, pode-se dizer que o objeto ao ser deslocado da dianteira do
desejo, ele retorna, revirado, ao seu lugar de origem. Aloja-se por detrás do desejo. E é essa
propriedade de transmudação do objeto – de posse para causa – que forneceu à psicanálise
uma condição mais do que suficiente para sustentar a tese da impossibilidade de uma relação
de complementaridade entre o sujeito e o objeto, acreditando ser esta uma questão que se
coloca ao “idealismo existencial”.
∗
Encontro a convite dos alunos do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Universidade de
Brasília/DF.
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-2-
Para tratarmos da comunidade entre psicanálise e arte cênica, teremos que dispor de
alguns recursos, na verdade três artifícios conjugados em três tempos:
•
•
•
1º artifício e 1º tempo => o cenário (o mundo),
2º artifício e 2º tempo => a cena (texto, roteiro),
3º artifício e 3º tempo => a encenação (o desdobramento da trama do texto).
No 1º tempo, o cenário, pode ser comparado ao mundo pré-existente. Não o cosmos,
que implica a complementaridade entre sujeito e objeto; mas o que já está lá, articulável pela
linguagem e sem nenhum sujeito a vista, apenas suposto. Podemos chamá-lo de real (R), não
uma realidade em si, mas um fato, um dado. O que nos leva a retomar uma das primeiras
abordagens de Jacques Lacan sobre a concepção do real: “O real é o que já está lá”, na
anterioridade de qualquer “sujeito suposto”.
No 2º tempo temos a dimensão da cena, sua divisão em atos. Seu descolamento no
mundo no qual participa o espectador. É a cena sobre a qual montamos nosso mundo. Esta é
também a dimensão da História. Colocamos este mundo na cena, condicionados pelas leis da
linguagem (o que estrutura o campo do simbólico (S)) a partir das quais não poderemos mais
considerar uma homogeneidade com as leis naturais do meio ambiente.
O 3º tempo irá tratar da função da cena que é a de dar lugar para a encenação, que
Freud chamou de uma “outra cena”. Ela reproduz a cena original engendrando uma realidade
privada: a “realidade psíquica” de cada um. Essa reprodução é o que vai agitar a função do
campo do imaginário (I).
Admitindo, portanto, que o primeiro tempo seja o real (R), o mundo sem o “sujeito
suposto”; o segundo tempo o simbólico (S), nossa realidade discursiva, o texto onde já há a
aparição do sujeito e o terceiro tempo como o imaginário (I), não se trata aqui das fantasias
corriqueiras e devaneios, mas da função da imagem na construção da subjetividade humana;
será necessário, também, considerar um quarto artifício, um artifício lógico, nodular, para
“garantir” a junção articulável das três instâncias propostas: o real (R), o simbólico (S) e o
imaginário (I), o RSI lacaniano. Essas três instâncias, entre si heterogêneas, são “amarradas”
por esse quarto artifício lógico formando um “nó” (o nó borromeano), que chamaremos
fantasma ou “fantasia originária”. Este fantasma é, mais ou menos, algo semelhante a um
logotipo, uma marcação, necessária para dar as condições de ancoragem à emergência do
“sujeito suposto” no instante da aquisição da fala. Ou seja, para que o “sujeito suposto” seja
“posto” na cena. São esses, portanto, os elementos necessários para a “máquina” psíquica
começar a sua produção (a construção) da subjetividade, esse teatro humano.
A psicanálise não pode admitir um mundo cósmico aonde o sujeito venha a
complementá-lo. Ao contrário, é um “cosmos furado”, pois, como se viu, o sujeito não está aí
desde o início do aparecimento do mundo. No início, ele é apenas suposto, até mesmo
esperado... Desejado pelas leis simbólicas. Esse é o mundo que a psicanálise recorta no
interior do meio ambiente geral.
Que mundo é esse?
Nós o comparamos a um cenário no qual o sujeito pode advir entremeado nos
discursos articulados desde a anterioridade ancestral que o concerne, e em cuja encenação irá
recriar em sua singularidade, seu estilo, uma realidade íntima.
Por esta razão, a prática psicanalítica toma cada caso em sua particularidade. Pois
não é concebível uma realidade comum a todos os “sujeitos supostos” em uma análise. Daí a
clínica psicanalítica não se submeter a uma terapêutica que tende a nivelar as diversidades a
um padrão adaptável a um ideário de normalidade, determinado pelas normas sociais
vigentes. É radicalmente o contrário, a psicanálise questiona essa comodidade subjetiva que
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-3-
exige dos indivíduos amplos sacrifícios dos fins da Pulsão de Vida (Eros), que no mais das
vezes se dá pela obrigatoriedade de renúncias à fruição dos prazeres que a vida nos concede.
Esse modo coercitivo para o estabelecimento da “boa política” de bem estar no
convívio social, não se interessa nem um pouco pela vontade inerente aos indivíduos; pelo
contrário, acarretam-lhes um intenso mal-estar no que diz respeito à qualidade de vida que é,
ou pelo menos deveria ser, de interesse particular; ativando desse modo a Pulsão de Morte
(Thánatos), cujas forças agressivas vingam-se pela “tanatomania” do desejo.
Ao visar o Bem da coletividade as forças coercitivas acarretam o mal-estar
individual, impondo aos sujeitos severas condições de inadaptação ao ambiente em que vive.
Pois é extraído dele uma grande parcela de prazer dada em sacrifício para o avanço da
civilização. Contudo, pode-se perceber que o mal-estar é engendrado pela própria cultura
humana que infeliz prossegue na eterna e infindável busca da felicidade. Destino funesto que
leva o ser humano a buscar vias marginais para a vazão dos prazeres proibidos. Há infortúnios
e venturas nessas buscas, e a sublimação pode muito bem representar um bom encontro do
sujeito com a sua inexorável condição desejante.
A prática psicanalítica que opera com a noção do real (R) inefável; demonstrará que
o mundo para o falante não é outra coisa senão o que se reproduz a partir do plano das
representações simbólicas (S) que criam os seus fantasmas típicos (I). No tocante a isto, a
psicanálise considera que, entre os sujeitos mais sofisticados de uma cultura sofisticada e os
sujeitos mais primitivos de uma cultura primitiva, há algo em comum: algo que se determina
pela “lógica do fantasma”.
A esse nível, não há para a psicanálise a menor possibilidade de culturalismo, pois
ainda que haja variantes nas formas discursivas, nas formas de trocas de objetos, nas leis que
regulamentam as alianças sociais e os parentescos; há algo aí que permanece irredutível a
qualquer natureza orgânica ou comportamental. Pois o real exterior ao simbólico para entrar
na história de cada um, tem necessariamente que entrar na cena, e isto vale dizer que, ao subir
na cena, vai estar submetido às leis da linguagem. Melhor dizendo, vai submeter-se ao texto
de uma peça e ao seu roteiro. Daí em diante poderá ocorrer de tudo um pouco: poderá haver
histórias, discursos, conflitos, divergências etc. Cada vez que a cena ganha a mão, tem a
primazia. Faz com que o mundo inteiro, o cenário inteiro e a encenação se recriem sobre ela.
Segundo Descartes, “na cena do mundo o sujeito avança mascarado”, traduzindo assim a
encenação de cada um.
Somente assim posso deambular pelo cenário, entrar em cena, sair da cena e até
mesmo encenar uma ceninha. Porém o mais espinhoso de tudo isso, o ponto central de toda a
questão, é que cada vez que o sujeito avança mascarado ou não, o cenário original já vai estar
cada vez mais longe. Como apreendê-lo? Como dar conta de responder quando e como nos
inserimos nele? Como viemos parar aqui neste cenário? Para responder a estas questões, será
necessário lançar mão do nosso quarto artifício: o fantasma. Pode-se tentar compreendê-lo em
um termo francês para o qual não dispomos de um correspondente que possa melhor
significá-lo: o termo é bricolage (atamancar). Bricolage é alguma coisa que se constrói
“atamancado” com pedacinhos de quaisquer outras coisas, é algo como um sucateamento. O
bricoler reúne pedacinhos de coisas para se servir delas em momento oportuno.
A referência à bricolage é para ilustrar a construção da chamada fantasia originária
(cena originária) que se dá de forma semelhante. Freud, quando aborda a reconstrução de
cenas recalcadas (lembranças remotas de vivencias arcaicas) nos permite esta alusão ao
bricolage, assinalando que essa construção se faz com pedacinhos de fragmentos ouvidos,
vistos, entrevistos e sentidos; comparando as construções numa análise muito mais com a
atividade do arqueólogo do que com a do historiador. Isto não é por acaso, pois, em realidade,
nós, em uma análise, temos que reconstruir nossa realidade, retificar nossa subjetividade,
refazer nosso texto; não só com os nossos restos mnêmicos, mas também com os pedacinhos
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-4-
de diferentes fatos, lembranças, fragmentos de sonhos, lapsos, atos falhos que provêm de
diversos lados.
O próprio do pensamento humano, como a bricolage em seu plano prático, consiste
em elaborar conjuntos estruturados sem muita reciprocidade com outros conjuntos elaborados,
utilizando resíduos e restos de acontecimentos, como no folclore, por exemplo. Poderíamos
dizer: o “testemunho fóssil” da história de um indivíduo ou de uma sociedade. Se apreciarmos
o caráter bricolage de restos, de odds and ends, poderemos constatar que não há possibilidade
de totalização ou síntese geral do pensamento e do conhecimento humano.
Com essa reflexão, podemos chegar ao conceito de estrutura em psicanálise que
entranha a noção e o fundamento da falta, a “falta-para-ser”. O sujeito não dá conta de falar
tudo o quer dizer, sempre resta algo do seu dito: como um “sub-dito”, um não-dito. Esta é a
forma mais próxima para a compreensão de uma fenda no simbólico, e é por isto não ser
possível para o humano ter a representação da totalidade cósmica. Haverá desta maneira,
sempre um resto a ser simbolizado. É devida a esta impotência da linguagem que nós seres
humanos nos pomos numa condição de desejar.
Nós, os artistas de todos os palcos, apesar de todas as nossas inibições, sintomas e
angústias, desejamos sempre querer ser alguma coisa; representar algo para alguém e nos
afirmar cada vez mais como seres de fala, mais do que uma mera imagem incorporada,
embora necessitemos de uma imagem própria. Desta forma, não há verdadeiramente nada que
nos dê a chave universal de como podem estar construídas as cenas fundamentais ou as
fantasias que sustentam o nosso desejo. A chave a tem o sujeito da fala. E a função do analista
é a de escutar o que “passa batido” como não-dito, mas articulado no falar. E como um
bricoler, começa a trazer para cena esses odds and ends que servirão à bricolage que Freud
inventou como “Construções em Psicanálise”.
O que um artista cênico exibe (desvela) aos olhos do espectador vouyer? É bem a
relação do espetáculo com a pulsão escópica, com a demanda articulada no olhar do Outro,
que convoca algo em nós. Aqui, tanto para o analista quanto para o cênico, há alguma coisa
que ultrapassa a arte de interpretar, pois nem todas as cenas são possíveis de ser construídas
num relato, num discurso ou numa encenação. Há algo que escapa ao olhar e aos ouvidos na
captura do sujeito vouyer (o espectador). Um artista remete o espectador ao seu cenário do
qual e no qual sua história se desprende. Constrói-se, assim, uma cena sobre a cena da
realidade de cada espectador. Penso encontrar-se aqui o liame entre o espectador e o
encenador. Um encontro feliz ou infeliz entre o exibicionista e o vouyer.
Vamos, então, avançar sobre a encenação do personagem Hamlet, colocado no
cenário de nosso mundo por Shakespeare, em cuja cena vai-se revelar, de forma muito
especial, a tragédia de um desejo humano.
Vamos começar com o Hamlet capturado numa cena, que não é a sua, encenada por
um grupo de comediantes que vêm à sua corte. Hamlet é arrebatado pela encenação devido ao
modo com que se vê identificado com a representação do ator comediante. Fica siderado em
algum ponto de suma importância para ele, produzindo a angústia desencadeadora da sua
tragédia. O arrebatamento de Hamlet se dá ao ponto de levá-lo a uma crise de agitação (podese dizer uma crise maníaca), na medida em que ele próprio se aproxima do ponto central de
seu fantasma.
É a representação de um assassinato encenada no teatro que faz com que Hamlet caia
na cena pela identificação com a representação do ator (vejam bem que é uma identificação
com a representação e não com o ator). Hamlet desespera-se ao ver-se naquela encenação
tendo de realizar, ele mesmo, aquilo que acredita ser sua missão.
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-5-
Luciano, o ator, ao representar o sobrinho que deverá matar o tio que usurpa o trono
vacante do rei, seu pai, assassinado, contemporiza Hamlet com o seu desejo mais secreto
(recalcado): o de ter que vingar a morte de seu pai assassinado pelo próprio irmão e usurpador
de seu reinado. É, pois uma cena que vai espelhar para Hamlet o conflito pelo qual passava no
momento em se encontrava como espectador daquele teatro.
O personagem que vai despertar em Hamlet o seu desejo mais secreto está aí apenas
para dar corpo, para animar a vontade do Ghost: o fantasma do Pai que vem requer a vingança
pelo seu assassinato; deixando Hamlet reduzido à sua sombra (He was the mere ghost of
himself). Trata-se, pois, do desejo de saldar o que supostamente é devido ao seu pai. Portanto,
a representação desse fantasma ganha corpo no ator que é ingenuamente concebido como o
porta-voz de uma mensagem endereçada ao espectador aí interessado: no caso, Hamlet.
A representação, à qual se deve dar corpo, só pode ser abarcada por uma imagem.
Imagem que captura o sujeito no reconhecimento de si próprio visto no espelho (a cena
tomada como espelho). Isto não escapa a Shakespeare. Na cena II do ato III, ele põe na boca
de Hamlet o seguinte: “Acomoda o gesto à palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em
mira não ultrapassar a modéstia, porque o exagero é contrário aos propósitos da
representação, cuja finalidade sempre foi e continuará sendo como que apresentar o
espelho...”. No caso, trata-se de uma imagem tomada por Hamlet como própria, nem tanto na
situação em que esta se apresenta; nem tanto no modo de se realizar a vingança, mas sim,
como o modo de assumir, para si e em si mesmo, o desejo criminoso de vingança que deverá
ser praticado.
Hamlet nos apresenta um sujeito inibido, não um tímido, mas, um inibido em suas
ações. Alguém que toma para si uma missão, mas a posterga... E posterga... Sua famosa
procrastinação. É uma missão que seu fantasma lhe imprime, mas não consegue levá-la a
cabo. Por esta razão, faz-se necessário um representante que incorpore a representação da
suposta demanda de seu pai, animando, nele mesmo, o desejo que lhe é próprio: vingar seu
pai. E é aqui que podemos soldar um afortunado encontro entre a psicanálise e a arte cênica,
pois o processo analítico que só transcorre pelo agenciamento da transferência, convoca o
analista a deixar-se ocupar desse papel de representante para fazer semblant às representações
postas em causa pelo sujeito da análise.
O ponto de semelhança entre uma análise e a peça de Shakespeare é revelado através
da posição fundamental de um sujeito em relação ao seu ato, que ao longo de seu
desdobramento é sempre adiado. É um ponto de muita relevância, pois denota o lugar de
tensionamento que comparece nas queixas do sujeito em análise. E em Hamlet é exemplar.
Como espectador melancólico das ações alheias, Hamlet assiste de longe as exigências de
todos e quaisquer tipo de sacrifícios impostos à vida de todos. E ele está lá, sem fazer muitas
coisas, queixando-se: “Eu fico o tempo todo dizendo, é o que deve ser feito... Seja por
esquecimento bestial, ou mesmo escrúpulo covarde que me leva a pensar demais nas coisas –
pensamentos com um quarto de bom senso e três de covardia ignoro a causa de ficar a dizer:
devo fazê-lo, se para tal me sobram os meios, força, causa e disposição”.
Hamlet nos é apresentado desde o início da peça como “culpado de ser”. O seu
problema, o seu crime e a sua dor de existir se colocam em seus próprios termos, engajando-o
irremediavelmente no drama de ser: “To be or not to be, this is the question. O que é mais
nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fado sempre adversos, ou armar-se
contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? Morrer... dormir... mais
nada... Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos
que constituem a natural herança da carne é solução para almejar-se. Morrer... dormir...
dormir... Talvez sonhar... É aí que bate o ponto, o não sabermos que sonho poderá trazer o
sono da morte, quando ao final desenrolarmos toda a moeda mortal, nos põe suspensos...”
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-6-
O drama de Hamlet, como o de qualquer “sujeito suposto”, está aberto desde a
origem, justamente porque já lhe é dada uma significação inicial: a de que o mundo (o
cenário) já estava a sua espera para o cumprimento de uma vingança. Significação atribuída
ao desejo de seu pai que caberia a ele realizar, tomando-se ai como sendo o objeto do desejo
do pai. Isso se explica pela colocação de um “suposto saber” antecipado ao sujeito,
condicionando-o a uma vontade imperiosa que ainda não é a sua; e nem sequer se sabe se o
será um dia, mas que deverá ser assumida “voluntariamente” sob a ameaça de vir a ser
castigado com a perda do amor do pai. Uma “servidão voluntária” a ser assumida pelo
rebaixamento do sujeito à condição de objeto do desejo do Outro. É aí que está todo o engano
no qual Hamlet se deixa levar.
Enganado, crê existir um objeto exclusivo para o desejo. A significação antecipada
ao desejo constitui o Outro enquanto exigência imperiosa, dificultando ao sujeito a assunção
de seu próprio ato. Tornando-se vítima desse Outro, Hamlet fica meio que sem escolha, senão
a de cumprir a missão imposta desde o início
A grande questão existencial de Hamlet é a de reencontrar e retomar o lugar do pai.
Aquele lugar que o fantasma o fixou, aludindo-lhe onde foi surpreendido pela morte na “flor
de seu pecado”. O que se impõe, então, a Hamlet, enquanto dívida, é a de ter que vir a ocupar
o lugar usurpado do pai pelo pecado de um Outro, o pecado não pago. Aquele lugar de quem
tem o saber sobre o gozo, inclusive um saber mítico sobre o gozo do Outro.
Esta é toda a dificuldade de Hamlet revelada em sua tragédia. Quais seriam, então, as
vias abertas a Hamlet para a realização de seu ato? Quais desvios tornariam possíveis este ato
em si mesmo impossível? Hamlet até que tenta agir, pois ele não é um rebelde, ele não se
rebela contra as determinações impostas pelo Outro; ao contrário, ele é muito obediente e
amoroso, não pode deixar de cumprir as ordens. Porém, Claudius (o assassino de seu pai e
que desposou sua mãe, usurpando o direito de sucessão ao trono) só é morto depois que
Hamlet faz uma montanha de besteiras: mata o pai de sua amada, leva sua amada (Ofélia) ao
suicídio, atravessa mortalmente o corpo de seu melhor amigo, depois da morte de sua mãe e
não antes dele mesmo se ferir mortalmente.
Se efetivamente o ato se realiza, se há no extremo uma retificação do desejo que
possibilitará um ato verdadeiro, isto, no caso de Hamlet, só se dá no fim, quando a Pulsão de
Morte vem para a cena assumindo o seu papel devastador. É a realização do desejo como
impossível. A tragédia de Hamlet nos revela a tragédia de um desejo não assumido, muito
pertinente às neuroses, às depressões, à melancolia.
Tudo o que nos possa interessar no conjunto desta obra; o que nos vai ser revelado
em sua trama, é uma estrutura simbólica que responde por um efeito que recebe o nome de
Hamlet. É o que dá lugar à investigação da dramática subjetividade humana. O drama do qual
Hamlet é efeito nos permite localizar o desejo na constituição subjetiva. Alguns comentadores
desta obra, inclusive Freud, alegaram ser o desejo em Hamlet um desejo histérico, porque está
cheio de sintomas psicastênicos graves. Já Lacan, com sua “navalha de Occam”, sustentou a
tese de ser este um desejo tipicamente obsessivo. Mas, de fato, o que mais interessa nesta
investigação é pura e simplesmente o lugar deste desejo na vida do sujeito. Mesmo porque
Hamlet não é um caso clínico, não é um ser real, é apenas um drama cuja representação
aponta para o lugar onde se situa um “estilo desejante”.
O personagem Hamlet nos demonstra um típico sintoma de neurose obsessiva. Este
personagem, sob determinado foco, nos apresenta a problemática do desejo obsessivo, cuja
função central é distanciar cada vez mais o sujeito de seu ato. O que coloca Hamlet numa
relação problemática com o seu ato, o que o torna repugnante para ele é o caráter impuro
desse desejo. É pelo fato de sua ação não ser desinteressada que Hamlet não pode realizar o
seu ato. O que a peça demonstra claramente é aquilo com que Hamlet verdadeiramente se
debate: o desejo que está bem longe de ser o seu, o desejo do Outro, no qual permanece
Joselita Rodrigues Rodovalho
Novembro/1999
-7-
alienado. O desejo de Hamlet só pode ser então traduzido como “o de ser o desejo do desejo
suposto ao Outro”.
Para além de suas primeiras relações com o outro (o semelhante), porque o outro
fala, trata-se para o sujeito de encontrar nesta fala que o modela o seu feel, sua própria
vontade. Sua própria vontade é antes de tudo esta coisa toda problemática que o sujeito deseja
verdadeiramente: ser ou não ser, ter ou não ter o objeto do desejo da Mãe (o Outro
primordial): o Falo. A significação que o Falo recebe de sua representação no imaginário (I) é
a de ser o representante ou o equivalente simbólico (S) da “falta de objeto” (R), revelando
para o sujeito os enigmas do desejo da Mãe. É, pois, a significação do Falo que vai
estabelecer, na definição do complexo de Édipo, a função central do Pai relacionada com a
concepção inovadora e constrangedora do gozo feminino. É daí que todo o processo de
identificação do sujeito vai estar direta ou indiretamente ligado à função central do Pai como
fundadora da cultura humana.
O problema com o qual lidamos constantemente no tratamento psicanalítico é o
confronto, nem um pouco apaziguador, do sujeito com o desejo que é o seu; comportando
inicialmente um caráter ingênuo: ser ou não ser, ter ou não ter. Se este tratamento for
afortunado o sujeito desejará a renuncia de sua pretensão em querer fazer às vezes do Falo da
Mãe, seu primeiro Outro. Renunciar a isso é aceitar-se “um nada ser”, abrindo espaço para as
possibilidades fortuitas e sempre futuras de um “vir-a-ser”; cada vez mais inusitado e
surpreendente. Como não é possível a ninguém ter um saber sobre a morte, pois não há quem
possa falar sobre isso, esta renúncia torna-se equivalente à simbolização da morte: ter o poder
de se por em cena e sair da cena quando bem lhe prover: fazer-ser um morto quando a
circunstância assim exigir.
É por não ter podido renunciar ao seu to be or not to be que Hamlet não pôde realizar
o luto da perda de seu pai e, muito menos, simbolizar a sua morte, e até brincar com ela
despretensiosamente. Por esta razão, uma vingança de execução tão fácil só foi possível ser
realizada tragicamente no final de todos os finais.
Uma possível interpretação para a tragédia do desejo em Hamlet é a de que este não
soube tomar a devida distância do objeto do desejo da Mãe, confundindo-se com ele. Objeto
que para ele tinha, em si, a marca do ser morto. Talvez o heroísmo de Hamlet tenha sido
justamente a postergação de seu ato como forma de salvar o desejo e a si próprio. Será que
poderíamos, assim, considerá-lo um herói desafortunado? De qualquer forma, ele cumpriu sua
missão...