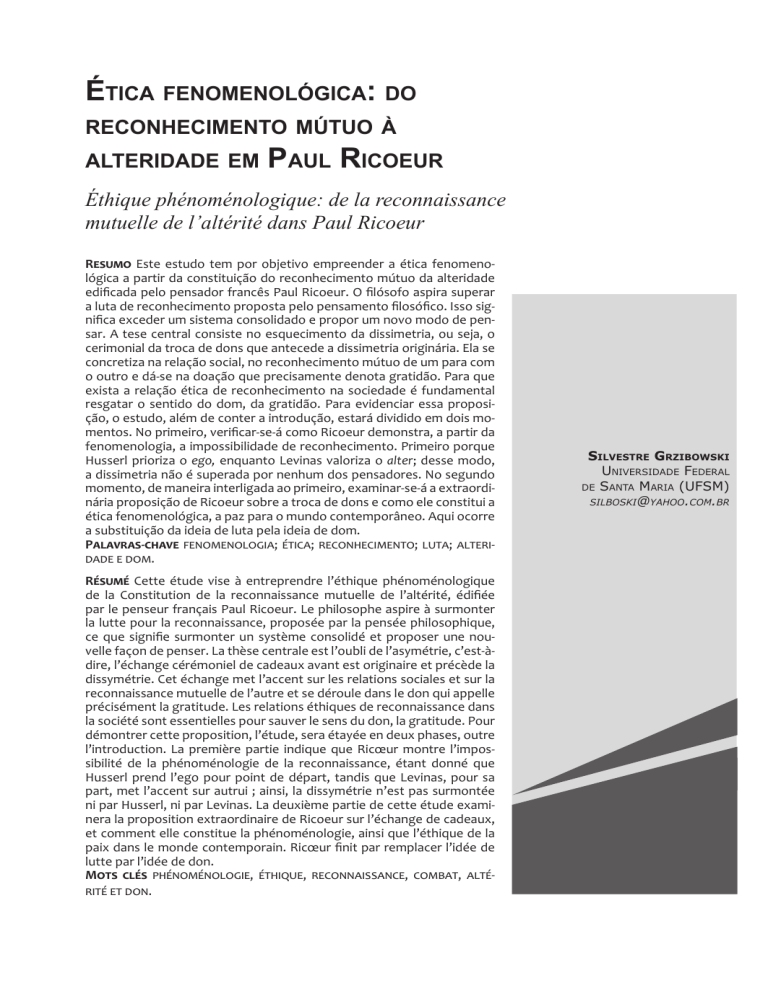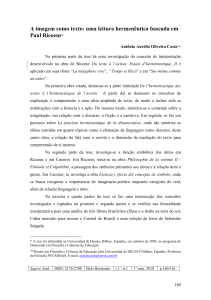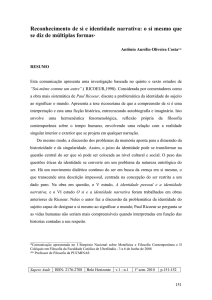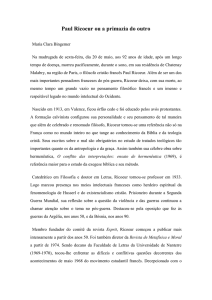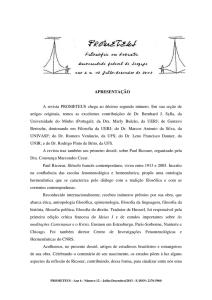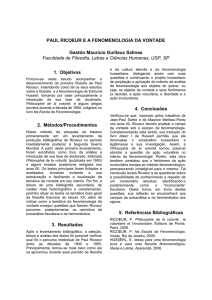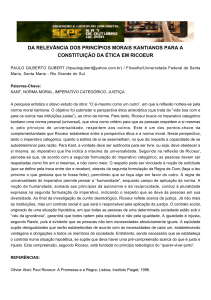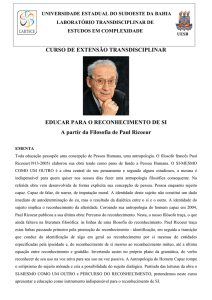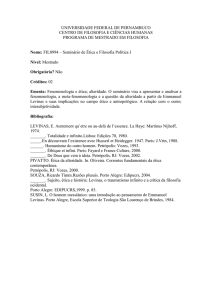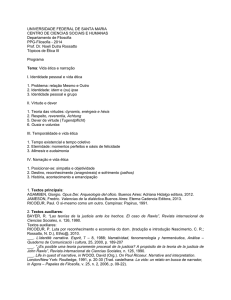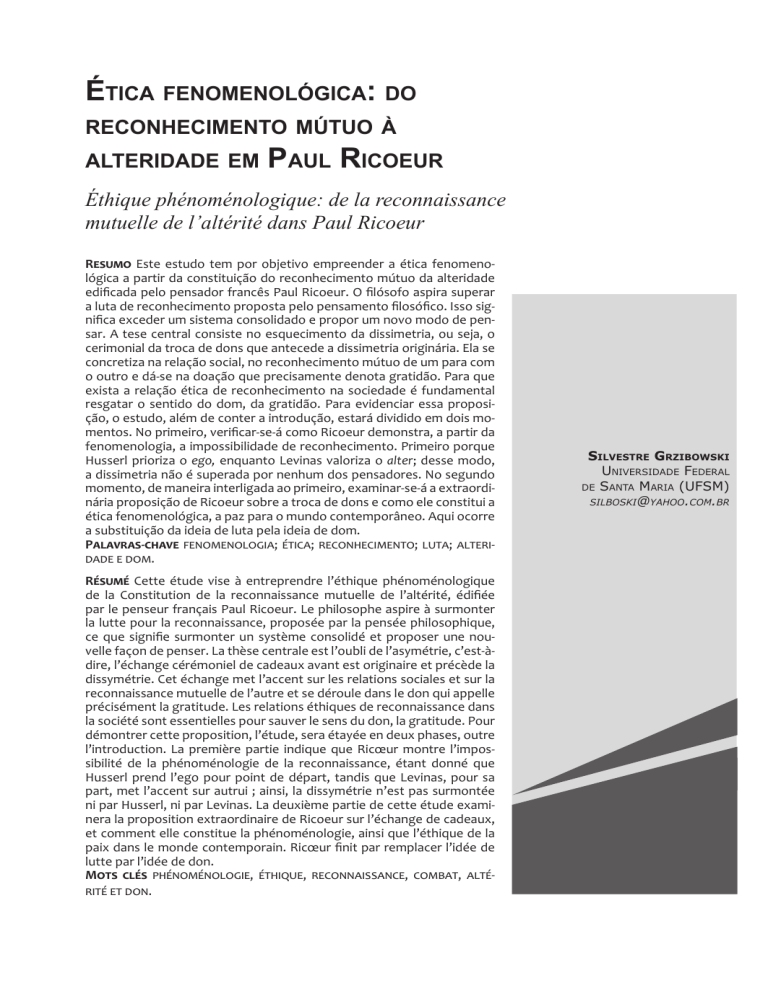
Ética fenomenológica: do
reconhecimento mútuo à
alteridade em
Paul Ricoeur
Éthique phénoménologique: de la reconnaissance
mutuelle de l’altérité dans Paul Ricoeur
Resumo Este estudo tem por objetivo empreender a ética fenomenológica a partir da constituição do reconhecimento mútuo da alteridade
edificada pelo pensador francês Paul Ricoeur. O filósofo aspira superar
a luta de reconhecimento proposta pelo pensamento filosófico. Isso significa exceder um sistema consolidado e propor um novo modo de pensar. A tese central consiste no esquecimento da dissimetria, ou seja, o
cerimonial da troca de dons que antecede a dissimetria originária. Ela se
concretiza na relação social, no reconhecimento mútuo de um para com
o outro e dá-se na doação que precisamente denota gratidão. Para que
exista a relação ética de reconhecimento na sociedade é fundamental
resgatar o sentido do dom, da gratidão. Para evidenciar essa proposição, o estudo, além de conter a introdução, estará dividido em dois momentos. No primeiro, verificar-se-á como Ricoeur demonstra, a partir da
fenomenologia, a impossibilidade de reconhecimento. Primeiro porque
Husserl prioriza o ego, enquanto Levinas valoriza o alter; desse modo,
a dissimetria não é superada por nenhum dos pensadores. No segundo
momento, de maneira interligada ao primeiro, examinar-se-á a extraordinária proposição de Ricoeur sobre a troca de dons e como ele constitui a
ética fenomenológica, a paz para o mundo contemporâneo. Aqui ocorre
a substituição da ideia de luta pela ideia de dom.
Palavras-chave fenomenologia; ética; reconhecimento; luta; alteridade e dom.
Résumé Cette étude vise à entreprendre l’éthique phénoménologique
de la Constitution de la reconnaissance mutuelle de l’altérité, édifiée
par le penseur français Paul Ricoeur. Le philosophe aspire à surmonter
la lutte pour la reconnaissance, proposée par la pensée philosophique,
ce que signifie surmonter un système consolidé et proposer une nouvelle façon de penser. La thèse centrale est l’oubli de l’asymétrie, c’est-àdire, l’échange cérémoniel de cadeaux avant est originaire et précède la
dissymétrie. Cet échange met l’accent sur les relations sociales et sur la
reconnaissance mutuelle de l’autre et se déroule dans le don qui appelle
précisément la gratitude. Les relations éthiques de reconnaissance dans
la société sont essentielles pour sauver le sens du don, la gratitude. Pour
démontrer cette proposition, l’étude, sera étayée en deux phases, outre
l’introduction. La première partie indique que Ricœur montre l’impossibilité de la phénoménologie de la reconnaissance, étant donné que
Husserl prend l’ego pour point de départ, tandis que Levinas, pour sa
part, met l’accent sur autrui ; ainsi, la dissymétrie n’est pas surmontée
ni par Husserl, ni par Levinas. La deuxième partie de cette étude examinera la proposition extraordinaire de Ricoeur sur l’échange de cadeaux,
et comment elle constitue la phénoménologie, ainsi que l’éthique de la
paix dans le monde contemporain. Ricœur finit par remplacer l’idée de
lutte par l’idée de don.
Mots clés phénoménologie, éthique, reconnaissance, combat, altérité et don.
Silvestre Grzibowski
Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM)
[email protected]
Introdução
O empreendimento de Ricoeur nas
obras o Percurso do reconhecimento (RICOEUR, 2006) e A luta por reconhecimento e
a economia do dom (RICOEUR, 2010) é trazer
para o debate a questão do reconhecimento,
buscando superar a ideia de luta e a assimetria, como entende a filosofia, e apresentar
pressupostos naturais à reciprocidade e ao reconhecimento mútuo a partir da economia do
dom. A troca de dons (presentes) consiste no
respeito mútuo de um para com o outro (RICOEUR, 2006, p. 164). Os problemas que giram em torno do reconhecimento são a luta e
a dissimetria. De acordo com sua teoria, esse é
o obstáculo a ser desbaratado. Como ele mesmo afirma, se permanecermos somente no
horizonte de luta por reconhecimento, criaremos uma demanda insaciável, porque a luta
produzirá uma sociedade marcada pela guerra, violência e conflitos sociais. Desse modo, a
infelicidade alojar-se-á na vida dos sujeitos e
a paz se distanciará. Por isso, o plano de Paul
Ricoeur é fazer um estudo sobre este tema e
apresentar novas perspectivas, que são probabilidades para a ética fenomenológica.
No entanto, é importante frisar neste
momento de nosso estudo que em nenhum
momento Ricoeur abandona a dissimetria originária, aliás, ela é fundamental para a constituição da intersubjetividade ética entre sujeitos diferentes. Essa é uma tese fundamental
defendida já em Soi-même comme un autre1
(RICOEUR, 1996) e aparece ainda, de modo
consistente, em Percurso do reconhecimento (Parcus de la reconnaissance) (RICOEUR,
2006). Sustenta ainda que o ser de si é relação. No encontro com a alteridade, o outro
provoca uma descentralização, uma saída de
si, sem a perda de si mesmo. Por isso, Ricoeur
afirma que os sujeitos trocam dons, mas não
lugares. “A admissão da dissimetria ameaçada de esquecimento vem recordar, em primeiro lugar, o caráter insubstituível de cada
um dos parceiros da troca; um não é o outro;
trocam-se dons, mas não lugares” (RICOEUR,
1
Sobre este tema, conferir o estudo de Douek Safdie
(2011, p. 42-49), sobretudo no item a “Hermenêutica
do si”.
110
2006, p. 272). Ou seja, a diferença, a dissimetria originária, não é exclusivamente mantida,
mas é essencial para a ética do respeito de um
para com o outro. Porém, esta relação torna-se comprometida quando há um privilégio do
ego ou do outro.
Na obra sobre o reconhecimento, Ricoeur faz um verdadeiro percurso2 de luta
pelo reconhecimento de si mesmo pelos outros; assim, discorre sobre diversos pensadores e filosofias e chega a Hegel. Ao pensador
de Iena concede um lugar todo especial, porque Hegel, em contraposição a Hobbes, substitui o medo da morte violenta e a luta pela
sobrevivência. No pensamento político de
Hobbes, as pessoas “unem-se” e lutam pela
autopreservação da vida, ou seja, unem-se
porque temem por sua própria sobrevivência.
Em contrapartida, para Hegel, a luta pelo reconhecimento é pelo outro para o outro, existe um reconhecimento do outro, embora para
Hegel o outro ainda seja consciência-de-si.
Hobbes caracteriza o estado de natureza a partir do medo da morte e, por isso, a
necessidade de as pessoas viverem próximas
e “unirem-se” entre si e ambicionarem o reconhecimento; assim, lutam entre si, travam
batalhas. Esse pensamento contribuiu ao debate por trazer um teor político sobre o reconhecimento (SALDANHA, 2009), por isso é
dado um destaque todo especial ao pensador
de Iena, que o introduziu na história da filosofia ocidental. “O conceito de reconhecimento
entrou na filosofia essencialmente pelo filósofo alemão Hegel, quase no início de sua obra filosófica de Iena, entre 1802 e 1806” (RICOEUR,
Percurso, porque o pensador, além de apresentar
um estudo sobre o significado, mostra onde a
palavra reconhecimento apareceu na história da
filosofia, como ele mesmo expressa no prefácio da
obra. “Conceder à série de ocorrências conhecidas
da palavra ‘reconhecimento’ a coerência de uma
polissemia regrada, digna de oferecer a réplica à do
plano lexical […], em primeiro lugar, a promoção
do reconhecimento-identificação, em segundo
lugar a transição que conduz da identificação de
algo em geral ao reconhecimento por si mesmas de
entidades especificadas pela ipseidade e, por fim, do
reconhecimento de si mesmo ao reconhecimento
mútuo, até a última equação entre reconhecimento e
gratidão” (RICOEUR, 2006, p. 10).
2
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
2010, p. 291).3 No entanto, da constatação,
Ricoeur quer mais, e pergunta-se se não teríamos de encontrar em nossa experiência
cotidiana a experiência de sermos
reconhecidos, de sermos efetivamente reconhecidos, uma mudança a que é precisamente a troca do
dom. É, então, isso uma tentativa
que desconheço o sucesso, mas da
qual estou certo que é fecunda, para
completar e, ao final, corrigir a ideia
violenta de luta pela ideia não violenta do dom (RICOEUR, 2010, p. 292).
Não há dúvida de que Ricoeur busca
contrapor a teoria de luta pela ideia de dom,
ou seja, quer mostrar outro modo de reconhecimento, ou outro modo de construir relações éticas e, consequentemente, edificar
a serenidade. Desse modo, ele acalora o debate sobre a luta de reconhecimento e deseja
incansavelmente contrapor-se a essa teoria,
substituindo-a pelo reconhecimento mútuo
a partir das formas não violentas, não conflituosas, pois, segundo ele, o conflito foi a
Não apresentarei aqui um estudo pormenorizado
da obra de Paul Ricoeur sobre o reconhecimento
porque não é meu objetivo e porque já existem
outros estudos sobre este aspecto. Entre outros
cito: CORÁ, Elsio José; NASCIMENTO, Claudio
Reicher do. Reconhecimento em Paul Ricoeur: da
identificação ao reconhecimento mútuo. Revista de
Ciências Humanas, Florianópolis, n. 2, v, 45, p. 407423, 2011. Como de Jean Greisch “Les combats pour
la, reconnaissance ne sont jamais gagnés d´avance,
mais ils nous entraînent sur des champs de bataille
toujours nouveaux. Malgré La fascination que Ricoeur
éprouve face aux grands textes de la Realphilosophie,
qui on le mérite d´inscrire définitivement le théme de
la reconnaissance au creux de la philosophie politque,
Il marque as réserve face à la conception hégélienne
de l´Esprit, qui fait que la manière dont l´Esprit se
trouve dans son autre reste fondamentalement
une relation de soi à soi-même” (GREISCH, 2006,
p. 164). “No Hegel de Iena, o reconhecimento
surge com as relações de direito. O direito é
reconhecimento recíproco. A relação com Hobbes
é aqui muito complicada: Hegel vê a determinação
do direito em Hobbes como proveniente de fora do
indivíduo […]. É em uma filosofia do mesmo que o
reconhecimento surge. Trata-se, para Hegel, observa
Taminiaux, de seguir no próprio conteúdo um
movimento de encaminhamento rumo ao direito do
reconhecimento” (RICOEUR, 2006, p. 196).
3
herança hegeliana. “É por esta razão que reabro a questão do dom em um momento que
se pode dizer inesperado de minha análise, e
estou consciente do hiato que crio em meu
próprio discurso ao passar da ideia de luta à
ideia de dom” (RICOEUR, 2010, p. 297).
A pretensão de suplantar a ideia de luta
pela ideia de dom consistirá, em nosso modo
de ver, em extrapolar especialmente a dissimetria e luta para propor uma relação pautada no
reconhecimento mútuo com respeito à alteridade. Segundo Ricoeur, essa relação antecede
a proposição da fenomenologia, que reduz ou
subordina o outro ao ego e/ou ego ao outro.
O ponto fundamental, para Ricoeur, é que ele
não aceita como ponto de partida a assimetria
nas relações interpessoais e sociais e, consequentemente, a posição conflituosa no reconhecimento do outro (ROSSATTO, 2006, p.
164). O filósofo buscará edificar o pensamento sobre o reconhecimento de um para com
o outro, que não esteja centrado nem no ego
nem no outro, mas na simultaneidade entre
ambos, sobretudo na troca de dons na qual os
indivíduos respeitem-se e reconheçam-se uns
aos outros. Conforme indiquei, a dificuldade é
encontrada na “fenomenologia, ao derivar a
reciprocidade da dissimetria presumidamente originária da relação do eu com outrem”
(ROSSATO, 2006, p. 168). Ela persiste tanto
na fenomenologia da percepção apresentada por Husserl como na de Levinas, que teve
como seu ponto de partida o outro, ou o totalmente outro, presente em carne e osso (rosto) diante do sujeito responsável e não tematizado (representado). Qual é, precisamente,
a dificuldade encontrada na fenomenologia,
e como buscar uma solução para o reconhecimento mútuo e o respeito à alteridade?
A discussão sobre o fenômeno, exatamente sobre o outro, e toda a inesgotável discussão, é arriscada e complicada. No entanto,
Ricoeur atreve-se a fazer um giro paradoxal
e proporciona uma leitura formidável sobre
o tema. Isso não exclui a complexidade e a
dificuldade encontrada por ele e pelos leitores. Isso prova que o pensador francês, além
de ser um grande filósofo, era também um
exímio comentador, pois elevava temas bem
específicos, às vezes desprezados, e trazia-os
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
111
para o debate acadêmico. Um desses tópicos
era a questão da alteridade e toda a contenda sobre a constituição do outro; além disso,
dava um valor especial aos pensadores que
problematizavam essa temática porque a
questão do outro foi praticamente ignorada
na história da filosofia ocidental e, por conseguinte, poucos pensadores ousaram debater
o tema abertamente. Como dar vez ao outro
enquanto outro e à manifestação da alteridade absoluta? Assim se justifica a escolha de
dois grandes pensadores, Husserl e Levinas,
porque foram dois grandes fenomenólogos
que discutiram corajosamente a questão do
outro na filosofia.
Husserl e a questão da dissimetria
Husserl apresenta fenomenologicamente a questão do outro, do estranho, para o
pensamento filosófico, especificamente na
Quinta meditação cartesiana”4 (HUSSERL,
2004). Como Paul Ricoeur afirma, a questão
do outro é a pedra de toque da fenomenologia transcendental (2009, p. 215). O grande
problema é que os críticos de Husserl5 perceberam que o outro e toda a sua existência passam a existir a partir da animação intencional
do eu. Portanto, a existência do outro não passa de uma constituição transcendental do ego.
Paul Ricoeur reconhece as tentativas de
trazer para o debate filosófico a questão do
outro, precisamente a husserliana, pois ela foi
a mais audaciosa, primeiro, porque parte do
ego e, posteriormente, a constituição da comunidade do ego a partir da constituição do
alter ego.6 Assim, a filosofia tem a passagem
obrigatória pelo ego.7 Ou seja, Husserl reconhece a existência do outro, mas a grande
Logicamente, este é apenas um dos temas dentre
outros existentes.
5
São muitos. Cito apenas alguns, como Ricoeur,
Emmanuel Levinas, Michel Henry, Maurice MerleauPonty, Edith Stein.
6
Todos os vocábulos grifados servem para destacar
a derivação e assim são encontrados nas obras de
Husserl e dos outros fenomenólogos citados.
7
“A fenomenologia assume, desde o ponto de partida,
todas as dificuldades de uma egologia, para a qual só
eu sou eu” (RICOEUR, 2009, p. 187; grifo do autor).
4
112
questão é que ele nasce na própria consciência ou segundo ego, se é que podemos chamar
assim, pois, para Husserl, o outro não está aí,
sem mais dado propriamente ele
mesmo, senão que está constituído
como alter ego; onde o ego aludido
como parte por esta expressão (alter ego) sou eu mesmo no meu próprio. O outro remete, por seu mesmo, e, não é propriamente reflexo;
é um análogo de mim mesmo. (HUSSERL, 2004, p. 154. Grifos do autor).
Nota-se a dificuldade que Husserl teve
para sair da egologia, porém isso não exclui
as tentativas e possibilidades realizadas. Ricoeur, ao fazer uma exegese das tratativas
dos escritos husserlianos, averigua a constituição da alteridade em Husserl e destaca
como ele a funda. Veja:
A alteridade de outrem, como toda
outra alteridade, se constitui em
(in) mim e a partir (aus) de mim;
mas é precisamente como o outro que o estranho é constituído
como ego para si mesmo, isto é,
como um sujeito de experiência a
mesmo título que eu, sujeito capaz
de perceber a mim mesmo como
pertencendo ao mundo de sua experiência. (RICOEUR, 2006, p. 169.
Grifos do autor).
O outro não passa a ter sua própria existência e, se a tem, ele é constituído em mim e
a partir de mim, portanto passa a existir a partir da minha própria constituição. O outro é
outro ego, e não outro como alteridade. Para
existir, o outro depende totalmente do ego, o
outro como análogo.
O grande problema encontrado por Ricoeur, Michel Henry e Levinas é que Husserl
tornou essa missão difícil ao levar a redução
do ego ao ponto da esfera do próprio.8 Conferir presença ao outro significa “transgredir a
minha esfera própria de existência, para fazer
8
“Se lo propio es en verdad lo propio de mí, del ego,
sólo la naturaleza del ego puede decir y definir lo que
le es propio. Lo propio en calidad de lo propio del
ego” (HENRY, 2009, p. 188).
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
surgir, nos limites do meu vivido, um acréscimo de presença, incompatível com a inclusão
de todo o sentido em meu vivido” (RICOEUR,
2009, p. 311). Por isso, Husserl, ao explorar a
tese sobre o outro, e na tentativa de defender
a alteridade mantém até o final a preocupação “descritiva de respeitar a alteridade do
outro e a preocupação dogmática de fundar
o outro na esfera primordial de pertença encontram o seu ponto de equilíbrio na ideia de
uma apreensão analogizante do outro. (2009,
p. 311). Permanece a questão em relação ao
outro, porque o outro, além de ser outro, é
semelhante. Husserl desenvolve esta teoria
por meio do conceito de equiparação, ou emparelhamento (Paarung); assim, demonstra
que a esfera do próprio efetua a apresentação de tudo que é “presentificado” pelo outro por meio de seu corpo; isso é um indicativo de que suas vivências pertencem-lhe e não
se confundem com as vivências do ego.
Essa mesma carne minha oferece-se ao análogo primeiro de uma
carne outra, cuja experiência imediata, intuitiva, permanecerá para
mim para sempre inacessível; desse
ponto de vista, ela é a verdade insuperável da dissimetria originária
no plano perceptivo e intuitivo. (RICOEUR, 2006, p. 169).
O que importa para Ricoeur é que esta
apreensão analogizante faz sentido por transposição pré-intelectual, que faz da relação do
eu com o estranho uma relação puramente
de profusão. E desta nasce um triplo reforço: o primeiro seria de “aparentamento”
(Paarung)9 de dois, pares; o segundo, na concordância de ideias, gestos, expressões, e,
9
“Com efeito, não há sentido radical senão uma
única realidade primordial, eu, que, no entanto, se
transgride a si mesma em um outro, mediante uma
espécie de multiplicação por similitude que Husserl
denomina ‘emparelhamento’ (Paarung). O corpo do
outro está ali, ele mesmo, ‘presentificado’ o vivido
do outro que não está lá, ele mesmo, sob pena de
se confundir com o meu. Assim, o outro não é um
momento de minha vida, embora o desenrolar de sua
vida seja indicado por seu corpo cuja ‘apresentação’
se produz em minha esfera própria de pertença”
(RICOEUR, 2009, p. 312).
por último, o que Paul Ricoeur chama de imaginação: o outro está ali no local onde eu poderia estar se eu me deslocasse (2006, p. 169).
Conclui que ela possui o mérito de preservar
o enigma da alteridade, porém o outrem não
permanece como desconhecido porque, se
fosse assim, eu nem poderia falar sobre ele.
O outro é totalmente conhecido e compreendido. Sendo assim, o outro não é alteridade
porque não conserva o traço de ser um outro,
diferente de mim, mas um alter ego, que pode
ser compreendido e descrito por mim. Diante
disso, o outro não passa de uma extensão do
próprio ego. Brilhantemente, sobre a aparição
do outro e a relação do eu com o outro, Ricoeur diz: “apenas eu apareço, sou “apresentado”; o outro, presumido, análogo, permanece ‘apercebido’ (2006, p. 170)”. Outrem é o
resultado de uma reflexão do ego, assim, Husserl não supera a dissimetria, e a relação de
um para com outrem permanece irresolúvel.
A grande questão levantada por Ricoeur,
porém, torna-se mais alarmante, sobretudo
porque ele aborda a teoria do reconhecimento. O reconhecimento, tal como foi proposto,
torna-se evidentemente comprometido, porque, segundo o autor, trata-se, na verdade, de
uma constituição de segundo grau:
é preciso que outro seja meu análogo para que a experiência do eu
entre em composição com a experiência de outrem com base na
reciprocidade, embora essas constituições em cadeia extraiam seus
sentidos da experiência originária
de eu mesmo como ego. (RICOEUR,
2006, p. 170).
A experiência com outrem não passará
de um idealismo puro, afinal, o outro não terá
liberdade suficiente para ser aquilo que ele realmente é; será apenas uma parificação. O eu
tem certa liberdade para determinar sua vida
presente e futura, mas esta liberdade erige-se
sobre um fundamento da não liberdade. “Se
encontra em si mesmo ‘posto na existência’,
e se encontra atado na sua atividade de duas
maneiras: pelo que está dado de antemão e
pelas leis que regulam sua própria atividade”
(STEIN, 2005, p. 36). É que na fenomenologia,
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
113
especificamente na fenomenologia husserliana, “há apenas um ego, multiplicado associativamente” (RICOEUR, 2006, p. 170), transformando-se em múltiplos egos.
que nada irredutível limitaria já ao
pensamento e onde, portanto, ao
não estar limitado, o pensamento
seria livre. A filosofia equivaleria assim a conquista do ser pelo homem,
através da história (LEVINAS, 1994a
p. 164. Tradução nossa).10
Levinas e a alteridade
Se, por um lado, Husserl elevou o ego e
o próprio em suas descrições, Levinas radicalizou a alteridade, privilegiando o outro nas
relações. No entanto, ao propor seu projeto
filosófico, dirigiu críticas duríssimas à tradição
ocidental; em primeiro lugar, por ter reduzido
o outro ao mesmo; a identidade do mesmo
está vinculada a uma ontologia da totalidade.
“A filosofia ocidental tem sido demasiada uma
ontologia: uma redução do outro ao mesmo”
(LEVINAS, 2006, p. 67. Tradução nossa). E ainda, um segundo aspecto, segundo Ricoeur,
destaca que Levinas, apesar de ser um fenomenólogo, observa que na fenomenologia,
especificamente no tema da representação,
há um idealismo que reduz a relação do outro
na consciência, na representação. “Representar-se em alguma coisa é assimilá-la a si, incluí-la em si, portanto, negar sua alteridade. A
transferência, que é a contribuição essencial
da Quinta Meditação Cartesiana, não escapa
a esse reino da representação” (RICOEUR,
1996, p. 373. Tradução nossa).
Sobre o primeiro aspecto, para Levinas,
o discurso filosófico do Ocidente reivindica a
amplitude de uma perspectiva global, ou seja,
seu discurso quer abarcar todas as ciências,
inclusive a teologia, que aceita a vassalagem
(1995, p. 94. Tradução nossa). Ele constata
que, na história da filosofia ocidental, o esquema preferido da relação metafísica tem
sido a teoria.
Levinas insiste demasiadamente em
seus escritos que esta filosofia, como ontologia fundamental, tem mantido a característica
essencial à teoria e não tem respeitado a alteridade, o outro, a subjetividade; ao contrário,
tem anulado, aniquilado e, consequentemente, reduzido o outro ao mesmo.
Deste modo, a filosofia ocidental privilegia o conhecimento inteligível. O conhecimento seria um momento de liberdade, um domínio
sobre o conhecido, e assim, consequentemente, a relativização da alteridade deste. A teoria
significa também inteligência – logos do ser –,
ou seja, um modo tal de abordar o
ser conhecido que na sua alteridade
com respeito ao ser cognoscente se
desvanece. O processo do conhecimento se confunde nesta etapa
com a liberdade do ser cognoscente, não encontrando nada que, outro que não ele, possa limitá-lo. (LEVINAS, 2006, p. 12. Tradução nossa).
Pois a teoria, ou segundo esta orientação teórica, “como logos do ser que ao
compreender o ser o engloba no mesmo, é
ontologia” (PEÑALVER, 2001 p. 62. Tradução nossa). Exatamente por este motivo, a
ontologia coloca em questão o primado do
ser, que a lógica da filosofia ocidental abarca
como uma espécie de evidência, que fora dela
não existe outra coisa; tudo está submetido a
esta lógica, a lógica do ser, o que Levinas chamará de império (a ditadura) do ser. Para finalizar, a filosofia como ontologia é a filosofia do
mesmo, da mesmice.
Sobre o segundo aspecto – os estudos
de Levinas sobre Husserl –, deve-se caracterizar o pensamento e o método que nos conduzem ou nos levam com maior precisão ao
objetivo. Por isso, a fenomenologia husserliana, na especulação de nosso autor, revelou o
posto fundamental que a consciência assume
na filosofia moderna. Neste sentido, a afirma A tese de Levinas defende que, entre a autonomia
e a heteronomia, a filosofia ocidental preferiu
escolher a autonomia, que é a redução do outro ao
mesmo. No entanto, sua proposta será a de defender
a heteronomia que, segundo ele, se ocuparia do
absolutamente outro, da transcendência.
10
A filosofia dedicar-se-ia a reduzir ao
Mesmo tudo o que se opõe a ela
como outro. Encaminhar-se-ia até
uma auto-nomia, até uma etapa em
114
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
ção de intencionalidade como dinamismo do
próprio ser espiritual almejaria a afirmação
do movimento intencional propriamente não
teórico enquanto concernente à atividade psíquica em sua globalidade, portanto, bastaria
sublinhar a intencionalidade como atividade
não inscrita, mas apenas intelectiva. No pensamento de Husserl, ao contrário, a representação11 do objeto ocupa um posto primário.
Deste modo, a representação assume um
posto primário na fenomenologia de Husserl;
agora nos ocuparemos dela para descrevê-la
a partir de Levinas.
A fenomenologia parte da tentativa de
superar o naturalismo do século XIX, para
concentrar-se sobre o vivido. Deste modo,
vem caracterizada por Husserl como um ato
de colocar ou possuir o objeto por meio da
atividade constitutiva da consciência. Deste
ponto de vista, escreve Levinas:
Voltamos a encontrar aqui a primeira inspiração da fenomenologia
que consiste em liberar a noção de
existência da estreiteza do objeto
natural, em remitir esta noção ao
sentido do pensamento que pensa
o objeto na evidência. (1994b. p. 36.
Tradução nossa).
E ainda segue dizendo que o pensamento transformou-se em técnica, por isso exerço
meu pensamento sobre certos objetos no lugar de ter toda a claridade necessária em minha vida espiritual, neste sentido, me encontro como um ser entre outros seres.
Desta forma, Levinas dirá que a redução
fenomenológica é uma violência contra o ser
humano. Aliás, esta é uma das características
evidentes em seu pensamento: acusar abruptamente a filosofia ocidental de praticar a violência contra o outro extinguindo a alteridade. E esta redução faz isso:
Sigo a tese de Francisco Herrero Hernandez de que
a representação é um dos temas mais importantes
tratados por Husserl. “Puedo anticipar que la
conclusión a la que Levinas llega en su estudio es que la
representación ha sido considerada permanentemente
por Husserl, de una o de otra forma, como fundamento
de todos los actos” (HERRERO HERNANDEZ, 2005, p.
224. Tradução nossa).
11
A redução fenomenológica é uma
violência que faz o homem –ser
entre outros seres – para voltar a
encontrar-se no pensamento puro.
Para voltar a encontrar-se nesta pureza não lhe bastará refletir sobre
si mesmo, pois a reflexão como tal
não suspende seu compromisso
com o mundo, não restabelece o
mundo em seu papel do ponto de
identificação de uma multiplicidade
de intenções. […] A redução fenomenológica, é, pois, uma operação
mediante a qual o espírito suspende a validade da tese natural da
existência para estudar seu sentido
no pensamento que a constituiu e
que, ele mesmo, já não é uma parte do mundo, mas, sim, prévio ao
mundo. Ao voltar assim sobre as
evidências, reencontro tanto a origem e o alcance de todo meu saber
como o verdadeiro sentido da minha presença no mundo. (2004, p.
36-37. Tradução nossa).
Sem dúvida nenhuma, esta é uma das
grandes críticas que nosso autor fará à filosofia ocidental, pois ele a chama de filosofia
da violência. E não é por menos que dedica
um estudo brilhante sobre “La ruine de la
represéntation” (1994b, p. 125-135). Isso porque, na representação, o representado é
reduzido ao sentido, os entes a noemas, ou
seja, os diferentes são reduzidos, igualados,
ou acumulados. Na representação, os seres
são sustentados como substâncias sem a
necessidade de considerar as condições dos
seres em si mesmos, em sua originalidade e
unicidade. As condições são-lhes dadas pelo
sentido, como se na presença e na presença
do sentido eles começassem. Enfim, “estar
presente na forma de representação é estar
presente como posse, como um domesticado e à disposição, condensado e atrelado
nos mecanismos do conhecimento” (SUSIN,
1984,p. 84). Portanto, quando este mundo é
constituído pelo pensamento, pela razão, as
intenções husserlianas teriam que mostrar-se mediante um “colocado entre parênteses”, procedimento provisório que posteriormente permitiria reunir com certeza a
realidade, uma atitude definitiva. “A redução
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
115
aqui é uma revolução interior, antes de uma
busca de certezas, uma maneira para o espírito de existir conforme sua vocação e, em
suma, de ser livre a respeito do mundo” (SUSIN, 1984, p. 39). Isso nos dá a entender que
a contemplação teórica é uma afirmação de
consciência absolutamente livre. Em outras
palavras, a consciência não é relativa a nada.
Neste caso, o projeto levinasiano é ir além
do primado da representação, porque o outro
não pode ser representado, não conhecido.
o Outro é um rosto. E Ricoeur confirma esta
tese, quando diz que no aparecer do rosto do
outro, que, a cada vez, pela primeira vez interdita o mal que o eu poderia lhe infligir, afirma:
É, pois, sob o regime de pensamento não gnosiológico que o outro se
confirma. Esse regime é fundamentalmente o da ética. Quando o rosto
do outro se ergue diante de mim,
acima de mim, não é um aparecer
que eu possa incluir no recinto de
minhas representações […]; certamente, o outro aparece, seu rosto o
faz aparecer, mas o rosto não é um
espetáculo, é uma voz. Esta voz me
diz; ‘tu não matarás’. Cada rosto é
um Sinai que proíbe o assassinato.
(RICOEUR, 1996, p. 373-374. Grifos
do autor. Tradução nossa).
Portanto, Levinas criticará a ontologia
pela redução do outro ao mesmo, e a fenomenologia pela representação, que propõe o
outro como representação. Levinas afirmará
sua tese do primado do outro sobre o mesmo,
a responsabilidade não decidida nem assumida pelo sujeito ético para com o outro, que
obedece ao comando do outro. Sou simplesmente me voici, eis-me aqui, pronto e sempre
disponível para responsabilizar-me pelo outro
que me acusa e de quem sou refém.
É importante apresentarmos uma pequena conclusão sobre a dissimetria compreendida por Paul Ricoeur para assim dar prosseguimento à segunda parte. “A minha tese
aqui, é a descoberta deste esquecimento da
dissimetria originária que é benéfica para o
reconhecimento mútuo sob o aspecto mutual” (RICOEUR, 2006, p. 272). Nosso autor não
está preocupado em defender o sujeito ético
116
e sua ação para com o outro, mas deve ser
compreendido a partir da preposição “entre”,
especificamente entre ambos. As relações éticas antecedem a dissimetria e dão-se entre
sujeitos que não refletem suas condições e
seus atos, apenas trocam os dons em um gesto de pura gratidão.
Economia do dom – gratidão
Chama atenção a descrição realizada
por Ricoeur sobre a economia do dom. Existe uma clara intenção de evidenciar a relação
ética “entre” sujeitos.12 Ele coloca a questão
da alteridade13 no mesmo patamar da identidade, ou seja, paralelamente “a esse percurso
da identidade ocorre o da alteridade […]. A
alteridade encontra seu ápice na mutualidade” (RICOEUR, 2006, p. 262). Em meu modo
de ver, é aqui que Ricoeur consolida a ética
fenomenológica quando descreve sobre a
economia do dom – mutualidade e reconhecimento mútuo à alteridade. Esta perpassa
por uma reciprocidade/mutualidade não mercantil pontuada pelo “sem-preço” e, assim
sendo, afirma como deve ser a sociedade,
marcada a partir do respeito mútuo. Por isso,
propõe uma sociedade alternativa ao invés de
uma sociedade mercantil e, nas entrelinhas
de seus textos, minuciosamente aponta para
a impossibilidade de superar o conflito em
uma coletividade que exacerba o capital, o
lucro, a exploração, seja ela qual for.14 Enfatiza ainda que o reconhecimento ultrapassa as
Essa preposição marca a relação entre dois sujeitos.
Embora Ricoeur já mencionasse a importância
da alteridade para seu pensamento em outras
oportunidades, destaco aqui o perdão como
reconhecimento de si e da alteridade. “Eu te
peço perdão. – Eu te perdoo. Esses dois atos de
discurso fazem o que dizem: o dano é efetivamente
confessado, ele é efetivamente perdoado” (RICOEUR,
2007, p. 484).
14
“É justamente sob esse ponto que Ricoeur vai expor
uma das questões mais pertinentes do debate
contemporâneo no âmbito sociopolítico que é o
vínculo ‘estranho’ entre produção de riqueza e a
produção de desigualdades” (CORÁ; NASCIMENTO,
2011, p. 419). Os autores discutem de uma forma
exuberante nestas páginas a disparidade entre a
produção de riquezas e a promoção de desigualdades,
parece que a lógica de produzir mais não gera mais
igualdade, ao contrário, mais pobreza e menos
reconhecimento.
12
13
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
questões pessoais e de consciência individual.
Em uma coletividade não mercantil, a economia da desigualdade não será mais a protagonista da história, mas terá como ator principal
a troca cerimonial de dons. “A luta pelo reconhecimento, que precede em meu texto o
reconhecimento em ação na troca cerimonial
dos dons, coloca no centro do quadro a alteridade-confrontação” (RICOEUR, 2006, p. 263).
A princípio, o leitor poderá ajuizar que
está sendo forçado a pensar que o ato do cerimonial de dons é demasiadamente utópico.15 É
utópico, sim, no entanto, o que Ricoeur deseja
é repensar nosso pensar/agir ético, especialmente quando cita Hénaff: “Trata-se de pensar uma relação de troca que não é de modo
algum de tipo mercantil” (HÉNAFF, 2002 p. 134.
Tradução nossa). Assim, Ricoeur afirma em sua
teoria o que vínhamos descrevendo, ou seja, a
troca de dons supera uma sociedade que valoriza o lucro. Mas não é só isso; enfaticamente,
ele aponta para a possibilidade de uma nova
ética, porque indiretamente articula que a ética tradicional padece, pois não consegue superar mais nem os conflitos nem a luta.
É neste ponto que a questão do
sem-preço se cruza com a do dom,
vinda de um horizonte totalmente
diferente, ou de uma etnologia das
sociedades arcaicas. É no tema do
reconhecimento simbólico que as
duas problemáticas se juntam. (RICOEUR, 2006, p. 248).
O que é o reconhecimento simbólico?
Para avançarmos sobre este tema, perguntamo-nos juntamente com o pensador: Ainda
existem bens não mercantis? E constatamos,
espantosamente, que é o espírito do dom
que suscita uma ruptura no interior da categoria dos bens, como um vasto sistema de
distribuição, como a segurança, funções de
autoridade, cargos e honras, com o “sem-preço” tornando-se o sinal de reconhecimento dos bens não mercantis (RICOEUR,
2006, p. 250). Percebe-se que o dom provoca
um pensar e um agir ético distinto, que rompe com as categorias econômicas estabelecidas. O dom quebra as estruturas que gover Sobre esse tema veja o estudo de Marcelo (2011).
15
nam o mundo. A ética não está mais pautada
na luta, mas na troca espontânea dos dons.
Posteriormente, devemos fazer uma análise
que privilegie, em sua dimensão conceitual,
ou nas intenções que persistem, entre troca
de dons e troca mercantil (RICOEUR, 2006,
p. 250-251). No entanto, em meu modo de
ver, a seguinte pergunta foi crucial e provocou um novo modo de pensar e agir na ética
fenomenológica: Por que dar algo, alguma
coisa ao outro espontaneamente sem esperar nada em troca?
Primeiro, porque o dom não exige, por
assim dizer, uma restituição; isso anularia
sua característica essencial. E, para fundamentar esta teoria, Ricoeur recorre à ágape
bíblica para enfatizar o dom sem expectativa
de retorno, ou seja, a essência fundamental
da ágape é o desinteresse total. Por isso, ele
coloca a gratidão no centro do esquema dar-receber-retribuir. “A gratidão alivia o peso
da obrigação de retribuir e a orienta rumo a
uma generosidade igual à que suscitou o dom
inicial” (2006, p. 255). Segundo, a gratidão é
um ato impensado, espontâneo, natural e totalmente desinteressado, e jamais coloca o
sujeito em um estado de obrigação, de dever.
Ao contrário, o dever quebra a prática espontânea de dar-receber-retribuir.
De um lado, esta teoria evidencia a superação da moral kantiana, a moral do dever
pelo dever. Por outro lado, existe uma semelhança muito grande com o pensamento de
Emmanuel Levinas, que também propõe uma
filosofia ética da responsabilidade a partir do
desinteresse total. A relação na qual Levinas
crê e que arquiteta deve partir do desinteresse “désintéressement”. Esta seria a primeira
condição vital para entrar em uma relação ética da responsabilidade, pois o ser imperou na
filosofia ocidental. Por conseguinte, o “désintéressement” que substitui “l’intéressement”.
O ser, o esse (essência) é interesse (LEVINAS,
2006 p. 45.). Levinas inverte radicalmente o
eu da ação. Faz uma passagem do eu, “égo-logie”, ao outro, “alter-logie”. A isso chama
de “despossuir”, deposição ou destituição do
eu egoísta. Tenta sair do eu dominador, do eu
quero, posso, do eu violento, para a inversão
ou a alternativa determinada pelo mandato
do outro (GRZIBOWSKI, 2012, p.109).
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
117
A gratidão que propõe Ricoeur tem,
como marca fundamental, o desinteresse que
é igual à gratificação do dom de um para com
o outro. O reconhecimento mútuo passa pela
ágape, gratidão e desinteresse, ou vice-versa.
Prova disso é que, sob o ato irrefletido da gratidão, os valores dos presentes são incomensuráveis em termos de custos mercantis. Para
Ricoeur, a gratidão é a marca do sem-preço
sobre a troca de dons, o que caracteriza a troca de dons de dar sem intenção, e o retribuir
sem compromisso, ou o dever de restituir é
a gratidão. Pura espontaneidade. O tempo
segue também o sinal da ágape, ou seja, não
existe tempo estipulado para o retorno, é indiferente. Arriscaria dizer que é um tempo escatológico, embora Ricoeur não faça nenhuma referência a isso, mas, a meu ver, sugere.
Além disso, a troca de dons tem algumas características essenciais e foge dos
padrões convencionais e mercantis da sociedade. Ricoeur privilegia excepcionalmente a
troca que chamará cerimonial do dom; isto
evidencia que a troca de dons tem toda uma
simbologia e é exatamente isso que valoriza.
A linguagem simbólica distingue-se da linguagem cotidiana, da convencional. “A cerimônia
da troca não é feita na cotidianidade ordinária das trocas comerciais, bem conhecidas
dessas populações, sob a forma da troca ou
mesmo de compra e venda, tomando alguma
coisa como moeda” (RICOEUR, 2010, p. 297).
Sublinhamos outro detalhe importante
que nosso autor destaca de uma forma ex-
traordinária: “o funcionamento do dom em
realidade não está na coisa dada, mas na relação doador-recebedor, a saber, há um reconhecimento tácito simbolicamente figurado pelo dom” (RICOEUR, 2010, p. 298). Essa
ideia contrapõe-se à sociedade mercantil,
que valoriza demasiadamente o produto, o
objeto, a coisa dada, e seu valor está mensurado pelo agente racional que calcula e
estipula um preço e é comercializado. Ignora
todo o cálculo, apresenta-se pura e absolutamente generosa (SALDANHA, 2009). Nosso
autor valoriza o gesto; o ato de dar e o dado
são incomensuráveis neste aceno em que se
dá o reconhecimento mútuo e o respeito à
alteridade. E essa ideia de reconhecimento
proposta, a meu ver, contrapõe-se ao pensamento filosófico ocidental; além disso, declara que a ideia de reconhecimento tem novas
possibilidades de ser vista e vivenciada.
Para finalizar, o projeto filosófico do
cerimonial da troca de dons é uma grande
novidade para a filosofia, sobretudo para a
ética fenomenológica, que exige um novo
modo de pensar e de fazer filosofia no
mundo contemporâneo. O pensamento de
Ricoeur contribui de modo extraordinário
para a edificação dos estados de paz. Assim,
deixemo-lo falar: “A minha sugestão é que,
nos modos contemporâneos e quotidianos
da troca cerimonial de presentes, tenhamos
um modelo de uma prática de reconhecimento, de reconhecimento não violento”
(RICOEUR, 2010, 299).16
Referências
BORSATO, B. L’altérità come Etica. Una lettura di Emmanuel Levinas. Bologna: EDB, 1995.
CORÁ, J. E.; NASCIMENTO, C. R. do Reconhecimento em Paul Ricoeur: da identificação ao reconhecimento mútuo. Revista de Ciências Humanas, v. 45, n. 2, p. 407-423, 2011.
DOUEK SAFDIE, S. Paul Ricoeur e Emmanuel Lévinas. São Paulo: Loyola, 2011.
DUTRA ROSSATTO, N. Alteridade, reconhecimento e cultura: o problema do outro no enfoque fenomenológico. In: TREVISAN, A. L.; TOMAZETTI, E. M. (Orgs.). Cultura e alteridade. Ijuí: Unijuí, 2006.
________. Mutualidade e reciprocidade: a perspectiva ricoeuriana frente à luta pelo reconhecimento. Revista de Filosofia e Teologia Contemplação, n. 2, 2011.
GREISCH, J. Vers quelle reconnaissance? Revue de Méthaphysique et de Morale, n. 50, p. 149-171,
2006.
GRZIBOWSKI, S. O sujeito sem identidade em Emmanuel Levinas. Síntese, v. 39, n. 123, p. 107-118,
2012.
HÉNAFF, M. Le prix de la vérité. Le don, l´argent, la philosophie. Paris: Seuil, 2002.
Henaff discute o ensaio de Marcel Maus que, em sua obra Essai sur le don. Forme et raison de l´echange dans les
sociétés archiques, fez um estudo e descreve como as sociedades nativas tribais, os Maori que entre eles, trocavam
presentes entre si.
16
118
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
HENRY, M. Fenomenología material. Ensayo preliminar de Miguel García-Baró. Tradução de Javier
Teira e Roberto Ranz. Madrid: Encuentro, 2009.
HONNETH, A. A luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 34,
2008.
HERRERO HERNÁNDEZ, F. J. De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2005.
HUSSERL, E. Meditaciones cartesianas. Tradução de José Gaos e Miguel García-Baró. México: FCE, 2004.
LEVINAS, E. Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité. Den Haag: M. Nijhoff, 1961.
________. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Den Haag: M. Nijhooff, 1974.
________. De otro modo que ser o más allá de la esencia. Tradução e introdução de Antonio Pintor
Ramos. Salamanca: Sígueme, 1987.
________. En Découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris: Vrin, 1994a.
________. La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl. Paris: Vrin, 1994b.
________. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Tradução de Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
________. De Dios que viene a la ideia. Tradução de Graciano González R. Arnaiz e Jesús María Ayuso
Díez. Madrid: Caparrós Editores S.L., 1995.
________. La teoría fenomenológica de la intuición. Tradução, apresentação e conclusão de Tania
Cecchi. Salamanca: Sígueme, 2004.
________. Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Tradução e introdução de Daniel E.
Guillot. Salamanca: Sígueme, 2006.
MARCELO, G. Paul Ricoeur and the utopia of mutual recognition. Études Ricoeuriennes/Ricoeur Studies, Pittsburgh, v. 2, n. 1, 2011.
NASCIMENTO, C.R.; ROSSATTO, N.D. Do reconhecimento simbólico e dom. Étic@, v. 9, n. 2, p. 291301, 2010.
PEÑALVER, P. Argumento de la alteridad. La hipérbole metafísica de Emmanuel Levinas. Madrid:
Caparrós, 2001.
RICOEUR, P. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1996.
________. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo: Loyola, 2006.
________. Memória, história e reconhecimento. Campinas: Unicamp, 2007.
________. Na escola da fenomenologia. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2009.
________. A luta por reconhecimento e a economia do dom. Tradução de Claudio Reichert do Nascimento e Noeli Dutra Rossatto. Étic@, v. 9, n. 2, p. 291-301, 2010.
ROSSATTO, N. D. Alteridade, reconhecimento e cultura. In: Amarildo Luiz Trevisan, Elisete M. Tomazetti. (Org.). Cultura e alteridade - confluências. 1ed.Ijuí: Unijuí, 2006, v. 1, p. 157-170.
SALDANHA, F. A. M. Do sujeito capaz ao sujeito de direito: um percurso pela filosofia de Paul Ricoeur. 2009. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal.
STEIN, E. Excurso sobre el idealismo transcendental. Tradução de Walter Redmond. Madrid: Encuentro, 2005.
WILLIAMS, R. R. Ricoeur on recognition. European Journal of Philosophy, New York, v. 16, n. 3. 2008.
SUSIN, Luiz Carlos. O homem Messiânico. Petrópolis: Vozes, 1994.
Dados autorais:
Silvestre Grzibowski
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Graduado em Filosofia, teologia e Letras.
Mestrado em teologia Pucps (2003). Diploma de Suficiência Investigadora em Filosofia pela Pontifícia Universidade de Salamanca (2006), doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade de
Salamanca - Espanha (2009). É professor adjunto na Universidade Federal de Santa Maria, departamento de filosofia.
Recebido: 13/11/2013
Aprovado: 11/02/2014
Impulso, Piracicaba • 24(59), 109-119, jan.-abr. 2014 • ISSN Impresso: 0103-7676 • ISSN Eletrônico: 2236-9767
DOI: http://dx.doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v24n59p109-119
119