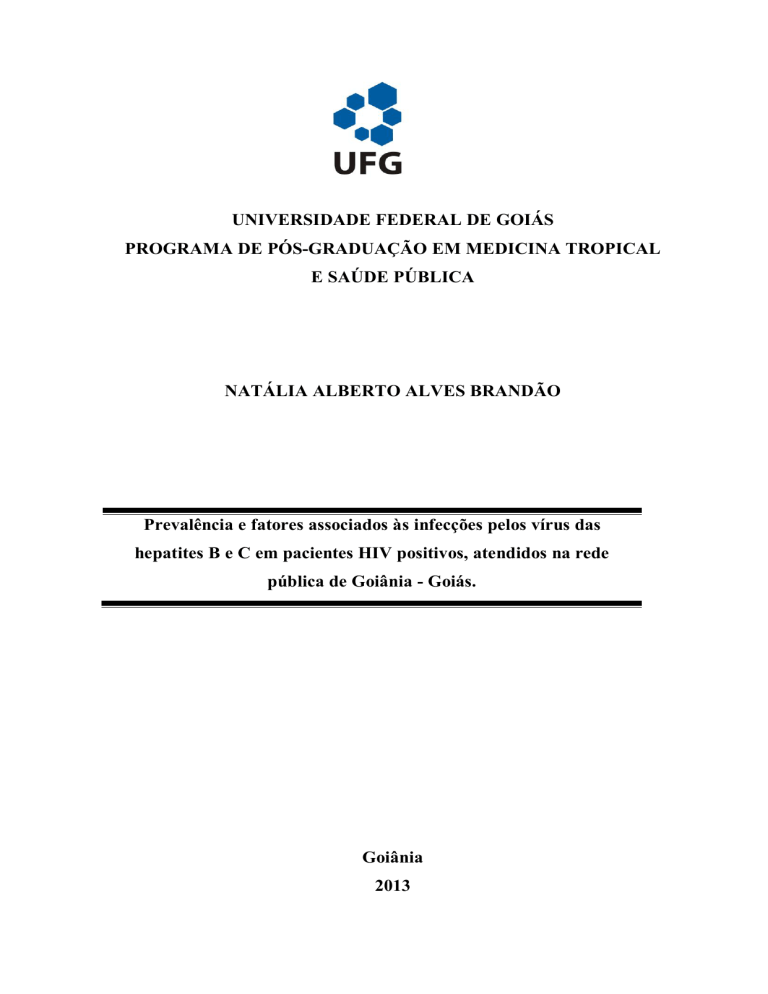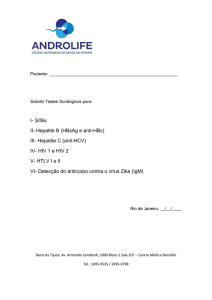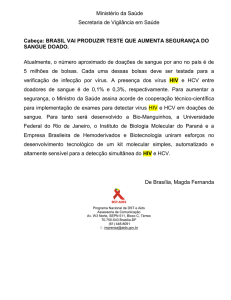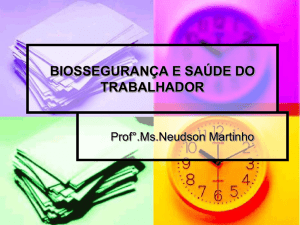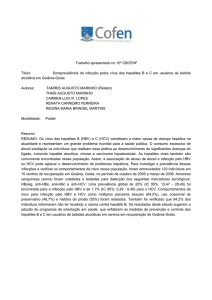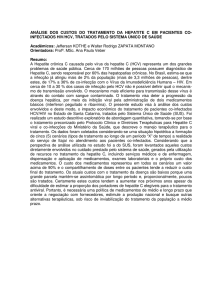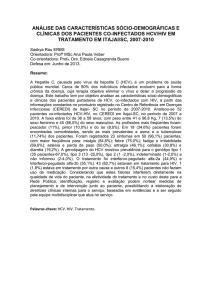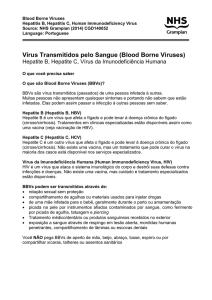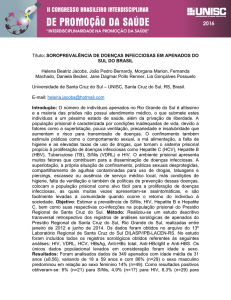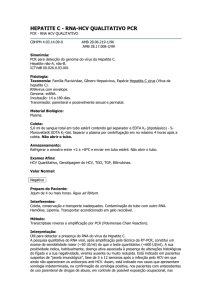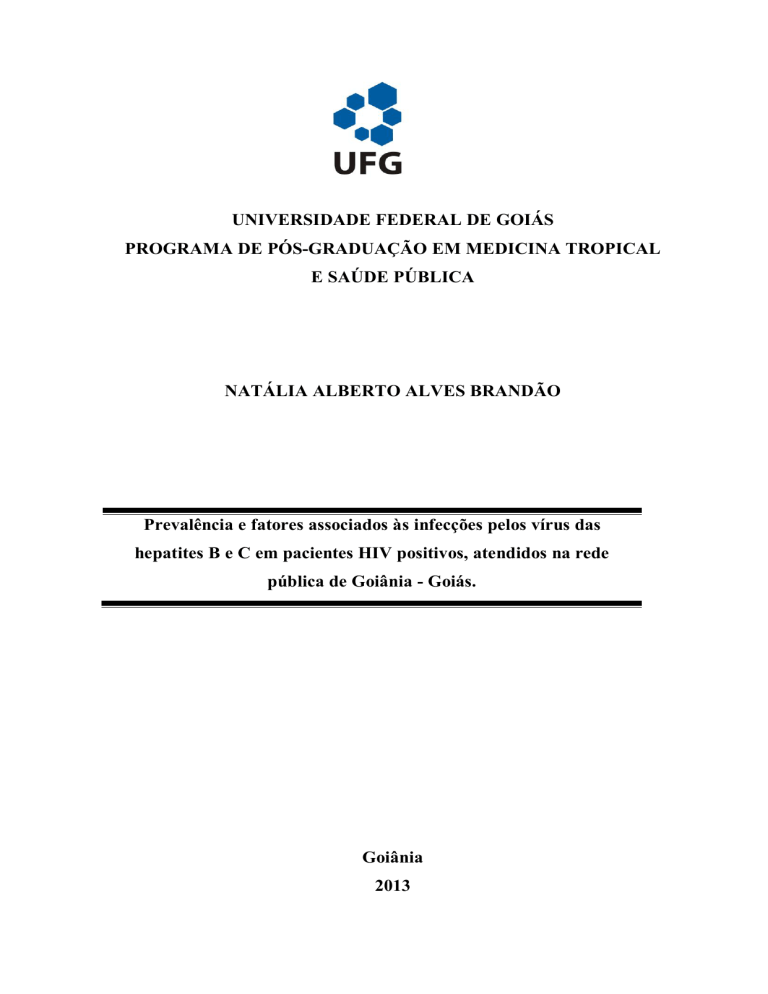
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
E SAÚDE PÚBLICA
NATÁLIA ALBERTO ALVES BRANDÃO
Prevalência e fatores associados às infecções pelos vírus das
hepatites B e C em pacientes HIV positivos, atendidos na rede
pública de Goiânia - Goiás.
Goiânia
2013
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o
documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
1. Identificação do material bibliográfico:
2. Identificação da Tese ou Dissertação
Autor (a):
Natália Alberto Alves Brandão
E-mail:
[email protected]
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?
[X] Dissertação
[X]Sim
[ ] Tese
[ ] Não
Vínculo empregatício do autor
Agência de fomento:
Sigla:
País:
Brasil
UF:
GO
CNPJ:
Título:
Prevalência e fatores associados às infecções pelos vírus das Hepatites B e C em pacientes HIV
positivos, atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás
Palavras-chave:
HIV, Hepatite B, Hepatite C, Coinfecção
Título em outra língua:
Prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection and associated
factors among HIV positive patients assisted by public health system in GoiâniaGoiás
Palavras-chave em outra língua:
HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, coinfection
Área de concentração:
Epidemiologia
Data defesa: (06/05/2013)
Programa de Pós-Graduação:
Medicina Tropical e Saúde Pública
Orientador (a):
Profa. Dra. Marília Dalva Turchi
E-mail:
[email protected]
Co-orientador (a):*
Profa. Dra. Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer (CPF: 067.454.581-87)
E-mail:
[email protected]
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG
3. Informações de acesso ao documento:
Concorda com a liberação total do documento [X] SIM
[
] NÃO1
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio
do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.
O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os
arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização,
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de
conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.
___________________________
Assinatura do (a) autor (a)
Data: ____ / ____ / _____
1
Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo
suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante
o período de embargo.
ii
NATÁLIA ALBERTO ALVES BRANDÃO
Prevalência e fatores associados às infecções pelos vírus das
hepatites B e C em pacientes HIV positivos, atendidos na rede
pública de Goiânia - Goiás.
Dissertação
de
Mestrado
apresentada
ao
Programa de Pós-Graduação em Medicina
Tropical e Saúde Pública da Universidade
Federal de Goiás para obtenção do Título de
Mestre em Medicina Tropical e Saúde
Pública.
Orientadora: Marília Dalva Turchi
Co-orientadora: Irmtraut Araci Hoffmann
Pfrimer
Goiânia
2013
iii
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP)
GPT/BC/UFG
B817p
Brandão, Natália Alberto Alves.
Prevalência e fatores associados às infecções pelos vírus
das Hepatites B e C em pacientes HIV positivos, atendidos
na rede pública de Goiânia - Goiás [manuscrito] / Natália
Alberto Alves Brandão. - 2013.
xvii, 81 f. : figs, tabs.
Orientadora: Profª. Drª. Marília Dalva Turchi; Coorientadora: Profª. Drª. Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás,
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, 2013.
Bibliografia.
Inclui lista de figuras, abreviaturas, siglas e tabelas.
Anexos.
1. HIV/AIDS – Hepatites – Goiânia (GO) 2. Pacientes
aidéticos – Hepatites – Rede pública – Goiânia I. Título.
CDU:616.98:578.828HIV:616.36-002(817.3)
iv
I
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública
da Universidade Federal de Goiás
BANCA EXAMINADORA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aluno (a): Natália Alberto Alves Brandão
Orientador (a): Profa. Dra. Marília Dalva Turchi
Co-orientador (a): Profa. Dra. Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer
Membros:
1. Profa. Dra. Adriana Oliveira Guilarde
2. Profa. Dra. Marília Dalva Turchi
3. Prof. Dr. Rodrigo Sebba Aires
Data:06/05/2013
v
“Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida.”
(Sigmund Freud)
vi
AGRADECIMENTOS
À Deus, por me dar forças para enfrentar as dificuldades e coragem para seguir em frente.
Por me mostrar que somos pequenos demais para compreender a imensidão de seus planos
em nossas vidas. Por me ajudar a compreender, finalmente, que tudo acontece em seu
tempo e que, esse tempo, nem sempre é o nosso.
Aos meus pais, Divina Tereza Brandão e Júlio Alberto das Dores, pela dedicação de suas
vidas. Pelo estímulo aos meus estudos em todas as etapas percorridas. Por me mostrarem a
importância de buscar o meu melhor. Por acreditarem que eu poderia alcançar meus
objetivos. Por me apoiarem e aceitarem minhas escolhas. Obrigada pelo carinho, cuidado e
amor incondicional. Tudo o que busco é para vocês, tudo o que alcanço é por vocês.
Aos meus irmãos, Júlio Alberto Filho e Alexandre Alberto das Dores, pela admiração que
tantas vezes demonstraram por mim, fazendo com que eu acreditasse que sou capaz mesmo
quando a dúvida pairava em meus pensamentos.
Ao meu marido, Eduardo Barros Marques, por aceitar que eu me ausentasse física e
emocionalmente em diversos momentos em que precisei me dedicar ao mestrado.
À todos os meus amigos e familiares pelo reconhecimento dos meus esforços e pelas
palavras de estímulo e motivação. Pela compreensão da minha ausência em diversos
momentos.
Aos colegas de trabalho do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, por
compreenderem os momentos em que precisei me ausentar. Pelo estímulo e apoio para que
eu concluísse da melhor forma mais uma etapa.
À professora Dra. Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer, por me guiar em meus primeiros
passos na vida científica. Pelos três anos de aprendizado na iniciação científica, que se
estenderam até os dias atuais. Por me apoiar em minhas escolhas e pela amizade de
sempre.
vii
À Profa. Dra. Marília Dalva Turchi, minha orientadora, que aceitou a indicação para minha
orientação e me recebeu de braços abertos. Pelos ensinamentos transmitidos e pela
paciência. Por compreender e aceitar a importância do equilíbrio entre trabalho, mestrado e
vida pessoal para mim. Pela amizade e dedicação de em todos os momentos.
Aos bolsistas de iniciação científica e aos estagiários que contribuíram na fase inicial do
trabalho.
Aos pacientes que aceitaram participar do estudo com presteza e dividiram um pouco de
suas histórias comigo. Este foi meu maior aprendizado pessoal.
Aos funcionários do Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia que
me auxiliaram no recrutamento de pacientes e acolheram a mim e a meu projeto com boa
vontade.
À todos que contribuíram de alguma forma, como agentes facilitadores para a execução
deste projeto e concretização de um sonho.
viii
SUMÁRIO
TABELAS, FIGURAS E ANEXOS ................................................................................. xi
SIGLAS E ABREVIATURAS ........................................................................................xiv
RESUMO .......................................................................................................................xvi
ABSTRACT ................................................................................................................. xvii
1.
INTRODUÇÃO .........................................................................................................1
1.1.
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana .................................................1
1.1.1.
Aspectos virológicos e imunológicos ............................................................1
1.1.2.
Aspectos epidemiológicos .............................................................................2
1.2. Infecção pelo vírus da hepatite B ............................................................................4
1.2.1. Aspectos virológicos e imunológicos ................................................................4
1.2.2. Aspectos epidemiológicos.................................................................................6
1.3. Infecção pelo vírus da hepatite C ........................................................................... 10
1.3.1. Aspectos virológicos e imunológicos .............................................................. 10
1.3.2. Aspectos epidemiológicos............................................................................... 12
1.4. Coinfecção pelo HIV, HBV e HCV: aspectos imunopatológicos e epidemiológicos
15
2. JUSTIFICATIVA ........................................................................................................22
3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 23
4. MÉTODOS .................................................................................................................. 24
4.1. Delineamento: Estudo transversal ..........................................................................24
4.2. População e local de recrutamento .........................................................................24
4.2.1. Parâmetros para o calculo amostral ................................................................ 24
4.3. Investigação de fatores de risco ............................................................................. 25
4.4. Coleta de material biológico e testes laboratoriais .................................................. 25
4.4.1. Testes sorológicos .......................................................................................... 26
4.4.1.1. ELISA HBsAg ......................................................................................... 28
4.4.1.2. ELISA anti-HBc ...................................................................................... 28
4.4.1.3. ELISA anti-HBs....................................................................................... 29
4.4.1.4. ELISA anti-HCV ..................................................................................... 29
4.4.2. Testes moleculares .......................................................................................... 30
4.4.2.1. PCR qualitativo do HBV (PCR Real-Time) ............................................. 30
ix
4.4.2.2. Carga viral do HCV (PCR Real-Time) ..................................................... 30
4.4.2.3. Genotipagem e subtipagem do HCV ........................................................ 31
4.4.3. Dosagem de aminotransferases .......................................................................31
4.4.3.1. Dosagem de ALT ..................................................................................... 32
4.4.3.2. Dosagem de AST ..................................................................................... 32
4.5. Processamento e análise de dados ..........................................................................33
4.6. Considerações éticas .............................................................................................. 34
4.7. Apoio financeiro....................................................................................................34
5. RESULTADOS ........................................................................................................... 35
6. DISCUSSÃO ............................................................................................................... 50
7. CONCLUSÕES ........................................................................................................... 59
REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 60
ANEXOS
x
TABELAS, FIGURAS E ANEXOS
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em estudos
conduzidos na região Centro-Oeste......................................................................................08
Tabela 2. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em estudos
conduzidos na região Centro-Oeste......................................................................................13
Tabela 3. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em indivíduos
vivendo com HIV/AIDS em estudos conduzidos no Brasil.................................................18
Tabela 4. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em indivíduos
vivendo com HIV/AIDS em estudos conduzidos no Brasil.................................................19
Tabela 5. Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com HIV/AIDS,
estratificados por sexo, atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás.....................................37
Tabela 6. Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com HIV/AIDS,
estratificados por instituição de origem, atendidos na rede pública de Goiânia Goiás..........................................................................................................................................39
Tabela 7. Prevalência de marcadores sorológicos para exposição à hepatite B e C em 495
indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia Goiás.....................................................................................................................................41
Tabela 8. Frequência de genótipos e subtipos do HCV entre 22 indivíduos vivendo com
HIV/AIDS
atendidos
na
rede
pública
de
saúde
de
Goiânia,
Goiás.....................................................................................................................................42
xi
Tabela 9. Análise univariada dos fatores associados à exposição ao vírus da hepatite B
(HBV) em 495 indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia Goiás.....................................................................................................................................44
Tabela 10. Fatores associados à exposição ao vírus da hepatite B (HBV) em 495
indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em GoiâniaGoiás.....................................................................................................................................45
Tabela 11. Análise univariada dos fatores associados à exposição ao vírus da hepatite C
(HCV) em 495 indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia Goiás.....................................................................................................................................46
Tabela 12. Fatores associados à exposição ao vírus da hepatite C (HCV) em 495
indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em GoiâniaGoiás.....................................................................................................................................47
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Fluxograma de exames laboratoriais previstos na metodologia do estudo..........27
Figura 2. Fluxograma de recrutamento de indivíduos HIV soropositivos para o estudo....35
Figura 3. Comparação entre as densidades ópticas (DOs) obtidas na leitura do ELISA para
detecção do anti-HCV e a carga viral do HCV nas 48 amostras positivas para anti-HCV
pela sorologia.......................................................................................................................43
Figura 4. Comparação dos níveis séricos da enzima alanina aminotransferase (ALT) em
pacientes HIV positivos, de acordo com a presença ou ausência dos marcadores
sorológicos HBsAg e anti-HCV..........................................................................................48
xii
Figura 5. Comparação dos níveis séricos da enzima alanina aminotransferase (ALT) em
pacientes HIV positivos, de acordo com a positividade para o HBV DNA e HCV RNA
detectável..............................................................................................................................49
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (CEP-SGC/UCG)
Anexo 2. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de
Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad (CEP HDT/HAA)
Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Anexo 4. Questionário padronizado
xiii
SIGLAS E ABREVIATURAS
AIDS - do inglês: Acquired Immunodeficiency Syndrome
ALT: Alanina Aminotransferase
AM: Amazonas
Anti – HBe – do inglês: Hepatitis B Envelope Antibody
Anti- HBs – do inglês: Hepatitis B Surface Antibody
Anti-HBc – do inglês: Hepatitis B Core Antibody
Anti-HCV – do inglês: Hepatitis C Virus Antibody
AST: Aspartato Aminotransferase
AZT: Zidovudina
BA: Bahia
CCR5 – do ingles: C-C chemokine receptor Type 5
CD – do inglês: Cluster of Differentiation
CRDT: Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento
DO – Densidade óptica
ELISA- do inglês: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
CXCR4 – do inglês : C-X-C chemokine receptor Type 4
DNA – do inglês : Deoxyribonucleic acid
DST: Doenças Sexualmente Transmissíveis
ES: Espírito Santo
GO: Goiás
GP – do inglês: Glycoprotein
HBcAg – do inglês: Hepatitis B Core Antigen
HBeAg – do inglês: Hepatitis B Envelope Antigen
HBsAg - inglês: Hepatitis B Surface Antigen
HBV - do inglês: Hepatitis B Virus
HC-UFG: Hospital das Clínicas-Universidade Federal de Goiás
HCV - do inglês: Hepatitis C Virus
HDT/HAA: Hospital de Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad
HIV- do inglês: Human Immunodeficiency Virus
HR – do inglês: Heptad Repeat
xiv
IC95%: Intervalo de 95% de Confiança
IgG: imunoglobulina G
IQ: Intervalo interquartílico
LACEN/GO: Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros
MG: Minas Gerais
MS: Mato Grosso do Sul
MT: Mato Grosso
N: número de casos
NS – do inglês: Nonstructural
OR – do inglês: Odds Ratio
P: Significância estatística
PA: Pará
PCR – do inglês: Polymerase Chain Reaction
PE: Pernambuco
PI: Piauí
PR: Paraná
RNA – do inglês: Ribonuclei Acid
RS: Rio Grande do Sul
SP: São Paulo
TA: temperatura Ambiente
TARV: Terapia antirretroviral
TMB: Tetrametilbenzidina
UDI: Usuários de Drogas Injetáveis
xv
RESUMO
Os vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) são responsáveis pelas infecções crônicas
virais mais comuns em todo o mundo. A prevalência dessas infecções é maior entre
indivíduos infectados pelo HIV, devido às vias comuns de transmissão desses vírus. As
coinfecções HBV/HIV e HCV/HIV parecem estar associadas a um pior prognóstico da
doença hepática. Estudos avaliando essas coinfecções, na região centro-oeste do Brasil, são
escassos. Objetivos: Estimar a prevalência e analisar fatores sócio-demográficos e
comportamentais associados às infecções pelo HBV e HCV em pacientes HIV positivos.
Métodos: Estudo transversal, com inclusão de 495 pacientes adultos, recrutados no Centro
de Referência em Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia, em 2011. Após assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido, os participantes foram entrevistados e coletouse material para pesquisa de marcadores para o HBV (anti-HBc, HBsAg, anti-HBs e HBV
DNA) e HCV (anti-HCV e HCV RNA). Estimou-se a prevalência das infecções pelo HBV
e HCV. Foi realizada análise uni e multivariada para avaliar fatores associados com a
positividade para os dois vírus. Foram calculados os Odds Ratios brutos e ajustados com
respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%) e nível de significância de p<0,05.
Resultados: A média de idade dos participantes foi de 40,2 anos (desvio padrão=10,4),
com predomínio de homens (73,9%). O relato de uso de drogas injetáveis foi feito por
3,6% dos participantes. A prevalência de exposição ao vírus da hepatite B foi de 33,5%
(IC95% 29,4-37,9). Dezenove pacientes (3,8%, IC95% 2,4-6,0) foram diagnosticados
como portadores do vírus da hepatite B. A prevalência de anti-HCV foi 9,7% (IC95% 7,312,7). A distribuição dos genótipos do HCV nessa população foi: 1a (72,7%), 3 (13,6%) e
1b (9,1%). A coinfecção pelos três vírus foi de 4,4% (IC95% 2,9-6,8). Sexo masculino,
idade ≥ 40 anos, relato de doença sexualmente transmissível (DST) e homo ou
bissexualismo mostraram-se associados à presença de marcadores de exposição ao HBV.
Antecedentes de drogas injetáveis e DST mostraram associação com soropositividade para
HCV. Cerca da metade dos pacientes coinfectados não sabia ser HBV ou HCV positivos.
Conclusões: Marcadores de exposição prévia ao HBV e ao HCV são frequentes entre os
pacientes HIV positivos, em Goiânia.
Uma parcela significativa dessa população
desconhece seu status sorológico, sugerindo a necessidade de medidas de triagem e de
orientação mais efetivas.
xvi
ABSTRACT
Hepatitis B and C viruses are responsible for the most common chronic viral infections
worldwide. The prevalence of these viruses is higher among HIV-infected individuals, due
to common route of transmission. Coinfections HBV / HIV and HCV / HIV seems to be
associated with a worst liver disease prognosis. Studies evaluating these coinfections in the
mid-western Brazil are scarce. Objectives: To estimate the prevalence and the risk factors
associated with HBV and HCV coinfections in HIV-positive patients in Goiânia – Goiás.
Methods: A cross-sectional study was conducted including 495 adults, recruited from the
Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia in 2011. After signing the
informed consent, participants were interviewed and material was collected for research
markers for HBV (anti-HBc, HBsAg, anti-HBs and HBV DNA) and HCV (anti-HCV and
HCV RNA). Prevalence of HBV and HCV infection was estimated. Univariate and
multivariate analysis to evaluate factors associated with positivity for both viruses were
performed. Odds and adjusted odds ratios were calculated with 95% confidence intervals
(CI95%) and a significance level of p<0.05. Results: Participants mean age was 40.2
years (standard deviation =10. 4) with a male predominance (73.9%). Injecting drugs usage
was reported by 3.6% of participants. The prevalence of markers for hepatitis B exposure
was 33.5% (CI95% 29.4-37.9). Nineteen patients (3.8%, CI95% 2.4-6.0) were diagnosed
as hepatitis B carriers. Prevalence of anti-HCV was 9.7% (CI95% 7.3-12.7). The
distribution of HCV genotypes was: 1a (72.7%), 3 (13.6%) and 1b (9.1%). Coinfection by
the three viruses was 4.4% (CI95% 2.9-6.8). Male, age ≥ 40 years, previous history of
sexually transmitted disease (STD) and homo or bisexuality were associated with exposure
to HBV. History of injecting drugs and STD were associated with HCV seropositivity.
Over half of the coinfected patients were not aware of being HBV or HCV positive.
Conclusion: Seromarkers for previous HBV and/or HCV infections are common among
individual HIV positives in Goiânia. A significant proportion of them are unaware of their
serological status. These findings suggest the need for better screening and guidance
improvements for this population.
xvii
1. INTRODUÇÃO
1.1.
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana
1.1.1. Aspectos virológicos e imunológicos
O vírus da imunodeficiência humana (HIV), isolado pela primeira vez em 1983,
pertence à família Retroviridae e ao gênero Lentivirus. Tem forma esférica, com diâmetro
de aproximadamente 100 nm, e está envolvido por uma bicamada lipídica originária da
célula em que se deu a replicação viral. Associadas à membrana viral encontram-se duas
glicoproteínas, a gp41 (transmembranar) e a gp120 (superfície). No centro do vírus,
inserido num nucleocapsídeo, encontra-se o código genético do vírus, que é constituído por
duas fitas idênticas de RNA, que são transcritas em DNA pela ação da enzima viral
transcriptase reversa, para poder se integrar ao genoma da célula do hospedeiro (Levy et al.
1993, Subbramanian & Cohen 1994). O genoma viral é formado pelas regiões
denominadas gag, pol e env, que são genes responsáveis pela codificação das proteínas que
constituem a estrutura viral e repertório enzimático (Seelamgari et al. 2004).
As proteínas de superfície gp120 e gp 41 do HIV-1, originadas da clivagem de um
precursor de 160 Kd, são responsáveis pelo processo de entrada do vírus na célula
hospedeira. Esse processo envolve a interação da gp120 com o receptor CD4 presente na
superfície dos linfócitos e macrófagos. Na sequência, ocorre a interação da gp120 com os
co-receptores CCR5 (para cepas com tropismo para linfócitos) ou CXCR4 (para cepas com
tropismo para macrófagos), resultando em uma interação das sub-regiões HR1 e HR2 da
gp41, seguida pela fusão do vírus com a membrana celular (Chan & Kim 1998).
Existem dois tipos de vírus, o HIV-1 e HIV-2. O HIV-1 é classificado em três
grupos principais: grupo M (Main), grupo O (Outlier) e grupo N (New). O grupo M,
principal responsável pela pandemia de AIDS, possui nove subtipos descritos (A, B, C, D,
F, G, H, J e K), 3 subsubtipos e pelo menos 29 formas recombinantes circulantes (CRFs)
(McCutchan et al. 1996, Robertson et al. 2000, Kandathil et al. 2005, De Sá Filho et al.
2006, Sá-Ferreira et al. 2007). Foram descritos 8 subtipos do HIV-2 (A-H), sendo que A e
B são os mais frequentes (Kandathil et al. 2005). A distribuição das variantes do HIV-1 na
população humana é extremamente heterogênea. No Brasil, o subtipo B e a variante
1
brasileira B’ são os mais frequentemente identificados (Sá-Ferreira et al. 2007). Em Goiás,
estudo realizado por Cardoso et al. (2009) com 103 pacientes HIV soropositivos sem uso
de TARV encontrou a seguinte distribuição para os subtipos do HIV-1: subtipo B
representou 82,5%, subtipo F1 6,2%, subtipo C 3,1%, B/F1 7,2% e uma amostra foi um
mosaico F1/C/B. Outros estudos na região também encontraram maior frequencia do
subtipo B, seguido pelo subtipo F1 ou C, e alguns subtipos recombinantes: B/F1, B/C,
F1/C e F1/C/B (Cardoso et al. 2010, Cardoso et al. 2011, Ferreira et al. 2011, Silveira et al.
2012).
As partículas virais estão presentes no sangue, sêmen, secreção vaginal e leite
materno, acarretando diferentes formas de transmissão do vírus: via parenteral, sexual e
materno-fetal. O principal impacto do vírus sobre o sistema imunitário é a destruição dos
linfócitos T CD4+ (Ho et al. 1995). O HIV afeta, indiretamente, outras células do sistema
imunitário que são ativadas pelas células CD4, como os linfócitos B, os macrófagos e os
linfócitos T citolíticos, tornando o indivíduo progressivamente mais sujeito às outras
infecções (Paranjape 2005).
De acordo com as normas do Ministério da Saúde para o diagnóstico do vírus HIV,
inicialmente deve ser realizada uma triagem sorológica para detectar anticorpos contra o
HIV, onde o método mais amplamente utilizado é o ensaio imunoenzimático (ELISA).
Para confirmação do diagnóstico, as amostras reagentes ao teste de ELISA devem ser
submetidas ao teste sorológico western blot (Weber et al. 1992). Os resultados
indeterminados podem ser confirmados através de imunofluorescência e reação em cadeia
da polimerase (PCR) (Gastaldello et al. 2001, Lipniacki et al. 2003).
1.1.2. Aspectos epidemiológicos
Atualmente cerca de 34,2 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo HIV.
Em 2011, foi estimado que ocorreram 83.000 novas infecções pelo HIV na América
Latina, elevando o número de pessoas vivendo com HIV na região para aproximadamente
1,4 milhões de pessoas, comparado a 1,2 milhões em 2001 (UNAIDS 2012). O Brasil é o
país com maior número de casos de AIDS na América Latina, com 608.230 casos
notificados até 2011. A taxa de incidência nacional mantém-se ainda em patamares
elevados: 17,9 casos por 100 mil habitantes em 2010. Já em Goiás, a taxa de 14,0 casos por
2
100 mil habitantes é menor que a média nacional, mas nem por isso menos preocupante
(MS 2011b).
A epidemia de AIDS no Brasil evolui, nas últimas duas décadas, com alterações no
perfil epidemiológico. Observa-se que a razão de sexo (Masculino: Feminino) diminuiu
consideravelmente do início da epidemia para os dias atuais. Em 1986, a razão era de 15,1:
1, a partir de 2002, estabilizou-se em 1,5:1 e em 2010 foi de 1,7 novos casos em homens
para cada caso em mulheres. Com relação às taxas de incidência, em ambos os sexos, as
maiores taxas estão, atualmente, na faixa etária de 30 a 49 anos, com um incremento na
faixa etária de maiores de 50 anos, ao longo da série histórica. Ao longo do período de
1980 a junho de 2009, observa-se tendência ao crescimento da subcategoria de exposição
heterossexual. No que se refere à escolaridade, entre a população com 8 a 11 anos de
estudo observa-se, um aumento proporcional de casos, passando de 16%, em 1999, para
29% em 2007 (MS 2009a, MS 2011b).
Em 2010 foram notificados 482 novos casos de AIDS em menores de cinco anos,
com taxa de incidência de 3,5/100.000 habitantes. No Brasil, a taxa de incidência em
menores de cinco anos é utilizada como indicador de monitoramento da transmissão
vertical, e ao longo dos últimos 12 anos observa-se uma redução de 40,7%, diretamente
relacionada ao aumento da cobertura de assistência pré-natal e à adoção da profilaxia de
transmissão vertical com antirretrovirais. Quando todas as medidas preventivas são
adotadas, a chance de transmissão vertical cai para menos de 1%. Às gestantes, o
Ministério da Saúde recomenda o uso de medicamentos antirretrovirais durante o período
de gravidez e no trabalho de parto, além de realização de cesárea para as mulheres que têm
carga viral elevada ou desconhecida. Para o recém-nascido, a determinação é de
substituição do aleitamento materno por fórmula infantil (leite em pó) e uso de
antirretrovirais. O AZT solução oral deve ser tomado das primeiras duas horas de vida às
seis semanas seguintes ao nascimento e a criança continua sendo acompanhada em serviço
de referência para crianças expostas ao HIV (MS 2010a).
Quanto à forma de transmissão entre os maiores de 13 anos de idade, prevalece a
sexual. Nas mulheres, 83,1% dos casos registrados em 2010 decorreram de relações
heterossexuais com pessoas infectadas pelo HIV. Entre os homens, 42,4% dos casos se
deram por relações heterossexuais, 22% por relações homossexuais e 7,7% por bissexuais.
O restante ocorreu por transmissão sanguínea e vertical (MS 2011b).
3
No Centro-oeste, na faixa etária de 13 anos de idade ou mais, do total de 1.062
casos de AIDS notificados no SINAN no ano de 2010, no sexo masculino, 19,7% são
homossexuais, 6,1% bissexuais, 44,4% heterossexuais, 3,2% UDI, 0,1% hemofílicos, 0,8%
transmissão vertical e 25,7% ignorados. Com relação ao sexo feminino, quanto à categoria
de exposição, do total de 557 casos notificados, 85,8% são heterossexuais, 1,6% UDI,
0,2% transfusão, 0,7% transmissão vertical e 11,7% ignorados (MS 2011b).
O tratamento disponível para a infecção por HIV é constituído pela terapia
antirretroviral (TARV), constituída da associação de pelo menos três drogas
antirretrovirais, que tem como objetivos a redução da carga viral a valores indetectáveis,
restauração do sistema imunitário através do aumento dos níveis de células CD4,
diminuição da morbidade e mortalidade associada com a infecção por HIV, e melhora na
qualidade de vida dos pacientes (Dourado et al. 2006). No Brasil, desde 1996, com a
criação da lei de acesso universal e gratuito de antirretrovirais aos indivíduos vivendo com
HIV/AIDS, a TARV passou a ser o padrão para o tratamento dos pacientes infectados pelo
HIV no país (Marins et al. 2003, Grangeiro et al. 2006).
De 1980 a 2010, ocorreram 241.469 óbitos no Brasil tendo como causa básica a
AIDS. Em 2010 ocorreram 11.965 óbitos, com coeficiente bruto de mortalidade de
6,3/100.000 habitantes. Considerando o coeficiente de mortalidade padronizado
(População brasileira de 2000, IBGE), nos últimos 10 anos observa-se redução de 11,1%
na mortalidade por AIDS no Brasil, resultante do aumento da sobrevida dos pacientes
infectados pelo HIV e da redução das doenças infecciosas associadas à AIDS. No CentroOeste, o coeficiente de mortalidade padronizado para o ano de 2010 foi 4,8/100.000
habitantes, indicando uma taxa de mortalidade estabilizada nos últimos 10 anos (MS
2011b).
1.2. Infecção pelo vírus da hepatite B
1.2.1. Aspectos virológicos e imunológicos
O vírus da hepatite B (HBV) é membro da família Hepadnaviridae, composta por
vírus hepatotrópicos que compartilham algumas características estruturais e funcionais e
que infectam aves e mamíferos (Büchen-Osmond 2003).
4
Estruturalmente, as partículas virais infecciosas são esféricas, com diâmetro
aproximado de 42 nm. O genoma viral é constituído de uma molécula de DNA de fita
dupla parcial. Envolvendo o DNA, enzimas como a transcriptase reversa e o antígeno “e”
do vírus (HBeAg), que pode ser detectado no sangue por ser secretado e representa
infectividade e replicação viral, existe um capsídeo icosaédrico composto por proteína,
incluindo a proteína HBcAg. O HBcAg não é secretado pelo vírus, logo não pode ser
detectado no sangue circulante, mas leva à formação de anticorpo específico anti-HBc,
marcador de contato para o vírus. Externamente o vírus apresenta um envelope de
constituição lipoglicoprotéica, que contém o antígeno de superfície HBsAg, o qual pode
ser detectado no sangue circulante sendo um sinal de infecção. Além das partículas
inteiras, que são patogênicas e infecciosas, existem as partículas pequenas, circulares (22
nm) e partículas alongadas de comprimento variado e mesmo diâmetro, que consistem
apenas do antígeno HBsAg e não são infecciosas ou patogênicas. (Mahoney 1999, Ferreira
& Silveira 2004, Liang 2009).
O genoma do HBV possui aproximadamente 3.200 pares de bases e é um dos
menores entre os genomas dos vírus que infectam o homem e o menor vírus de DNA
conhecido (Liang 2009). Por apresentar uma grande diversidade viral o HBV apresenta
subtipos e genótipos. O vírus é classificado em quatro sorotipos (adw, ayw, adr, ayr) com
nove subtipos (ayw 1, ayw 2, ayw 3, ayw 4, ayr, adw 2, adw 4, adr q- e adr q+), de acordo
com a resposta antigênica heterogênea do HBsAg (Couroucé-Pauty et al. 1978). Baseado
na diversidade de nucleotídeos, o HBV pode ser classificado em 8 principais genótipos (AH), com possibilidade de inclusão de novos genótipos e subgenótipos (Campos et al.
2005). No Brasil, em inquérito de base populacional realizado entre as capitais, foi
observada a seguinte distribuição dos genótipos: genótipos A e F foram identificados no
Nordeste; genótipos A e D no Distrito Federal; genótipos A, D e F co-circulando na região
Centro-Oeste. Logo, o genótipo A foi predominante (aproximadamente 50%), seguido
pelos genótipos D e F (Pereira et al. 2009).
Embora seja um vírus DNA ele codifica uma transcriptase reversa e replica-se
através de um RNA intermediário. O HBV inicia sua replicação dentro do hepatócito três
dias após sua introdução no organismo (Seeger & Mason 2000). O HBV não é um vírus
diretamente citopático, assim a evolução da patogenia depende da interação do HBV com o
hospedeiro, da virulência do vírus, da imunidade do hospedeiro, dos fatores genéticos e das
condições individuais (Hoofnagle & Alter 1984). Durante a infecção aguda pelo HBV, há
5
necessidade de uma resposta imune eficiente e coordenada, tanto humoral quanto celular,
para que ocorra a resolução da infecção e da doença hepática associada. Na hepatite B
aguda autolimitada as células T CD4+ exercem um papel central na resposta imune
adaptativa, promovendo a reatividade dos linfócitos T citotóxicos e auxiliando os linfócitos
B vírus específicos a produzirem anticorpos neutralizantes contra a proteína do envelope.
Já na infecção crônica, a resposta imune celular é fraca, sendo incapaz de controlar a
replicação viral nos hepatócitos infectados (Liang 2009).
O período de incubação do vírus varia de 30 a 180 dias, com média de 60 a 90 dias,
seguida por uma doença aguda que permanece por um período que varia de algumas
semanas a seis meses. As manifestações clínicas do HBV são diversas e vão desde uma
hepatite subclínica, anictérica, ictérica ou fulminante, na fase aguda, até um quadro de
cirrose e carcinoma hepatocelular, na fase crônica (Blumberg 2006).
Considerando que os sintomas clínicos da infecção pelo HBV são indistinguíveis de
outras formas de hepatite viral, o diagnóstico definitivo depende de testes sorológicos que
identificam, no soro, os antígenos (HBsAg e HBeAg) e anticorpos (Anti-HBc, Anti-HBe e
Anti-HBs) presentes nessa infecção. Existem ainda os testes moleculares (pesquisa
qualitativa e quantitativa do DNA do HBV), importantes no acompanhamento da resposta
ao tratamento na infecção crônica. Além disso, o sequenciamento do vírus tem sido usado
na identificação de variantes genéticas (Liang 2009).
1.2.2. Aspectos epidemiológicos
As principais formas de contágio do HBV são por via sexual, transfusão de sangue
ou derivados, compartilhamento de agulhas no uso de drogas intravenosas, transplantes de
órgãos ou tecidos, lesões de pele ou acidentes com agulhas (principalmente entre
profissionais da área de saúde) e a transmissão perinatal (Alter 2003). O meio mais
eficiente de prevenir a infecção pelo HBV, além de evitar os comportamentos considerados
de alto risco, é a imunização com vacina para hepatite B (Kao & Chen 2002).
A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 240 milhões de pessoas
estejam cronicamente infectadas pelo HBV (WHO 2012). A frequência e os padrões de
infecção pelo HBV variam marcadamente em diferentes países. Aproximadamente 45% da
população do mundo mora em áreas onde a prevalência da infecção crônica pelo HBV é
alta (≥8% da população é HBsAg positiva), 43% vivem em áreas onde a prevalência é
6
moderada (2 a 7% da população é HBsAg positiva) e 12% vivem em áreas de baixa
endemicidade (<2% da população é HBsAg positiva). A divisão do mundo em áreas de
baixa, intermediária e alta endemicidade para o VHB baseia-se na prevalência de
marcadores da infecção e nas vias de transmissão primárias encontradas nas mais diversas
regiões (Alter 2003).
No Brasil, inquérito de base populacional sobre as hepatites virais, referente ao
conjunto das capitais, com inclusão de 19.634 indivíduos, estimou uma prevalência de
exposição ao HBV (anti-HBc) de 6,8 a 8,0% e de 0,2 a 0,5% para o antígeno de superfície
do HBV (HBsAg). O percentual de expostos ao HBV teve variação entre as faixas etárias
de 10 a 19 e 20 a 69 anos, com valores de 1,1%, e 11,6%, respectivamente. Na região
Centro-Oeste, o inquérito encontrou entre 3.152 indivíduos, uma prevalência de 5,3% para
o anti-HBc e 0,47% para o HBsAg, sendo considerada uma região de baixa endemicidade
para o HBV (Pereira et al. 2009).
Para todas as regiões, observou-se um aumento da positividade do anti-HBc total
com a idade. Em relação ao sexo, à exceção do Norte, os homens apresentaram maior
probabilidade de exposição ao HBV nas demais regiões. Em todas as regiões, exceto no
sudeste, observou-se um maior risco de exposição ao HBV para indivíduos com piores
condições socioeconômicas. A transmissão sexual foi relevante nas Regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Sul, sendo que, nesta última, a transmissão sanguínea também se
destacou (MS 2010b).
Com a finalidade de descrever a prevalência do HBV em diferentes populações na
região centro-oeste, entre os anos de 1990 e 2013, foi conduzida busca eletrônica de artigos
publicados no portal BIREME (BVS) e na base de dados MEDLINE (PubMed). No
processo de busca utilizou-se os seguintes descritores: "HBV" OR "VHB" OR "hepatitis
B" OR "hepatite B" AND "Central-West" OR “Western” OR “Centro-Oeste” OR “Goiás”
OR “Mato Grosso” AND “Brazil” OR “Brasil”. Inicialmente, para verificar se os artigos
atendiam ao interesse da busca, os títulos de todos os estudos identificados foram
avaliados. Em um segundo momento, os resumos foram analisados. Os artigos que não
apresentaram resultados de soroprevalência do HBV na região de interesse foram
excluídos. Na busca de referências adicionais, foram checadas também as referências dos
artigos obtidos. Os artigos selecionados foram organizados na tabela 1, de acordo com a
referência bibliográfica (autor e ano), ano de recrutamento, local de condução do estudo,
população, número de participantes e soroprevalência do HBsAg e da exposição ao HBV.
7
Tabela 1. Soroprevalência da infecção e/ou exposição pelo vírus da hepatite B (HBV) em estudos conduzidos
na região Centro-Oeste.
Recrutamento
Referência
(Ano)
Local
Martelli et al.
1990
População
N
HBsAg
Anti-HBc
Primodoadores
1.033
1,9%
12,8%
1988-1989
Goiânia (GO)
Homens encarcerados
201
2,1%
26,4%
1992-1993
Goiânia (GO)
Doadores de sangue
2.350
0,8%
14,7%
Furnas dos Dionísios
Comunidade
1999-2000
(MS)
afrodescendente
260
9,2%
42,7%
1997-1998
GO
Hemofílicos
102
1,1%
43,7%
Martins et al.
1994
Motta-Castro
et al. 2003
Tavares et al.
2004
Silva et al.
2005
Profissionais de
2000-2001
Goiânia (GO)
laboratório
648
0,7%
24,1%
2003-2004
Campo Grande (MS)
Dentistas
474
0,6%
10,8%
Batista et al.
2006
Ferreira et al.
2006
Pacientes em
2002
Goiânia (GO)
hemodiálise
1.095
2,4%
29,8%
2003-2004
Goiânia (GO)
Adolescentes
664
0,5%
5,9%
2005
Goiânia (GO)
Dentistas
680
0
6,0%
852
1,0%
14,0%
Oliveira et al.
2006
Paiva et al.
2008
Ferreira et al.
2009
Usuários de drogas não
2005-2006
Centro-Oeste
Pereira et al.
2009
injetáveis
Inquérito de base
2004-2005
Centro-Oeste
populacional
3.152
0,47%
5,3%
-
Campo Grande (MS)
Indivíduos encarcerados
408
0,5%
17,9%
2008-2009
Sudoeste de Goiás
Primodoadores
984
0,3%
6,9%
Adolescentes
576
0,7%
5,0%
191
1,0%
27,7%
Stief et al.
2010
Anjos et al.
2011
Melo et al.
2011
Barra do Garças
2009
(MT)
Ramos et al.
2011
Pacientes com
2007-2009
Várzea Grande (MT)
Aires et al.
2012
hanseníase
Pacientes com
2008-2010
Goiânia (GO)
tuberculose
402
-
25,6%
2010
Campo Grande (MS)
Bombeiros
308
1,0%
6,5%
2007-2008
GO
Mulheres encarceradas
148
0,7%
18,9%
ContreraMoreno et al.
2012
Barros et al.
2013
N: nº de casos; HBsAg: antígeno de superfície do vírus da hepatite B; anti-HBc: anticorpo contra o antígeno
do core do vírus da hepatite B
8
No Mato Grosso do Sul, os estudos com menores prevalências para o HBV foram
realizados entre bombeiros (6,5%) e dentistas (10,8%) (Batista et al. 2006, ContreraMoreno et al. 2012). Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estudo conduzido entre 408
indivíduos encarcerados encontrou uma prevalência de 17,9% para o HBV, com 0,5% para
o HBsAg, demonstrando baixa prevalência de portadores crônicos do vírus. Em 24% dos
indivíduos, verificou-se positividade isolada ao marcador anti-HBs, sugerindo baixa
cobertura vacinal ao HBV. Os fatores de risco associados à infecção pelo HBV foram
aumento da idade (superior a 35 anos), baixo nível de escolaridade e uso de drogas ilícitas
(Stief et al. 2010). A maior prevalência para o HBV nesse estado foi observada em uma
comunidade afrodescendente, com prevalência de 42,7% para a exposição ao HBV e 9,2%
para o HBsAg (Motta-Castro et al. 2003).
No estado de Mato Grosso, a maior prevalência observada foi entre 191 pacientes
com hanseníase. Ramos et al. (2011) encontraram uma prevalência de 27,7% para o HBV,
com 1% de positividade para o HBsAg. A positividade de marcadores para o HBV esteve
associada a um maior número de parceiros sexuais e compartilhamento de seringas.
Em Goiás, estudos demonstraram variação da prevalência de infecção prévia pelo
HBV de 5,9% a 43,7%, com HBsAg de 0 a 9,2%, na dependência da população estudada
(Tavares et al. 2004, Oliveira et al. 2006, Paiva et al. 2008).
Na região sudoeste de Goiás, estudo realizado em 984 primodoadores encontrou
uma prevalência de 6,9% (IC 95%: 5,4-8,7) para o HBV por testes sorológicos, variando
de 3,6% a 11,6%, quando considerado os indivíduos classificados como aptos ou inaptos à
doação de acordo com a triagem epidemiológica, respectivamente. Variáveis como
antecedente de transfusão de sangue, presença de tatuagem ou piercing, uso de drogas
ilícitas, sexo com parceiro com hepatite e histórico de doenças sexualmente transmissíveis
(DST) foram independentemente associados com a positividade para o HBV (Anjos et al.
2011). Em doadores de sangue de Goiânia (GO), Martins et al. (1994) estimaram
prevalência para o anti-HBc de 14,7%, com 0,8% para o HBsAg (Martins et al. 1994).
Em 1990, estudo realizado por Martelli et al. encontrou uma prevalência de
exposição ao HBV de 12,8% em primodoadores e de 26,4% entre prisioneiros de Goiânia,
observando-se tendência crescente da soropositividade com a idade e maiores percentuais
de exposição a todos os fatores de risco na população carcerária comparada aos
primodoadores, a exceção do número de parceiros sexuais.
9
Entre profissionais de laboratório de Goiânia, foi observado um percentual de
soropositividade para expoisção ao HBV de 24,1% sendo que 0,7% destes foram positivos
para o HBsAg. Entre os fatores de risco analisados, trabalho direto com fluidos biológicos
e trabalho em serviços gerais representaram risco significativo para aquisição da infecção
pelo HBV (Silva et al. 2005).
Entre 402 pacientes com tuberculose em Goiânia (GO), estudo transversal realizado
entre abril de 2008 e março de 2010, encontrou uma prevalência de 25,6% para o HBV
(HBsAg e/ou anti-HBc positivo). Análise multivariada dos fatores de risco demonstrou que
idade igual ou superior a 50 anos e uso de drogas injetáveis ou não injetáveis estavam
associados à infecção pelo HBV (Aires et al. 2012).
Estudo realizado por Ferreira et al. (2006) com pacientes em hemodiálise, em
Goiânia (GO), demonstrou prevalência de 29,8% para o anti-HBc e 2,4% para o HBsAg,
que apesar de baixa comparada com outros estudos em pacientes em hemodiálise em
outras regiões brasileiras, é alta comparada a países desenvolvidos . No mesmo estudo,
análise de fatores de risco relacionados à infecção pelo HBV demonstrou que sexo
masculino, tempo prolongado de hemodiálise e transfusão de sangue anterior a 1993
estiveram associados à infecção.
A maior prevalência de exposição ao HBV em Goiás, nos estudos avaliados, foi
observada em hemofílicos (43,7%), sendo que os fatores de risco que se mostraram
associados à infecção foram: o número de episódios transfusionais e sorologia positiva
para o vírus da hepatite C (Tavares et al. 2004).
1.3. Infecção pelo vírus da hepatite C
1.3.1. Aspectos virológicos e imunológicos
Em 1989, Choo et al. detectaram e caracterizaram o genoma viral do vírus da
hepatite C (HCV). Pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Hepacivirus (Simmonds
et al. 1993; Simmonds et al. 1994), o HCV possui um diâmetro de aproximadamente 50nm
(Shimizu et al. 1996), é envelopado com um capsídeo icosaédrico e possui uma hélice
simples de RNA genômico com polaridade positiva contendo cerca de 9.600 nucleotídeos
(Tsukiyama-Kohara et al. 1992, Wang et al. 1993).
10
O genoma do HCV codifica uma poliproteína de cerca de 3000 aminoácidos (Zein
2000), que dá origem a proteínas estruturais (core, E1 e E2) e não-estruturais (NS2, NS3,
NS4A, NS4B, NS5A e NS5B), essenciais para o ciclo de vida do vírus. A proteína E2
contém um sítio de ligação para CD-81, um receptor expresso em hepatócitos e linfócitos
B, que age como receptor ou co-receptor para HCV (Boulant 2005).
Após a interação do envelope do vírus com a membrana da célula do hospedeiro, o
HCV entra na célula por endocitose e no citoplasma sofre tradução do RNA mensageiro e
processamento das poliproteínas; depois disto, seu RNA se replica, os novos “RNA”s
virais são empacotados e transportados até a superfície da célula hospedeira para saírem e
completar novo ciclo (Lindenbach & Rice 2005).
Estima-se que aproximadamente 15% dos indivíduos infectados pelo HCV o
eliminam espontaneamente, 25% têm doença leve, enquanto 60% evoluem para doença
crônica progressiva. A fibrose é a principal complicação da hepatite C crônica e estima-se
que 20% dos pacientes evoluem para cirrose, podendo evoluir para óbito em decorrência
das complicações da cirrose ou hepatocarcinoma (EASL 1999).
As amostras do HCV isoladas em todo mundo foram agrupadas em 6 genótipos,
classificados numericamente de 1 a 6 e nos seus subtipos (Simmonds et al. 1993;
Simmonds et al. 1994). A literatura indica que a distribuição dos genótipos se apresenta de
forma diferencial dependendo da região geográfica. No Brasil, os genótipos 1, 2 e 3 são os
mais frequentemente encontrados, com predominância do genótipo 1 na maioria dos
estados (Krug et al. 1996, De-Paris et al. 2000, Silva & Rossetti 2001). De 2007 a 2012, na
avaliação de 49.873 casos confirmados de hepatite C no Brasil, 66,7% eram do genótipo 1,
27,1% do genótipo 3 e 5,8% do genótipo 2 (MS 2012). A identificação dos genótipos é
clinicamente importante e os protocolos de tratamento preconizam a necessidade da
informação do genótipo para delinear a duração e o tipo de medicação a ser utilizada
(Simmonds et al. 2005).
O diagnóstico da HCV baseia-se em testes sorológicos (pesquisa de anticorpos antiHCV) e/ou moleculares (detectam, quantificam ou caracterizam componentes da partícula
viral), sendo os ensaios sorológicos imunoenzimáticos (ELISA) os mais utilizados
(Brandão et al. 2001). Atualmente, o diagnóstico molecular do HCV é bastante difundido e
inclui sua análise qualitativa, alcançada principalmente através da técnica de RT-PCR
(Transcrição Reversa - Reação em Cadeia de Polimerase) (Brandão et al. 2001, Lauer &
11
Walker 2001); e quantitativa, através da técnica de PCR “em tempo real” (real time PCR) e
DNA ramificado (branched DNA, b-DNA) (Gretch et al. 1995, Pawlotsky 2002).
1.3.2. Aspectos epidemiológicos
A Organização Mundial de Saúde estima que há aproximadamente 150 milhões de
pessoas com hepatite C em todo o mundo (WHO 2012). A transmissão do HCV ocorre
principalmente por via parenteral, sendo consideradas populações de risco aumentado para
a infecção pelo HCV: indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados
antes de 1993, usuários de drogas que compartilham os equipamentos de uso, pessoas com
tatuagem, piercings ou que apresentem outras formas de exposição percutânea. A
transmissão sexual é pouco frequente ocorrendo principalmente em pessoas com múltiplos
parceiros e com pratica sexual de risco (sem uso de preservativo), sendo que a coexistência
de alguma DST (incluindo o HIV) pode facilitar a transmissão. A transmissão vertical é
rara, mas sabe-se que gestantes com carga viral do HCV elevada ou gestantes coinfectadas
pelo HIV apresentam maior risco de transmissão da doença para os recém-nascidos (MS
2008).
Inquérito de base populacional, referente ao conjunto das capitais brasileiras (2005
e 2006), estimou que 1,3% a 1,9% dos adultos foram infectados pelo HCV. Outras
informações relevantes apontadas pelo inquérito dizem respeito à maior positividade para o
anti-HCV associada a situações de extrema pobreza e ao aumento da idade. Demonstrouse, ainda, que o uso de drogas injetáveis e inaladas e o uso de seringa de vidro em algum
momento da vida foram associados à infecção pelo HCV. Na região Centro-Oeste, o
inquérito encontrou uma prevalência de 1,3% para o anti-HCV, variando de 1,0 a 1,6 na
faixa etária de 10 a 19 e 20 a 69 anos, respectivamente (Pereira et al. 2013).
A fim de descrever a prevalência do HCV em populações distintas na região centrooeste, entre os anos de 1990 e 2013, foi conduzida busca eletrônica de artigos publicados
no portal BIREME (BVS) e na base de dados MEDLINE (PubMed). Na busca utilizou-se
os seguintes descritores: "HCV" OR "VHC" OR "hepatitis C" OR "hepatite C" AND
"Central-West" OR “Western” OR “Centro-Oeste” OR “Goiás” OR “Mato Grosso” AND
“Brazil” OR “Brasil”. Inicialmente, para verificar se os artigos atendiam ao interesse da
busca, os títulos de todos os estudos identificados foram avaliados. Em um segundo
12
momento, os resumos foram analisados. Os artigos que não apresentaram resultados de
soroprevalência do HCV na região de interesse foram excluídos. Na busca de referências
adicionais, foram checadas também as referências dos artigos obtidos. Os artigos
selecionados foram organizados na tabela 2, de acordo com referência bibliográfica, ano de
recrutamento dos indivíduos incluídos no estudo, local de condução do estudo, população,
número de participantes e soroprevalência do anti-HCV.
Tabela 2. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em estudos
conduzidos na região Centro-Oeste.
Recrutamento
Referência
(Ano)
Local
População
N
anti-HCV
Martins et al. 1994
1992-1993
Goiânia (GO)
Doadores de sangue
2.350
2,2%
Naghettini et al. 1997
1992-1993
Goiânia (GO)
Pacientes em hemodiálise
173
35,3%
Barbosa et al. 2005
2000
Goiânia (GO)
Pacientes com LES
175
2,3%
Orione et al. 2006
2001-2002
Cuiabá (MT)
Gestantes
1.607
0,4%
Pereira et al. 2006a
1999
Goiânia (GO)
Centro de Testagem Anônima
592
2,5%
Carneiro et al. 2007
-
GO
Pacientes em hemodiálise
1.095
15,4%
Botelho et al. 2008
2004
Goiânia (GO)
Transplantados renais
255
16,9%
Freitas et al., 2008
2003
Campo Grande (MS)
Pacientes em hemodiálise
163
11,0%
Reis et al., 2008
2002-2003
MS
Remanescentes de quilombos
1.007
0,2%
Costa et al. 2009
2004-2005
Goiânia (GO)
Gestantes
28.561
0,15%
Lopes et al. 2009
2005-2006
GO e MS
Usuários de drogas
691
6,9%
Novais et al. 2009
2007
Cuiabá (MT)
Usuários de drogas
314
6,4%
2005-2007
MS
Gestantes
115.386
0,11%
2009
MS
Indivíduos encarcerados
686
4,8%
Ramos et al. 2011
2007-2009
MT
Pacientes com hanseníase
191
2,6%
Reis et al. 2011
2008-2010
Goiânia (GO)
Pacientes com tuberculose
402
7,5%
Barros et al. 2013
2007-2008
GO
Mulheres encarceradas
148
6,1%
Pereira et al. 2013
2005-2006
Centro-Oeste
Inquérito de base populacional
3.702
1,3%
Pinto et al. 2011
Pompilio et al. 2011
N: nº de casos; anti-HCV: anticorpos contra o vírus da hepatite C; LES: Lupus Eritematoso Sistêmico.
13
Entre indivíduos encarcerados, Pompilio et al. (2011) e Barros et al. (2013)
observaram prevalências de 4,8% (Mato Grosso do Sul) e 6,1% (Goiás) para o anticorpo
anti-HCV. No estudo conduzido no Mato Grosso do Sul, os fatores associados à infecção
foram sexo masculino, usuários de drogas injetáveis, pessoas com tatuagem, indivíduos
com idade igual ou superior a 50 anos, indivíduos encarcerados múltiplas vezes, indivíduos
com histórico de DST, pessoas que receberam transfusão de sangue e pessoas com
HIV/AIDS. Em Goiás, entre as mulheres encarceradas, idade superior a 40 anos, uso de
drogas injetáveis e duração do encarceramento se mostraram associados à infecção pelo
HCV.
Dois estudos realizados com usuários de drogas ilícitas, um conduzido em Goiânia
(GO) e Campo Grande (MS) e outro conduzido em Cuiabá (MT), demonstraram
prevalências para o HCV de 6,9% e 6,4%, respectivamente. Ambos os estudos
encontraram associação da infecção pelo HCV com uso injetável de drogas. Outros fatores
como idade e encarceramento também foram associados à infecção (Lopes et al. 2009,
Novais et al. 2009).
Em Goiás, estudos demonstraram que a prevalência de infecção pelo HCV varia de
0,15% a 35,3%, de acordo com as características da população estudada (Naghettini et al.
1997, Costa et al. 2009).
A menor prevalência observada em Goiás ocorreu em estudo conduzido por Costa
et al. (2009) entre 28.561 gestantes, onde se evidenciou uma prevalência de infecção pelo
HCV de 0,15%, semelhante aos resultados encontrado por Orione et al (2006) e Pinto et al.
(2011) entre gestantes no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com prevalência de 0,4% e
0,11%, respectivamente. Os três estudos encontraram associação entre aumento da idade e
hepatite C.
Estimativas de prevalência para o HCV entre 2.350 doadores de sangue, em Goiás,
foram de 2,2%, com exposição parenteral prévia associada à infecção (Martins et al. 1994).
Entre 592 indivíduos que buscaram o centro de testagem e aconselhamento (CTA) de
Goiânia para testagem anônima para o HIV, a prevalência de anticorpos anti-HCV foi de
2,5%. O uso de drogas injetáveis e o encarceramento prévio se mostraram associados à
infecção pelo HCV.
Estudo transversal, com inclusão de 402 pacientes em tratamento para tuberculose
no hospital de referência para doenças infecciosas de Goiânia, encontrou uma prevalência
de 7,5% para o HCV, superior à encontrada no Mato Grosso, em estudo realizado com
14
inclusão de pacientes com hanseníase (2,6%) (Ramos et al. 2011, Reis et al. 2011). As
variáveis independentes associadas ao HCV foram idade, uso de drogas injetáveis e
situação frente ao HIV (Reis et al. 2011)
Botelho et al. (2008) demonstraram alta prevalência da infecção pelo HCV (16,9%)
entre transplantados renais de Goiânia (GO). Houve associação da positividade para HCV
com fatores de risco como história de transfusão de sangue sem rastreamento anti-HCV,
tempo de hemodiálise e transplante renal antes de 1994, enfatizando a importância de
estratégias de saúde pública como o rastreamento de anti-HCV entre candidatos à doação
de órgãos e sangue.
Entre pacientes em hemodiálise em Goiás, Naghettini et al. (1997) e Carneiro et al.
(2007) observaram altas prevalências para o HCV: 26,0% e 15,4%, respectivamente. Nessa
população, o tempo de hemodiálise e o histórico de transfusões de sangue sem triagem
para o anti-HCV apresentaram correlação positiva com a infecção pelo HCV.
1.4. Coinfecção pelo HIV, HBV e HCV: aspectos imunopatológicos e epidemiológicos
O HBV, o HCV e o HIV, compartilham as mesmas vias de transmissão, assim,
infecções concomitantes por esses vírus são frequentes, sobretudo entre os indivíduos com
antecedentes de exposição parenteral a material biológico. A coinfecção pelo HIV e HCV
e/ou HBV é comum em certas populações, como usuários de drogas injetáveis, que
usualmente compartilham agulhas e seringas ao injetar a droga. Segundo alguns estudos, a
prevalência da coinfecção HIV/HCV entre usuários de drogas injetáveis pode superar 90%
(Maier & Wu 2002, Aceijas & Rhodes 2007). Além disso, são descritas taxas de
coinfecção HIV/HBV de 10 a 20% em países com endemicidade intermediária e alta para o
HBV (Thio 2009). Já em países desenvolvidos, a prevalência de hepatite viral múltipla nos
pacientes HIV positivos é menor que 3%, porém maior quando comparados com a
população geral (Rockstroh 2006).
Essas coinfecções têm interações uni ou bidirecionais que podem alterar a clínica
resultante de cada infecção. Pacientes portadores da infecção HBV/HCV parecem ter uma
inibição recíproca da replicação viral, com um dos vírus se sobrepondo sobre o outro.
Porém, este predomínio pode mudar, intercalando o domínio de um vírus sobre o outro.
Entretanto, nos pacientes com imunossupressão severa, a replicação de todos os vírus pode
15
ocorrer simultaneamente. Mas nos pacientes HIV soropositivos com bom status imune, a
interferência parece favorecer o HCV em detrimento do HBV (Sulkowski & Thomas 2003,
Rockstroh 2006).
A progressão da doença hepática parece ser mais acelerada nos pacientes HIV
soropositivos duplamente infectados com HBV e HCV. Além disso, estes indivíduos são
mais propensos a desenvolver hepatocarcinoma (Cooper et al. 2006). Em relação ao HBV,
a infecção crônica ocorre em 5 a 10% dos indivíduos infectados pelo HIV, ou seja, uma
proporção dez vezes superior à observada na população geral (Alter 2006).
Tem sido observado aumento da incidência de complicações crônicas decorrentes
das hepatites virais na população HIV soropositiva, o que difere do observado com
doenças oportunistas, o que se explica pelo aumento da sobrevida dos infectados pelo HIV
a partir da utilização dos antirretrovirais. A utilização da TARV propiciou tempo para que
o HBV e o HCV demonstrassem sua morbidade e letalidade entre os coinfectados. Nos
pacientes coinfectados ocorre aceleração do acometimento hepático, observam-se piores
taxas de resposta ao tratamento das hepatites e interações entre os medicamentos para o
HIV e o HCV potencialmente graves, além de índices maiores de recidiva. Além disso, a
recuperação imunológica, após o início TARV, parece ser reduzida nos pacientes
coinfectados. Outro fato de preocupação é o risco de toxicidade hepática dos
antirretrovirais nos coinfectados (Cooper et al. 2006, MS 2008).
Logo, a infecção pelo HIV parece estar associada a um maior risco de cronificação
da hepatite B e C, menores taxas de eliminação viral, maior risco de cirrose, incidência
mais elevada de carcinoma hepatocelular e progressão mais precoce para a falência
hepática e, como consequência, essas infecções têm emergido como causa de
morbimortalidade na população infectada pelo HIV (Soriano et al. 2011).
Apesar das evidências apresentadas, trata-se de um assunto controverso, uma vez
que outros estudos, como o conduzido por Carmo et al. (2008), revelaram que o HCV
estava associado com uma menor recuperação na contagem de linfócitos T CD4+, mas não
com novas doenças oportunistas ou morte relacionadas à AIDS, ou com a supressão da
carga viral do HIV após o início da TARV. Estes resultados indicam que apesar da
associação com a menor recuperação das células CD4+ no organismo, o HCV não afeta a
morbidade e mortalidade relacionadas à AIDS ou a resposta viral ao início da TARV.
No Brasil, com base em dados de notificação do Ministério da Saúde (2011a), a
proporção de casos nos quais foi referida a presença da infecção pelo HBV em indivíduos
16
infectados pelo HIV foi de 5,4%. Em relação ao HCV, a coinfecção com o HIV foi referida
em 11,4% do total de casos confirmados entre os anos de 2007 e 2010, proporção quase
duas vezes maior que a da coinfecção do HIV com o vírus da hepatite B. A prevalência das
coinfecções varia conforme distribuição geográfica e fatores de risco para aquisição das
infecções.
Com o objetivo de obter estimativas de prevalências do HBV e do HCV em
diferentes populações de indivíduos HIV soropositivos no Brasil, entre os anos de 2000 e
2012, foi conduzida busca eletrônica de artigos publicados no portal BIREME (BVS) e na
base de dados MEDLINE (PubMed) para identificar estudos relevantes. O processo de
busca utilizou os seguintes descritores: "HBV" OR "VHB" OR "hepatitis B" OR "hepatite
B" OR "HCV" OR "VHC" OR "hepatitis C" OR "hepatite C" AND “HIV” AND “Brazil”
OR “Brasil”. Para verificar se os artigos atendiam ao interesse da busca, os títulos de todos
os estudos identificados foram avaliados. Em um segundo momento, os resumos foram
analisados. Os artigos que não apresentaram resultados de soroprevalência da coinfecção
HBV/HIV ou HCV/HIV no Brasil foram excluídos. Na busca de referências adicionais,
foram checadas também as referências dos artigos obtidos. Os artigos selecionados foram
organizados na tabela 3 e 4, de acordo com autores, ano de publicação, local de condução
do estudo, população, número de participantes e soroprevalência HBsAg/HIV e HBV/HIV
ou anti-HCV/HIV.
A
prevalência
de
coinfecção
HBV/HCV/HIV
varia
amplamente,
predominantemente na dependência da categoria de exposição dos indivíduos HIV
soropositivos. No Brasil, diversos estudos conduzidos em populações de indivíduos HIV
soropositivos estimaram a prevalência da coinfecção pelo HBV (tabela 3) ou pelo HCV
(tabela 4), mas poucos estudos determinaram a coinfecção HBV/HCV nessas populações.
De acordo com os estudos analisados, a soroprevalência das hepatites B e C em
indivíduos soropositivos para o HIV varia de 37,2% (Morimoto et al. 2004) a 55,1%
(Marchesini et al. 2007) para a exposição ao HBV, de 2,3% (Tornatore et al. 2012) a
27,3% (Marchesini et al. 2007) para o HBsAg e de 3,3% (Santos et al. 2008) a 82,4%
(Marchesini et al. 2007) para o HCV. Entre estes, as maiores prevalências encontradas são
de um estudo conduzido por Marchesini et al. (2007) entre 205 indivíduos HIV positivos
usuários de drogas injetáveis no estado de São Paulo.
17
Tabela 3. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em indivíduos
vivendo com HIV/AIDS em estudos conduzidos no Brasil.
Recrutamento
Referência
(Ano)
Local
N
HBsAg/HIV
HBV/HIV
Mendes-Corrêa et al., 2000
1996
São Paulo (SP)
1.693
5,7%
38,6%
1992-1995
Campinas (SP)
232
5,3%
44,0%
-
Belém (PA)
406
7,9%
51,0%
2002
Ribeirão Preto (SP)
401
8,5%
40,9%
Morimoto et al., 2005
2001-2002
Londrina (PR)
758
-
37,2%
Braga et al., 2006
1998-2003
Amazônia
704
6,4%
40,2%
2004
Cuiabá (MT)
1.000
3,7%
40,0%
-
Porto Alegre (RS)
306
4,6%
38,5%
2003
São Paulo (SP)
205a
27,3%
55,1%
Zago et al., 2007
1993-2004
Vitória (ES)
851
3,8%
-
Silva et al., 2010
2006-2007
São Paulo (SP)
2.412
4.9%
-
Mendes-Corrêa et al., 2011
1994-2007
São Paulo (SP)
3.259
4,7%
-
Tornatore et al., 2012
2006-2008
RS
130b
2,3%
-
Travassos et al., 2012
2010-2011
Salvador (BA)
63b
3,2%
-
Pavan et al., 2003
Monteiro et al., 2004
Souza et al., 2004
Pereira et al., 2006b
Tovo et al., 2006
Marchesini et al., 2007
N: nº de casos; HBsAg: antígeno de superfície do vírus da hepatite B; a: Usuários de drogas injetáveis;
b
:Gestantes.
Estudos realizados na região sudeste, demonstraram variação de 38,6% (MendesCorrêa et al. 2000) a 44,0% (Pavan et al. 2003) para o HBV, sendo que a prevalência do
HBsAg variou de 3,8% (Zago et al. 2007) a 8,5% (Souza et al. 2004). Em Ribeirão Preto
(SP), Souza et al. (2004) relataram idade, nível superior de escolaridade, antecedente de
icterícia, tempo superior a 6 meses em presídios, relação sexual com homossexuais e
positividade para a hepatite C como sendo associados à infecção pelo HBV. Já em Vitória
(ES), Zago et al. (2007) demonstraram associação com uso de drogas injetáveis e sexo
masculino. Já para o anti-HCV, as prevalências variaram de 9,2% (Carmo et al. 2008) a
53,8% (Pavan et al. 2003). Segurado et al. (2004) encontrou associação entre uso de drogas
injetáveis e exposição ao HCV em estudo realizado em Santos (SP).
18
Tabela 4. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em indivíduos
vivendo com HIV/AIDS em estudos conduzidos no Brasil.
Recrutamento
Referência
(Ano)
Local
N
HCV/HIV
Mendes-Corrêa et al., 2000
1996
São Paulo (SP)
1.457
17,7%
1992-1995
Campinas (SP)
232
53,8%
Monteiro et al., 2004
-
Belém (PA)
406
16,0%
Segurado et al., 2004
1997-1998
Santos (SP)
495
36,2%
Morimoto et al., 2005
2001-2002
Londrina (PR)
758
21,0%
Braga et al., 2006
1998-2003
Amazônia
704
5,0%
Tovo et al., 2006
-
Porto Alegre (RS)
330
38,2%
Marchesini et al., 2007
2003
São Paulo (SP)
205a
82,4%
Mussi et al., 2007
2004
Mato Grosso (MT)
1.008
10,9%
Carmo et al., 2008
1996-2001
Belo Horizonte (MG)
824
9,2%
Santos et al., 2008
2005
Maceió (AL)
299
3,3%
Carvalho et al., 2009
2003
Recife (PE)
343
4,1%
Mendes-Corrêa et al., 2010
2005-2007
SP
2.024
16,7%
Victoria et al., 2010
2000-2007
Manaus (AM)
1.582
4,4%
Wolff et al., 2010
1996-2006
Porto Alegre (RS)
1.143
31,2%
Oliveira-Filho et al., 2012
2006-2008
PI
768
6,8%
Tornatore et al., 2012
2006-2008
RS
130b
10,8%
Travassos et al., 2012
2010-2011
Salvador (BA)
63b
8,1%
Pavan et al., 2003
N: nº de casos; a: Usuários de drogas injetáveis; b: Gestantes.
Na região sul, os estudos demonstraram prevalências de 37,2% (Morimoto et al.
2005) e 38,5% (Tovo et al. 2006) para o HBV, de 2,3% (Tornatore et al. 2012) e 4,6%
(Tovo et al. 2006) para o HBsAg e variação de 10,8% (Tornatore et al. 2012) a 38,2%
(Tovo et al. 2006) para o HCV. As menores prevalências apresentadas são relativas ao
estudo de Tornatore et al. (2012), realizado entre gestantes HIV positivas do Rio Grande
do Sul. Na avaliação de fatores associados às infecções, Tovo et al. (2006) encontrou
19
associação entre relacionamento homossexual masculino e HBV e uso de drogas injetáveis
e HCV.
Na região Norte, dois estudos relacionados ao HIV observaram prevalência de
40,2% (Braga et al. 2006) e 51,0% (Monteiro et al. 2004) para o HBV e 6,4% (Braga et al.
2006) e 7,9% (Monteiro et al. 2004) para o HBsAg. Idade, estado civil (solteiro), opção
sexual (homo/bissexualismo), local de nascimento em áreas hiperendêmicas da Amazônia,
sexo masculino e uso de drogas ilícitas mostraram-se associados à exposição ao HBV
(Braga et al. 2006, Monteiro et al. 2004). Para o HCV, três estudos demonstraram
prevalência de 4,4%, 5,0% e 16,0%, com associação da infecção à idade (> 50 anos),
transfusão de sangue e uso de drogas injetáveis (Victória et al. 2010, Braga et al. 2006,
Monteiro et al. 2004).
No Nordeste, estudo realizado em Salvador (BA) por Travassos et al. (2012) com
inclusão de gestantes HIV positivas encontrou 3,2% de indivíduos com positividade para o
HBsAg e 8,1% para o anti-HCV. Em Maceió (AL), 3,3% dos indivíduos estavam
infectados pelo HCV, com associação de antecedentes de hepatite/icterícia e uso de
tatuagem/piercing à infecção (Santos et al. 2008). Em Recife (PE), a prevalência de 4,1%
para hepatite C se mostrou associada à transfusão de sangue (Carvalho et al. 2009). No
Piauí, o uso de drogas ilícitas e transfusão de sangue anterior a 1994 revelaram-se
associados à infecção pelo HCV em 6,8% de indivíduos infectados (Oliveira-Filho et al.
2012).
A frequência de coinfectados pelo HBV e/ou HCV entre indivíduos HIV positivos
ainda é pouco estudada na região Centro-Oeste do Brasil. Apenas dois estudos com
exclusiva inclusão de indivíduos HIV positivos, foram realizados na região Centro-Oeste.
Pereira et al. (2006) avaliaram 1.000 indivíduos HIV positivos em Cuiabá (MT) em relação
à infecção pelo HBV, observando prevalência de 40,0% para exposição ao HBV e 3,7%
para o HBsAg, com associação da infecção ao sexo masculino, idade mais elevada,
tatuagem e mais de 10 parceiros sexuais. Em relação à hepatite C, no mesmo estado (MT),
Mussi et al. (2007) encontraram 10,9% de soroprevalência para o anti-HCV em 1.008
indivíduos avaliados, com associação ao uso de drogas injetáveis, presença de tatuagens e
transfusão de sangue anterior a 1994.
Em Goiás, alguns estudos, realizados em populações com outras características,
estimaram entre a população envolvida no estudo, uma subpopulação de indivíduos HIV
soropositivos e, a partir dessa subpopulação, estimou-se a prevalência da coinfecção
20
HBV/HIV ou HCV/HIV. Em estudo com pacientes com tuberculose em Goiânia, 27,6%
(111) dos indivíduos estavam infectados pelo HIV e destes, 36,9% estavam coinfectados
pelo HBV (Aires et al. 2012) e 18,0% pelo HCV (Reis et al. 2011).
Estudo conduzido em gestantes evidenciou uma prevalência de infecção pelo HCV
de 0,15%, e de HIV de 0,09%. Entre as gestantes HIV positivas, a prevalência de
coinfectadas pelo HCV foi de 7,4% (Costa et al. 2009). Já entre indivíduos atendidos no
centro de testagem e aconselhamento (CTA) de Goiânia, 3,2% (19) estavam infectados
pelo HIV e destes, 42,0% estavam coinfectados pelo HCV.
Em relação à coinfecção pelos vírus da hepatite B e C, simultaneamente, em
indivíduos infectados pelo HIV, estudo conduzido em Presidente Prudente (SP) entre 1.228
indivíduos, que passaram por uma clínica de infectologia, estimou que 16,1% dos
indivíduos HIV positivos (303) estavam coinfectados pelo HCV, 1,6% pelo HBV e 0,3%
por ambos os vírus (Portelinha-Filho et al. 2009). Estudos prévios conduzidos entre
pacientes vivendo com HIV em São Paulo, mostraram prevalências de coinfectados
variando de 1,8% (Mendes-Corrêa et al. 2000) a 20,4% (Souza et al. 2004). Essa ampla
variação deve-se, provavelmente às diferentes proporções de usuários de drogas injetáveis
nas populações estudadas. Até o momento não foram publicados estudos em Goiás com
dados da coinfecção HBV/HCV entre indivíduos HIV positivos.
21
2. JUSTIFICATIVA
Os vírus das hepatites B e C são responsáveis pelas infecções crônicas virais mais
comuns em todo o mundo. Esses vírus são os principais responsáveis por insuficiência
hepática crônica e pelo desenvolvimento de hepatocarcinoma, na população geral (Cooper
et al. 2006). Sabe-se que a prevalência do HBV e do HCV é maior entre indivíduos
infectados pelo HIV do que em doadores de sangue ou na população geral, devido às vias
comuns de transmissão desses vírus. Estudos indicam que as coinfecções HBV/HIV e
HCV/HIV parecem estar associadas a um pior prognóstico do paciente em relação à
doença hepática (Sulkowski & Thomas 2003, Alter et al. 2006, Cooper et al. 2006, Carmo
et al. 2008). Considerando a importância clínico-epidemiológica, desses vírus, no cenário
mundial e brasileiro, e que são ainda escassos os estudos conduzidos na região centro-oeste
avaliando a presença da infecção pelos vírus HBV e HCV, entre indivíduos HIV
soropositivos (Pereira et al. 2006, Mussi et al. 2007), é de fundamental importância
investigar a prevalência da coinfecção HIV e HCV e/ou HBV em Goiás. O presente estudo
justifica-se pela necessidade de delinear o perfil clínico-epidemiológico e imunológico dos
pacientes infectados pelo HIV, HBV e HCV, contribuindo para o conhecimento sobre a
distribuição e os fatores associados à coinfecção por esses vírus, com vistas à subsidiar
estratégias de prevenção em Goiás.
22
3. OBJETIVOS
O objetivo geral deste projeto é estimar a magnitude da coinfecção pelo HBV e
HCV entre os indivíduos vivendo com HIV/AIDS e investigar os fatores associados à
coinfecção.
Assim, os objetivos específicos são:
1.
Estimar a prevalência de marcadores sorológicos e moleculares para
HBV entre pacientes HIV-1 soropositivos;
2.
Estimar a prevalência de marcadores sorológicos e moleculares para
HCV entre pacientes HIV-1 soropositivos;
3.
Determinar os genótipos do HCV na população estudada;
4.
Investigar fatores associados à infecção pelo HBV ou HCV em
pacientes HIV-1 soropositivos, atendidos na rede pública em GoiâniaGoiás.
23
4. MÉTODOS
4.1. Delineamento: Estudo transversal
4.2. População e local de recrutamento
Foram recrutados pacientes com idade entre 18 anos e 70 anos, HIV soropositivos,
sequencialmente atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás e que realizaram pelo menos
um exame laboratorial no Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT)
Cândido José Santiago de Moura, em Goiânia, de 14 de março a 27 de maio de 2011 (12
semanas). Foram excluídos pacientes analfabetos ou incapazes de assinar termo de
consentimento.
O CRDT é a unidade de referência, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia e integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a coleta de exames de
acompanhamento para pacientes HIV soropositivos que residem em Goiânia. Pacientes
portadores do HIV/AIDS em Goiás são acompanhados nos ambulatórios de infectologia do
Hospital de Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás e no serviço de assistência especializada do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), e são encaminhados ao CRDT (indivíduos que
residem em Goiânia) e ao Laboratório Central de Goiás (LACEN-GO) (indivíduos que
residem em cidades do interior do Estado) com pedido de exame para realizar coleta de
material biológico para exames de acompanhamento (a cada quatro meses). Alguns exames
são realizados no próprio laboratório do CRDT, outros, como carga viral do HIV e
contagem de linfócitos T CD4 e CD8, além de exames de biologia molecular para hepatites
virais, têm amostras colhidas no CRDT e são encaminhados ao LACEN-GO, unidade de
referência laboratorial em saúde pública da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para
que as técnicas laboratoriais sejam executadas.
4.2.1. Parâmetros para o calculo amostral
O tamanho da amostra foi estabelecido levando-se em conta as estimativas de
prevalência de coinfecção pelos vírus HIV, HBV e HCV, no Brasil. Estudos conduzidos
entre pacientes HIV soropositivos, em diferentes regiões brasileiras, mostraram
24
prevalências de coinfecção pelos três vírus variando de 1,8% (Mendes-Corrêa et al. 2000)
a 20,4% (Souza et al. 2004).
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado para detectar prevalências iguais ou
superiores a 2,0% de exposição para o HBV (anti-HBc) e HCV (anti-HCV) entre pacientes
HIV positivos, com precisão de 1,0% e nível de confiabilidade de 95%. Desta forma,
estimou-se que seria necessário recrutar 450 indivíduos.
4.3. Investigação de fatores de risco
Após a obtenção do consentimento livre e esclarecido (Anexo 3), uma entrevista
padronizada, foi aplicada a todos os participantes do estudo, pela equipe de trabalho do
projeto, previamente treinada. As entrevistas foram feitas em local reservado e de forma
individual. Foram investigadas algumas características sócio-demográficas (sexo, idade,
procedência e tempo de moradia em Goiânia, estado civil e escolaridade), antecedentes de
exposição parenteral a material biológico (transfusão de sangue, tatuagem, uso de drogas
injetáveis, relação sexual com UDI, opção sexual, histórico de DST), provável via de
exposição ao HIV, tempo de diagnóstico do HIV, uso e tempo de tratamento com TARV.
O questionário utilizado encontra-se no anexo 4.
Foi realizada revisão de prontuários de todos os indivíduos no HDT/HAA e HCUFG para investigação da data de diagnóstico da infecção pelo HIV, data de início da
terapia antirretroviral, valores da contagem de células T CD4 e da quantificação da carga
viral do HIV-1 do dia da coleta das amostras para a pesquisa. A quantificação da carga
viral do HIV e a contagem de linfócitos T CD4+ foram realizadas nas amostras de todos os
indivíduos pela técnica de amplificação de ácidos nucleicos (b-DNA) e citometria de fluxo,
respectivamente, no LACEN-GO. Valores de carga viral inferiores a 50 cópias/ mL foram
considerados como indetectáveis por esse método.
4.4. Coleta de material biológico e testes laboratoriais
Foi realizada coleta de sangue venoso, em tubos sem anticoagulante para obtenção
de soro e com anticoagulante EDTA para obtenção de plasma e buffy coat, de todos os
25
indivíduos incluídos no estudo. As amostras coletadas e devidamente separadas foram
armazenadas em freezer com temperatura de -20ºC durante o projeto e foram testadas para:
a) determinações sorológicas por ensaios imunoenzimáticos (com kits comerciais)
de marcadores para a infecção pelo vírus da hepatite B (HBsAg/ Anti-HBc ELISA) de todos os indivíduos incluídos no estudo;
b) pesquisa do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da Hepatite B
(anti-HBs) por método imunoenzimático (ELISA – kit comercial), em todas as
amostras positivas para o anti-HBc.
c) detecção do HBV DNA (PCR – Real Time) de todas as amostras de indivíduos
HBsAg positivos;
d) determinações sorológicas por ensaios imunoenzimáticos do anticorpo antiHCV (ELISA – kit comercial) de todos os indivíduos incluídos no estudo;
e) quantificação da carga viral do HCV (PCR - Real Time) de todas as amostras de
indivíduos anti-HCV positivos;
f) genotipagem e subtipagem do HCV (PCR – Real Time) das amostras de
indivíduos que apresentaram HCV RNA detectável;
g) dosagem sérica das aminotransferases ALT (alanina aminotransferase) e AST
(aspartato aminotransferase) para avaliação da função hepática de todos os
indivíduos.
O fluxograma representativo dos exames laboratoriais realizados no estudo está
representado na Figura 1.
4.4.1. Testes sorológicos
Os testes sorológicos foram realizados no Laboratório de Imunologia da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).
As amostras HIV positivas, incluídas no grupo de estudo, foram testadas
sorológicamente com kits comerciais para as seguintes patologias: hepatite B (HBsAg/
Anti-HBc – ELISA de 3ª geração) e hepatite C (anti-HCV ELISA de 3ª geração). As
amostras positivas para o anti-HBc foram testadas sorológicamente com kit comercial para
Anti-HBs (ELISA de 3ª geração). Todos os testes propostos para sorologia foram
executados conforme instruções do fabricante. Amostras com valores em torno de 10% do
26
valor do cut-off foram repetidas em duplicata e deixando de ter valor duvidoso
(indeterminado), foram consideradas positivas.
Figura 1. Fluxograma de exames laboratoriais previstos na metodologia do estudo.
Indivíduos vivendo com HIV/AIDS
CRDT
(495 indivíduos adultos)
Carga viral HIV
(b-DNA)
Exames
laboratoriais
Revisão de
prontuários
Contagem de
linfócitos T CD4+
(Citometria de Fluxo)
HBV
Reagente
HBV DNA (PCR Real - Time)
ELISA HBsAg
Reagente
ELISA Anti-HBs
ELISA Anti-HBc
HCV
Outros
ELISA
anti-HCV
Reagente
HCV RNA
(PCR Real-Time)
Genotipagem/
subtipagem do HCV
(PCR Real - Time)
Dosagem de aminotransferases (AST e ALT)
Legenda: CRDT: Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia (GO); HBV: Vírus da Hepatite B; HBsAg: Antígeno
de superfície do vírus da hepatite B; Anti-HBc total: anticorpo contra o antígeno do core do vírus da hepatite B; Anti-HBs: anticorpo
contra antígeno de superfície do vírus da hepatite B; ELISA: Ensaio imunoenzimático; HCV: Vírus da Hepatite C; anti-HCV: anticorpo
contra o vírus da hepatite C; PCR: Reação em cadeia da polimerase; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase.
27
Estes ensaios foram realizados com os kits dos seguintes fabricantes: HBsAg
(Wiener lab. e Interkit); anti-HBc (Interkit); anti-HCV (Wiener lab. e Bioeasy) e anti-HBs
(Symbiosys). Para leitura dos resultados utilizou-se a leitora de ELISA da Organom
Teknika (Microwell System Reader 230).
4.4.1.1. ELISA HBsAg
O ELISA de terceira geração para determinação do HBsAg (Wiener lab. e Interkit)
é um teste qualitativo de fase sólida, pelo método de sanduíche, para detecção do antígeno
de superfície do vírus da hepatite B. A microplaca está impregnada com anticorpo
monoclonal específico aos vários sub-tipos do HBsAg. Durante o teste, as amostras de soro
dos pacientes e o conjugado enzimático (contendo anticorpos anti-HBs marcados com
peroxidase) são adicionados às cavidades da placa sensibilizada com anticorpos. No kit da
Wiener lab. esse procedimento ocorre em duas etapas, já no kit da Interkit ocorre em etapa
única (coloca-se amostra e conjugado ao mesmo tempo). Após incubação, se a amostra
contiver HBsAg, estes se ligarão aos anticorpos fixados na placa. Após a incubação inicial
a microplaca é lavada para remoção de todo material não ligado. Os substratos peróxido de
hidrogênio e tetrametilbenzidina (TMB) são adicionados e a placa é novamente incubada,
produzindo uma cor azul indicando a presença de HBsAg na amostra. A adição de uma
solução de ácido sulfúrico paralisa a reação e produz uma cor amarela. A intensidade de
cor formada é proporcional à concentração de HBsAg presente na amostra. Os resultados
são lidos em leitoras de microplacas em 450/620-650 nm (Wiener Lab.) e 450/630-700 nm
(Interkit) ou 450 nm.
4.4.1.2. ELISA anti-HBc
O kit anti-HBc ELISA (Interkit) é um teste qualitativo de fase sólida, pelo método
indireto, para detecção de anticorpos anti-HBc IgG em soro ou plasma humano. A
microplaca está impregnada com antígeno recombinante do core do HBV. No início do
teste, o diluente de amostras e as amostras são adicionados às cavidades e é feita a
incubação. Se a amostra contiver anti-HBc, estes irão se ligar ao antígeno da microplaca e
formar o complexo imobilizado Antígeno/Anticorpo anti-HBc. Caso a amostra não
contenha anti-HBc o complexo não será formado. Após a incubação inicial, a microplaca é
28
lavada para a remoção de todo o material não ligado. A enzima-conjugado anti-anticorpo
IgG humano é adicionada na microplaca e então incubada. Esta irá então se ligar ao
complexo antígeno/anticorpo anti-HBc presente. Após a segunda incubação, a microplaca
é lavada para a remoção de todo o material não ligado. Adiciona-se o peróxido de
hidrogênio e o TMB e é feita uma nova incubação, produzindo uma cor azul, que indica a
quantidade de anti-HBc na placa. A adição de uma solução de ácido sulfúrico paralisa a
reação e produz uma cor amarela. A intensidade de cor formada é proporcional à
concentração de anti-HBc IgG na amostra. Os resultados são lidos em leitoras de
microplacas em 450/630-700nm ou 450nm.
4.4.1.3. ELISA anti-HBs
O ensaio para detecção do anti-HBs (Symbiosys) é baseado na técnica de ELISA
para a determinação quantitativa do anti-HBs em soro ou plasma humano. Nas cavidades
das microplacas sensibilizadas com antígeno HBsAg recombinante, adicionam-se as
amostras juntamente com um segundo antígeno HBsAg conjugado com peroxidase.
Durante a incubação, o anti-HBs eventualmente presente na amostra liga-se aos antígenos
conjugados com a enzima formando um imunocomplexo específico, o qual é capturado
pelos antígenos de fase sólida. Após aspiração e lavagem, outros compostos não ligados
são removidos. A atividade enzimática fixada na fase sólida, agindo com a solução
cromógeno-substrato, gera um sinal óptico que é proporcional à quantidade de anti-HBs
presente na amostra. A intensidade de cor desenvolvida é medida por meio de leitura
espectrofotométrica a 450 e 405 nm com referência em 620/630 nm. Amostras com
concentrações de anti-HBs menores que 10 mUI/mL são consideradas negativas para antiHBs.
4.4.1.4. ELISA anti-HCV
O HCV ELISA (Wiener Lab. e Bioeasy) é um ensaio imunoenzimático qualitativo
indireto em fase sólida para a detecção do anticorpo IgG do HCV em soro ou plasma. A
microplaca é revestida com antígenos recombinantes de HCV. Durante o teste as amostras
diluídas são adicionadas à placa revestida com antígeno e incubados. A amostra contendo
anticorpos do HCV se ligará aos antígenos que estão revestidos na placa imobilizando o
29
complexo antígeno/ anti-HCV. Se a amostra não contém anticorpos do HCV, não formará
os complexos. Após a incubação a microplaca será lavada para retirar o excesso de
material que não se ligou. O conjugado enzimático do anticorpo IgG anti-humano se ligará
aos antígenos revestidos na microplaca. Após a segunda incubação a microplaca será
lavada para retirar o excesso de material que não se ligou. O substrato A e substrato B são
adicionados para produzir uma cor azul indicando a quantidade de anticorpos do HCV
presentes na amostra. A solução de ácido sulfúrico é adicionada á placa para parar a reação
produzindo uma mudança de cor na reação de azul para amarelo. A intensidade da cor será
proporcional á quantidade de anticorpos do HCV presentes na amostra, a leitura é feita em
leitoras de microplaca em filtro de 450/630-700 nm ou 450 nm.
4.4.2. Testes moleculares
Os testes moleculares previstos no projeto foram terceirizados e executados pelo
Centro de Genomas, laboratório de referência em medicina molecular e genética avançada
para o diagnóstico e monitoramento de doenças infecciosas, localizado na cidade de São
Paulo.
4.4.2.1. PCR qualitativo do HBV (PCR Real-Time)
O PCR qualitativo para o DNA do HBV foi realizado nas amostras de plasma
(EDTA) dos indivíduos que apresentaram sorologia positiva pelo ELISA HBsAg, pela
metodologia de PCR em tempo real (PCR Real-Time), desenvolvido pelo departamento
PDI do Centro de Genomas com o sistema de reagentes TaqMan.
Este é o teste utilizado para o monitoramento do tratamento da hepatite B e
diagnóstico de replicação viral em pessoas cronicamente infectadas (MS 2008). A
sensibilidade do kit varia em torno de 50 UI/mL.
4.4.2.2. Carga viral do HCV (PCR Real-Time)
30
A carga viral para o RNA do HCV ou PCR quantitativo para o HCV foi realizada
nas amostras de plasma (EDTA) dos indivíduos com anti-HCV positivo pelo ELISA. A
metodologia empregada foi o RT-PCR quantitativo em tempo real (PCR Real-Time),
método desenvolvido pelo departamento de PDI do Centro de Genomas com o sistema de
reagentes TaqMan.
Este é o teste utilizado para o monitoramento do tratamento da hepatite C e
recomendado para confirmação da infecção pela hepatite C em pessoas com sorologia
positiva para o HCV (MS 2008). A sensibilidade do teste varia em torno de 25 UI/mL.
4.4.2.3. Genotipagem e subtipagem do HCV
A genotipagem e a subtipagem do HCV foram executadas nas amostras de plasma
(EDTA) com HCV RNA detectável, pela metodologia de PCR em tempo real (PCR RealTime).
A genotipagem do vírus da hepatite C é utilizada como parâmetro auxiliar no
prognóstico e indicação do tratamento (Chevaliez & Pawlotsky 2007). No Centro de
genomas, em agosto de 2012, a metodologia passou de sequenciamento para PCR em
tempo real e a subtipagem passou a ser realizada apenas para o genótipo 1 (subtipos 1a e
1b). No genótipo 1, a confiança da subtipagem 1a ou 1b só é alcançada se a análise for
realizada na região NS5b, como ocorre nesse procedimento. Esta técnica é limitada pelo
fato de que cargas virais muito baixas podem não ser amplificadas pela RT-PCR e, desta
forma, não podem ser genotipadas.
4.4.3. Dosagem de aminotransferases
Os testes bioquímicos foram realizados no Laboratório da Área de Saúde (LAS) da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).
As amostras HIV positivas, incluídas no grupo de estudo, foram testadas com kits
comerciais para as aminotransferases: ALT/TGP (Liquiform Labtest) e AST/TGO
(Liquiform Labtest). Os testes bioquímicos propostos (kits comerciais) foram executados
conforme instruções do fabricante. Para leitura dos resultados utilizou-se os equipamentos
BTS 310 e Bioplus 2000.
31
4.4.3.1. Dosagem de ALT
A ALT catalisa especificamente a transferência do grupo amina da alanina para o
cetoglutarato, com formação de glutamato e piruvato. O piruvato é reduzido à lactato por
ação da lactato desidrogenase (LDH) enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD.
A redução da absorvância em 340 ou 365 nm, consequente à oxidação na NADH, é
monitorada fotometricamente sendo diretamente proporcional à atividade da ALT na
amostra. Logo, trata-se de uma reação cinética contínua decrescente.
Em um tubo rotulado “teste” ou “calibrador”, foi pipetado 800µL da mistura
(Reagente 1 + Reagente 3). Adicionou-se 100 µL de amostra de soro do paciente ou do
calibrador de enzimas. Realizou-se ajuste do zero do fotômetro em 340 nm com água
deionizada e em seguida. Foi feita adição de 200 µL do Reagente 2 seguida de
homogeneização do tubo com transferência imediata para a cubeta termostatizada a 37ºC.
Esperou-se 1 minuto. Registrou-se a absorvância inicial (A1) e, após 2 minutos, a
absorvância (A2). O cálculo da ALT (U/L) foi feito pela diferença de A1-A2 dividido por
2, multiplicado pelo fator de calibração. De acordo com os valores de referência do kit,
considerou-se como normais valores até 45 UI/L.
4.4.3.2. Dosagem de AST
A AST catalisa especificamente a transferência do grupo amina do ácido aspártico
para o cetoglutarato, com formação de glutamato e oxalacetato. O oxalacetato é reduzido à
malato por ação da malato desidrogenase (MDH) enquanto que a coenzima NADH é
oxidada a NAD. A redução da absorvância em 340 ou 365 nm, consequente à oxidação na
NADH, é monitorada fotometricamente sendo diretamente proporcional à atividade da
ALT na amostra. Logo, trata-se de uma reação cinética contínua decrescente.
Em um tubo rotulado “teste” ou “calibrador”, foi pipetado 800µL da mistura
(Reagente 1 + Reagente 3). Adicionou-se 100 µL de amostra de soro do paciente ou do
calibrador de enzimas, realizou-se homogeneização e incubou-se em banho-maria a 37ºC
por cinco minutos. Realizou-se ajuste do zero do fotômetro em 340 nm com água
deionizada e em seguida. Foi feita adição de 200 µL do Reagente 2 seguida de
homogeneização do tubo com transferência imediata para a cubeta termostatizada a 37ºC.
Esperou-se 1 minuto. Registrou-se a absorvância inicial (A1) e, após 2 minutos, a
32
absorvância (A2). O cálculo da AST (U/L) foi feito pela diferença de A1-A2 dividido por
2, multiplicado pelo fator de calibração. De acordo com os valores de referência do kit,
considerou-se como normais valores até 39 UI/L.
4.5. Processamento e análise de dados
Foram construídos arquivos eletrônicos para armazenamento e posterior análise de
dados. Foi realizada dupla entrada de dados. Após avaliação de consistência, os dados
foram analisados utilizando-se programas os estatísticos Epi Info 3.5.3 e SPSS 15.0.
Inicialmente foi realizada análise descritiva e exploratória das principais variáveis
sócio-demográficas dos participantes e de fatores de risco para as infecções em
investigação. Os testes do qui-quadrado e exato de Fisher foram empregados quando
apropriados.
Foram construídos gráficos de caixas para explorar a distribuição dos valores de
densidade óptica (DO) obtidos com a leitura do ELISA anti-HCV e para a distribuição dos
valores das aminotransferases nos pacientes HBV e/ou HCV infectados. O box plot é
formado pelo primeiro e terceiro quartil e pela mediana. Foram calculadas as prevalências,
com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%), de infecção pelo HBV e/ou
HCV, entre os soropositivos para HIV.
Foi realizada análise univariada para avaliar a relação entre variáveis de desfecho
(positividade para HBV e/ou HCV) e diferentes variáveis de exposição (variáveis sóciodemográficas, marcadores imunológicos e moleculares). Para variáveis contínuas, o ponto
de corte para atribuição das categorias de exposição foi a média (idade e tempo de infecção
pelo HIV) e, para contagem de linfócitos T CD4+ considerou-se menos de 350 cel/mm3 a
categoria de maior risco para outras infecções. Foram calculados os Odds Ratios (ORs)
com respectivos IC95%. As variáveis que alcançaram um nível de significância inferior a
0,10 para a associação com o HBV ou com o HCV na análise univariada foram incluídas
no modelo de regressão logística, com cálculo do OR ajustado. Na análise multivariada foi
estabelecido um nível de significância estatística <0,05.
O processamento e análise de dados foram realizados no Departamento de Saúde
Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG.
33
4.6. Considerações éticas
O estudo, parte de um projeto maior intitulado “Impacto da infecção pelo vírus da
hepatite G em pacientes infectados pelo HIV e coinfectados pelo HIV e pelo HCV”, está
cadastrado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de
Goiás (CEP-SGC/UCG) sob o CAAE 0117.1.168.000-09 (Anexo 1) e pelo Comitê de ética
em Pesquisa do Hospital de Doenças Tropicais de Goiás (Anexo 2). Após os devidos
esclarecimentos sobre o projeto, todos os participantes assinaram o TCLE (Anexo 3), após
aceite individual. Todos os cuidados necessários foram tomados para prover a segurança
dos indivíduos e proteção à confidencialidade. O material obtido na pesquisa foi utilizado
especificamente para os propósitos da pesquisa e não será utilizado para outros fins.
4.7. Apoio financeiro: Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD/ 2008) e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás/ Programa de Pesquisa para o SUS
(FAPEG/ PPSUS 008/2009).
34
5. RESULTADOS
Entre os dias 14 de março e 27 de maio de 2011, 546 indivíduos HIV soropositivos,
atendidos no CRDT, foram convidados pela equipe de pesquisa a participar do estudo.
Destes, 23 (4,2%) recursaram o convite e 17 (3,1%) não preenchiam os critérios de
elegibilidade.
Assim, 506 indivíduos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e
foram entrevistados. Destes, 11 indivíduos não tiveram amostras de sangue colhidas,
devido a dificuldades no momento da coleta. Logo, foram incluídos no estudo 495
indivíduos, com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, respostas aos
questionários e coleta de amostras de sangue (Figura 2).
Figura 2. Fluxograma de recrutamento de indivíduos HIV soropositivos para o estudo.
Indivíduos vivendo com HIV/AIDS atendidos no CRDT
23 (4,2%)
546
Indivíduos convidados a
participar da pesquisa
(14/03 a 27/05/2011)
506
Assinaram o TCLE /
Foram entrevistados
Recusas
17 (3,1%)
Não preencheram critérios
de elegibilidade
Idade < 18 anos (7)
Idade > 70 anos (7)
Problemas mentais (1)
Analfabeto (1)
Deficiente auditivo (1)
11 (2,2%)
Coleta de amostra de
sangue não realizada
495
Coleta de amostra de
sangue / Incluídos no
estudo
Legenda: CRDT: Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica de Goiânia (GO); TCLE: Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
35
As características epidemiológicas e demográficas dos participantes do estudo estão
descritas nas tabelas 5 e 6, estratificadas por sexo e instituição de origem, respectivamente.
A população estudada foi composta por 495 pacientes adultos, advindos do HDT/HAA
(68,5%) e do HC-UFG (31,5%). A quase totalidade (96,8%) dos indivíduos incluídos no
estudo residia em Goiânia. A média de idade dos pacientes foi de 40,2 anos (desvio
padrão=10,4), com predomínio de homens (73,9%), solteiros (50,1%), com escolaridade
superior a nove anos (63,0%). Na análise estratificada por sexo, em relação aos parâmetros
sócio-demográficos, homens e mulheres se mostraram diferentes em relação à instituição
de origem (65,0% dos homens e 78,3% das mulheres foram encaminhados do HDT/HAA),
ao estado civil (57,4% dos homens e 29,5% das mulheres se declararam solteiros) e à
escolaridade (33,4% dos homens e 47,2% das mulheres tinham escolaridade inferior a nove
anos).
Em relação aos antecedentes de exposição parenteral a material biológico, 13,9%
alegaram ter recebido transfusão de sangue em algum momento da vida, sendo que entre as
mulheres essa proporção foi de 19,4%. (comparadas a 12,0% dos homens). Dezoito vírgula
oito por cento dos indivíduos relataram pelo menos uma tatuagem. O uso de drogas
injetáveis foi relatado por 3,6% dos participantes, com diferença significativa entre os
sexos (4,6% dos homens e 0,8% das mulheres) e 7,5% dos indivíduos alegaram ter tido
relação sexual com usuários de drogas, com proporção maior entre as mulheres (14,0%).
Em relação à opção sexual, 50,5% dos homens eram homo ou bissexuais. Duzentos e vinte
e um indivíduos (44,6%) relataram ter um histórico de DST, com proporção
significativamente maior entre os homens (52,7%, comparado a 21,7% das mulheres). Dos
indivíduos que relataram histórico de alguma DST, 43,0 % (95) disseram ter tido
gonorreia, 37,6% (83) sífilis, 16,7% (37) hepatite B, 11,8% (26) hepatite C, 6,8% (15)
herpes e 6,3% (14) HPV. Quando questionados sobre a suposta via de infecção pelo HIV,
77,0% disseram ter se infectado por via sexual, 1,4% por transfusão de sangue, 1,2% pelo
uso de drogas injetáveis e 1,0% por acidente com material biológico. É importante ressaltar
que 19,4% da população estudada (96 indivíduos), disseram não saber qual a provável via
de infecção pelo HIV.
Sobre o histórico da infecção pelo HIV, a média do tempo de diagnóstico do HIV
foi de 6,7 anos (desvio padrão=5,5), sendo que 6,3% dos indivíduos tinham tido o
diagnóstico há menos de um ano e 24,0% há mais de 10 anos. Em relação ao tratamento,
74,9% dos participantes estavam em uso de TARV à época da coleta de dados.
36
Tabela 5. Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com HIV/AIDS,
estratificados por sexo, atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás.
Característica
Masculino - N (%)
Feminino - N (%)
Total: 495
366 (73,9)
129 (26,1)
Instituição de origem
Hospital de Doenças Tropicais
Hospital das Clínicas
238 (65,0)
128 (35,0)
101 (78,3)
28 (21,7)
<0,01*
Município de residência
Goiânia
Outros
353 (96,4)
13 (3,6)
126 (97,7)
3 (2,3)
0,77
Faixa etária (em anos)
18–30
31–40
41–50
51–67
76 (20,8)
112 (30,6)
119 (32,5)
59 (16,1)
17 (13,2)
45 (36,4)
42 (31,0)
25 (19,4)
0,20
Estado civil
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
210 (57,4)
108 (29,5)
43 (11,7)
5 (1,4)
38 (29,5)
54 (41,8)
21 (16,3)
16 (12,4)
<0,01*
Escolaridade
< 9 anos (Ensino Fundamental)
9 - 11 anos (Ensino Médio)
> 11 anos (Ensino Superior)
122 (33,4)
128 (34,9)
116 (31,7)
61 (47,2)
52 (40,4)
16 (12,4)
<0,01*
44 (12,1)
320 (87,9)
25 (19,5)
103 (80,5)
0,04*
Presença de tatuagem
Sim
Não
70 (19,1)
296 (80,9)
23 (17,8)
106 (82,2)
0,75
Usuários de drogas injetáveis
Sim
Não
17 (4,6)
349 (95,4)
1 (0,8)
128 (99,2)
0,03*
19 (5,2)
343 (94,8)
18 (14,5)
106 (85,5)
<0,01*
181 (49,5)
133 (36,3)
52 (14,2)
128 (99,2)
0 (0,0)
1 (0,8)
<0,01*
Histórico de transfusão de sangue
Sim
Não
Sexo com usuários de drogas injetáveis
Sim
Não
Opção sexual
Heterossexual
Homossexual
Bissexual
P
a
b
N: nº de casos; P: significância estatística (<0,05); * estatisticamente significante; a 3 indivíduos relataram
não saber o histórico de transfusão de sangue; b 9 indivíduos relataram não saber se tiveram relação sexual
com usuários de drogas injetáveis.
37
Tabela 5 (continuação). Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com
HIV/AIDS, estratificados por sexo, atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás.
Característica
Masculino - N (%)
Feminino - N (%)
P
Relato de histórico de doenças sexualmente
transmissíveis
c
Sim
Não
193 (52,7)
173 (47,3)
28 (21,9)
100 (78,1)
<0,01*
Relato de exame prévio positivo para HCV
Sim
Não
22 (6,0)
344 (94,0)
4 (3,1)
125 (96,9)
0,21
Suposta via de infecção pelo HIV
Sexual
Parenteral
Uso de drogas injetáveis
Acidente com material biológico
Hemotransfusão
276 (95,2)
14 (4,8)
6 (2,1)
3 (1,0)
5 (1,7)
Tempo de diagnóstico do HIV (em anos)
<1
1-5
6 - 10
> 10
Uso de terapia antirretroviral potente
Sim
Não
d
105 (96,4)
4 (3,6)
0 (0,0)
2 (1,8)
2 (1,8)
0,43
e
29 (7,9)
166 (45,5)
90 (24,7)
80 (21,9)
2 (1,6)
48 (37,2)
40 (31,0)
39 (30,2)
<0,01*
262 (71,6)
104 (28,4)
109 (84,5)
20 (15,5)
<0,01*
N: nº de casos; P: significância estatística (<0,05); * estatisticamente significante; c 1 indivíduo relatou não
saber se apresentava histórico de doenças sexualmente transmissíveis; d 96 indivíduos relataram não saber a
suposta via de infecção pelo HIV; e 1 indivíduo relatou não saber o tempo de diagnóstico do HIV.
A proporção de mulheres com mais de 6 anos de diagnóstico da infecção pelo HIV e em
uso de TARV foi maior em comparação aos homens.
Na análise estratificada por instituição de origem (tabela 6), os indivíduos
acompanhados no HDT/HAA e no HC-UFG se mostraram diferentes em relação à maioria
dos parâmetros: faixa etária (com maior proporção de indivíduos com mais de 40 anos no
HDT/HAA); estado civil (maior proporção de solteiros no HC-UFG); escolaridade
(proporção de indivíduos com maior escolaridade no HC-UFG); histórico de transfusão de
sangue (16,6% dos indivíduos do HDT/HAA relataram transfusão anterior, em comparação
a 8,4% do HC-UFG); sexo com usuários de drogas injetáveis (relato maior entre os
indivíduos do HDT/HAA); opção sexual (maior proporção de homo e bissexuais atendidos
no HC-UFG); suposta via de infecção pelo HIV (5,8% dos indivíduos acompanhados no
HDT/HAA e 1,6% dos acompanhados no HC-UFG, relataram exposição parenteral);
38
tempo de diagnóstico do HIV (maior porcentagem de indivíduos infectados há menos de 6
anos no HC-UFG); e uso de TARV (81,7% dos indivíduos do HDT/HAA faziam uso de
TARV, comparados a 60,3% dos indivíduos acompanhados pelo HC-UFG).
Tabela 6. Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com HIV/AIDS,
estratificados por instituição de origem, atendidos na rede pública de Goiânia - Goiás.
Característica
Total: 495
HDT/HAA - N (%)
339 (68,5)
HC-UFG - N (%)
156 (31,5)
P
238 (70,2)
101 (29,8)
128 (82,1)
28 (17,9)
<0,01*
Município de residência
Goiânia
Outros
328 (96,8)
11 (3,2)
151 (96,8)
5 (3,2)
0,98
Faixa etária (em anos)
18–30
31–40
41–50
51–67
51 (15,0)
97 (28,6)
125 (36,9)
66 (19,5)
42 (26,9)
62 (39,8)
34 (21,8)
18 (11,5)
<0,01*
Estado civil
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
148 (43,7)
126 (37,2)
44 (13,0)
21 (6,1)
100 (64,1)
36 (23,1)
20 (12,8)
0 (0,0)
<0,01*
Escolaridade
< 9 anos (Ensino Fundamental)
9 - 11 anos (Ensino Médio)
> 11 anos (Ensino Superior)
135 (39,8)
129 (38,1)
75 (22,1)
48 (30,8)
51 (32,7)
57 (36,5)
<0,01*
56 (16,6)
282 (83,4)
13 (8,4)
141 (91,6)
0,02*
Presença de tatuagem
Sim
Não
61 (18,0)
278 (82,0)
32 (20,5)
124 (79,5)
0,51
Usuários de drogas injetáveis
Sim
Não
13 (3,8)
326 (96,2)
5 (3,2)
151 (96,8)
0,73
Sexo
Masculino
Feminino
Histórico de transfusão de sangue
Sim
Não
a
N: nº de casos; P: significância estatística (<0,05); * estatisticamente significante; a 3 indivíduos relataram
não saber o histórico de transfusão de sangue
39
Tabela 6 (continuação). Perfil clínico-epidemiológico de 495 pacientes vivendo com
HIV/AIDS, estratificados por instituição de origem, atendidos na rede pública de
Goiânia-Goiás.
Característica
HDT/HAA - N (%)
HC-UFG - N (%)
P
32 (9,6)
301 (90,4)
5 (3,3)
148 (96,7)
0,01*
Opção sexual
Heterossexual
Homossexual
Bissexual
231 (68,2)
75 (22,1)
33 (9,7)
78 (50,0)
58 (37,2)
20 (12,8)
<0,01*
Relato de histórico de doenças sexualmente
transmissíveis
c
Sim
Não
151 (44,5)
188 (55,5)
70 (45,2)
85 (54,8)
0,9
Relato de exame prévio positivo para HCV
Sim
Não
20 (5,9)
319 (94,1)
6 (3,8)
150 (96,2)
0,34
Suposta via de infecção pelo HIV
Sexual
Parenteral
Uso de drogas injetáveis
Acidente com material biológico
Hemotransfusão
260 (94,2)
16 (5,8)
4 (1,4)
5 (1,8)
7 (2,6)
121 (98,4)
2 (1,6)
2 (1,6)
0 (0,0)
0 (0,0)
0,06
17 (5,0)
106 (31,4)
102 (30,2)
113 (33,4)
14 (9,0)
108 (69,3)
28 (17,9)
6 (3,8)
<0,01*
277 (81,7)
62 (18,3)
94 (60,3)
62 (39,7)
<0,01*
Sexo com usuários de drogas injetáveis
Sim
Não
Tempo de diagnóstico do HIV (em anos)
<1
1-5
6 - 10
> 10
Uso de terapia antirretroviral potente
Sim
Não
b
d
e
N: nº de casos; P: significância estatística (<0,05); * estatisticamente significante;
não saber se tiveram relação sexual com usuários de drogas injetáveis;
apresentava histórico de doenças sexualmente transmissíveis;
d
c
b
9 indivíduos relataram
1 indivíduo relatou não saber se
96 indivíduos relataram não saber a suposta
via de infecção pelo HIV; e 1 indivíduo relatou não saber o tempo de diagnóstico do HIV
Na avaliação das aminotransferases, a mediana dos resultados obtidos foi de 15
UI/L para ALT (IQ = 11 - 23) e 27 UI/L para AST (IQ= 22 - 34). Considerando-se como
valores referenciais de normalidade os valores descritos pelo fabricante (kit da Labtest),
4,7% dos indivíduos estavam com ALT e 18,7% estavam com AST superior ao limite
considerado de normalidade. Se considerados, os valores duas vezes acima do limite
40
superior de normalidade, 0,6% (3) e 2,8% (14) das amostras apresentaram,
respectivamente, ALT e AST elevadas.
Em relação à contagem de linfócitos T CD4+, para os 449 indivíduos com
resultados, a mediana foi de 495 cél./mm3 (IQ= 340 - 693). Na avaliação da carga viral do
HIV, 447 resultados foram recuperados dos prontuários e 67,6% dos indivíduos tiveram
carga viral indetectável. Entre os participantes com carga viral detectável (145), a mediana
da carga viral foi de 14.332 cópias/mL (IQ= 3.203 cópias/mL - 40.954 cópias/mL).
A prevalência de pelo menos um marcador de exposição ao vírus da hepatite B foi
de 33,5% (IC95% 29,4-37,9).
Dezenove pacientes (3,8%, IC95% 2,4-6,0) foram
diagnosticados como sendo portadores do vírus da hepatite B (HBsAg soropositivos). Em
relação ao anti-HBc, 40 indivíduos (8,1%) apresentaram este marcador isolado e 107
apresentaram anti-HBc e anti-HBs. Dos 166 indivíduos expostos ao HBV, 78,3% não
sabiam da exposição e, em relação ao HBsAg, dos 19 soropositivos, apenas 9 (47,4%)
relataram ter hepatite B.
A soroprevalência de infecção pelo HCV foi 9,7% (IC95% 7,3-12,7), sendo que
54,2% dos indivíduos HCV positivos pelo ELISA desconheciam seu status sorológico. Dos
22 indivíduos que conheciam seu status sorológico, 13 receberam tratamento para o HCV.
Pelos marcadores sorológicos, a coinfecção pelos três vírus (considerando-se a
positividade para qualquer marcador do HBV) foi de 4,4% (IC95% 2,9-6,8). Os dados de
soroprevalência estão representados na tabela 7.
Tabela 7. Prevalência de marcadores sorológicos para exposição à hepatite B e C em 495
indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia - Goiás.
Marcadores de exposição
Hepatite B
Anti-HBc+ e/ou HBsAg +
HBsAg +
Anti-HBc + (isolado)
Anti-HBc + e anti-HBs +
N (%)
(IC 95%)
166 (33,5)
19 (3,8)
40 (8,1)
107 (21,6)
(29,4 - 37,9)
(2,4 - 6,0)
(5,9 - 10,9)
(18,1 - 25,6)
Hepatite C
Anti-HCV
48 (9,7)
(7,3 - 12,7)
Hepatite B e C
22 (4,4)
(2,9 - 6,8)
N: nº de casos; IC 95%: intervalo de 95% de confiança.
41
Em relação aos marcadores moleculares, dos 19 pacientes avaliados para presença
do HBV DNA qualitativo, 13 (68,4%, IC95% 43,4-87,4) apresentaram resultado positivo,
sendo que seis deles não sabiam estar infectados pelo HBV.
Para o HCV RNA
quantitativo, dos 48 indivíduos analisados, 22 tiveram carga viral detectável, sendo que
nestes a mediana da carga viral do HCV foi de 853.349 cópias/mL (IQ= 151.721
cópias/mL – 1.949.271 cópias/mL). A frequência dos genótipos do HCV foi de 86,4% para
o genótipo 1 (72,7% do subtipo 1a e 9,1% do subtipo 1b) e 13,6% para o genótipo 3 (tabela
8). Dos indivíduos com carga viral detectável para o HCV, quatro não sabiam da infecção
e, dos dezoito que sabiam, onze relataram tratamento para hepatite C.
Tabela 8. Frequência de genótipos e subtipos do HCV entre 22 indivíduos vivendo com
HIV/AIDS atendidos na rede pública de saúde de Goiânia, Goiás.
Genótipos HCV
1
3
N (%)
(IC 95%)
a
19 (86,4)
(65,1 - 97,1)
Subtipo 1a
16 (72,7)
(49,8 - 89,3)
Subtipo 1b
2 (9,1)
(1,1 - 29,2)
3 (13,6)
(2,9 - 34,9)
N: nº de casos; IC 95%: intervalo de 95% de confiança; a uma amostra não teve subtipo determinado.
A figura 3 mostra a distribuição dos valores da densidade óptica do anti-HCV
(ELISA) em relação à detecção da viremia pelo HCV (indetectável e detectável). Observase que amostras com HCV RNA indetectável apresentam mediana da DO de 0,318 (IQ:
0,185-0,510), inferior à mediana da DO nas amostras com HCV RNA detectável (1,522,
IQ: 1,438-2,452). Das 22 amostras com carga viral detectável, 21 apresentaram DO
superior a 1,000. Em contrapartida, entre as 26 amostras com carga viral indetectável, a
maioria (21/26) apresentou DO abaixo de 1.000. Dos cinco casos com DO acima de 1,000
e carga viral indetectável, três sabiam ser HCV positivos, sendo que um era tratado para
HCV e dois não tratados, e os outros dois desconheciam estar infectados pelo HCV.
42
3,000
DO ELISA ANTI-HCV
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
Indetectável
Detectável
CARGA VIRAL HCV
* - valores discrepantes ou outliers
Figura 3. Comparação entre as densidades ópticas (DOs) obtidas na leitura do ELISA para
detecção do anti-HCV e a carga viral do HCV nas 48 amostras positivas para anti-HCV
pela sorologia.
Na análise univariada, os seguintes fatores de risco mostraram associação com a
presença de marcadores de exposição ao HBV: sexo, idade, escolaridade, relato de
histórico de DST (incluindo hepatites virais), relato de sexo com UDI, opção sexual e
exposição ao vírus da hepatite C (positividade ao anti-HCV) (tabela 9). Essas variáveis
foram incluídas no modelo de regressão logística para avaliação dos fatores associados à
exposição ao HBV. Não foi evidenciada associação entre infecção pelo HBV e instituição
de origem, presença de tatuagens ou antecedentes de transfusão de sangue. Também não
foi evidenciada associação entre antecedentes de uso de drogas injetáveis, tempo de
diagnóstico do HIV, uso de TARV, contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV.
43
Tabela 9. Análise univariada dos fatores associados à exposição ao vírus da hepatite B (HBV) em
495 indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia - Goiás.
Exposição ao
HBV
Fatores de Risco
Sim
Não
OR
(IC 95%)
P
Sexo (495)
Masculino
Feminino
149
17
217
112
4,5
(2,6 - 7,8)
<0,01*
Instituição de origem
HDT/HAA
HC-UFG
112
54
227
102
0,9
(0,6 - 1,4)
0,73
≥ 40 anos
< 40 anos
102
64
157
172
1,7
(1,2 - 2,6)
<0,01*
< 9 anos
≥ 9 anos
53
113
130
199
0,7
(0,5 - 1,1)
0,10*
Sim
Não
28
138
65
264
0,8
(0,5 - 1,3)
0,44
Sim
Não
24
142
45
281
1,1
(0,6 - 1,8)
0,84
Relato de histórico de DST
(incluindo hepatites virais) (494)
Sim
Não
100
66
121
207
2,6
(1,8 - 3,8)
<0,01*
UDI (495)
Sim
Não
6
160
12
317
1,0
(0,4 - 2,7)
0,99
Sexo com UDI (486)
Sim
Não
8
158
29
291
0,5
(0,2 - 1,1)
0,09*
Homo/ bissexual
Heterossexual
95
71
91
238
3,5
(2,4 - 5,2)
<0,01*
≥ 6 anos
< 6 anos
86
80
163
165
1,1
(0,7 - 1,6)
0,66
Sim
Não
126
40
245
84
1,1
(0,7 - 1,7)
0,73
< 350 cél/mm3
≥ 350 cél/mm3
45
106
77
221
1,2
(0,8 - 1,9)
0,37
Detectável
Indetectável
41
108
104
194
0,7
(0,5 - 1,1)
0,12
Sim
Não
22
144
26
303
1,8
(1,0 - 3,2)
0,06*
Idade (495)
Escolaridade (495)
Presença de tatuagem (495)
Histórico de transfusão de
sangue (492)
Opção sexual (495)
Tempo de diagnóstico do HIV
(494)
Uso de TARV (495)
Contagem de linfócitos T CD4+
(449)
Carga viral HIV (447)
Exposição ao vírus da hepatite C
(anti-HCV +) (495)
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de 95% de confiança; P: significância estatística (<0,10); *estatisticamente
significante; HDT/HAA: Hospital de Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad; HC-UFG: Hospital das ClínicasUniversidade Federal de Goiás; DST: doenças sexualmente transmissíveis; UDI: usuários de drogas
injetáveis; TARV: terapia antirretroviral potente.
44
Após análise multivariada, indivíduos do sexo masculino (OR ajustado=2,0; IC95%
1,1-3,8), idade igual ou superior a 40 anos (OR ajustado=2,4; IC95% 1,5-3,8), relato de
histórico de DST (OR ajustado=1,9; IC95% 1,2-2,9) e homo ou bissexualismo (OR
ajustado=3,7; IC95% 2,2-6,3) apresentaram um risco significativamente maior de
apresentarem marcadores de infecção para o HBV (tabela 10).
Tabela 10. Fatores associados à exposição ao vírus da hepatite B (HBV) em 495 indivíduos
HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia-Goiás.
Fatores de Risco
OR
bruto
(IC 95%)
P
OR
ajustado
(IC 95%)
P
Sexo masculino
4,5
(2,6 – 7,8)
<0,01
2,0
(1,1 – 3,8)
0,03*
Idade ≥ 40 anos
1,7
(1,2 - 2,6)
<0,01
2,4
(1,5 - 3,8)
<0,01*
Escolaridade < 9 anos
0,7
(0,5 - 1,1)
0,10
0,8
(0,5 - 1,4)
0,85
Relato de histórico de DST
2,6
(1,8 - 3,8)
<0,01
1,9
(1,2 - 2,9)
<0,01*
Sexo com UDI
0,5
(0,2 - 1,1)
0,09
0,6
(0,2 - 1,4)
0,21
Homo / Bissexualismo
3,5
(2,4 - 5,2)
<0,01
3,7
(2,2 - 6,3)
<0,01*
Exposição ao vírus da hepatite
C (anti-HCV +)
1,8
(1,0 - 3,2)
0,06
1,9
(1,0 - 3,8)
0,07
(incluindo hepatites virais)
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de 95% de confiança; P: significância estatística (<0,05); *estatisticamente
significante; DST: doenças sexualmente transmissíveis; UDI: usuários de drogas injetáveis.
Em análise univariada, as seguintes variáveis mostraram associação com a
soropositividade para HCV (anti-HCV positivos): relato de histórico de DST, uso de
drogas injetáveis, sexo com usuários de drogas injetáveis e exposição ao vírus da hepatite
B (tabela 11). Essas variáveis foram incluídas no modelo de regressão logística para
avaliação dos fatores associados à exposição ao HCV. Não foi evidência associação entre
sexo, instituição de origem, idade, escolaridade, presença de tatuagens, antecedentes de
transfusão de sangue, opção sexual, tempo de diagnóstico do HIV, uso de TARV,
contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV.
45
Tabela 11. Análise univariada dos fatores associados à exposição ao vírus da hepatite C (HCV) em
495 indivíduos HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia - Goiás.
Exposição ao
HCV
Fatores de Risco
Sim
Não
OR
(IC 95%)
P
Sexo (495)
Masculino
Feminino
35
13
331
116
0,9
(0,5 - 1,8)
0,87
Instituição de origem
HDT/HAA
HC-UFG
37
11
302
145
1,6
(0,8 - 3,3)
0,18
≥ 40 anos
< 40 anos
26
22
233
214
1,1
(0,6 - 2,0)
0,79
< 9 anos
≥ 9 anos
22
26
161
286
1,5
(0,8 - 2,7)
0,18
Sim
Não
12
36
81
366
1,5
(0,8 - 3,0)
0,25
Sim
Não
9
39
60
384
1,5
(0,7 - 3,2)
0,32
Sim
Não
34
14
187
259
3,4
(1,8 - 6,4)
<0,01*
UDI (495)
Sim
Não
10
38
8
439
14,4
(5,4 - 38,7)
<0,01*
Sexo com UDI (486)
Sim
Não
7
41
30
408
2,3
(1,0 - 5,6)
0,06*
Homo/bissexual
Heterossexual
14
34
172
275
0,7
(0,3 - 1,3)
0,21
≥ 6 anos
< 6 anos
29
19
220
226
1,6
(0,9 - 2,9)
0,14
Sim
Não
37
111
334
113
1,1
(0,6 - 2,3)
0,72
< 350 cél/mm3
≥ 350 cél/mm3
14
31
108
296
1,2
(0,6 - 2,4)
0,53
Detectável
Indetectável
16
30
129
272
1,1
(0,6 - 2,1)
0,72
Sim
Não
22
26
144
303
1,8
(1,0 - 3,2)
0,06*
Idade (495)
Escolaridade (495)
Presença de tatuagem (495)
Histórico de transfusão de sangue
(492)
Relato de histórico de DST
(incluindo hepatites virais) (494)
Opção sexual (495)
Tempo de diagnóstico do HIV (494)
Uso de TARV (495)
Contagem de linfócitos T CD4+
(449)
Carga viral HIV (447)
Exposição ao vírus da hepatite B
(anti-HBc total + e/ou HBsAg +)
(495)
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de 95% de confiança; P: significância estatística (<0,10); *estatisticamente
significante; HDT/HAA: Hospital de Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad; HC-UFG: Hospital das ClínicasUniversidade Federal de Goiás; DST: doenças sexualmente transmissíveis; UDI: usuários de drogas
injetáveis; TARV: terapia antirretroviral potente.
46
Após análise multivariada, pacientes com histórico de DST tiveram um risco quase
três vezes maior de serem anti HCV positivos (OR=2,7; IC95% 1,4-5,4) quando
comparados aos pacientes que negaram DST. Antecedentes de uso de drogas injetáveis
apresentaram um risco quase doze vezes maior de infecção pelo HCV (anti-HCV
positivos) em relação aos indivíduos não usuários (OR=11,8; IC 95% 3,9-35,8) (tabela 12).
Tabela 12. Fatores associados à exposição ao vírus da hepatite C (HCV) em 495 indivíduos
HIV positivos atendidos na rede pública de saúde em Goiânia-Goiás.
OR
bruto
IC 95%
P
OR
ajustado
IC 95%
P
Relato de histórico de DST
(incluindo hepatites virais)
3,4
1,8 - 6,4
<0,01
2,7
1,4 - 5,4
<0,01*
UDI
14,4
5,4 - 38,7
<0,01
11,8
3,9 - 35,8
<0,01*
Sexo com UDI
2,3
1,0 - 5,6
0,06
1,1
0,4 - 3,5
0,85
Exposição ao vírus da hepatite B
(anti-HBc total + e/ou HBsAg +)
1,8
1,0 - 3,2
0,06
1,5
0,8 - 2,9
0,23
Fatores de Risco
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de 95% de confiança; P: significância estatística (<0,05); *estatisticamente
significante; DST: doenças sexualmente transmissíveis; UDI: usuários de drogas injetáveis.
Na comparação da dosagem dos níveis séricos de aminotransferases, 73,7% dos
infectados pelo HBV e 87,5% dos infectados pelo HCV, por testes sorológicos, estavam
com valores de ALT normais. Nenhum indivíduo infectado pelo HBV e 6 indivíduos
infectados pelo HCV apresentaram valores de ALT duas vezes acima do limite superior de
normalidade (figura 4). Em relação à AST, 57,9% das amostras infectadas pelo HBV
tinham valores normais e uma ultrapassou em mais de duas vezes o limite superior de
normalidade. Para a infecção pelo HCV, 68,7% das amostras tinham níveis normais de
AST e seis amostras tinham níveis acima de duas vezes o limite superior de normalidade.
47
* - valores discrepantes ou outliers
Figura 4. Comparação dos níveis séricos da enzima alanina aminotransferase (ALT) em
pacientes HIV positivos, de acordo com a presença ou ausência dos marcadores
sorológicos HBsAg e anti-HCV.
Quando considerados os resultados dos testes moleculares, destaca-se que 100% e
90,9% dos pacientes com HBV DNA e HCV RNA detectáveis, respectivamente, estavam
com valores de ALT duas vezes abaixo do limite superior de normalidade (figura 5). Para
AST, as proporções de normalidade foram de 92,3% e 96,4%, respectivamente.
48
* - valores discrepantes ou outliers
Figura 5. Comparação dos níveis séricos da enzima alanina aminotransferase (ALT) em
pacientes HIV positivos, de acordo com a positividade para o HBV DNA e HCV RNA
detectável.
49
6. DISCUSSÃO
O presente estudo possibilitou identificar as principais características clínicas e
epidemiológicas dos pacientes HIV positivos com antecedentes de exposição aos vírus das
hepatites B e C, em Goiânia. Foram recrutados pacientes dos dois principais serviços
públicos de saúde, especializados no atendimento de pacientes portadores de HIV/AIDS
em Goiás.
A população estudada foi composta, predominantemente, por homens que
referiram exposição ao HIV por via sexual e com baixo relato de exposição a drogas
injetáveis. Cerca da metade dos pacientes estavam em acompanhamento pelo HIV há mais
de seis anos e aproximadamente dois terços dos participantes estavam em uso de TARV.
Em relação às instituições de origem, foram encontradas diferenças no perfil sóciodemográfico e clínico dos pacientes. Assim, observaram-se no HDT/HAA, indivíduos com
maior faixa etária, menor escolaridade, maior proporção de indivíduos com histórico de
transfusão de sangue e uso de drogas injetáveis, bem como indivíduos com maior tempo de
diagnóstico para o HIV, fato diretamente associado à maior proporção de indivíduos em
uso de TARV.
Em relação à presença dos marcadores de exposição ao HBV, o resultado obtido no
presente estudo (33,5%, IC95% 29,4 - 37,9) foi seis vezes superior à prevalência
encontrada, em estudo de base populacional, na região centro-oeste do Brasil (Pereira et al.
2009). Entretanto, o resultado é similar a outros descritos em populações de indivíduos
HIV positivos no Mato Grosso (40,0%, IC95% 37,0-43,1) (Pereira et al. 2006) e na região
sul (Morimoto et al. 2005, Tovo et al. 2006) e sudeste do Brasil (Mendes-Corrêa et al.
2000, Souza et al. 2004). Na região norte, um estudo apresentou prevalência semelhante
(Braga et al. 2006) e outro apresentou mais indivíduos expostos ao HBV (51,0%, IC 95%
46,1-55,8) (Monteiro et al. 2004). Essa diferença pode ser explicada pela prevalência do
HBV na população geral, que é maior do que nas outras regiões do Brasil (Pereira et al.
2013).
A associação da positividade para o anti-HBc e o anti-HBs, ocorreu em 21,6% dos
indivíduos do estudo. Anticorpos contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B
(anti-HBs) aparecem no soro após o desaparecimento do antígeno de superfície (HBsAg),
sendo indicativo de cura ou imunidade. A presença associada desses dois anticorpos, no
presente estudo, foi semelhante à encontrada em pesquisas realizadas na região centrooeste do Brasil, em diferentes grupos populacionais, tais como: comunidades de
50
quilombolas (Motta-Castro et al. 2003), usuários de drogas não injetáveis (Ferreira et al.
2006) e pacientes em hemodiálise (Tavares et al. 2004). Esses dados podem ser indicativos
de que os pacientes HIV positivos conseguiram clarear o vírus em proporção similar às
pessoas não infectadas ou, ainda, que a infecção pelo HBV ocorreu antes da infecção pelo
HIV.
Quarenta indivíduos, entre os 495 pacientes estudados, apresentaram o anti-HBc
isolado, semelhante aos estudos de Motta Castro et al. (2003) com 6,2% e de Tavares et al.
(2004) com 8,0%. Este perfil sorológico pode refletir uma infecção passada, com níveis de
anti-HBs indetectáveis, na qual a recuperação foi completa (Diogo et al. 2012). Pode ainda
ser observado no período conhecido como "janela imunológica", no qual há o
desaparecimento do HBsAg e a não detecção do marcador anti-HBs, em função da baixa
concentração desse anticorpo, pela formação de imunocomplexos, ou mesmo porque o
mesmo não foi sintetizado (Gonçales & Cavalheiro 2006). A presença do marcador antiHBc isoladamente pode também ocorrer por mutações na região S do genoma viral,
particularmente na que codifica o determinante "a", podendo diminuir ou até impedir a
expressão do HBsAg (Weber et al. 2001). Outra possibilidade seria a ocorrência de
resultados falso-positivos para o anti-HBc. Por outro lado, em grupos populacionais com
prevalência elevada, como o do presente estudo, a proporção de resultados falso-positivos
é baixa (Grob et al. 2005). Pondé et al. (2010) encontraram taxas variáveis de detecção do
anti-HBc isoladamente, dependendo da prevalência da infecção pelo HBV na região e
população avaliada. Em indivíduos infectados pelo HCV e HIV, vários estudos têm
mostrado que a positividade isolada ao anti-HBc é frequentemente observada (Weber et al.
2001, Gandhi et al. 2003, Torbenson et al. 2004).
Na avaliação do marcador de infecção ativa (aguda ou crônica) pelo HBV
(HBsAg), a prevalência de 3,8% (IC95% 2,4-6,0) foi semelhante às prevalências
encontradas em vários estudos conduzidos no Brasil entre indivíduos HIV soropositivos,
onde a soroprevalência variou de 3,7% a 8,5% (Mendes-Corrêa et al. 2000, Pavan et al.,
2003, Monteiro et al. 2004, Souza et al. 2004, Braga et al. 2006, Pereira et al. 2006, Tovo
et al. 2006, Zago et al. 2007, Silva et al. 2010, Mendes-Corrêa et al. 2011). A prevalência
encontrada para o HBsAg, nos permite considerar essa população como sendo de
endemicidade intermediária para o HBV (prevalência entre 2 e 7% para o HBsAg),
considerando a classificação do perfil de endemicidade para hepatite B do Ministério da
Saúde (MS 2009b). Já na população geral do centro-oeste, o HBV é considerado de baixa
51
endemicidade, com prevalência 8 vezes menor de HBsAg em relação à encontrada na
população de HIV positivos (Pereira et al. 2009).
É importante ressaltar que dos 19 indivíduos positivos para o HBsAg, um foi
positivo apenas para esse marcador, não sendo detectada a presença do marcador anti-HBc,
da classe IgG. Esse perfil laboratorial poderia indicar infecção recente pelo HBV ou
poderia ser devido à depressão do sistema imune, com baixa produção de anticorpos (antiHBc). Outra possível explicação seria a detecção do HBsAg pela presença de antigenemia
vacinal (Martín-Ancel et al. 2004). Entretanto, em muitos casos nos quais se observa este
perfil sorológico, não se consegue ainda estabelecer seu significado e interpretá-lo de
forma definitiva (Pondé 2011). Para prosseguir essa avaliação foi realizada pesquisa de
anticorpos anti-HBc da classe IgM (ELISA), que nos permitiria diferenciar a infecção
aguda da infecção crônica pelo HBV. O resultado do ELISA anti-HBc IgM foi negativo,
bem como o resultado do HBV DNA, o que indica que, pode-se tratar de um resultado
falso-positivo. Outra possibilidade é que o indivíduo estivesse numa fase inicial da
infecção, com HBV DNA inferior ao limite de detecção da técnica empregada (50 UI/mL).
Nesse caso, seria necessário repetir o exame após algumas semanas, para observar a
evolução dos marcadores, o que não foi possível por se tratar de um estudo transversal.
O HBV DNA foi testado em todos os indivíduos HBsAg positivos e observou-se
que 68,4% (IC95% 43,4-87,4) das amostras testadas foram confirmadas por PCR RealTime qualitativo. Valores próximos foram encontrados em outros estudos de prevalência
do HBV em Goiás com confirmatório por PCR: 65,4% (Ferreira et al. 2006), 77,8%
(Ferreira et al. 2009) e 76,9% (Aires et al. 2012). É importante ressaltar que o resultado
negativo no teste molecular qualitativo, não descarta a presença do vírus, uma vez que a
viremia pode estar indetectável tanto por fatores inerentes ao vírus, bem como o organismo
do paciente e até mesmo a utilização de medicamentos. Apenas amostras HBsAg positivas
foram testadas para HBV DNA, ou seja, a pesquisa de infecção oculta pelo HBV não fez
parte do escopo deste estudo, o que pode ter subestimado a prevalência de infectados pelo
HBV, nessa população (Araujo et al. 2008).
Em relação aos fatores associados à exposição ao HBV, os fatores de risco
encontrados (sexo masculino, idade mais elevada e homo/bissexualismo) foram descritos
em outros estudos brasileiros conduzidos em indivíduos HIV soropositivos (Monteiro et al.
2004, Souza et al. 2004, Braga et al. 2006, Pereira et al. 2006, Tovo et al. 2006, Zago et
al.2007).
52
A associação entre grupos etários de idade mais elevada e HBV é um fato bem
conhecido e amplamente observado, decorrente do aumento do risco de exposição com o
tempo. A maior prevalência de hepatite B entre os homens, como descrito em outros
estudos, possivelmente seja devido à exposição mais frequente aos fatores de risco
envolvidos na transmissão, particularmente de contato sexual com um maior número de
parceiros. A associação com homo/bissexualismo relaciona-se tanto à presença do vírus no
sêmen e às características que envolvem uma relação sexual anal, com microtraumatismos
da mucosa peniana e retal que favorecem a transmissão do agente através do contato com
sangue, o que eleva o risco de contato com o vírus (Alter 2006).
A via de exposição sexual é conhecidamente importante na transmissão do HBV na
população geral (Alter 2006). Dos indivíduos estudados, 77% relataram que a suposta via
de infecção para o HIV foi a via sexual, logo, a possibilidade de exposição a diversas
outras DST, incluindo o HBV, está diretamente associada a esse fato. Entretanto, como no
questionamento do estudo atual o relato de histórico de DST foi feito para qualquer
doença, incluindo as hepatites virais estudadas, a interpretação sobre sua associação à
hepatite B é limitada, considerando-se que é possível que o risco esteja sendo
superestimado.
A vacinação contra o vírus da Hepatite B é a principal medida para reduzir a
incidência dessa infecção na população geral. No Brasil, o Programa Nacional de
Imunização, preconiza a vacinação universal até os 25 anos de idade e também para os
grupos de maior risco de exposição tais como profissionais de saúde e pessoas com
múltiplos parceiros, independentemente da idade (MS 2006). O Ministério da Saúde
preconiza, também, que os pacientes HIV positivos sejam investigados para a presença de
infecção pelo HBV. Pacientes HIV positivos não expostos ao HBV, devem ser vacinados
(MS 2013). O presente estudo não foi desenhado para avaliar cobertura vacinal ou perdas
de oportunidade para imunização contra o HBV, desta forma, o anti-HBs foi pesquisado
apenas nos soro dos pacientes anti-HBc positivos.
Em relação ao HCV, a prevalência de infectados (9,7%, IC 95%: 7,3 - 12,7) foi
similar às prevalências estimadas para pacientes HIV positivos no Mato Grosso (10,9%),
Minas Gerais (9,2%) e Piauí (6,8%, IC 95%: 2,3 - 12,1) (Mussi et al 2007, Carmo et al.
2008, Oliveira-Filho et al. 2012). Comparado à prevalência observada na população geral
da região centro-oeste, a exposição ao HCV foi sete vezes maior entre indivíduos
53
infectados pelo HIV, provavelmente devido às vias comuns de transmissão dos dois vírus
(Pereira et al. 2013).
Estudos conduzidos nas regiões sul (Tovo et al. 2006) e sudeste do Brasil
(Segurado et al. 2004), descreveram prevalências do HCV em torno de 40%, entre os
pacientes HIV. Cabe ressaltar, entretanto que existe uma diferença marcante entre a taxa de
uso de drogas por via intravenosa relatado no presente estudo (3,6%) e de outros estudos
realizados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (29,0%, 23,8%, 22,2%, 11,9%) (Pavan et al.
2003, Segurado et al. 2004, Souza et al. 2004, Morimoto et al. 2005). Nesse contexto, o
uso de drogas injetáveis foi associado ao HCV, nesse estudo, assim como em diversos
estudos em todas as regiões do Brasil, demonstrando a importância da via parenteral na
transmissão desse vírus (Monteiro et al. 2004, Segurado et al. 2004, Tovo et al. 2006,
Mussi et al. 2007, Oliveira-Filho et al. 2012).
É importante ressaltar que para determinar a prevalência do HCV, neste estudo, foi
realizado apenas um teste sorológico (ELISA de 3ª geração), que apesar da alta
especificidade oferecida, pode gerar resultados falso-positivos. Nenhum teste sorológico
confirmatório, como Immunoblotting, foi executado. Como consequência, algumas das 48
amostras anti-HCV positivas poderiam ser falso-positivas, o que resultaria em redução da
prevalência. Entretanto, foi realizado teste molecular para confirmação da presença do
HCV RNA.
O HCV RNA foi testado em todos os indivíduos anti-HCV positivos e observou-se
que 45,8% (IC95% 31,4-60,8) das amostras testadas foram confirmadas por PCR RealTime quantitativo. Um resultado indetectável para HCV RNA não descartar a presença do
vírus, que pode estar indetectável por diversos motivos inerentes ao vírus e ao seu
hospedeiro. Dessa forma, valores próximos foram encontrados em outros estudos de
prevalência do HCV na região centro-oeste com confirmatório por PCR: 55,6% (Barros et
al. 2013), 67% (Freitas et al. 2008) e 65,3% (Pinto et al. 2011). Em outros estados
brasileiros, em populações de HIV positivos, também se observou resultados semelhantes:
54,5% (Mussi et al. 2007), 61,5% (Oliveira Filho et al. 2012). Detecção inferior (36,7%)
foi observada em estudo realizado nas capitais brasileiras (Pereira et al. 2013). Estudos
com detecção do HCV RNA superior foram conduzidos entre indivíduos HIV positivos
que não receberam tratamento para HCV (Wolff et al. 2010) e entre indivíduos
encarcerados (Pompilio et al. 2011) e usuários de drogas (Lopes et al. 2009). É importante
ressaltar que 5% das pessoas portadoras do HCV podem apresentar sorologia negativa e
54
positividade para um teste em que se utilize a detecção de ácidos nucleicos (Young et al.
1995), assim, observa-se a possibilidade de que algumas amostras não tenham tido o
diagnóstico para o HCV, por terem sido testadas apenas por teste sorológico.
O perfil de genótipos identificados no presente estudo está de acordo com o
observado em pacientes HCV positivos da população geral no Brasil, com os genótipos 1,
2 e 3 sendo mais frequentemente encontrados, sendo que o genótipo 1 é predominante na
maioria dos estados (Krug et al. 1996, De-Paris et al. 2000, Silva & Rossetti 2001). Na
região centro-oeste, assim como neste estudo, observou-se predominância dos genótipos 1
(subtipos 1a e 1b) e 3 (Botelho et al. 2008, Freitas et al. 2008, Lopes et al. 2009, Pinto et
al. 2011, Pompilio et al. 2011). Em estudos realizados entre indivíduos HIV positivos no
Brasil, observou-se a mesma identificação dos genótipos que a encontrada na população
geral (Mussi et al. 2007, Mendes-Correa et al. 2010, Wolff et al. 2010).
A identificação dos genótipos é clinicamente importante e os protocolos de
tratamento preconizam a necessidade da informação do genótipo para delinear a duração e
o tipo de medicação a ser utilizada. A literatura menciona que os genótipos 1 e 4 são
considerados mais resistentes do que os genótipos 2 e 3 à terapia para o HCV com
Interferon e Ribavirina (Soriano et al. 2011). Na presença do HIV, a resposta à terapia
antiviral contra o HCV não é favorável, ficando entre 14 e 38% para o genótipo 1 e entre
43% e 73% para os genótipos 2 e 3 (Simmonds et al. 2005, Wong & Lee 2006, Chevaliez
& Pawlotsky 2007). Além disso, em geral, o genótipo 3 tem sido associado com a
transmissão em usuários de drogas, assim como o subtipo 1a (Oliveira Filho 2012). É
provável que o uso de drogas injetáveis em Goiás esteja contribuindo para a transmissão do
HCV (subtipo 1a e genótipo 3) em pacientes infectados pelo HIV, apesar de que o estudo
não foi desenhado para analisar a associação de genótipos e a via de transmissão do HCV.
Para avaliar essa hipótese, seriam necessários outros estudos futuros.
Ao realizar a comparação entre as densidades ópticas (DOs) obtidas na leitura do
ELISA para anti-HCV e a carga viral do HCV, observa-se que as DOs das amostras com
HCV RNA indetectável foram significativamente inferiores às amostras com HCV RNA
detectável, sugerindo que as DOs superiores a 1,000 apresentam maior probabilidade de
ser verdadeiramente positivas. Martins et al. (1994) apresentaram uma correlação
semelhante, com DOs do ELISA anti-HCV e um outro imunoensaio (Inno-LIA), onde
observaram que todas as amostras com DO maior ou igual a 1.000 reagiram ao Inno-LIA,
mas apenas 23% foram confirmadamente positivas entre as amostras com DO inferior a
55
1.000. Mussi et al. (2007) observaram que das 110 amostras positivas para ELISA antiHCV, apenas 61 eram fortemente positivas e o HCV RNA foi detectado em 86,8% destas,
comparado a apenas 14,3% nas amostras fracamente positivas. Assim, apesar de os
resultados falso-positivos por sorologia serem mais frequentes em populações de baixo
risco, estudos em populações de maior risco, como este, sugerem que pode haver um
número significativo de amostras falso-positivas, principalmente quando baixas DOs são
obtidas. Já com relação às cinco amostras com DOs elevadas e carga viral para HCV
indetectável, pode-se tratar de indivíduos que tiveram contato com o vírus mas tiveram
cura espontânea, ou que apresentam flutuação da carga viral, ou ainda podem estar em uso
de medicação antiviral ou imunomoduladores, reduzindo a carga viral a níveis
indetectáveis.
Cabe enfatizar que, na atual casuística, mais da metade dos pacientes coinfectados
não sabia ser HBV ou HCV positivos. Ainda que se considere a possibilidade de que os
testes sorológicos possam ter apresentado alguns resultados falso-positivos, ao analisar os
testes moleculares, observa-se que entre os indivíduos com material genético detectado
para HBV ou HCV, 46,2% não sabiam ser HBV positivos e 18,2% não sabiam ser HCV
positivos. É possível que em relação ao HBV exista uma superestimação em relação ao
desconhecimento da infecção, uma vez que o desenho inicial do estudo não previa o
questionamento em relação ao diagnóstico prévio da hepatite B, especificamente. Outra
limitação é o relato do paciente, que está sujeito à sua memória, bem como sua
interpretação e intenção de resposta. Apesar disso, as altas porcentagens apresentadas de
pacientes que desconheciam estarem infectados pelo HBV ou pelo HCV, sugerem a
necessidade de medidas de triagem e de orientação mais efetivas para essa população.
Observa-se a necessidade de acompanhamento adequado destes indivíduos, na tentativa de
garantir adesão ao tratamento e cuidados para redução da transmissão do vírus.
A prevalência de coinfecção pelos três vírus, no presente estudo, foi 4,4%. No
Brasil, estudos prévios conduzidos entre pacientes vivendo com HIV em São Paulo,
mostraram prevalências de coinfectados variando de 1,8% (Mendes-Corrêa et al. 2000) a
20,4% (Souza et al. 2004). Essa ampla variação deve-se, provavelmente à proporção de
usuários de drogas injetáveis nas populações estudadas, que no presente estudo foi de
3,6%, mas chegou a 22,2% no estudo de Souza et al. 2004 . A prevalência elevada de
coinfecção pelo HBV e/ou HCV entre pacientes infectados pelo HIV em comparação à
população geral, reflete a semelhança dos fatores envolvidos na transmissão destes vírus.
56
Em relação à análise de parâmetros laboratoriais, não foi observado diferença na
contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV em relação aos indivíduos expostos
ou não ao HBV ou ao HCV. Apesar das evidências e das controvérsias, de que as
coinfecções pelo HBV ou HCV estariam associadas com uma recuperação imunológica
reduzida nos indivíduos infectados pelo HIV, após o início da TARV (Cooper et al. 2006,
Carmo et al. 2008), neste estudo não foi possível comprovar tais hipóteses, uma vez que
por se tratar de um estudo transversal, trabalhou-se com parâmetros isolados e, a evolução
laboratorial, bem como morbidade e mortalidade relacionadas à coinfecção, não foram
acompanhadas, o que sugere a necessidade de estudos futuros.
Outra hipótese levantada em estudos da área é a de que a progressão da doença
hepática seria mais acelerada nos pacientes HIV soropositivos infectados com HBV ou
HCV (Cooper et al. 2006, MS 2008). As aminotransferases (ALT e AST) são marcadores
sensíveis de lesão do parênquima hepático, apesar de não serem específicas para nenhum
tipo de hepatite. No presente estudo, independente da coinfecção, os valores de AST e
ALT encontrados não representam uma diferença significativa para o paciente ou para o
clínico na avaliação do paciente, uma vez que a grande maioria dos indivíduos em ambos
os status sorológicos apresentaram valores de transaminases dentro dos valores
considerados de referência para normalidade. Este achado está em conformidade com
outros estudos realizados por Martins et al. (1994) e Botelho et al. (2008) em Goiás, entre
doadores de sangue e transplantados renais, respectivamente. Entretanto, outros estudos,
como o de Pavan et al. (2003), realizado entre indivíduos infectados pelo HIV, a
positividade ao anti-HCV mostrou uma associação significativa com um quociente de ALT
(obtido pela divisão do nível de ALT na amostra pelo maior valor normal para o método)
superior a 1 (resultante de ALT elevada).
Algumas limitações, inerentes aos estudos transversais, devem ser ressaltadas: o
viés de prevalência e a causalidade reversa. No primeiro caso, o fato de trabalhar com
casos prevalentes do desfecho, faz com que os indivíduos que possuem o desfecho, por um
maior período de tempo, tenham maior chance de serem incluídos na pesquisa. Assim,
torna-se difícil diferenciar se as exposições estudadas estão associadas ao surgimento de
novos casos ou à duração dos mesmos. No segundo caso, discute-se a questão da
temporalidade, uma vez que os dados de exposição e desfecho são coletados em um único
momento. Logo, existe uma maior dificuldade em estabelecer uma relação temporal entre
57
os eventos e considerar com maior grau de certeza se a relação entre eles é causal ou não,
fator importante na investigação de coinfecções.
Outras questões importantes no estudo foram: a amostragem de conveniência e o
autorrelato. Neste último, os próprios pacientes relataram diversos parâmetros analisados
no estudo, o que pode fazer com que algumas informações percam sua precisão. Sobre o
recrutamento de indivíduos para o estudo, aproveitou-se a política oficial do governo
brasileiro em relação aos cuidados de saúde para com indivíduos HIV positivos, que
proporciona além de fornecimento da TARV, a medição do HIV-RNA e contagem de CD4
a cada quatro meses. A duração da pesquisa foi de aproximadamente três meses,
possibilitando a inclusão de grande número de indivíduos no seu retorno ao CRDT para a
sua próxima avaliação viral e imunológica. Entretanto, a estratégia para seleção pode ter
facilitado um viés de seleção, já que não houve randomização de participantes
(amostragem de conveniência).
No entanto, apesar das limitações metodológicas acima mencionadas, o estudo
possibilitou estimar as prevalências e delinear o perfil dos pacientes HIV positivos,
coinfectados pelos vírus das hepatites B e C, atendidos na rede pública de Goiás. Os
resultados obtidos sinalizam para a necessidade de estudos futuros que permitam avaliar
cobertura vacinal para hepatite B e o impacto clínico e laboratorial das coinfecções em
longo prazo, nessa população.
58
7. CONCLUSÕES
Entre os indivíduos infectados pelo HIV, atendidos na rede pública, em Goiânia - Goiás, a
prevalência de portadores do vírus da Hepatite B (HBsAg) foi 3,8% (IC95% 2,4-6,0). Essa
prevalência é compatível com o perfil de endemicidade intermediária para ao HBV.
Aproximadamente um terço da população estudada apresentava marcadores de exposição
prévia (anti HBc e/ou HBsAg positivos) para o vírus da Hepatite B.
A prevalência de anticorpos contra o vírus da hepatite C foi de 9,7% (IC95% 7,3-12,7).
A coinfecção pelos três vírus (HBV/HCV/HIV) foi detectada em 4,4% (IC95% 2,9-6,8)
dos indivíduos avaliados.
Metade dos indivíduos anti-HCV ou HBsAg positivos desconheciam seu status sorológico.
A exposição ao HBV esteve associada ao sexo masculino, idade superior a 40 anos, relato
de DST e homo/bissexualismo.
A exposição ao HCV mostrou associação com relato de DST e uso de drogas injetáveis.
A frequência dos genótipos 1 (subtipos 1a e 1b) e 3 para o HCV foi semelhante a
encontrada em outros estudos no Brasil, na população geral e entre HIV soropositivos.
O HBV DNA foi detectado em 68,4% (IC95% 43,4-87,4) das amostras HBsAg positivas.
O HCV RNA foi detectado em 45,8% (IC95% 31,4-60,8) das amostras positivas para o
anti-HCV.
59
REFERÊNCIAS
1. Aceijas C, Rhodes T 2007. Global estimates of prevalence of HCV infection among
injecting drug users. Int J Drug Policy 18: 352–358.
2. Aires RS, Matos MAD, Lopes CLR, Teles SA, Kozlowski AG, SILVA AMC, Araújo
Filho JA, Lago BV, Mello FC, Martins RMB 2012. Prevalence of hepatitis B virus
infection among tuberculosis patients with or without HIV in Goiânia City, Brazil.
Journal of Clinical Virology 54: 327-331.
3. Alter MJ 2003. Epidemiology of hepatitis B in Europe and worldwide. Journal of
Hepatology 39: 564-569.
4. Alter MJ 2006. Epidemiology of viral hepatitis and HIV co-infection. Journal of
Hepatology 44 (1):S6-9.
5. Anjos GRLC, Martins RMB, Carneiro MAS, Brunini S, Teles AS 2011. Epidemiology
of hepatitis B virus infection in first-time blood donors in the southwestern region of
Goiás, central Brazil Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 33: 38-42.
6. Araujo NM, Branco-Vieira M, Silva AC, Pilotto JH, Grinsztejn B, de Almeida
AJ, Trepo C, Gomes SA. Occult hepatitis B virus infection in HIV-infected patients:
Evaluation of biochemical, virological and molecular parameters. Hepatol Res.
2008;38(12):1194-203.
7. Barbosa VS, Silva NA, Martins RMB 2005. Hepatitis C virus seroprevalence and
genotypes in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) in Goiânia, Brazil. Rev.
bras. reumatol 45(4): 201-205.
8. Barros LAS, Pessoni GC, Teles AS, Souza SMB, Matos MA, Martins RMB, Del-Rios
NHA, Matos MAD, Carneiro MAS 2013. Epidemiology of the viral hepatitis B and C
in female prisoners of Metropolitan Regional Prison Complex in the State of Goiás,
Central Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop 46 (1): 24-29.
60
9. Batista SM, Andreasi MS, Borges AM, Lindenberg AS, Silva AL, Fernandes TD,
Pereira EF, Basmage EA, Cardoso DD 2006. Seropositivity for hepatitis B virus,
vaccination coverage, and vaccine response in dentists from Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 101(3): 263-7.
10. Blumberg, BS 2006. The curiosities of hepatitis B virus: Prevention, sex ratio, and
demography. Proc. of the American Thoracic Society 3:14-20.
11. Botelho SM, Ferreira RC, Reis NRS, Kozlowski AG, Carneiro MAS, Teles SA,
Yoshida CFT, Martins RMB 2008. Epidemiological aspects of hepatitis C virus
infection among renal transplant recipients in Central Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz
103(5): 472-476.
12. Boulant S, Vanbelle C, Ebel C, Penin F, Lavergne JP 2005. Hepatitis C virus core
protein is a dimeric alpha-helical protein exhibiting membrane protein features.
Journal of virology 79(17): 11353-65.
13. Braga WSM, Castilho MC, Santos ICV, Moura MAS, Segurado AC 2006. Low
prevalence of hepatitis B virus, hepatitis D virus and hepatitis C virus among patients
with human immunodeficiency virus or acquired immunodeficiency syndrome in the
Brazilian Amazon basin. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 39(6):
519-522.
14. Brandão ABM, Fuchs SC, Silva MAA, Emer LF 2001. Diagnóstico da hepatite C na
prática médica: revisão da literatura. Pan Am J Public Health 9(3): 161-166.
15. Büchen-Osmond C 2003. Hepadnaviridae. ICTVdB- The Universal Vírus Database,
Version 3, New York. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTV dB/ICTV dB/.
Acesso em 23/11/05.
16. Campos RR, Melo VH, Del Castilho DM, Nogueira CPF 2005. Prevalência do
papilomavírus humano e seus genótipos em mulheres portadoras e não-portadoras do
Vírus da imunodeficiência humana. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
27: 248-256.
61
17. Cardoso LPV, Queiroz BB, Stefani MMA 2009. HIV-1 pol phylogenetic diversity and
antiretroviral resistance mutations in treatment naïve patients from Central West Brazil.
Journal of Clinical Virology 46(2): 134-139.
18. Cardoso LP, Pereira GA, Viegas AA, Schmaltz LE, Stefani MM 2010. HIV-1 primary
and secondary antiretroviral drug resistance and genetic diversity among pregnant
women from central Brazil. J Med Virol. 82(3): 351-7.
19. Cardoso LPV, Silveira AA, Francisco RBL, Reis MNG, Stefani MMA 2011.
Molecular Characteristics of HIV Type 1 Infection Among Prisoners from Central
Western Brazil. AIDS Research and Human Retroviruses 27(12): 1349-53.
20. Carmo RA, Guimarães MD, Moura AS, Neiva AM, Versiani JB, Lima LV, Freitas LP,
Rocha MO 2008. The influence of HCV coinfection on clinical, immunological and
virological responses to HAART in HIV-patients. Braz J Infect Dis.12 (3):173-9.
21. Carneiro MA, Teles AS, Lampe E, Espírito-Santo MP, Gouveia-Oliveira R, Reis NR,
Yoshida CF, Martins RM 2007. Molecular and epidemiological study on nosocomial
transmission of HCV in hemodialysis patients in Brazil. J Med Virol 79(9): 1325-33.
22. Carvalho FHP, Coelho MRCD, Vilella TAS, Silva JLA, Melo HRL 2009. Co-infecção
por HIV/HCV em hospital universitário de Recife, Brasil. Revista de Saúde Pública 43
(1):133-139.
23. Chan DC, Kim PS 1998. HIV entry and its inhibition. Cell 93(5):681-4.
24. Chevaliez S & Pawlotsky JM 2007. Hepatitis C virus: Virology, diagnosis and
management of antiviral therapy. World J Gastroenterol 13(17): 2461-2466.
25. Choo QL, Kuo G, Weiner AJ, Overby LR, Bradley DW, Houghton M 1989. Isolation
of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome.
Science, New Series 244: 359-362.
26. Contrera-Moreno L, Andrade SMO, Pontes ERJC, Stief ACF, Pompilio MA, MottaCastro ARC 2012. Hepatitis B virus infection in a population exposed to occupational
hazards: firefighters of a metropolitan region in central Brazil. Rev Soc Bras Med Trop
45(4): 463-467.
62
27. Cooper CL, Breau C, Laroche A, Lee C, Garber G 2006. Clinical outcomes of first
antiretroviral regimen in HIV/hepatitis C virus co-infection. HIV Med 7: 32–37.
28. Costa ZB, Machado GC, Avelino MM, Filho CG, Filho JVM, Minuzzi AL, Turchi
MD, Stefani MMA, De Souza WV, Martelli CMT 2009. Prevalence and risk factors for
Hepatitis C and HIV-1 infections among pregnant women in Central Brazil. BMC
Infectious Diseases 9: 116.
29. Couroucé-Pauty AM, Lemaire JM, Roux JF 1978. New hepatitis B surface antigen
subtypes inside the ad category. Vox Sang. 35(5):304-8.
30. De Sá Filho DJ, Sucupira MCA, Casiero MM, Sabino EC, Diaz RS, Janini LM 2006.
Identification of two HIV type 1 circulating recombinant forms in Brazil. AIDS Res
Hum Retroviruses 22: 1-13.
31. De-Paris F, Pereira F, Azzulin E 2000. Importância dos testes moleculares para
acompanhamento de hepatite C e prevalência dos diferentes genótipos do vírus da
hepatite C em uma população do Rio Grande do Sul. Caderno de Farmácia 16: 7-11.
32. Diogo FV, Souza VASM, Diogo FL, Chavasco JK 2012. Estudo da soroprevalência da
infecção pelo vírus da hepatite B entre os doadores de sangue do Núcleo Hemoterápico
da Santa Casa de Alfenas (Alfenas/MG) por meio do marcador anti-HBc. Revista
Brasileira de Pesquisa em Saúde 14(2):59-64.
33. Dourado I, Veras MA, Barreira D, de Brito AM 2006. AIDS epidemic trends after the
introduction of antiretroviral therapy in Brazil. Rev Saude Publica 40: 9-17.
34. EASL 1999. International Consensus Conference on Hepatitis C: Paris 26-28, February
1999. Consensus Statement. J Hepatology 30: 956-61.
35. Ferreira CT, Silveira TR 2004. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da
prevenção. Revista Brasileira de Epidemiologia 7: 473- 487.
36. Ferreira RC, Teles SA, Dias MA, Tavares VR, Silva SA, Gomes SA, Yoshida
CF, Martins RM 2006. Hepatitis B virus infection profile in hemodialysis patients in
Central Brazil: prevalence, risk factors, and genotypes. Mem Inst Oswaldo
Cruz.101(6): 689-92.
63
37. Ferreira RC, Rodrigues FP, Teles AS, Lopes CL, Motta-Castro AR, Novais AC, Souto
FJ, Martins RM 2009. Prevalence of hepatitis B virus and risk factors in Brazilian noninjecting drug users. J Med Virol 81(4): 602-9.
38. Ferreira AS, Cardoso LPV, Stefani MMA 2011. Moderate prevalence of transmitted
drug resistance and high HIV-1 genetic diversity in patients from Mato Grosso State,
Central Western Brazil. Journal of Medical Virology 83 (8): 1301-7.
39. Freitas SZ, da Cunha RV, Martins RM, Teles AS, Ibanhes ML, Motta-Castro AR 2008.
Prevalence, genotypes and risk factors associated with hepatitis C virus infection in
hemodialysis patients in Campo Grande, MS, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 103(4):
405-8.
40. Gandhi RT, Wurcel A, Lee H, McGovern B, Boczanowski M, Gerwin R, Corcoran CP,
Szczepiorkowski Z, Toner S, Cohen DE, Sax PE, Ukomadu C. 2003. Isolated antibody
to hepatitis B core antigen in human immunodeficiency virus type-1-infected
individuals. Clin Infect Dis 12:1.602-1.605.
41. Gastaldello R, Gallego S, Isa MB, Maturano E, Sileoni S, Nates S, Medeot S 2001.
Immunoflurescence assay reactivity patterns of serum specimens presenting
indeterminate Western blot results for antibodies to HIV-1 and HTLV-I/II in Cordoba,
Argentina. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 43: 277 - 82.
42. Gonçales NS, Cavalheiro NP 2006. Marcadores sorológicos da hepatite B e sua
interpretação. Braz J Infect Dis 10 (Suppl 1):19-22.
43. Grangeiro A, Teixeira L, Bastos FI, Teixeira P 2006. Sustainability of Brazilian policy
for access to antiretroviral drugs. Rev Saude Publica 40: 60-9.
44. Gretch DR, Corazon dela Rosa MT, Carithers Jr RL, Wilson RA, Williams B, Corey L
1995. Assessment of hepatitis C viremia using molecular amplification technologies:
Correlations and clinical implications. Ann Inter Med 123(5):321–329.
45. Grob P, Jilg W, Bornhak H, Gerken G, Gerlich W, Günther S, Hess G, Hüdig
H, Kitchen A, Margolis H, Michel G, Trepo C, Will H, Zanetti A, Mushahwar I 2000.
Serological pattern "anti HBc alone": Report on a workshop. J Med Virol 64: 450-455.
64
46. Ho DD, Neumann AU, Perelson AS, Chen W, Leonard JM, Markowitz M 1995. Rapid
turnover of plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV-1 infection. Nature 373: 1236.
47. Hoofnagle JH, Alter HL 1984. Chronic viral hepatitis. In: Viral Hepatitis and Liver
Disease. Vyas, G.N., Dienstag, J.L., Hoofnagle, J.H.Grune & Stratton (eds.). Orlando,
p. 97-113.
48. Kandathil AJ, Ramalingam S, Kannangai R, David S, Sridharan G 2005. Molecular
epidemiology of HIV. Indian J Med Res 121: 333-344.
49. Kao JH, Chen DS 2002. Global control of hepatitis B virus infection. The Lancet
Infectious Diseases 2: 395-403.
50. Krug LP, Lunge VR, Ikuta N, Fonseca ASK, Cheinquer H, Ozaki LS, Barros SGS
1996. Hepatitis C vírus genotypes in Southern Brazil. Brazilian Journal of Medical and
Biological Research 29 (12): 1629-1632.
51. Lauer GM, Walker BD 2001. Medical Progress: Hepatitis C virus infection. N Engl J
Med 345(1):41-52.
52. Levy JA 1993. Pathogenesis of human immunodeficiency virus infection. Microbiol
Ver 57(1): 183-289.
53. Liang TJ 2009. Hepatitis B: the virus and disease. Hepatology 49 (5):S13-21.
54. Lindenbach BD, Rice CM 2005. Unravelling hepatitis C virus replication from genome
to function. Nature 436 (18) : 933-8.
55. Lipniacki A, Piasek A 2003. Laboratory tests for HIV infection. Przegl Lek. 60: 478 84.
56. Lopes CLR, Teles SA, Espírito-Santo MP, Lampe E, Rodrigues FP, Motta-Castro
ARC, Marinho TA, Reis NR, Silva AMC, Martins RMB 2009. Prevalência, fatores de
risco e genótipos da hepatite C entre usuários de drogas. Rev. Saúde Pública 43(1): 4350.
65
57. Mahoney FJ 1999. Update on diagnosis, management, and prevention of hepatitis B
virus. Clinical Microbiology Reviews 12: 351-366.
58. Maier I, Wu GY 2002. Hepatitis C and HIV co-infection: a review. World J
Gastroenterol 8: 577–579.
59. Marchesini AM, Prá-Baldi ZP, Mesquita F, Bueno R, Buchalla CM 2007. Hepatitis B
and C among injecting drug users living with HIV in São Paulo, Brazil. Rev Saude
Publica 41 (2):57-63.
60. Marins JR, Jamal LF, Chen SY, Barros MB, Hudes ES, Barbosa AA, Chequer P,
Teixeira PR, Hearst N 2003. Dramatic improvement in survival among adult Brazilian
AIDS patients. AIDS 17: 1675-1682.
61. Martelli CMT, Andrade ALSS, Cardoso DDP, Sousa LCS, Silva SA, Sousa MA,
Zicker F 1990. Soroprevalência e fatores de risco para a infecção pelo Vírus da
Hepatite B pelos marcadores AgHBs e anti-HBs em prisioneiros e primodoadores de
sangue, em Goiás. Revista de Saúde Publica 24 (4): 270 - 276.
62. Martín-Ancel A, Casas ML, Bonet B 2004. Implications of postvaccination hepatitis B
surface antigenemia in the management of exposures to body fluids. Infect Control
Hosp Epidemiol 25:611-613.
63. Martins RMB, Vanderborght BOM, Rouzere CD, Santana CL, Santos CO, Mori DN,
Ferreira RG, Yoshida CFT 1994. Anti-HCV related to HCV PCR and risk factors
analysis in a blood donor population of Central Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo
36: 501-506.
64. McCutchan FE, Salminen MO, Carr JK, Burke DS 1996. HIV-1 genetic diversity.
AIDS 10: 13-20.
65. Melo LV, da Silva MA, Calçada Cde O, Cavalcante SR, Souto FJ 2011. Hepatitis B
virus markers among teenagers in the Araguaia region, Central Brazil: assessment of
prevalence and vaccination coverage. Vaccine 29(32): 5290-3.
66
66. Mendes-Corrêa MCJ, Barone AA, Cavalheiro NP, Tengan FM, Guastini C 2000.
Prevalence of hepatitis B and C in the sera of patients with HIV infection in São Paulo,
Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo 42 (2): 81-85.
67. Mendes-Corrêa MC, Martins LG, Tenore S, Leite OH, Leite AG, Cavalcante AJ,
Shimose M, Silva MH, Uip DE 2010. Barriers to treatment of hepatitis C in HIV/HCV
coinfected adults in Brazil. Braz J Infect Dis. 14(3): 237-41.
68. Mendes-Corrêa MC, Pinho JR, Gomes-Gouvea MS, da Silva AC, Guastini CF, Martins
LG, Leite AG, Silva MH, Gianini RJ, Uip DE 2011. Predictors of HBeAg status and
hepatitis B viraemia in HIV-infected patients with chronic hepatitis B in the HAART
era in Brazil. BMC Infect Dis 11: 247.
69. Monteiro
MR,
do
Nascimento
MM,
Passos
AD,
Figueiredo
JF
2004.
Soroepidemiological survey of hepatitis B virus among HIV/AIDS patients in Belem,
Para – Brasil. Rev Soc Bras Med Trop 37(2): 27-32.
70. Morimoto HK, Caterino-De-Araujo A, Morimoto AA, Reiche EM, Ueda LT, Matsuo
T, Stegmann JW, Reiche FV 2005. Seroprevalence and risk factors for human T cell
lymphotropic virus type 1 and 2 infection in human immunodeficiency virus infected
patients attending AIDS referral center health units in Londrina and other communities
in Parana, Brazil. AIDS Res. Hum. Retroviruses 21: 256–262.
71. Motta-Castro ARC, Yoshida CFT, Lemos ERS, Oliveira JM; Cunha RV, LewisXimenez LL, Cabello PH, Lima KMB, Martins RMB 2003. Seroprevalence of
Hepatitis B virus infection among an afro-descendant community in Brazil. Mem Inst
Oswaldo Cruz 98(1): 13-17.
72. (MS) Ministério da Saúde 2006. Manual dos centros de referência para
imunobiológicos especiais. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância Epidemiológica. 3ª ed., Brasília-DF, Brasil.
73. (MS) Ministério da Saúde 2008. Hepatites virais: o Brasil está atento. Ministério da
Saúde,
Secretaria
de
Vigilância
em
Saúde,
Departamento
de
Vigilância
Epidemiológica. 3ª ed., Brasília-DF, Brasil.
67
74. (MS) Ministério da Saúde 2009a. Boletim Epidemiológico AIDS/DST - Janeiro a
Junho de 2009. Descrição ano VI nº 01 - 27ª à 52ª semanas epidemiológicas – julho a
dezembro de 2008 – 01ª a 26ª semanas epidemiológicas – janeiro a junho de 2009.
75. (MS) Ministério da Saúde 2009b. Guia de vigilância epidemiológica. 7ª Ed, Brasil,
Caderno 6, Hepatites virais, 60p. 32.
76. (MS) Ministério da Saúde 2010a. Recomendações para Profilaxia da Transmisão
Vertical do HIV e Terapia Antirretroviral em Gestantes: manual de bolso/ Ministério
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids.
77. (MS) Ministério da Saúde 2010b. Estudo de prevalência de base populacional das
infecções pelos vírus das hepatites A, B e C nas capitais do Brasil. Relatório de
Pesquisa. Universidade de Pernambuco 2010. Núcleo de Pós-Graduação. Brasil.
78. (MS) Ministério da Saúde 2011a. Boletim Epidemiológico – Hepatites Virais.
Descrição ano II nº 01. Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais.
79. (MS) Ministério da Saúde 2011b. Boletim Epidemiológico AIDS/DST. Descrição ano
VIII nº 01 - 26ª à 52ª semanas epidemiológicas – julho a dezembro de 2010-01ª a 26ª
semanas epidemiológicas – janeiro a junho de 2011.
80. (MS) Ministério da Saúde 2012. Boletim epidemiológico - Hepatites virais. Descrição
ano III nº 01, Brasilia.
81. (MS) Ministério da Saúde 2013. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para adultos
vivendo com HIV/AIDS. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Versão preliminar, Brasília-DF,
Brasil.
82. Mussi ADH, Pereira RARA, Silva VAC, Martins RMB, Souto FJD 2007.
Epidemiological aspects of hepatitis C virus infection among HIV-infected individuals
in Mato Grosso State, Central Brazil. Acta Tropica 104: 116–121.
68
83. Naghettini AV, Daher RR, Martins RMB, Doles J, Vanderborght B, Yoshida CFT,
Rouzere C 1997. Prevalence of hepatitis C virus among dialysis population in Goiânia,
Goiás State, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 30(2): 113-7.
84. Novais ACM, Lopes CLR, Reis NRS, Silva AMC, Martins RMB, Souto FJD 2009.
Prevalence of hepatitis C virus infection and associated factors among male illicit drug
users in Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 104(6): 892-896.
85. Oliveira MD, Martins RM, Matos MA, Ferreira RC, Dias MA, Carneiro MA, Junqueira
AL, Teles SA 2006. Seroepidemiology of hepatitis B virus infection and high rate of
response to hepatitis B virus Butang® vaccine in adolescents from low income families
in Central Brazil. Artigo informa prevalencia de Hepatite B . Mem Inst Oswaldo Cruz
101(3): 251-256.
86. Oliveira-Filho AB, Oliveira EH, Castro JA, Silva LV, Vallinoto AC, Lemos JA 2012.
Epidemiological aspects of HCV infection in HIV-infected individuals in Piauí State,
Northeast Brazil. Archives of Virology 157(12): 2411-2416.
87. Orione MAM, Assis SB, Souto FJD 2006. Perfil epidemiológico de puérperas e
prevalência de anticorpos para infecção pelo HIV e vírus da hepatite C em Cuiabá,
Mato Grosso. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 39(2): 163-168.
88. Paiva EMM, Tiplle AFV, Silva EP, Cardoso DDP 2008. Serological markers and risk
factors related to hepatitis B virus in dentists in the Central West region of Brazil. Braz.
j. microbiol 39(2): 251-256.
89. Paranjape RS 2005. Immunopathogenesis of HIV infection. Indian J Med Res 121:
240-255.
90. Pavan MHP, Aoki FH, Monteiro DTM, Gonçales NSL, Escanhoela CAA, Junior FLG
2003. Viral hepatitis in patients infected with human immunodeficiency virus. Braz. J.
Infect. Dis. 7: 253–261.
91. Pawlotsky JM 2002. Molecular diagnosis of viral hepatitis. Gastroenterology 122:
1554-1568.
69
92. Pereira GAS, Stefani MMA, Martelli CMT, Turchi MD, Siqueira EMP, Carneiro
MAS, Martins RMB 2006a. Human Immunodeficiency Virus Type 1 and Hepatitis C
Virus Co-Infection and Viral Subtypes at an HIV Testing Center in Brazil. Journal of
Medical Virology 78:719–723.
93. Pereira RARA, Mussi ADH, Silva VCA, Souto FJD 2006b. Hepatitis B Virus infection
in HIV-positive population in Brazil: results of a survey in the state of Mato Grosso
and a comparative analysis with other regions of Brazil. BMC Infectious Diseases 6:34.
94. Pereira LM, Martelli CM, Merchán-Hamann E, Montarroyos UR, Braga MC, de Lima
ML, Cardoso MR, Turchi MD, Costa MA, de Alencar LC, Moreira RC, Figueiredo
GM, Ximenes RA 2009. Population-Based Multicentric Survey of Hepatitis B
Infection and Risk Factor Differences among Three Regions in Brazil. Am J Trop Med
Hyg. 81(2): 240-7.
95. Pereira LMMB, Martelli CMT, Moreira RC, Merchan-Hamman E, Stein AT, Cardoso
RMA, Figueiredo GM, Montarroyos UR, Braga C, Turchi MD, Coral G, Crespo
D, Lima MLC, Alencar LCA, Costa M, Santos AA, Ximenes RAA 2013. Prevalence
and risk factors of Hepatitis C virus infection in Brazil, 2005 through 2009: a crosssectional study. BMC Infectious Diseases 13:60.
96. Pinto CS, Martins RMB, Andrade SMO, Stief ACF, Oliveira RD, Castro ARCM 2011.
Infecção pelo vírus da hepatite C em gestantes em Mato Grosso do Sul, 2005-2007.
Rev Saude Publica 45(5): 974-976.
97. Pompilio MA, Pontes ERJC, Motta-Castro AR, Andrade SMO, Stief AF, Martins
RMB, Mousquer GJ, Murat PG, Francisco RBL, Rezende GR, Elias-Junior E 2011.
Prevalence and epidemiology of chronic hepatitis C among prisoners of Mato Grosso
do Sul State, Brazil. The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical
Diseases 17: 216-222.
98. Pondé RA, Cardoso DD, Ferro MO 2010. The underlying mechanisms for the “antiHBc alone” serological profile. Arch Virol 155: 149-158.
70
99. Pondé RA 2011. The underlying mechanisms for the “isolated positivity for the
hepatitis B surface antigen (HBsAg)” serological profile. Med Microbiol Immunol
200:13-22.
100.
Portelinha-Filho AM, Nascimento CU, Tannouri TN, Troiani C, Ascêncio EL,
Bonfim R, D´Andrea LAZ, Prestes-Carneiro LE 2009. Seroprevalence of HBV, HCV
and HIV co-infection in selected individuals from state of São Paulo, Brazil. Mem Inst
Oswaldo Cruz 104(7): 960-963.
101.
Ramos JMH, Silva AMC, Martins RMB, Souto FJD 2011. Prevalence of hepatitis
B and C virus infection among leprosy patients in a leprosy-endemic region of central
Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 106(5): 632-634.
102.
Reis NRS, Motta-Castro ARC, Silva AMC, Teles SA, Yoshida CFT, Martins RMB
2008. Prevalence of hepatitis C virus infection in quilombo remnant communities in
Central Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 50(6): 359-360.
103.
Reis, NRS, Lopes CLR, Teles SA, Matos MAD, Carneiro MAS, Marinho TA,
Araújo-Filho JÁ, Espírito-Santo MP, Lampe E, Martins RMB 2011. Hepatitis C virus
infection in patients with tuberculosis in Central Brazil. The International Journal of
Tuberculosis and Lung Disease 15: 1397-1402.
104.
Robertson DL, Anderson JP, Bradac JA, Carr JK, Foley B, Funkhouser RK, Gao F,
Hahn BH, Kalish ML, Kuiken C, Learn GH, Leitner T, McCutchan F, Osmanov S,
Peeters M, Pieniazek D, Salminen M, Sharp PM, Wolinsky S, Korber B 2000. HIV-1
nomenclature proposal. Science 288: 55-6.
105.
Rockstroh JK 2006. Influence of viral hepatitis on HIV infection. Journal of
Hepatology 44:S25-S27.
106.
Sá-Ferreira JA, Brindeiro PA, Chequer- Fernandez S, Tanuri A, Morgado MG
2007. Human immunodeficiency virus-1 subtypes and antiretroviral drug resistance
profiles among drug-naïve Brazilian blood donors Transfusion 47: 97-102.
71
107.
Santos EO, Coêlho MRCD, Villela TAS, Silva JLA, Lopes Neto EPA 2008.
Ocorrência e fatores de risco para co-infecção pelo vírus da hepatite C em pacientes
com HIV em Maceió. Rev. para. Med. 22 (3).
108.
Seeger C, Mason WS 2000. Hepatitis B virus Biology. Microbiology and
Molecular Biology Reviews 64: 51-68.
109.
Seelamgari A, Maddukuri A, Berro R, De la Fuente C, Kehn K, Deng L, Dadgar S,
Bottazzi ME, Ghedin E, Pumfery A, Kashanchi F 2004. Role of viral regulatory and
accessory proteins in HIV-1 replication. Front Biosci 9: 2388 - 2413.
110.
Segurado AC, Braga P, Etzel A, Cardoso MR 2004. Hepatitis C virus coinfection in
a cohort of HIV-infected individuals from Santos, Brazil: seroprevalence and
associated factors. AIDS Patient Care STDS 18: 135–143.
111.
Shimizu YK, Feinstone SM, Kohara M, Purcell RH, Yoshikura H 1996. Hepatitis C
virus: detection of intracellular virus particles by electron microscopy. Hepatology
23(2): 206-209.
112.
Silva CMD, Rossetti MLR 2001. Hepatite C e testes diagnósticos. Caderno de
Farmácia 17: 111-115.
113.
Silva PA, Fiaccadori FS, Borges AMT, Silva SA, Daher RR, Martins RMB,
Cardoso DP 2005. Seroprevalence of hepatitis B virus infection and seroconvertion to
anti-HBsAg in laboratory staff in Goiânia, Goiás. Rev Soc Bras Med Trop 38(2): 153156.
114.
Silva AC, Spina AM, Lemos MF, Oba IT, Guastini CF, Gomes-Gouvêa MS, Pinho
JR, Mendes-Correa MC 2010. Hepatitis B genotype G and high frequency of
lamivudine-resistance mutations among human immunodeficiency virus/hepatitis B
virus co-infected patients in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 105(6): 770-8.
115.
Silveira AA, Cardoso LPV, Francisco LBR, Stefani MMA 2012. HIV Type 1
Molecular Epidemiology in pol and gp41 Genes Among Naive Patients from Mato
Grosso do Sul State, Central Western Brazil. AIDS Research and Human Retroviruses
28(3): 304-307.
72
116.
Simmonds P, Holmes EC, Cha TA, Chan SW, McOmish F, Irvine B, Beall E, Yap
PL, Kolberg J, Urdea MS 1993. Classification of hepatitis C virus into six major
genotypes and a series of subtypes by phylogenetic analysis of the NS-5 region. J.Gen.
Virol. 74: 2391-2399.
117.
Simmonds P, Smith DB, McOmish F, Yap PL, Kolberg J, Urdea MS, Holmes EC
1994. Identification of genotypes of hepatitis C virus by sequence comparisos in the
core E1 and NS-5 regions. J. Gen. Virol. 75: 1053-1061.
118.
Simmonds P, Bukh J, Combet C, Deléage G, Enomoto N, Feinstone S, Halfon
P, Inchauspé
G, Kuiken
C, Maertens
G, Mizokami
M, Murphy
DG, Okamoto
H,Pawlotsky JM, Penin F, Sablon E, Shin-I T, Stuyver LJ, Thiel HJ, Viazov S, Weiner
AJ, Widell A 2005. Consensus proposals for a unified system of nomenclature of
hepatitis C virus genotypes. Hepatology 42: 962 - 973.
119.
Soriano V, Martin-Carbonero L, Vispo E, Labarga P, Barreiro P 2011. Human
immunodeficiency virus infection and viral hepatitis. Enferm Infec Microbiol Clin.
29(9):691-701.
120.
Souza MG, Passos AD, Machado AA, Figueiredo JF, Esmeraldino LE 2004. HIV
and hepatitis B virus co-infection: prevalence and risk factors. Rev Soc Bras Med Trop
37:391-395.
121.
Stief ACF, Martins RMB, Andrade SMO, Pompilio MA, Fernandes SM, Murat PG,
Mousquer GJ, Teles AS, Camolez GR, Francisco RBL, Motta-Castro ARC 2010.
Seroprevalence of hepatitis B virus infection and associated factors among prison
inmates in state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 43(5): 512-515.
122.
Subbramanian RA, Cohen EA 1994. Molecular Biology of the Human
Immunodeficiency Virus Accessory Proteins. Journal of virology 68(11): 6831-6835.
123.
Sulkowski MS, Thomas DL 2003. Hepatitis C in the HIV-Infected Person. Ann
Intern Med.138:197-207.
124.
Tavares RS, Barbosa AP, Teles AS, Carneiro MAS, Lopes CLR, Silva AS, Yoshida
CFT, Martins RMB 2004. Seroprevalence, vaccination response and risk factors for
73
hepatitis B virus infection in hemophiliacs in Goiás. Rev. bras. hematol. hemoter 26(3):
183-188.
125.
Thio CL 2009. Hepatitis B and human immunodeficiency virus coinfection.
Hepatology 49: S138–S145.
126.
Torbenson M, Kannangai R, Astemborski J, Strathdee SA, Vlahov D, Thomas DL
2004. High prevalence of occult hepatitis B in Baltimore injection drug users.
Hepatology 39: 51-57.
127.
Tornatore M, Gonçalves CV, Bianchi MS, Germano FN, Garcés AX, Soares
MA, Machado ES, de Martinez AM 2012. Co-infections associated with human
immunodeficiency virus type 1 in pregnant women from southern Brazil: high rate of
intraepithelial cervical lesions. Mem Inst Oswaldo Cruz. 107(2): 205-10.
128.
Tovo CV, Dos Santos DE, de Mattos AZ, de Almeida PR, de Mattos AA, Santos
BR 2006. Ambulatorial prevalence of hepatitis B and C markers in patients with human
immunodeficiency virus infection in a general hospital. Arq. Gastroenterol. 43: 73–76.
129.
Travassos AG, Brites C, Netto EM, Fernandes SD, Rutherford GW, Queiroz CM
2012. Prevalence of sexually transmitted infections among HIV-infected women in
Brazil. The Brazilian Journal of Infectious Diseases 16(6): 581–585.
130.
Tsukiyama-Kohara K, Iizuka N, Kohara M, Nomoto A 1992. Internal ribosome
entry site within hepatitis C virus RNA. Journal of Virology 66(3):1476-83.
131.
(UNAIDS) Regional Fact Sheet 2012. Latin America and the Caribbean - AIDS
epidemic facts and figure. Disponível em: http://www.unaids.org.
132.
Victoria MB, Victoria FS, Torres KL, Kashim S, Covas DT, Malheiro A 2010.
Epidemiology of HIV/HCV coinfection in patients cared for at the Tropical Medicine
Foundation of Amazonas. Brazilian Journal of Infectious Diseases 14(2): 135-140.
133.
Wang JT 1992. Hepatitis C virus RNA in saliva of patients with postransfusion
hepatitis and low eficiency of transmission among spouses. Journal of Medical
Virology 36: 28-31.
74
134.
Weber B, Hess G, Enzensberger R, Harms F, Evans CJ, Hamann A, Doerr HW
1992. Multicenter evaluation of the novel ABN Western blot (immunoblot) system in
comparison with an enzyme-linked immunosorbent assay and a different Western blot.
J Clin Microbiol. 30: 691-7.
135.
Weber B, Melchior W, Gehrke R, Doerr HW, Berger A, Rabenau H 2001. Hepatitis
B virus markers in anti-HBc only positive individuals. J Med Virol 64: 312-319.
136.
(WHO) World Health Organization 2012. Hepatitis B, Hepatitis C and HIV (fact
sheet 204, 164 e 360). Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets
(acessado em 20 de setembro, 2012).
137.
Wolff FH, Fuchs SC, Barcellos NNT, Alencastro PR, Ikeda MLR, Brandão ABM,
Falavigna M, Fuchs FD 2010. Co-infection by hepatitis C virus in HIV-infected
patients in southern Brazil: genotype distribution and clinical correlates. PLoS One
5(5):e10494.
138.
Wong T & Lee SS 2006. Hepatitis C: a review for primary care physicians. CMAJ
174(5):649-659.
139.
Young KK, Archer JJ, Yokosuka O, Omata M, Resnick RM 1995. Detection of
hepatitis C virus RNA by a combined reverse transcription PCR assay: comparison
with nested amplification and antibody testing. J Clin Microbiol 33(3): 654–657.
140.
Zago AM, Machado TF, Cazarim FL, Miranda AE 2007. Prevalence and risk
factors for chronic hepatitis B in HIV patients attended at a sexually-transmitted
disease clinic in Vitoria, Brazil. Braz J Infect Dis 11 (5): 475-478.
141.
Zein NN 2000. Clinical significance of hepatitis C virus genotypes. Clin Microbiol
Rev 13:223-235.
75
ANEXOS
Anexo 1. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (CEP-SGC/UCG).
Anexo 2. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de
Doenças Tropicais/ Dr. Anuar Auad (CEP HDT/HAA).
Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa “Impacto da
infecção pelo vírus da hepatite G em pacientes infectados pelo HIV e coinfectados pelo HIV e pelo HCV”.
Os vírus da hepatite G, da hepatite C e o HIV são transmitidos da mesma forma (pelo sangue, via sexual e da
mãe para o feto). Assim, mais de uma infecção por esses vírus pode ocorrer. Quando isso ocorre, os sintomas
de cada infecção podem ser diferentes. Vários estudos recentes têm mostrado que os pacientes infectados
pelo HIV demoraram mais a desenvolver a AIDS e tiveram um tempo de sobrevivência maior quando
infectados também pelo vírus da hepatite G. Embora existam algumas hipóteses, não se sabe ao certo como
esse vírus modifica a infecção pelo HIV. Diversos fatores interferem na resposta do organismo do indivíduo
a um agente infeccioso, protegendo, aumentando a chance de o indivíduo ter determinadas doenças ou
desenvolvendo formas mais graves da doença. Logo, os objetivos desta pesquisa são:
1. saber quantos pacientes tem hepatite C e hepatite G entre os pacientes com infecção pelo HIV atendidos
no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Goiânia, no Hospital de Doenças Tropicais/ Dr.
Anuar Auad (HDT/HAA), na Grupo Pela Vidda (GO) e na Agência Goiana do Sistema Prisional;
2. estudar os diferentes tipos do vírus que causa a hepatite G e observar o que a hepatite G causa nos
pacientes infectados pelo HIV e infectados aos mesmo tempo pelo HIV e pelo vírus da hepatite C;
3. observar a relação de fatores do indivíduo com proteção, chance de ter a infecção e o caminho que a
doença segue na infecção pelos vírus da hepatite C e hepatite G em indivíduos infectados pelo HIV.
Caso você participe, será entrevistado (a) para conhecermos seus hábitos de vida e seu histórico
médico. A entrevista é individual, com privacidade e sigilo das informações. O único desconforto será uma
colheita de sangue para pesquisarmos o vírus da hepatite G, o vírus da hepatite B e C, doença de Chagas,
HTLV I e II, sífilis, a genotipagem e a carga viral do HIV e condições da imunidade do organismo (contagem
de células CD4/CD8+, receptor celular e subclasses de anticorpos IgG). A coleta de sangue será feita por
punção de veia do antebraço, o que pode causar um pouco de dor, ficar roxo (hematoma) no local ou causar
tontura passageira. No total será preciso 20 ml de sangue.
Caso você venha a participar desse estudo será beneficiado (a) à medida que os resultados
estatísticos desse estudo auxiliarem na descoberta de interações do HIV com outros vírus e com o organismo
humano, aumentando o conhecimento sobre a infecção pelo HIV e a evolução da patologia em cada
indivíduo. Além disso, terá direito aos resultados dos exames realizados, incluindo a genotipagem do HIV,
que pode ser utilizado como informação complementar pelo seu médico assistente para seguimento
terapêutico. Os resultados serão entregues a você no local de realização da coleta. Caso seja necessário, terá
acesso a aconselhamento, acompanhamento psicológico e tratamento no HDT/HAA.
Não haverá nenhum gasto e você também não receberá nenhum pagamento com a sua participação.
Se existir qualquer despesa adicional, ela será paga pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal,
diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), você terá direito
a tratamento médico no HDT/HAA após encaminhamento realizado pela Profa. Dra. Irmtraut Araci
Hoffmann Pfrimer, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. Em caso de dúvida você pode
contatar a pesquisadora responsável, Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer, pelo tel. (62) 3946-1346. Você
também pode se informar no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Goiás pelo telefone
(62) 3946-1071.
Sua participação não é obrigatória e se você não quiser participar não haverá nenhum prejuízo no
seu acompanhamento e na sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. Caso decida participar, está
garantido que o (a) Sr.(a) poderá desistir a qualquer momento, sem motivo ou aviso prévio, também sem
prejuízo no seu acompanhamento.
Os dados referentes ao (à) Sr.(a) serão sigilosos e privados. Somente as proponentes dessa pesquisa
terão acesso às informações obtidas. O (a) Sr.(a) poderá solicitar informações durante todas as fases da
pesquisa, inclusive após a publicação da mesma, pelo tel. (62) 3946-1346 com a pesquisadora responsável
Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer. Os dados e o material coletado serão utilizados somente para esta
pesquisa.
Após ter sido esclarecido (a) sobre a pesquisa, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.
_______________________________
Pesquisador (a) que obteve o TCLE
Goiânia, __ de _______ de 200__
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu, _____________________________________________________________________________,
RG nº ______________, CPF nº ________________, nº de prontuário _____________, abaixo assinado,
concordo em participar do estudo “Impacto da infecção pelo vírus da hepatite G em pacientes infectados
pelo HIV e coinfectados pelo HIV e pelo HCV” como sujeito.
Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Irmtraut Araci Hoffmann Pfrimer sobre
a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que
isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.
Goiânia, __ de _______ de 20___
Nome do sujeito:_____________________________________________________________
Assinatura do sujeito:_________________________________________________________
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em
participar
Testemunhas (não ligada à equipe de pesquisadores):
Nome:______________________________________ Assinatura:__________________________________
Nome:______________________________________ Assinatura:__________________________________
Observações complementares:
________________________________
Assinatura do Voluntário
Goiânia, __ de _______ de 200__
Anexo 4. Questionário padronizado.