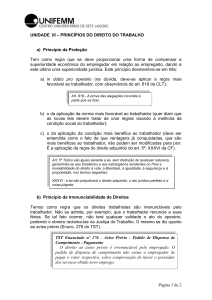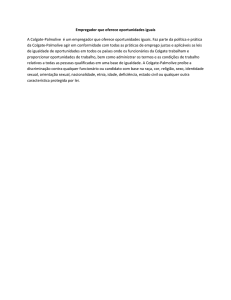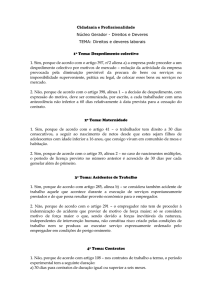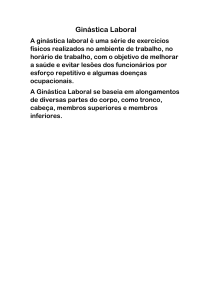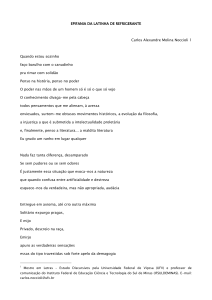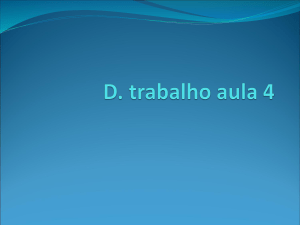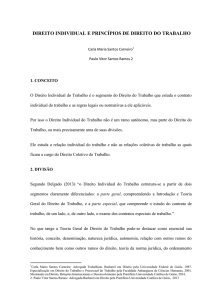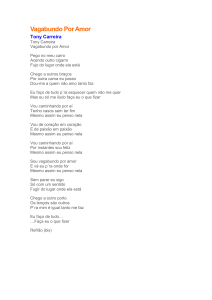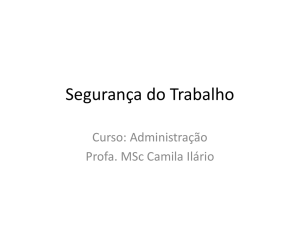O
2
na ordem do dia
O
na ordem do dia
Código do Trabalho desvaloriza
a dimensão colectiva da relação laboral
José João Abrantes*
“A
s empresas não podem estar convencidas de que
os males do funcionamento do aparelho produtivo e da economia, a falta de competitividade das
empresas, se devem à legislação do trabalho”, (diz, peremptório, José João Abrantes)
À parte da polémica e do aceso debate público gerados
em torno do Código do Trabalho que entrou em vigor em
1 de Dezembro último resta aos portugueses um diploma
final que, na sua essência, e apesar de conter “uma alteração estrutural às leis do trabalho a favor do empregador”,
mantém inalterada grande parte da legislação laboral até
aqui vigente. A constatação é do jurista e professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, José
João Abrantes.
Em entrevista que ora se publica na íntegra, este especialista em Direito do Trabalho mostra-se chocado com
uma visão cada vez mais materialista da relação, necessariamente desigual, entre empregador e trabalhador.
“O Estado – o Estado de direito democrático de que
fala a lei constitucional e que, de acordo com a mesma, é
baseado na dignidade da pessoa humana – não pode ser
neutral, precisamente porque o que está em causa é, em última análise, essa própria dignidade da pessoa humana”,
afirma José João Abrantes. Essa a razão porque “é absolutamente inadmissível que se diga, como ainda se ouviu
dizer há pouco tempo em Portugal, que os direitos e garantias dos trabalhadores têm de ser sujeitos a interesses
empresarialistas e a uma concepção economicista das relações de trabalho”.
Deste ponto de vista, nem o Direito do Trabalho pode
ser “sentado no banco dos réus dos problemas da economia e da sociedade”, nem os direitos dos trabalhadores
podem ser “totalmente sacrificados aos interesses empresariais”. A solução passa, pois, pela manutenção da “essência” do Direito do Trabalho e da sua “função social de ree-
quilibrar uma relação [de trabalho] originariamente desequilibrada”, mas também pela “motivação dos trabalhadores” – “o factor principal” a ter em conta na gestão das empresas e no bom desempenho do aparelho produtivo português. “Não penso que se possa ver o problema de outra
forma”, sustenta José João Abrantes.
Vida Económica – Entrou em vigor em 1 de Dezembro último o Código do Trabalho, um diploma que, antes
de ser aprovado tal como está, passou por várias fases,
gerou muita polémica e motivou um aceso debate público.
O que é que realmente vai mudar na legislação do trabalho em Portugal com o novo Código?
José João Abrantes – Houve efectivamente muitas alterações, desde o primitivo anteprojecto até à versão final do
Código. Àquele seguiu-se uma proposta de lei, apresentada
à Assembleia da República em Novembro e por esta aprovada em Abril do corrente ano, apenas com o voto favorável
da maioria que sustenta o Governo; o decreto daí resultante foi, como é sabido, remetido pelo Presidente da República para o Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização
** Jurista, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
** Entrevista conduzida pela jornalista do jornal “Vida Económica” Teresa Silveira. Parte da entrevista (gentilmente cedida pela
Jornalista Teresa Silveira e Jornal Vida Económica) que agora se publica na íntegra foi publicada já na edição de 5 de Dezembro de
2003 do jornal “Vida Económica”.
3
na ordem do dia
O
preventiva da constitucionalidade. Das sete questões colocadas pelo Presidente, quatro delas levaram a declarações de
inconstitucionalidade (sendo que, mesmo em relação às restantes, houve diversos votos de vencido), o que, naturalmente, veio a determinar a necessidade de aprovação de um
novo texto em sede parlamentar, novamente apenas com o
voto dos partidos que apoiam o Governo.
Face a todas as alterações verificadas, pode dizer-se que a
versão final do diploma aparece depurada de muitos aspectos objecto de maior contestação por parte de vários sectores
laborais e sociais, nomeadamente de aspectos em relação aos
quais tinham sido levantados problemas, por exemplo da sua
própria conformidade com os preceitos constitucionais.
Mas, em meu entender, a filosofia de base – não obstante
o Governo e a sua maioria parlamentar terem deixado cair alguns desses aspectos mais gravosos – manteve-se a mesma ao
longo de todo o processo. O código assumiu o objectivo da flexibilização da legislação laboral, sendo a melhoria da produtividade e da competitividade da economia a principal justificação invocada para as mudanças propostas. Mas o conceito de
flexibilidade de que parte, assenta, segundo creio, num equívoco. Reduzindo a flexibilidade a uma mera prerrogativa de
gestão das empresas, à precarização do emprego, à adaptabilidade do tempo de trabalho, à mobilidade dos trabalhadores,
etc., o código, com alguns benefícios pontuais para o trabalhador, contém basicamente uma alteração estrutural das leis do
trabalho a favor do empregador, ao mesmo tempo que desvaloriza a dimensão colectiva da relação laboral.
Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma concepção que responsabiliza a legislação do trabalho pelas deficiências da economia e, por conseguinte, pretende atenuar – ou até, se necessário, suprimir – as suas características mais marcantes,
nomeadamente a sua feição proteccionista, com o que, cremos, se pode pôr em causa a essência e a função social próprias deste ramo do Direito.
VE – A versão final do Código distancia-se assim tão
radicalmente da legislação do trabalho até aqui vigente?
JJA – Julgo que, no essencial, contrariamente àquilo que
resultava do anteprojecto inicial, grande parte da legislação
do trabalho vai manter-se inalterada, o que, em muito,
penso dever-se à já referida contestação por parte de vários
sectores laborais e sociais. No entanto, para além de muitos
aspectos particulares, que poderia referir, creio poder dizerse que, de certo modo, é a própria essência do Direito do
Trabalho que sofre uma alteração substancial no seu entendimento pelo legislador.
Atente-se, desde logo, num aspecto crucial, que é precisamente a nova formulação dada pelo artigo 4.° do Código
ao chamado princípio do tratamento mais favorável; mantendo, curiosamente, esta mesma epígrafe, esse preceito formula o princípio que estava consagrado no artigo 13.° da
LCT [Lei do Contrato de Trabalho] de uma forma que me
parece encerrar em si todo um entendimento do próprio Direito do Trabalho, da sua essência e da sua função social,
muito diferente do tradicional.
Este novo artigo 4.° do Código, que permite que, como
regra, as normas legais de trabalho deixem de ser normas imperativas mínimas, como na generalidade o eram até hoje, para
passarem a ser normas supletivas, podendo, por conseguinte,
ser afastadas pela contratação colectiva quer no sentido mais favorável ao trabalhador quer no sentido menos favorável, é uma
alteração muito importante e que, sobretudo, reflecte um entendimento substancialmente diferente daquilo que devem ser
a natureza e a função social deste ramo do Direito.
VE – E qual deve ser, então, essa função social, para a
qual, em sua opinião, este Código não aponta?
JJA – Entendo que o Direito do Trabalho, tal como é
conformado pela Constituição, assenta em princípios de
ordem pública social, que se baseiam fundamentalmente no
reconhecimento da desigualdade de poder económico e social entre as partes da relação de trabalho, no fundo, no reconhecimento do carácter coercitivo e assimétrico dessa relação, e no consequente reconhecimento da necessidade de
uma específica tutela da parte económica e socialmente mais
débil, designadamente através dos meios de acção colectiva
dos trabalhadores, dado que é precisamente o colectivo que
reequilibra uma relação que é originariamente desequilibrada em favor de uma das partes.
É evidente que não desconheço os argumentos que têm
sido utilizados para dizer que o princípio do tratamento mais
favorável não faz sentido na relação entre a lei e a convenção
colectiva e que ele fará, sim, sentido apenas na relação entre a
lei e o contrato individual de trabalho; aí, sim, diz-se, o trabalhador precisará de protecção, porque é claramente mais
frágil, em termos económicos e sociais, do que o empregador.
Portanto, a lógica que penso estar subjacente ao artigo 4.° do
Código é a de que, perante uma situação em que, de um lado,
está o empregador e, do outro, já não o trabalhador isolado,
mas o colectivo de trabalhadores, a associação sindical, então
não fará sentido a garantia de mínimos de protecção, porque
já estão presentes as condições de uma verdadeira liberdade
contratual, de uma autêntica autonomia da vontade.
Ora bem, o que eu penso é que este argumento não serve
para justificar a nova formulação do princípio ainda hoje chamado do tratamento mais favorável. De facto, penso que o
que resulta dos princípios de ordem pública social, que têm
assento constitucional, é que o Estado não pode ser neutro,
quando está em causa a dignidade da pessoa humana – e é isso
que aqui está verdadeiramente em causa.
VE – O Direito do Trabalho continua, então, a ser necessário ao equilíbrio das relações laborais?
JJA – O Direito do Trabalho continua a justificar-se,
com a sua função social de reequilibrar uma relação originariamente desequilibrada, porque os pressupostos que estiveram na sua génese ainda se mantêm, no essencial, dado que,
hoje como ontem, a relação de trabalho é uma relação de
poder-sujeição, em que a liberdade de uma das partes aparece susceptível de ser feita perigar pelo maior poder económico e social da outra.
4
na ordem do dia
O
Para a Constituição, o trabalhador é uma pessoa, cuja liberdade e cujos direitos não podem ser totalmente sacrificados aos interesses empresariais, havendo, antes, que encontrar
soluções que garantam tanto a liberdade de empresa como
aqueles direitos dos trabalhadores. É esse o grande desafio que
se coloca ao Direito do Trabalho; e, perante ele, como estava
a dizer, o Estado – o Estado de direito democrático, de que
fala a lei constitucional e que, de acordo com a mesma, é baseado na dignidade da pessoa humana –, não pode ser neutral,
precisamente porque o que está em causa é, em última análise, essa própria dignidade da pessoa humana.
A acção colectiva e a sua articulação com a regulamentação estadual, de cariz proteccionista, constituem a base da
autonomia desta disciplina jurídica, na qual o colectivo reequilibra uma relação originariamente desequilibrada em
favor do empregador. Sem isso, e perante a desigualdade de
poder económico e social entre as partes da relação laboral,
assistir-se-á a uma liberdade contratual meramente jurídicoformal, que acabará por redundar na possibilidade de uma
das partes predispor o conteúdo do contrato, impondo-o
unilateralmente à outra parte.
VE – O Código do Trabalho é uma nova forma de pensar o Direito do Trabalho?
JJA – O princípio do tratamento mais favorável de que
falei há pouco corresponde efectivamente a uma questão de
fundo e a sua nova formulação parece-me ser bem demonstrativa da filosofia de base deste diploma.
Essa filosofia de base tem, depois, vários afloramentos ao
longo do Código. Pense-se, por exemplo, na própria relação
individual de trabalho, onde em muitos aspectos, nos quais,
em meu entender, se justifica a fixação de mínimos de protecção, a lei deixa agora de corresponder a essa ideia, para
passar a permitir o seu afastamento, inclusivamente num
sentido menos favorável ao trabalhador do que aquilo que
consta dessas normas legais.
Estou a pensar, nomeadamente, nas matérias relativas à
mobilidade, quer funcional, quer geográfica. Quando aí se
admite a possibilidade de alargar o recurso a essa mobilidade, está-se, no fundo, a ampliar a liberdade contratual, num
sentido que significa necessariamente uma maior margem
de poder do empregador.
Ora, neste ramo do direito não faz sentido pensar na autonomia da vontade e na liberdade contratual em termos
puramente civilísticos, porque, em última análise, essa maior
liberdade contratual não mais será do que um acréscimo de
poder da parte social e economicamente mais forte, que é,
obviamente, o empregador.
VE – Mas o Código também introduz aspectos novos
que protegem o trabalhador, não é assim?
JJA – Há, também, como é natural, alguns aspectos em
que a nova legislação é mais favorável para os trabalhadores.
Por exemplo, quando estabelece a responsabilidade solidária
da pluralidade de empregadores beneficiários da prestação de
trabalho, ou a aplicação do regime das cláusulas contratuais
gerais no âmbito laboral, nomeadamente no que respeita à
formação do contrato ou, ainda, a faculdade que os trabalhadores passam a ter, sempre que o empregador seja uma sociedade comercial, de exigir a satisfação dos créditos laborais aos
sócios, gerentes ou administradores, bem como o reforço que,
para a garantia desses créditos, resulta da responsabilidade solidária das sociedades em relação de domínio ou de grupo.
VE – A possibilidade de aumento das indemnizações
por despedimento ilícito é outro aspecto novo que pode revelar-se favorável aos trabalhadores.
JJA – No caso da indemnização por despedimento ilícito, o montante passa a ser fixado, caso a caso, pelo tribunal,
de acordo com um processo de cálculo que pode conduzir a
aumentos significativos, contando para o efeito todo o
tempo até ao trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Prevê-se, aliás, inequivocamente, a obrigação de o empregador indemnizar todos os danos, não só patrimoniais,
como também não patrimoniais ao trabalhador causados
por tal despedimento.
Mas, como disse antes, com alguns benefícios pontuais
para os trabalhadores, o Código contém basicamente uma
alteração estrutural da legislação a favor do empregador.
VE – A possibilidade de não reintegração do trabalhador em certos casos de despedimento ilícito é também uma
novidade. Parece-lhe aceitável?
JJA – Há realmente, em matéria de cessação do contrato de trabalho, um aspecto novo, a propósito da reintegração de trabalhadores nas chamadas micro-empresas e em relação a determinados cargos, em que passa a ser possível, em
certas circunstâncias, afastar a reintegração do trabalhador,
desde que, a requerimento da entidade empregadora, o tribunal considere que essa reintegração perturbaria gravemente a relação de trabalho. Tenho muitas dúvidas quanto
à constitucionalidade da solução, visto que me parece estar-se, no fundo, a legitimar, para os casos aí previstos, um despedimento eventualmente ilícito, conferindo tutela a um
acto ilícito (como tal, declarado pelo próprio tribunal,
e, ainda por cima, por contrariedade a uma norma constitucional, consagradora de um direito fundamental), bem
como a, de certa forma, beneficiar o infractor, aquele que
criou condições para um acto ilícito, do qual depois vem a
obter o resultado por si pretendido.
VE – Quando surgiu a ideia de um Código do Trabalho criaram-se grandes expectativas nos empresários portugueses e levantaram-se fundados receios nos trabalhadores
e nas suas estruturas representativas de que tudo iria
mudar na legislação do trabalho em Portugal, no sentido
de flexibilizar as relações de trabalho. Tendo em conta que
as novidades não foram tão significativas como pretendiam
Bagão Félix e os empresários, pensa que, mesmo assim, se
terá criado um efeito psicológico em todos os portugueses
de que, a partir de agora, tudo será diferente quando, na
verdade, não será?
5
na ordem do dia
O
JJA – Penso estar subjacente à sua pergunta o facto de
haver duas posições que, desde sempre, se contrapuseram
em relação à necessidade e à conveniência de uma reforma
da legislação laboral. Por um lado, certos sectores, designadamente os mais ligados aos meios empresariais, que encaram essa reforma como a hipótese de uma subversão do ordenamento juslaboral, com a destruição da sua feição garantística, daquilo que corresponde à sua efectiva função social
e à sua essência. Portanto, havia a expectativa, por parte desses sectores ligados aos meios empresariais de que uma reforma da legislação laboral iria substituir completamente o
Direito do Trabalho vigente por aquilo que seria um outro,
que, no fundo, mais não seria que um Direito Civil do Trabalho, baseado fundamentalmente nas ideias de autonomia
da vontade e de liberdade contratual, entendidas em sentido
liberal, tudo se permitindo no domínio do contrato de trabalho a pretexto do consenso e, portanto, no sentido de uma
flexibilização entendida como sinónimo de desregulação.
É a tal concepção de flexibilidade a que antes me referia
e que assenta num equívoco. Entende-se que flexibilizar é,
acima de tudo, diminuir os custos do trabalho, identificando a flexibilização do Direito do Trabalho apenas como uma
perrogativa de gestão empresarial, que se traduz na precaridade dos vínculos, na contratação precária e na atenuação
das garantias dos trabalhadores. Tudo isto na medida em que
se entende que essas garantias e, de uma forma geral, as características proteccionistas do Direito do Trabalho, tal
como historicamente se formou e desenvolveu ao longo destes últimos dois séculos, já não fariam sentido, precisamente porque elas seriam em si causas da crise do funcionamento do aparelho produtivo e da economia.
VE – Nessa perspectiva, foram e são fundados os receios dos trabalhadores e dos sindicatos?
JJA – Isso transporta-nos para a outra posição a que ia
fazer referência. É natural que os trabalhadores e as suas estruturas representativas, designadamente os sindicatos, encarem com receio e desconfiança as referências à flexibilidade,
porque esta tem sido entendida pelos sectores empresarialistas
de uma forma unilateral, identificando-se apenas com prerrogativas de gestão, quando a flexibilidade não tem necessariamente de ser entendida nesse sentido restrito. Acho, aliás, que
tudo isto parte de um grande problema de base, que é a responsabilização da legislação do trabalho pelo deficiente funcionamento do aparelho produtivo e da economia.
Note-se que, inclusivamente no que respeita ao bloqueio
da contratação colectiva, o Código parece assentar na ideia de
que ele é exclusivamente imputável aos sindicatos. Diga-se, a
propósito, e para além do que já se referiu em relação ao artigo 4.°, que o novo diploma enfraquece ainda a dimensão colectiva da relação de trabalho quando, com a chamada sobrevigência, impõe em determinados termos a caducidade das
convenções. O vazio contratual, que daí resultará, não é com
toda a certeza a via para revitalizar a contratação, dado que
claramente coloca os sindicatos num estado de necessidade:
ou fazem acordos, a qualquer preço, ou deixarão que se passe
a aplicar a lei geral. Mesmo para as empresas, esta dificilmente se poderá aceitar como uma boa solução, porque, sem dúvida, será sempre preferível ter um contrato colectivo do que
não o ter. De qualquer modo é importante ter-se em conta
que, de acordo com o Tribunal Constitucional, a caducidade
da convenção não impede que os direitos nela contidos se
mantenham em vigor no âmbito dos contratos individuais de
trabalho celebrados durante a sua vigência.
VE – A rigidez da legislação do trabalho até aqui vigente pode ser responsabilizada pela fraca produtividade
em Portugal?
JJA – Era precisamente o que ia agora dizer. Sobre esta
matéria, há que ter presente dois aspectos, que eu considero
essenciais. Por um lado, quando se fala de rigidez das leis do
trabalho entende-se por isso a limitação da livre utilização da
força de trabalho por parte dos empregadores, pretendendose o retorno a uma concepção liberal do trabalho assalariado.
Ora, como já o disse, a legislação do trabalho, com a sua feição tradicional de garante de condições mínimas de trabalho,
não pode ser responsabilizada, nem em exclusivo, nem sequer
também principalmente, pelas deficiências do aparelho produtivo e da economia. O Direito do Trabalho não pode ser
sentado no banco dos réus dos problemas da economia e da
sociedade em geral. Fazer do Direito do Trabalho réu da baixa
produtividade mais não representa do que tomar a parte pelo
todo, deixando de fora muitos outros factores, por exemplo a
forma como se encontram organizadas e geridas as empresas,
o estado lastimável da educação e da formação profissional, o
facto de não se apostar nas novas tecnologias, etc. Penso que
haverá que repensar a organização do tempo de trabalho e a
mobilidade dos trabalhadores, mas sem esquecer conciliação
com a vida familiar e pessoal do trabalhador, sob pena de se
continuar a ter uma elevada taxa de absentismo – cuja razão
de ser se encontra em grande parte nessas questões, bem como
na ausência de determinadas condições sociais ou na falta de
motivação dos trabalhadores, etc.
Por outro lado, entendo que este ramo do Direito continua a ter a sua razão de ser, a sua justificação na sociedade actual. Ele continua hoje a ter a sua função social, marcada por
aquela que, no fundo, é a ideia subjacente ao longo de toda a
sua história, que é a realização de uma democracia plena, não
só civil e política, mas também económica, social e cultural –
e também, não só fora, como dentro da empresa.
O trabalhador tem que ser visto como um cidadão, que,
pelo facto de transpor as portas da fábrica ou da empresa,
não perde essa sua qualidade e que tem de ser respeitado na
plenitude dos seus direitos, de pessoa e de cidadão.
Esta é que é a grande questão do Direito do Trabalho e
penso que, quando muitas vezes se contrapõem as necessidades de gestão das empresas e da competitividade da economia à legislação laboral, isso é um falso problema.
Para mim, antes pelo contrário, o factor humano deve ser o
factor principal a ser tido em conta nessa gestão das empresas.
Não penso que se possa ver o problema de outra forma que não
seja olhar a motivação dos trabalhadores como algo de essencial
6
na ordem do dia
O
para o bom funcionamento do aparelho produtivo. E essa motivação obviamente implica o respeito pelos seus direitos.
VE – Volto à questão colocada um pouco atrás: pensa
que se terá criado um efeito psicológico nas mentalidades
de empresários e trabalhadores, no sentido em que, mesmo
tal não sendo inteiramente verdade, parece que tudo vai ser
diferente a partir de agora?
JJA – No anteprojecto havia pequenos pormenores, em
que o Governo claramente foi a esse ponto de dar sinais de
um reforço da posição patronal, até mesmo em termos psicológicos. Aspectos como o passar das cinco faltas injustificadas para as quatro faltas ou das dez para as oito como
justa causa para despedimento, etc.. Aspectos que pareciam
de pormenor, mas que tinham fundamentalmente, penso
eu, essa ideia de um aspecto psicológico e de um reforço da
ideia de que os interesses empresariais desempenhavam o
papel principal. As mudanças que se foram sucedendo, da
versão inicial do anteprojecto para a proposta de lei, depois
para o texto que foi aprovado na Assembleia da República
e, depois ainda, para a versão final, modificada na sequência da já mencionada decisão do Tribunal Constitucional
em sede de fiscalização preventiva, foram reduzindo esses
aspectos.
Agora, há o problema da efectividade das leis do trabalho. Eu penso que o quadro juslaboral existente até agora era
equilibrado, salvaguardava adequadamente os interesses de
ambas as partes da relação de trabalho e, por isso, mais do
que propriamente estar a ajustá-lo, o que se impunha era
fazê-lo ter efectividade. É que o não cumprimento da legislação laboral, não só prejudica os trabalhadores, como prejudica as próprias empresas cumpridoras, precisamente por
causa do desnível de custos sociais, que beneficia os infractores. Mais importante do que estar a modificar leis é tornálas efectivas.
VE – Mas a nossa legislação laboral era extremamente
fragmentada e, nalguns aspectos, desactualizada. Não era
necessária uma reforma?
JJA – É evidente que ninguém contesta a necessidade de
actualizar a legislação do trabalho e de adaptá-la às novas
realidades sociais e económicas. Mas isso é uma coisa, outra
coisa é subverter a função social e a essência deste ramo do
Direito que, ontem tal como hoje, regula uma relação de
poder-sujeição, em que claramente uma das partes tem o
poder económico e social sobre a outra. Isto é também uma
questão cultural. As empresas não podem estar convencidas
de que os males do funcionamento do aparelho produtivo e
da economia, a falta da competitividade das empresas e da
economia em geral se devem à legislação do trabalho. Não
me venham dizer que não se consegue gerir as empresas por
causa das garantias e dos direitos dos trabalhadores. As empresas têm que ter consciência de que o factor humano é
muito importante, é dos factores mais importantes. E, por
isso, só com motivação – e essa motivação implica o respeito pelos direitos dos trabalhadores – é que vale a pena o funcionamento dessas empresas e da economia em geral.
Para mim é uma falsa questão contrapor, como muitas
vezes aparece nos discursos, designadamente da generalidade dos economistas, que falam sempre em competitividade,
na produtividade, na rentabilidade, mas esquecendo que há
uma dimensão ética, social, na economia e nas empresas,
que não pode ser esquecida e que, antes pelo contrário, é absolutamente fundamental.
O conceito de conflitualidade, no sentido em que as
partes da relação de trabalho têm interesses autónomos e
tanto devem ser respeitados os interesses da entidade empregadora como os dos trabalhadores, é uma ideia tutelada pela
ordem jurídica, designadamente pela Constituição, e que
deve ser aceite como básica no entendimento da relação de
trabalho.
Considero que é absolutamente inadmissível que se
diga, como ainda se ouviu dizer há pouco tempo em Portugal, que os direitos e garantias dos trabalhadores têm de ser
sujeitos a interesses empresarialistas e a uma concepção economicista das relações de trabalho. Pelo contrário. Aquilo
que resulta da lei, e designadamente da Lei Fundamental, é
que a questão central do Direito do Trabalho é o respeito
pelos direitos dos trabalhadores. E, nessa medida, penso que
este processo de reforma que agora veio culminar no Código do Trabalho poderia – e deveria – ter seguido por outros
caminhos mais adequados.