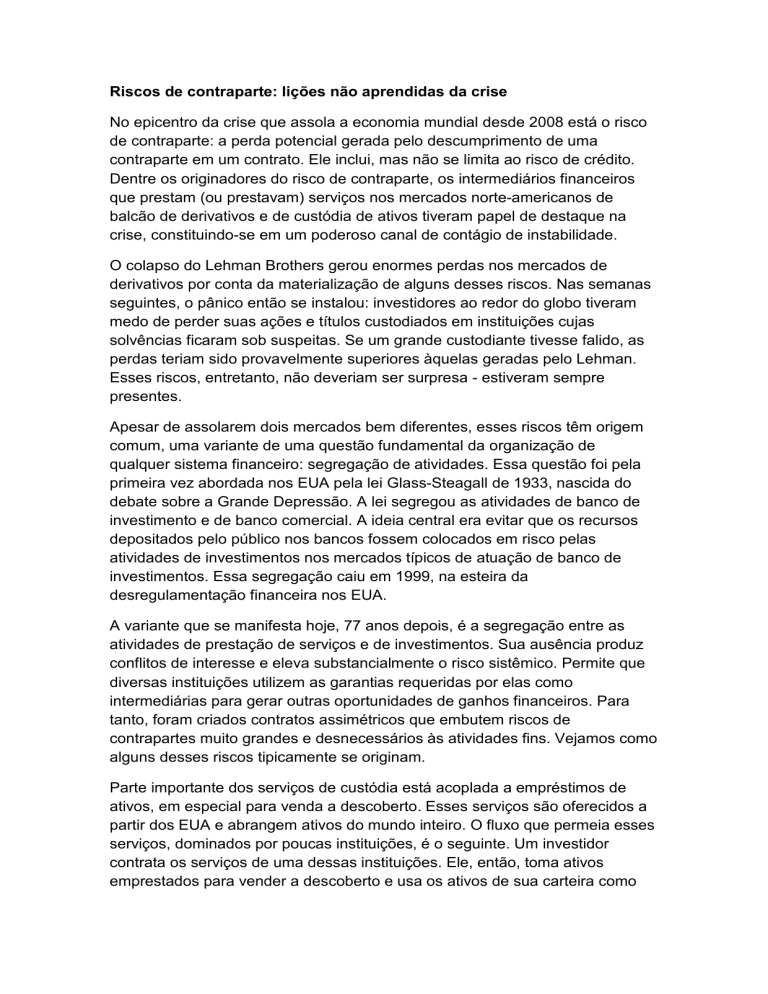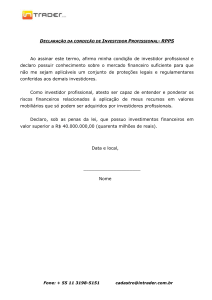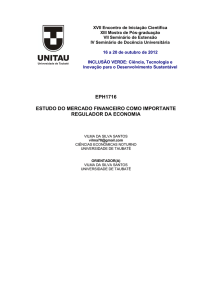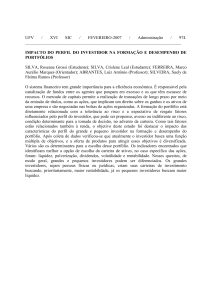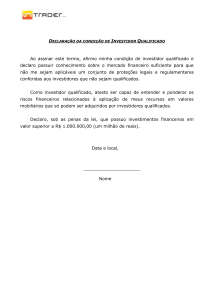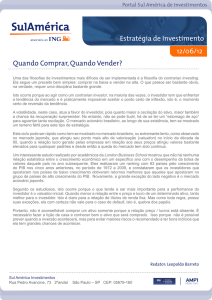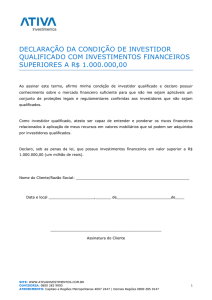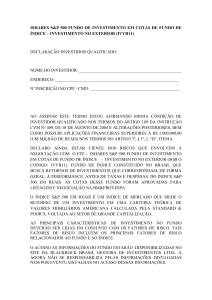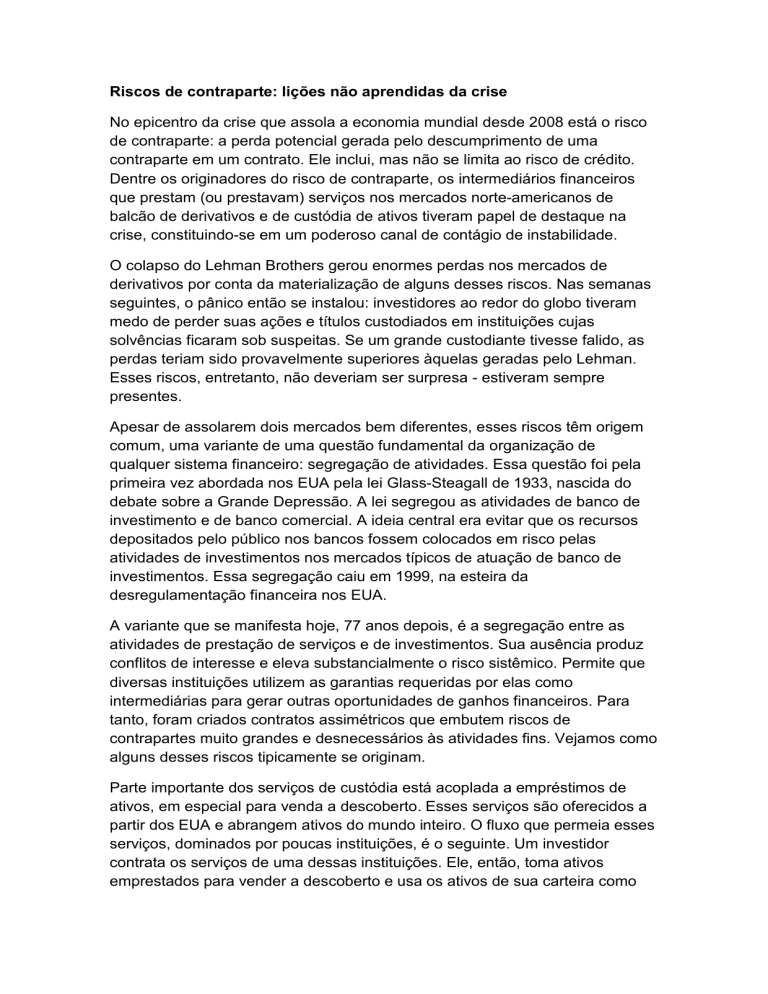
Riscos de contraparte: lições não aprendidas da crise
No epicentro da crise que assola a economia mundial desde 2008 está o risco
de contraparte: a perda potencial gerada pelo descumprimento de uma
contraparte em um contrato. Ele inclui, mas não se limita ao risco de crédito.
Dentre os originadores do risco de contraparte, os intermediários financeiros
que prestam (ou prestavam) serviços nos mercados norte-americanos de
balcão de derivativos e de custódia de ativos tiveram papel de destaque na
crise, constituindo-se em um poderoso canal de contágio de instabilidade.
O colapso do Lehman Brothers gerou enormes perdas nos mercados de
derivativos por conta da materialização de alguns desses riscos. Nas semanas
seguintes, o pânico então se instalou: investidores ao redor do globo tiveram
medo de perder suas ações e títulos custodiados em instituições cujas
solvências ficaram sob suspeitas. Se um grande custodiante tivesse falido, as
perdas teriam sido provavelmente superiores àquelas geradas pelo Lehman.
Esses riscos, entretanto, não deveriam ser surpresa - estiveram sempre
presentes.
Apesar de assolarem dois mercados bem diferentes, esses riscos têm origem
comum, uma variante de uma questão fundamental da organização de
qualquer sistema financeiro: segregação de atividades. Essa questão foi pela
primeira vez abordada nos EUA pela lei Glass-Steagall de 1933, nascida do
debate sobre a Grande Depressão. A lei segregou as atividades de banco de
investimento e de banco comercial. A ideia central era evitar que os recursos
depositados pelo público nos bancos fossem colocados em risco pelas
atividades de investimentos nos mercados típicos de atuação de banco de
investimentos. Essa segregação caiu em 1999, na esteira da
desregulamentação financeira nos EUA.
A variante que se manifesta hoje, 77 anos depois, é a segregação entre as
atividades de prestação de serviços e de investimentos. Sua ausência produz
conflitos de interesse e eleva substancialmente o risco sistêmico. Permite que
diversas instituições utilizem as garantias requeridas por elas como
intermediárias para gerar outras oportunidades de ganhos financeiros. Para
tanto, foram criados contratos assimétricos que embutem riscos de
contrapartes muito grandes e desnecessários às atividades fins. Vejamos como
alguns desses riscos tipicamente se originam.
Parte importante dos serviços de custódia está acoplada a empréstimos de
ativos, em especial para venda a descoberto. Esses serviços são oferecidos a
partir dos EUA e abrangem ativos do mundo inteiro. O fluxo que permeia esses
serviços, dominados por poucas instituições, é o seguinte. Um investidor
contrata os serviços de uma dessas instituições. Ele, então, toma ativos
emprestados para vender a descoberto e usa os ativos de sua carteira como
colateral (garantia). Por conta dessa operação, a instituição pode emprestar a
outros investidores esses mesmos ativos.
O risco de contraparte deve-se ao fato de a legislação norte-americana
qualificar esse investidor como um credor quirografário da instituição em caso
de falência desta, no que diz respeito à parte do colateral. Assim, ele não tem
prioridade no processo de falência - irá concorrer por recursos da massa falida.
Ademais, os riscos de contraparte estão concentrados em poucas instituições.
Os mercados de balcão de Nova York negociam uma grande variedade de
derivativos, com ativos subjacentes pertencentes a todas as classes de ativos e
ligados a um enorme número de países. Atraem investidores do mundo inteiro.
Um derivativo de balcão é um contrato bilateral entre uma parte, um investidor
que vem ao mercado, por exemplo, e uma instituição que atua com se fosse
um provedor de liquidez em um mercado organizado (em geral, bancos e
corretoras). Em um contrato típico, as fontes de risco são o colateral e o
resultado não realizado (ganho aferido pelo investidor mas ainda não pago pela
instituição), já que a instituição pode utilizar esses recursos em seus
investimentos. Em um cenário de falência da instituição, o investidor é, mais
uma vez, um credor quirografário no que tange a esses dois montantes.
As diretrizes que seguem podem ser empregadas para mitigar os riscos
comentados acima. Não são ideias novas - derivam das boas práticas da
administração de riscos. As atividades de prestação de serviços e de
investimentos deveriam ser segregadas. O risco sistêmico deveria ser
entendido pela sua definição mais genérica: risco de falhas que podem colocar
o sistema financeiro em perigo. Como as fontes dessas falhas podem ser
instituições, cláusulas contratuais ou procedimentos similares espalhados pelo
mercado, a gestão do risco sistêmico não deveria ser restrita à dimensão
instituição. É preciso ainda que os colaterais, recursos que visam reduzir os
danos causados pela falha de uma parte na operação, sejam blindados:
colaterais não deveriam ser empregados para criar outros riscos e deveriam
gerar o mínimo de risco de contraparte para o investidor.
Passado mais de um ano do pior momento da crise financeira, o governo norteamericano parece ainda não ter um diagnóstico que vá à raiz comum dos
riscos de contraparte acima analisados. Uma pena, pois a segregação de
atividades deveria ser uma das dimensões relevantes na discussão sobre
como lidar de forma racional com o problema da existência de instituições
grandes demais para quebrar. O governo aponta, é verdade, a direção correta
para mitigar os riscos gerados pelos derivativos de balcão: migração para
mercados organizados em bolsas. Ainda não está evidente, contudo, se esta
migração ocorrerá. Por outro lado, tem sido absolutamente omisso acerca dos
riscos gerados pela custódia. É provável que uma grande oportunidade para
eliminar riscos desnecessários (e mitigar os restantes) que rondam o sistema
financeiro internacional não seja aproveitada em conformidade com a
magnitude e extensão dos danos causados pela crise.
André d´Almeida Monteiro- Diretor de Risco e sócio da Gávea Investimentos.
Artigo publicado no jornal Valor Econômico em 26/01/10.