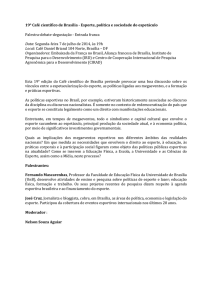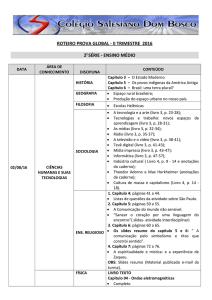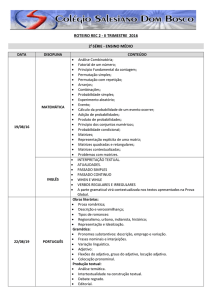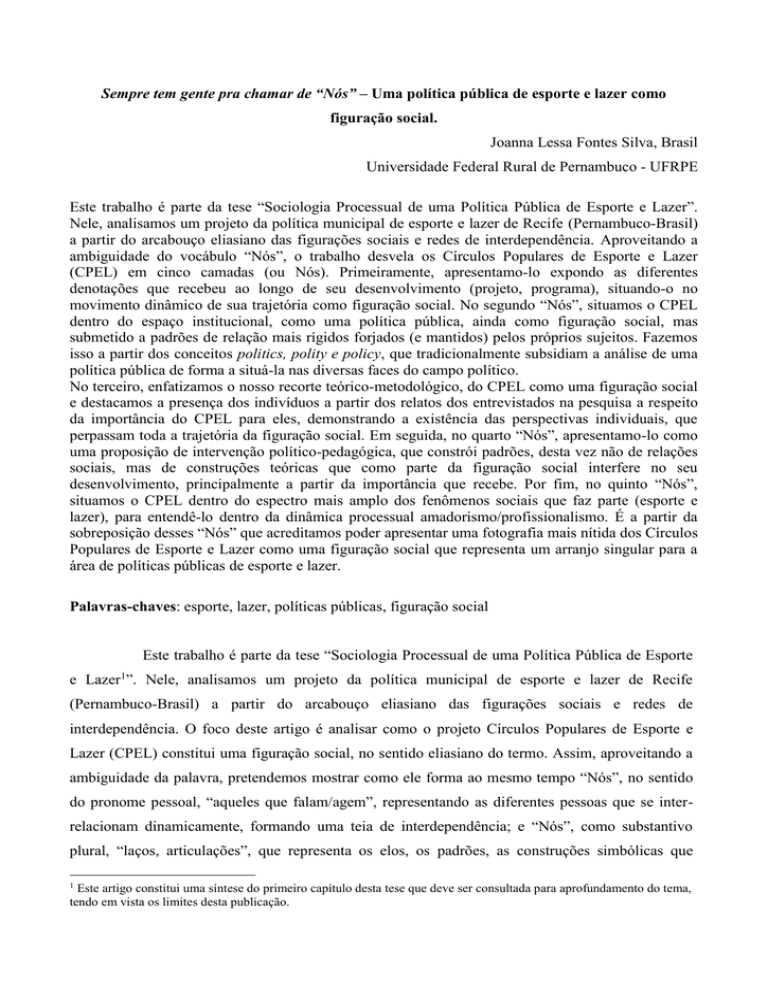
Sempre tem gente pra chamar de “Nós” – Uma política pública de esporte e lazer como
figuração social.
Joanna Lessa Fontes Silva, Brasil
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Este trabalho é parte da tese “Sociologia Processual de uma Política Pública de Esporte e Lazer”.
Nele, analisamos um projeto da política municipal de esporte e lazer de Recife (Pernambuco-Brasil)
a partir do arcabouço eliasiano das figurações sociais e redes de interdependência. Aproveitando a
ambiguidade do vocábulo “Nós”, o trabalho desvela os Círculos Populares de Esporte e Lazer
(CPEL) em cinco camadas (ou Nós). Primeiramente, apresentamo-lo expondo as diferentes
denotações que recebeu ao longo de seu desenvolvimento (projeto, programa), situando-o no
movimento dinâmico de sua trajetória como figuração social. No segundo “Nós”, situamos o CPEL
dentro do espaço institucional, como uma política pública, ainda como figuração social, mas
submetido a padrões de relação mais rígidos forjados (e mantidos) pelos próprios sujeitos. Fazemos
isso a partir dos conceitos politics, polity e policy, que tradicionalmente subsidiam a análise de uma
política pública de forma a situá-la nas diversas faces do campo político.
No terceiro, enfatizamos o nosso recorte teórico-metodológico, do CPEL como uma figuração social
e destacamos a presença dos indivíduos a partir dos relatos dos entrevistados na pesquisa a respeito
da importância do CPEL para eles, demonstrando a existência das perspectivas individuais, que
perpassam toda a trajetória da figuração social. Em seguida, no quarto “Nós”, apresentamo-lo como
uma proposição de intervenção político-pedagógica, que constrói padrões, desta vez não de relações
sociais, mas de construções teóricas que como parte da figuração social interfere no seu
desenvolvimento, principalmente a partir da importância que recebe. Por fim, no quinto “Nós”,
situamos o CPEL dentro do espectro mais amplo dos fenômenos sociais que faz parte (esporte e
lazer), para entendê-lo dentro da dinâmica processual amadorismo/profissionalismo. É a partir da
sobreposição desses “Nós” que acreditamos poder apresentar uma fotografia mais nítida dos Círculos
Populares de Esporte e Lazer como uma figuração social que representa um arranjo singular para a
área de políticas públicas de esporte e lazer.
Palavras-chaves: esporte, lazer, políticas públicas, figuração social
Este trabalho é parte da tese “Sociologia Processual de uma Política Pública de Esporte
e Lazer1”. Nele, analisamos um projeto da política municipal de esporte e lazer de Recife
(Pernambuco-Brasil) a partir do arcabouço eliasiano das figurações sociais e redes de
interdependência. O foco deste artigo é analisar como o projeto Círculos Populares de Esporte e
Lazer (CPEL) constitui uma figuração social, no sentido eliasiano do termo. Assim, aproveitando a
ambiguidade da palavra, pretendemos mostrar como ele forma ao mesmo tempo “Nós”, no sentido
do pronome pessoal, “aqueles que falam/agem”, representando as diferentes pessoas que se interrelacionam dinamicamente, formando uma teia de interdependência; e “Nós”, como substantivo
plural, “laços, articulações”, que representa os elos, os padrões, as construções simbólicas que
1
Este artigo constitui uma síntese do primeiro capítulo desta tese que deve ser consultada para aprofundamento do tema,
tendo em vista os limites desta publicação.
tiveram origem a partir destes indivíduos em interação e se desenvolveram dinamicamente na
realidade social. Esta dupla de “Nós” é indissociável, a semelhança da relação entre indivíduo e
sociedade discutida por Elias (suas várias obras, mas com destaque 1994), que tem como
propriedade a interdependência. Assim, não é possível termos Nós sem Nós.
O primeiro “Nós” – Projeto e programa
Como projeto, os Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL) tem o ano de 2002
como referência, quando se inicia um projeto piloto com idosos no bairro de Brasília Teimosa,
cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Concomitantemente, outros projetos e ações eram
desenvolvidos. Além do CPEL, tínhamos: os Arrastões do Lazer, o Plano de Reordenamento e
Gestão Democrática dos Espaços Esportivos e de Lazer do Recife, o Plano de Normatização,
Valorização e Ampliação do Quadro Docente e Funcional do Esporte & Lazer e o Esporte do
Mangue. Esses projetos correspondiam aos focos principais para responder aos problemas
diagnosticados pelos atuais gestores, na área de esporte e lazer no Recife 2, assim como para alinhálo com os eixos/diretrizes que orientavam o segundo ano daquela gestão municipal. Naquele
momento, o CPEL era definido como:
...consiste na formação de núcleos de convivência social (voltados aos segmentos da
infância, juventude, adultos e idosos) que possibilite o acesso sistemático e permanente a
práticas e conhecimentos relacionados ao campo da cultura corporal & esportiva, tendo em
vista à promoção dos direitos humanos, sociais, políticos e culturais das comunidades
empobrecidas do Recife”. (PREFEITURA DO RECIFE, [2002a]).
Ele fazia parte, junto com aqueles outros projetos, da Diretoria Geral de Esportes (DGE),
um setor da recém-estruturada Secretaria de Turismo e Esportes. A DGE tinha como missão
institucional e marca dentro da Secretaria o “Desenvolvimento do Esporte e Lazer Popular”,
colocando-a diante da estruturação da política municipal de esporte e lazer.
O CPEL era o projeto carro-chefe e logo se tornaria mais amplo, abarcando e dando a
linha aos outros projetos, sendo transformado em programa. Esta mudança estava diretamente
relacionada a seu embasamento político e pedagógico que continha os princípios e diretrizes que
subsidiavam a política municipal de esporte e lazer de uma forma geral e não apenas para o
desenvolvimento de núcleos de convivência. No Relatório da Gestão 2001-2004 temos a
2
Problemas: 1. Orçamento muito abaixo das reais necessidades, 2. Infra-estrutura, 3. Divulgação das Ações,
4. Inadequação do Modelo de Gestão para as Ações Integradas; Insuficiência do quadro docente e funcional,
e de uma política de valorização do professor que atua no setor de esporte e lazer; 5. Uso privado e restrito
dos espaços esportivos públicos em função dos comodatos firmados nas gestões anteriores; 6. Ausência de
animação nos parques e praças da cidade; 7. Ausência de animação nos parques e praças da cidade; 8.
Ausência de apoio as iniciativas populares de esporte e lazer; 9. Falta de acesso dos vários segmentos da
população (especificamente a população de baixa renda) às práticas sistemáticas de esporte e lazer.
2
sistematização desta modificação, com o CPEL numa dimensão “guarda-chuva” que abriga uma
série de projetos.
Um estudo feito por Almeida (2010) destrincha a estrutura da política de esporte e lazer
recifense, dividindo as ações em programáticas e estruturadoras. Segundo a autora, as ações
programáticas são aquelas relacionadas “às atividades finalísticas, ou seja, às atividades-fim, como
os programas, projetos e eventos direcionados à população” (p.73). São elas: atividades
sistemáticas, atividades periódicas e atividades eventuais. Já as ações estruturadoras são aquelas
“relacionadas à organização e suporte das atividades fins” (ALMEIDA, 2010, p.74), onde temos:
Formação Continuada de Esporte e Lazer, Manutenção de Espaços e Equipamentos de Esporte e
Lazer e Execução orçamentária.
A estrutura formulada por Almeida (2010) nos dá uma perspectiva geral da forma de
organização que a política pública municipal de esporte e lazer alcança 3 e sua contribuição no
desenvolvimento de políticas públicas numa perspectiva geral. Ela nos ajuda a evidenciar os
diferentes sentidos que o CPEL teve ao longo de sua trajetória: desde uma ação específica
desenvolvida através do projeto Círculos de Convivência Social, até o formato de Programa que
abrange todas as ações programáticas e ao mesmo tempo dá a direção às ações estruturadoras, com
as oscilações de predominância entre eles. Entretanto, ficam vazios os espaços que mostram como
esta estrutura foi construída a partir de um contexto múltiplo e diverso, repleto de teias de relações
sociais interdependentes, que incorpora diferentes níveis da ação política, entre eles uma forma
emergente: as políticas públicas.
O segundo “Nós” – O CPEL como ação de governo
A ideia de políticas públicas vem do pós-guerra, quando os governos já se colocavam
diante de uma nova forma de organização que enfatizava o planejamento estatal de um lado, e de
outro, o Estado era responsabilizado pela garantia dos direitos dos cidadãos. A partir de seu
desenvolvimento histórico, com a consolidação do Estado de Direito, moldado pela relação
demanda/direito e dentro de um contexto de transformações sociais significativas 4, efetiva-se como
uma nova forma do fazer político, ou seja, “uma configuração específica de relações de poder, que
seja institucionalizada, recorrente e estruturada” e que convive dinamicamente com outras formas
3
Esta estrutura se refere a 2009/2010 e será válida até 2012.
Di Giovanni (2009) indica quatro fatores históricos marcantes: o primeiro, de natureza macro econômica: o
questionamento da economia baseada no livre jogo das forças de mercado; o segundo, de natureza
geopolítica, fim da bipolarização entre os blocos capitalista e comunista; o terceiro, de natureza política, de
consolidação das democracias ocidentais (ainda que com retrocessos); o quarto, de natureza cultural e
sociológica, com a incorporação dos direitos de cidadania e expectativa/atribuição da materialização deles
pelo Estado.
4
3
como: o populismo, o coronelismo, o mandonismo local e o corporativismo (DI GIOVANNI, 2009,
p.6).
O desenvolvimento da área trará uma série de conceitos que subsidiam os estudos de
análise de políticas públicas (policy analysis), sendo três deles os que definem as questões centrais
para a ação governamental: a polity (a política na sua dimensão institucional; se refere aos acordos e
pactos entre os diversos atores, questões mais gerais); politics (a política na sua dimensão processual,
de conflitos e consensos entre os diversos atores) e a policy (a política na sua dimensão material, seus
conteúdos concretos e especificidades do resultado do jogo político) (FREY, 2000; COUTO &
ARANTES, 2002).
Tentando analisar o CPEL por meio destes conceitos, podemos dizer que o primeiro Nós
apresentado – com a exposição feita a partir da diferenciação de projeto e programa - se refere
predominantemente à policy, ou o conteúdo concreto da ação do governo, onde indicamos
sucintamente os programas e projetos realizados. Foi possível perceber o desenvolvimento de uma
estrutura de política pública que busca contemplar a demanda por esporte e lazer dos cidadãos do
Recife a partir de suas várias perspectivas: estruturadoras (espaço/equipamento, formação
profissional e execução administrativo-orçamentária) e programáticas (sistemática, eventual e
periódica). Além disso, visualizamos a preocupação com os vários segmentos etários e com os
diversos conteúdos da cultura corporal (ginástica, dança, jogos) para além do esporte. Alguns se
destacam com atividades específicas, como é o caso da juventude (com um evento próprio, o
Esporte do Mangue) e do futebol (com o Campeonato Futebol Participativo).
No que se refere à politics, relembramos a conjuntura na qual o CPEL é implementado
na Prefeitura do Recife. Ela é fruto da vitória da Frente Popular, encabeçada pelo Partido dos
Trabalhadores, no jogo político (neste caso as eleições municipais), conjuntamente com a
estruturação e desenvolvimento de um Setorial de Esporte e Lazer5 no PT em Recife, instância
partidária que acumulou debate sobre o setor de esportes e buscou tomar a frente como espaço
legítimo para indicar o(s) nome(s) que assumiriam a pasta de esporte, naquele momento vinculado à
Secretaria de Turismo.
Esse espaço político ocupado pelo CPEL se conecta diretamente com as necessidades da
policy e o que se construiu historicamente na polity. Teremos um cenário inicial bastante restrito que
exibe uma dissonância entre a estrutura disponível e a ação concreta. Além disso, uma pulverização
do esporte e do lazer nas ações do governo e que estabelecem pouco diálogo, retratando a
conjuntura da politics. No período em questão (o início do projeto, em 2002), além da Diretoria de
Definição de setorial: “Art. 128. Os Setoriais são instâncias partidárias que organizam os filiados e as
filiadas junto aos diferentes movimentos sociais” (PT, 2012).
5
4
Esportes, temos o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) como uma autarquia – e por
isso com maior amplitude de atuação administrativo-financeira – também responsável pelas ações
do setor esportivo e sob o gerenciamento de um outro grupo político. Além disso vários projetos
eram realizados em departamentos diversos (Secretaria de Assistência Social, a Gerência de
Animação Cultural, EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana), entre outros). A
problemática estava muito mais na falta de diálogo entre os projetos e órgãos, do que propriamente
na sua descentralização, demonstrando de um lado as disputas do campo político e de outro a
inexistência de uma política de esporte e lazer municipal que seria a responsável por articular essa
diversidade de atuação dentro do governo.
Assim, até aqui temos os Círculos Populares na sua perspectiva formal-institucional de
projeto/programa que coloca/representa “o governo em ação”, numa definição mais geral de política
pública, empreendida num setor específico, a área de esporte e lazer.
O terceiro Nós – o CPEL como figuração social
O entendimento do CPEL dentro da Politics, da Polity e da Policy ajuda-nos a
diferenciar a nossa opção de partida para esta investigação. Ainda que considere os atores políticos
dentro das estruturas, estes conceitos não nos permitem enxergar a rede que se forma para além da
instituição. De um ponto de vista sociológico, os Círculos Populares representam um grupo de
indivíduos em permanente movimento no espaço social e ligados por concepções, teorias, regras de
trabalho, laços de amizade, entre outros. Consiste ao mesmo tempo numa formação social planejada
– porque foi idealizada por indivíduos e incorporada à realidade social a partir de um planejamento
anterior considerando uma série de fatores – e uma formação social não planejada, na medida em
que a cadeia de (rel)ações interdependentes dos indivíduos gera uma formação social dinâmica que
foge ao controle de seus planejadores.
Nesta perspectiva, este trabalho apresenta os Círculos Populares de Esporte e Lazer
como uma figuração social. Este conceito, formulado por Norbert Elias, traz-nos a possibilidade de
analisar o CPEL a partir de como ele se realiza em diferentes níveis.
A ideia central do conceito está no seu aspecto relacional em que transparecem as
múltiplas relações existentes entre os indivíduos, de forma interdependente. Mantendo o movimento
próprio da dinâmica social – já que a ideia de figuração denota uma formação em contínua mudança
–, Elias nos mostra como a ideia de indivíduos (indivíduo no plural) está interligada com a ideia de
sociedade. Diz ele: “...embora a sociedade, as relações entre as pessoas, tenham uma estrutura e
5
regularidade de tipo especial, que não podem ser compreendidas em termos do indivíduo isolado,
ela não possui um corpo, uma “substância” externa aos indivíduos” (ELIAS, 1994b, p.56-57).
Assim, entender o CPEL como figuração social nos permite extrapolar sua definição de
projeto ou programa, colocando o foco na perspectiva sociológica, das agências e estruturas
envolvidas na sua realização, considerando em seu bojo o conjunto de atores que se relacionam para
sua execução seja do ponto de vista da política pública municipal executada, seja do ponto de vista
da concepção/ideia/proposta que agrega diversos outros agentes. Desta forma, fazemos o CPEL
cruzar a fronteira de política pública (governo em ação), para apresentá-lo como uma rede de
interdependências, de relações múltiplas e complexas, formada por indivíduos, num espaço e tempo
específicos.
A condição de existência dos Círculos Populares de Esporte e Lazer como figuração
social está relacionada à interdependência dos indivíduos que construíram o projeto. Formada por
indivíduos, a figuração social é flexível à noção de tempo. Para Elias existe uma autonomia relativa
em relação aos indivíduos que as formam, mas nunca em relação aos indivíduos em geral (ELIAS,
2006). A existência desta autonomia é que determina a diferença entre o CPEL, por exemplo, e os
indivíduos singulares que o constituem. A rede de interdependências entre os indivíduos não
compreende assim uma amarra para os indivíduos singulares na sua ação, mas é certamente um fio
invisível que os prende uns aos outros, a partir dos diferentes graus de envolvimento na existência do
projeto.
Durante entrevistas realizadas nesta pesquisa, emergiram algumas das diversas relações
que foram estabelecidas entre os indivíduos no CPEL. Das inúmeras narrativas da construção do
projeto, imbricada nas emoções, inquietações e expectativas, encontramos os “Nós” que se formam
entre os indivíduos e outros indivíduos, mas também entre os indivíduos e as ideias e ações.
Num âmbito mais individual, alguns entrevistados enfatizaram a importância do projeto
em sua vida. A identificação da importância do projeto muitas vezes fica no âmbito coletivo, dos
“Nós”, principalmente atribuída a relação das pessoas umas com as outras
na condição de
trabalhadores, de pessoas que se envolveram em prol de um determinado objetivo. A importância
depende da figuração social em si, da posição que o indivíduo assumiu naquela figuração e das
posições que ele vê como importantes e que trazem benefícios de várias ordens.
Outras importâncias são trazidas a partir da relação do indivíduo com os outros, com os
participantes, que ocupam uma posição diferente nessa figuração social. A relação “Eu e Eles”, ou
“Nós e Eles” se diferencia da relação “Nós” que emerge em indivíduos de uma mesma posição, nas
primeiras entrevistas citadas, na condição de trabalhadores. A citação seguinte demonstra essa outra
relação com os outros, aqueles que participam, que formam a figuração de outra posição.
6
E o CPEL na minha vida vem a partir também do que a gente enxerga enquanto vínculo que
a gente tem feito as pessoas estabelecerem. A gente tem provocado, a partir dessa
intervenção. As vezes a gente não tem muita... as vezes não cai a ficha dessas coisas, mas o
volume de coisas, o legado que a gente vem deixando muito mais do que a quantidade de
praças, a quantidade de quadras, o próprio ginásio. Quando a gente vai olhar pras pessoas e
que elas modificaram a sua vida a partir da intervenção... e que as vidas elas foram
modificadas a partir da intervenção da gente... é aí que o CPEL entra na minha vida... (J.F,
Entrevista em 22/11/2012).
Ao mesmo tempo emergem aqui as relações afetivas com os “Eles”, no sentido dos
participantes, mas também com a proposta em si, com sua materialização. Há também, nas
entrelinhas, uma perspectiva de relação de apropriação do projeto a partir desses “Nós”, como se
houvesse uma relação menos dinâmica da proposta com a figuração em si. Emerge também aqui, de
forma imbricada a relação com o “Nós” construído como política pública, como espaço institucional
ocupado. Adiante, isso é reforçado pelas concepções, pelo conjunto de ideias construídas e
desenvolvidas pelo CPEL como elementos diferenciadores da ação.
E aí eu acho que os Círculos, ele é isso, os Círculos Populares é essa formação desse círculo
de convivência. E quando ele incorpora isso também a outras, vai surgindo outros projetos e
outros programas e a política vem avançando e vem crescendo, isso só faz fortalecer cada
vez mais o programa dos Círculos Populares, porque não dá pra dissociar ele da política do
âmbito geral, ele, sem dúvida, é um dos principais, e porque que a gente diz que é um dos
principais programas é porque a gente mexe diretamente com a vida das pessoas, a gente está
lá sistematicamente no lugar em que as pessoas moram, fazendo um trabalho, seja com a
mãe, com o pai, ou com o filho, ou com o vizinho ou com o sobrinho (R.L., Entrevista em
09/11/2012).
Em todas as entrevistas foi possível perceber que a participação dos entrevistados não era
aleatória. O grau de importância é diferenciado a partir de cada olhar referente às diferentes relações
estabelecidas, o que nos coloca diante da heterogeneidade própria de uma figuração social.
O quarto Nós – o CPEL como uma proposta de intervenção político-pedagógica
A condição que permitia ao CPEL trazer um novo olhar sobre o esporte para a cidade não
pode ser explicado apenas pela relação entre os indivíduos, precisamos também considerar a
existência de um corpo de ideias e crenças construídas ao longo do tempo e paulatinamente sendo
organizadas e reconstruídas. Este corpo será ao mesmo tempo o diferencial do CPEL para outros
tantos projetos que emergem nas políticas de esporte e lazer, quanto o elemento que abranda e
fortalece a relação entre os indivíduos nessa figuração social, interferindo no seu desenvolvimento
(ELIAS, 2005).
O CPEL é um projeto cunhado em meados da década de 1990. Para além de ser uma
figuração social, sob a qual uma série de indivíduos se interrelacionam, é também um sistema de
ideias desenvolvido – pelos indivíduos - a partir das mais diversas influências políticas e pedagógicas
7
(experiências do MCP – Movimento de Cultura Popular, desenvolvido em Recife, na década de
1960; referências da educação popular como Paulo Freire e Moacir Gadotti; o Coletivo de Autores,
obra que apresenta reflexões e indicações pedagógicas para a educação física dentro da escola de um
ponto de vista crítico, a Pedagogia Socialista de Pistrak; a Teoria do Valor, de Marx; a relação entre
os intelectuais e a cultura, de Gramsci, entre outras). Este corpo de ideias foi sendo desenvolvido e
sistematizado ao longo do tempo, sendo socializado por meio de publicações acadêmicas,
apresentações de trabalhos em congressos e encontros, artigos, nos encontros de formação
continuada promovidos pelos gestores do CPEL, entre outros. De forma mais organizada,
encontramos essa formulação sintetizada num pequeno livro chamado: “Círculos Populares de
Esporte e Lazer: fundamentos da educação para o tempo livre”, de (SILVA & SILVA, 2004).
A fundamentação teórica que dá direcionamento à ação dos Círculos, seja na ação
pedagógica propriamente dita (tomando como base os Círculos de Convivência), seja nos princípios
e valores que regem as ações dos vários projetos, assim como as concepções de esporte e lazer, está
relacionada com a teoria marxista e o debate realizado pelos partidos e intelectuais da esquerda. É a
partir dela que o CPEL se conforma como uma proposição de intervenção político-pedagógica que
tem como fim a chamada “educação para o tempo livre”. A partir dela, o CPEL se dispõe então a
contribuir para a transformação da realidade social em vistas à emancipação humana sendo esta sua
finalidade educativa. Assim, “se organiza um processo pedagógico através do lazer e esporte,
enquanto exercícios críticos, enquanto educação no e para o tempo livre” (SILVA, 2005a, p.161).
A base para a proposta de organização pedagógica são os Círculos de Convivência, e sua
materialização se inicia a partir do projeto piloto de Brasília Teimosa. Ela tem como inspiração a
obra de Moisey Pistrak (2000), para subsidiar as oficinas, o diálogo teoria e prática e o princípio da
auto-organização. Metodologicamente, tem como orientação o método didático de Saviani (2008)
que toma como ponto de partida e chegada a Prática Social, que se modifica a partir da intervenção
realizada transformando-se em uma nova Prática Social que se tornará em seguida o novo ponto de
partida.
A partir disso, buscava-se que o lazer e o esporte como construções humanas (e práticas
sociais) não tivessem apenas o cunho de reprodução e recuperação, sendo utilizados a partir de uma
perspectiva pedagógica crítica para favorecer o desenvolvimento humano. Neste sentido, três valores
são delineados para orientar a atuação da Diretoria Geral de Esportes, onde o CPEL está inserido: I Esporte como fator de desenvolvimento humano, II - Lazer como instrumento pedagógico de
elevação cultural e da consciência política e III - Esporte e lazer como fator de inclusão social.
Esses valores apontam a orientação político-institucional. O CPEL, então, estará imbuído
desses valores para orientação da prática pedagógica, seu instrumento de intervenção específico a
8
partir dos círculos de convivência e que mais tarde se amplia para as intervenções dos vários
projetos. A partir da reflexão teórica orientadora em conjunto com a prática cotidiana dos projetos e
dos debates políticos e acadêmicos, são delimitados alguns princípios pedagógicos que regem a
prática dos projetos. São eles: 1) o trabalho socialmente útil, 2) o desenvolvimento da cultura
popular, 3) a auto-organização e trabalho coletivo; 5) a intergeracionalidade.
Outros instrumentos são colocados como forma de organização do trabalho pedagógico:
planejamento participativo, escolinhas esportivas, seminários e encontros participativos, festivais,
arrastões do lazer e colônia de férias (SILVA & SILVA, 2004).
A proposta vai sendo desenvolvida com o caminhar do projeto e sua síntese, o livro, se
torna uma referência a partir da qual os gestores e educadores passam a construir seus horizontes,
assim como, orienta avaliações e instrumentos de monitoramento.
O quinto Nós – o CPEL no processo de esportivização
A produção cultural à qual o CPEL está diretamente ligado é o esporte, manifestação
cultural que teria surgido a partir das transformações dos divertimentos públicos na sociedade
burguesa-industrial. De acordo com Elias & Dunning (1985), o surgimento dos esportes modernos se
dá na Inglaterra a partir da “esportivização” dos divertimentos públicos. Espalhados pelo mundo num
estágio do processo de esportivização, de globalização das práticas esportivas (MAGUIRE, 2002), e
que no caso brasileiro está ligado à vinda dos imigrantes estrangeiros, os esportes deságuam no país
com ares de modernidade, sendo apropriados pelas elites (LUCENA, 2001) e estruturados a partir de
um tipo de figuração pré-existente – e também de origem inglesa: os clubes (MELO, 2001; 2007).
Dentro desses clubes, as elites criarão os discursos para legitimar os esportes, ainda respaldados por
uma percepção do trabalho como dever de camadas sociais “menos distintas” e que atribui ao esporte
o amadorismo como valor primordial.
De forma geral, podemos destacar quatro momentos marcantes na relação entre o esporte
e o Estado: 1) que vai do final do século XVIII ao Estado Novo, quando modalidades como o turfe, o
remo e o futebol chegam e se desenvolvem no Brasil a partir da organização clubística; 2) Do Estado
Novo à Ditadura Militar, onde temos a consolidação de alguns esportes, chegada de outros; além
disso, o esporte começa a fazer parte dos interesses do Estado e da Mídia brasileiras. 3) As décadas
de 1980 e 1990 que trazem junto à democratização do país, um acúmulo maior sobre a reflexão
acerca do esporte, seu papel na sociedade e sua necessária relação com os governos, surgindo
propostas e projetos de democratização; 4) Final da década de 1990 em diante, quando teremos o
aumento do número de trabalhos refletindo sobre os esportes na realidade social de um lado, e de
9
outro, inúmeros partidos políticos e governos pautando o esporte e realizando políticas locais com
base no direito social afirmado na Constituição de 1988 (BUENO, 2008; MANHÂES, 2002).
Esses quatro momentos enfatizam a consolidação de um campo esportivo no Brasil que
veio se fortalecendo cada vez mais nos últimos anos e do qual fazem parte as diversas iniciativas de
políticas públicas de esporte, nas suas diversas manifestações. Para Bourdieu (1990), pensar a
existência de um campo esportivo significa questionar a existência de um espaço de produção dotado
de lógica própria, para então identificar a existência deste espaço, com práticas particulares e
históricas, as quais devem ser investigadas e analisadas, de forma a permitir o conhecimento do que
seria a estrutura do campo dos esportes. Em Bourdieu (1990), o campo é um espaço de disputas, de
concorrência, entre os agentes e instituições pelo capital próprio do campo e que dará origem a subcampos ou figurações específicas. No caso do campo esportivo, a Constituição Federal Brasileira de
1988 considera a existência de três dessas manifestações no que se refere ao esporte: a) o desportoperformance; b) desporto-participação; e c) desporto-educação (BRACHT, 2003). No caso
específico do CPEL, encontramos nele uma opção pela manifestação desporto-participação ou
esporte de lazer. Essa identificação está ligada a estruturação teórica e ideológica que os indivíduos
da figuração social construíram para subsidiar sua ação e conectar-se com os eixos que norteiam a
gestão naquele momento. Assim, na policy vemos claramente realizar-se uma opção política e social
que ajuda a fortalecer um padrão de relação de interdependência, sua condição de figuração social.
Concluindo: amarrando os Nós
Realizamos aqui um desvelamento do CPEL em suas diferentes camadas – seus
diferentes “Nós”: as mudanças de forma ao longo do tempo (projeto/programa), a condição políticoinstitucional como uma política pública, a teia de relações de indivíduos, a proposição políticopedagógica e o contexto social mais amplo do qual é parte (esporte e lazer). Com isso, foi possível
evidenciar como ao longo do tempo as figurações vão criando “Nós” que se autonomizam na
realidade social, mas sempre de forma interdependente, mantendo os fios que o conformam como
tecido social.
É a partir da sobreposição desses “Nós” que acreditamos ter agora uma fotografia mais
nítida dos Círculos Populares de Esporte e Lazer - para compreendê-lo na sua complexidade - como
uma figuração social que representa não apenas um projeto, um programa, uma proposta
pedagógica, um conjunto de indivíduos, um espaço dentro de um campo social, mas sim esse todo
conjuntamente, imbrincado, que conforma um arranjo singular, de indivíduos interdependentes, para
a área de políticas públicas de esporte e lazer.
10
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, B. C. (2010). Política de esporte e lazer do Recife: a elaboração de um instrumento de
avaliação. 2010. 142f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, UFPE, Recife.
BAUER, M. W.; GASKELL, G. (2002) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual
prático. Petrópolis: Editora Vozes.
BOURDIEU, P. (1989). A Génese dos Conceitos de Habitus e de Campo. In: BOURDIEU, P. O
Poder Simbólico. Lisboa/São Paulo: Difel/Berfrand Brasil, p.59-74.
BOURDIEU, P. (1990). Programa para uma Sociologia dos Esportes. In: BOURDIEU, P. Coisas
Ditas. São Paulo: Brasiliense, p.207-220.
BRACHT, V.(2003) Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Ijuí, Ed. Unijuí.
BUENO, L.(2008) Políticas Públicas do Esporte no Brasil – razões para o predomínio do alto
rendimento. 2008. 200f. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo) – Escola de
Administração de Empresas, FGV, São Paulo.
COUTO, C.; ARANTES, R.B.(2002) Constituição, Governo e Democracia no Brasil. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 21, no 61, pp. 41-62.
DI GIOVANNI, G (2009). As estruturas elementares das políticas públicas. Caderno de Pesquisa
n.82, NEPP, Unicamp.
ELIAS, N.(1994a). A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994a.
ELIAS, N.(1994b). O Processo Civilizador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, vol. 1 e 2.
ELIAS, N.(2003). The Genesis of Sport as a sociological problem. In: DUNNING, E.; DOMINIC,
M. Sport: critical concepts in Sociology. London: Routledge, p.102-126.
ELIAS, N (2005). Introdução à Sociologia. Lisboa, Edições 70.
ELIAS, N (2006). Escritos & Ensaios 1: Estado, processo, opinião pública. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar.
ELIAS, N.(2008). Sociologia do conhecimento: novas perspectivas. Sociedade e Estado, Brasília, v.
23, n. 3, p. 515-554, set./dez. 2008 (Tradução e revisão: Leonardo Fernandes Nascimento e Dmitri
Cerboncini Fernandes. Publicado originalmente sob o título de Sociology of knowledge: new
perspectives – part one. Revista Sociologia, 1971:5, p. 149-168.)
ELIAS, N.; DUNNING, E (1985). A Busca da Excitação. Lisboa: Difel.
FREY, K.(2000). Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise
de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, São Paulo, n. 21, p.210-259, jun.
LUCENA, R.(2001). O esporte na cidade: aspectos do esforço civilizador brasileiro. Campinas, SP,
Autores Associados.
11
MAGUIRE, J. A.(2002). Sport Worlds: a Sociological Perspective. Human Kinetics.
MANHÃES, E.D. (2002). Política de Esportes no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
MELO, V.A. de (2007). Dicionário do Esporte no Brasil: Do século XIX ao início do século XX.
Campinas, SP: Autores Associados.
MELO, V.A. de (2001). Cidade sportiva: primórdios do esporte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
Relume Dumará, FAPERJ.
PISTRAK, M. (2000). Fundamentos da escola do trabalho. SP, Expressão Popular.
SAVIANI, D.(2008). Escola e Democracia. Edição Comemorativa. Campinas: Autores Associados.
SILVA, J. A. de A da; SILVA, K. N. P. (2004). Círculos populares de esporte e lazer: fundamentos
da educação para o tempo livre – Recife: Bagaço.
SOUZA, C. (2003). "Estado do campo" da pesquisa em políticas públicas no Brasil. Rev. bras. Ci.
Soc. [online], vol.18, n.51, pp. 15-20. ISSN 0102-6909.
SOUZA, C. (2006). Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias [online]. 2006, n.16,
pp. 20-45. ISSN 1517-4522.
DOCUMENTOS
PREFEITURA DO RECIFE, Seminário de Gestão estratégica – Secretaria de Turismo e Esportes,
Finatec, Sd.[2002a].
PT.
Estatuto
do
Partido
dos
Trabalhadores.
Disponível
http://www.pt.org.br/arquivos/ESTATUTO_PT_2012_-_VERSAO_FINAL.pdf.
Acessado
em:
em
10/09/2013.
12
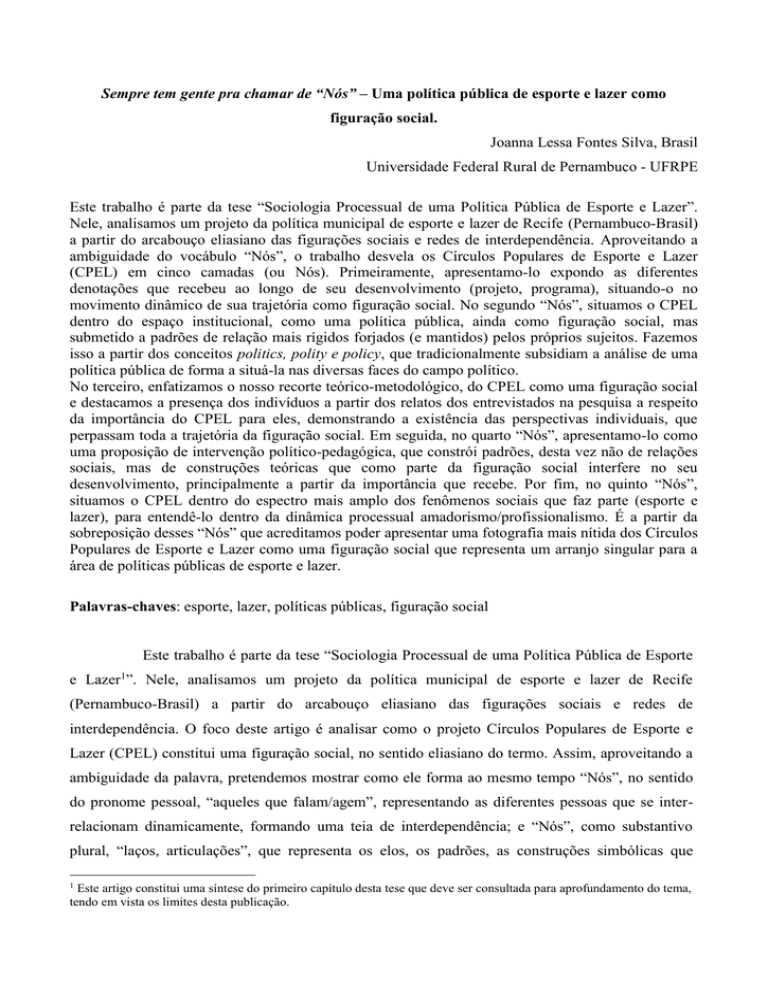
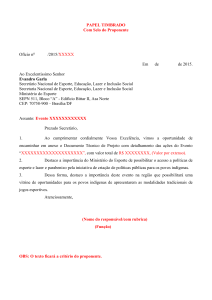

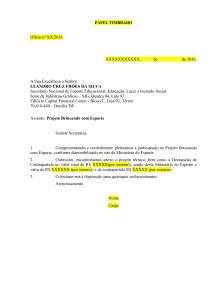
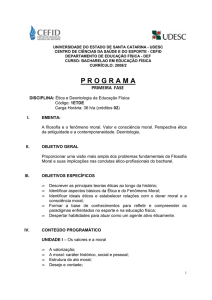
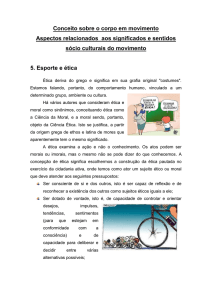
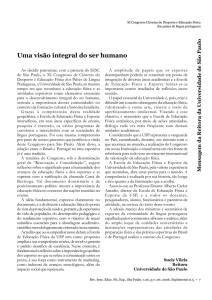

![José Carlos Brunoro – Sociedade Esportiva Palmeiras [Resumo]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002401020_1-1a47fa8c0a842fbc00730d7383dbd15a-300x300.png)