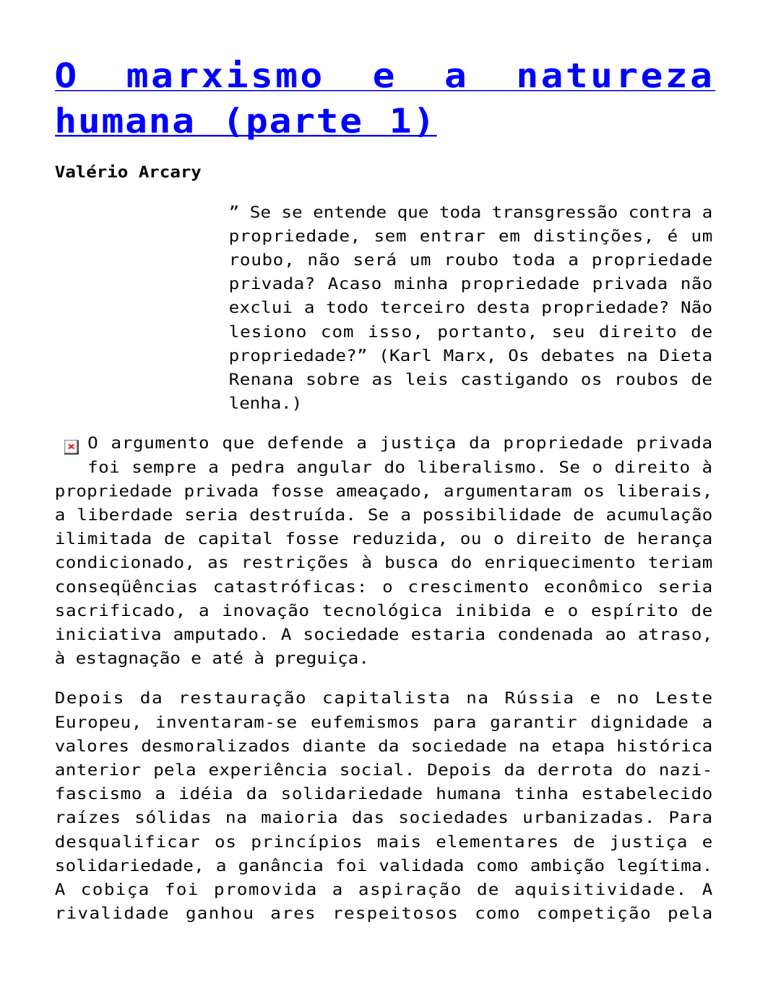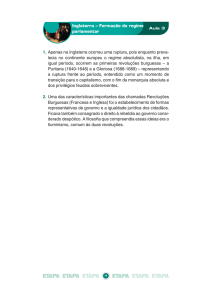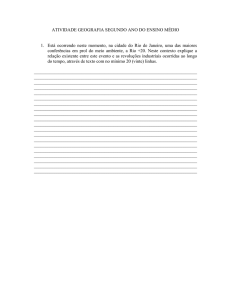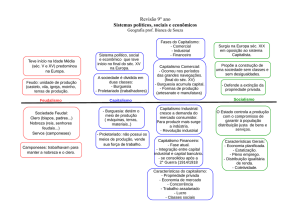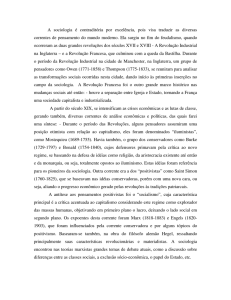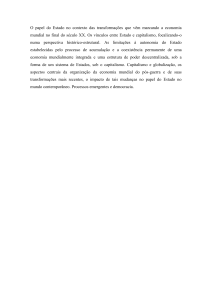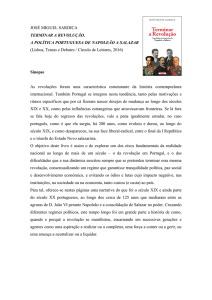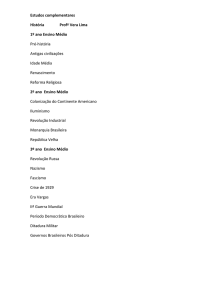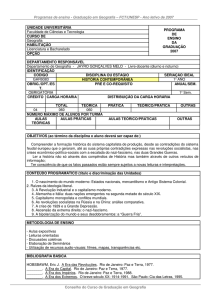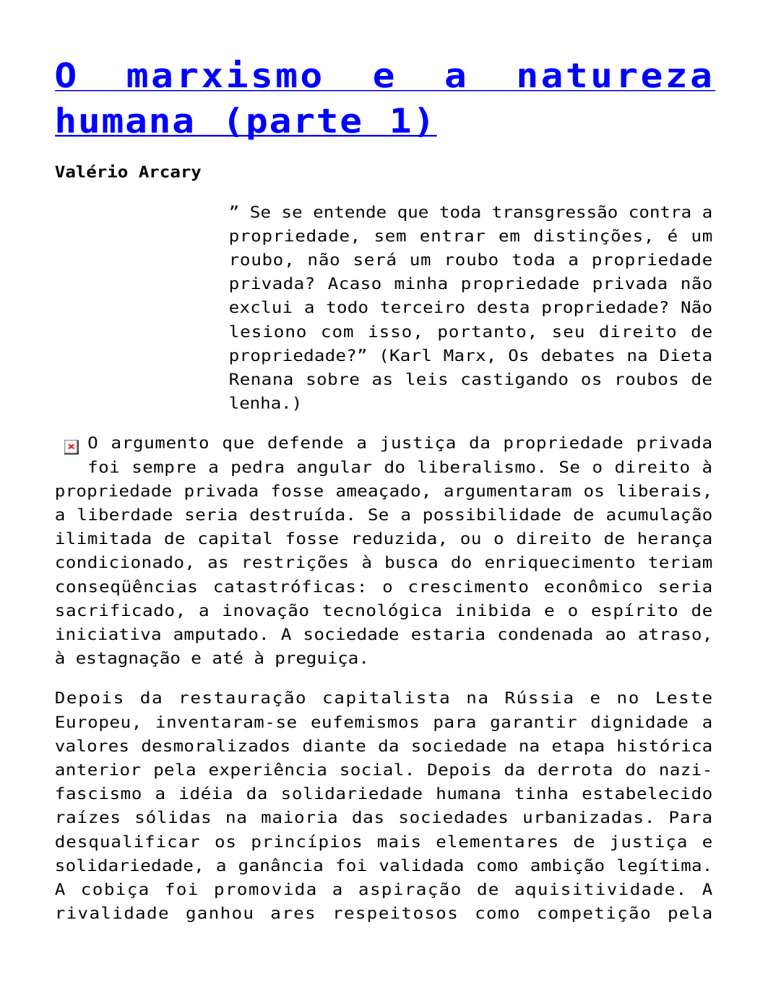
O marxismo e a
humana (parte 1)
natureza
Valério Arcary
” Se se entende que toda transgressão contra a
propriedade, sem entrar em distinções, é um
roubo, não será um roubo toda a propriedade
privada? Acaso minha propriedade privada não
exclui a todo terceiro desta propriedade? Não
lesiono com isso, portanto, seu direito de
propriedade?” (Karl Marx, Os debates na Dieta
Renana sobre as leis castigando os roubos de
lenha.)
O argumento que defende a justiça da propriedade privada
foi sempre a pedra angular do liberalismo. Se o direito à
propriedade privada fosse ameaçado, argumentaram os liberais,
a liberdade seria destruída. Se a possibilidade de acumulação
ilimitada de capital fosse reduzida, ou o direito de herança
condicionado, as restrições à busca do enriquecimento teriam
conseqüências catastróficas: o crescimento econômico seria
sacrificado, a inovação tecnológica inibida e o espírito de
iniciativa amputado. A sociedade estaria condenada ao atraso,
à estagnação e até à preguiça.
Depois da restauração capitalista na Rússia e no Leste
Europeu, inventaram-se eufemismos para garantir dignidade a
valores desmoralizados diante da sociedade na etapa histórica
anterior pela experiência social. Depois da derrota do nazifascismo a idéia da solidariedade humana tinha estabelecido
raízes sólidas na maioria das sociedades urbanizadas. Para
desqualificar os princípios mais elementares de justiça e
solidariedade, a ganância foi validada como ambição legítima.
A cobiça foi promovida a aspiração de aquisitividade. A
rivalidade ganhou ares respeitosos como competição pela
eficiência. E a ostentação foi reconhecida como exibição da
prosperidade.
O homem como lobo do homem
Remetendo as formas econômicas da organização social
contemporânea às características de uma natureza humana
invariável – o homem como lobo do homem –, o liberalismo
fundamentava a justificação do capitalismo na desigualdade
natural. A rivalidade entre os homens e a disputa pela riqueza
seriam um destino incontornável. Um impulso egoísta ou uma
atitude comodista, uma ambição insaciável ou uma avareza
incorrigível definiriam a nossa condição. Eis o fatalismo: o
individualismo seria, finalmente, a essência da natureza
humana. E a organização política e social deveria se adequar à
imperfeição humana. E resignar-se.
Uma humanidade dominada pela mesquinhez, pela ferocidade, ou
pelo medo precisaria de uma ordem política disciplinada,
portanto, repressiva, que organizasse os limites de suas lutas
internas como uma forma de “redução de danos”.
Resumindo e sendo brutal: o direito ao enriquecimento seria a
recompensa dos mais empreendedores, ou mais corajosos, ou mais
capazes e seus herdeiros. A propriedade privada não seria a
causa da desigualdade, mas uma conseqüência da desigualdade
natural. É porque são muito variadas as habilidades e
disposições que distinguem os homens que, segundo os
defensores de uma natureza humana rígida e inflexível, existe
a propriedade privada, e não o inverso. A diversidade entre os
indivíduos, inata ou adquirida, seria o fundamento da
desigualdade social. Em consequência, o capitalismo seria o
horizonte histórico possível e o limite do desejável. Porque
com o capitalismo, em princípio, qualquer um poderia disputar
o direito ao enriquecimento. Os liberais sempre se apressaram
em admitir que nem todos o conseguirão, por certo, para
mascarar sua defesa com um tempero de realidade.
Esses argumentos não têm, no entanto, o mais mínimo fundamento
científico. Em oposição à visão de uma natureza humana
inflexível, o marxismo nunca defendeu a visão simétrica e
ingênua de uma humanidade generosa e solidária. Nem
fundamentou a necessidade da igualdade social em uma suposta
igualdade natural. O que o marxismo afirmou é que a natureza
humana tem dimensão histórica e, portanto, se transforma. O
que o marxismo preservou foi a idéia de que a diversidade de
capacidades não permite explicar a desigualdade social que nos
divide. É a exploração de uns pelos outros a causa da
desigualdade, e não o contrário.
O capitalismo não é meritocrático
A injustiça do mundo que nos cerca não repousa em critérios
meritocráticos. A diferença de talentos e a variedade de
capacidades não têm relação direta com o lugar que cada ser
humano ocupa nas sociedades estratificadas em classes. Não há
nenhum mérito em nascer em uma família burguesa, proletária ou
de classe média. Não há nenhum valor em nascer na Nigéria ou
na Noruega, na Grécia ou na Alemanha.
Na sociedade contemporânea, a condição de classe é determinada
pelo direito de herança, na mesma proporção em que em outras
épocas era garantida pelo berço familiar. Pior, na maior parte
do mundo, as oportunidades de ascensão social ou permaneceram
estagnadas ou vieram diminuindo no último quarto de século. A
geração mais jovem desconfia que não irá melhorar suas
condições de vida, comparativamente, às de seus pais.
A mobilidade social foi reduzida, tanto no centro como na
periferia do capitalismo. As possibilidades de melhorar de
vida pelo talento ou pelo esforço vieram sendo reduzidas. A
inteligência ou a perseverança, a criatividade ou a audácia
são aptidões que podem ser encontradas em todas as classes.
Porém, a ironia é que será encontrada, com maior freqüência,
entre os trabalhadores.
Estas qualidades serão descobertas em maior número entre os
filhos do trabalho manual pela mesma razão que entre eles se
encontrarão, também, a maioria dos que têm gripe, a maioria
dos estrábicos ou a maioria dos que têm nariz grande: porque
são as maiorias. A desigualdade do mundo que nos cerca não é
nem justa, nem racional. Sua explicação, para os socialistas,
é o capitalismo. Ser socialista é ser um inimigo
irreconciliável do direito ilimitado à propriedade privada.
A causa mais elevada do tempo que nos coube viver
O interesse pelo tema da natureza humana ressurgiu nos
primeiros anos do século XXI provocado por novas linhas
investigativas da biologia evolucionista e da antropologia
cultural. Não foi a primeira vez que os caminhos da biologia
se cruzaram com os da história. A tese de Darwin de que a
espécie humana teria sido desenhada pelo seu passado
revolucionou a biologia a partir de 1859, quando da publicação
da Origem das espécies, e foi uma das maiores realizações
científicas de todos os tempos. Mudou profundamente
percepção que a humanidade tinha sobre si própria.
a
A descoberta de que a escala da vida nos remete a um processo
de muitas centenas de milhões de anos não desvalorizou a
humanidade; ao contrário, ofereceu-nos um sentido de
proporções da responsabilidade com a nossa sobrevivência. A
maioria das formas de vida que existiram na Terra já foi à
extinção, e por mais de uma vez. A revelação de uma
ascendência comum com os símios colocou de pernas para o ar a
perspectiva de uma humanidade predestinada a ser a coroação da
vida. A vida é frágil. Não há um destino à nossa espera. O
amanhã nos reserva muitos perigos. Sabemos que a centelha de
consciência que nos define foi o produto de uma aventura
grandiosa.
As espantosas sugestões da biologia evolucionista não
diminuíram as perspectivas de futuro da humanidade. Ajudam a
compreender a imponência das realizações humanas na história.
Construímos uma civilização tecnológica e, culturalmente,
complexa. Mas, podemos nos autodestruir. Se não encontrarmos
soluções para os impasses do mundo contemporâneo, com suas
terríveis lutas de classes, poderemos perecer. A causa mais
elevada do nosso tempo é a defesa da humanidade. Nada é mais
importante. Para os socialistas, a permanência do capitalismo
é a principal ameaça à vida civilizada.
Contra o determinismo biológico
O darwinismo deixou-nos um extraordinário alerta. A vida é
delicada e a extinção não é excepcional. A extinção é o padrão
mais regular. Porém, o darwinismo exerceu também uma
influência duradoura – e desastrosa – sobre as ciências
sociais. Os nacionalismos exaltados das potências européias,
no final do século XIX, apropriaram-se abusivamente da idéia
de uma competição individual pela sobrevivência dos mais
adaptados, para justificar a conquista de um Estado sobre
outros. Não fosse isso o bastante, defenderam a idéia abjeta
do domínio de uma civilização sobre outras e, no limite mais
repulsivo do nazismo, de uma suposta raça superior sobre
outras. Os mais desenvolvidos economicamente seriam os mais
capazes.
A idéia de uma seleção sexual dos mais aptos – aqueles que
superaram os obstáculos e foram capazes de deixar descendência
– foi transportada para a economia para justificar o mercado
como forma mais eficiente, e até natural, de regulação de
recursos. A desigualdade social seria, também, natural. E o
que é natural, seria irremediável.
No final do século XX, a biologia viveu uma nova revolução
científica que coincidiu, em muitas das suas conclusões, com
hipóteses sugeridas pela história. Esses avanços científicos
estão ampliando as possibilidades da pesquisa histórica e são
muito animadores, como alertou Hobsbawm (2004): “Para resumir,
a revolução do DNA invoca um método particular, histórico, de
estudo da evolução da espécie humana […] Em outros termos, a
história é a continuação da evolução biológica do homo sapiens
por outros meios.”
O projeto Genoma enterrou as teorias racistas ao demonstrar,
definitivamente, que não existem raças humanas, e as pequenas
variações entre as populações de ascendência americana,
européia, africana ou asiática são muito recentes. Poderia não
ter sido assim, se o intervalo de separação dos grupos humanos
tivesse sido mais longo, mas as poucas dezenas de milhares de
anos de isolamento, interrompido há 500 anos, não foram
suficientes para a fixação de diferenças significativas.
As descobertas do DNA permitiram, por exemplo, por meio da
marcação das mitocôndrias (uma molécula herdada em todos os
seres humanos por linhagem materna), um novo método de
datações. Já está sendo rediscutido que o povoamento original
das Américas, pouco antes do fim da última glaciação, teria
sido realizado em sucessivas vagas por populações
geneticamente mais variadas do que até então se presumia.
As premissas anti-históricas criacionistas de uma natureza
humana invariável, e ainda por cima cruel, sinistra e malvada,
embora ainda exerçam alguma influência sobre o senso comum,
são inaceitáveis.
A humanidade compartilhou a capacidade de amar e odiar,
confiar e temer, identificar e repudiar, desejar e rejeitar,
admirar e querer, sorrir e desprezar, invejar e imitar, ou
seja, todo um repertório de ações e reações dos homens uns com
os outros – colaboração e conflito –, impulsionadas pela
necessidade de sobrevivência na natureza, que resultaram em
experiências históricas, e se concretizaram em relações
sociais. Transformamos valores e costumes, através da
história, da mesma maneira que melhoramos nossas ferramentas,
e podemos sonhar nas mudanças que ainda estão por vir.
A história foi um processo cultural de readaptação da
humanidade. Essa capacidade de autotransformação foi uma das
constantes que oferecem coerência interna à própria história,
e permitem que ela seja compreendida. Por isso, a esperança
triunfará.
Referências bibliográfias:
HOBSBAWM, Eric. Manifesto pela renovação da História. Le Monde
Diplomatique, 1 dez. 2004.
A liderança norte-americana
no sistema internacional de
Estados está ameaçada pela
China?
Valério Arcary
“o argumento principal deste trabalho foi que o
impasse de acumulação da atual fase B
diferentemente da fase B do final do século XIX,
não apresenta nenhuma solução capitalista
óbvia.
Certamente, a atual fase B se
transformará, mais cedo ou mais tarde, em uma
nova fase A (…) mas a acumulação capitalista
pode estar se aproximando de seus limites
históricos. O próximo Kondratiev bem poderia ser
o último” [1]
A interpretação da época histórica contemporânea encontra-se
dividida em dois grandes campos. Em um primeiro campo estão
aqueles que consideram que a destruição econômica precipitada
pela crise em 2008 é conjuntural. Ainda quando admitem que ela
permanece longe de ter se esgotado, afirmam que será efêmera,
transitória. Liberais ou keynesianos de vários matizes retiram
a conclusão que o capitalismo conserva, neste início do século
XXI, a capacidade de cumprir um papel progressivo, ou até
dinâmico, na produção da riqueza social, pelo menos por uma
etapa histórica indefinida.
A conseqüência desta análise tem sido a defesa de diferentes
programas de incentivo e ou regulação para garantir a retomada
do crescimento econômico, uns mais intervencionistas ou
desenvolvimentistas (Dilma, Kirchner, Chávez, Moralez, Correa,
na América do Sul), outros menos. Diferentes fórmulas para a
distribuição de renda e atenuação das desigualdades nacionais
têm sido sugeridas pelo FMI e pelo Banco Mundial.
Em um segundo campo, encontraremos aqueles que defendem que a
crise do capitalismo demonstrou-se estrutural e, portanto,
posicionam-se pela atualidade do socialismo. Os defensores da
necessidade urgente de uma saída anticapitalista para a crise
argumentam que os custos destrutivos gerados por uma regulação
mercantil irracional ameaça a sobrevivência da civilização,
pelo menos, tal como a conhecemos. Este texto se alinha neste
segundo campo.
Existe, entretanto, outro debate que fraciona estes dois
grandes campos, e nos remete à discussão da crise da hegemonia
norte-americana, tanto na esfera do mercado mundial, quanto no
plano político, como potência dominante. O debate do tema não
é diletante. Aqueles que lutam pela revolução mundial devem
dedicar muita atenção ao estudo dos seus inimigos. A liderança
norte-americana à frente da defesa da ordem mundial foi uma
das constantes mais estáveis desde o final da Segunda Guerra
Mundial. Não há dúvida alguma que o desastre político dos oito
anos da gestão Bush enfraqueceu a posição relativa de
Washington. O argumento deste artigo, contudo, é que a
hipótese da crise irreversível da supremacia norte-americana,
apresentada de forma pioneira e apaixonada por André GunderFrank em seu livro Reorient, há quinze anos atrás, merece ser
problematizada.[2]
A hipótese Gunder-Frank se apóia em premissas econômicas e
demográficas que procuram sustentar a idéia de que existiriam
ciclos realmente muito longos, na escala de dois séculos e
meio, para cada fase A, de crescimento, e uma fase B simétrica
de contração.[3] Defende que a liderança norte-americana será
substituída, irremediavelmente, pela chinesa.
Algumas pesquisas históricas comparativas sugerem que a
sociedade chinesa, pelo menos até o século XV, teria sido mais
rica, mais instruída e até mais dinâmica que a Europa
medieval. A fragmentação política em dezenas de Estados, entre
outros fatores, favoreceu um processo de expansão das relações
mercantis durante séculos e, finalmente, a partir do XVI a
supremacia européia no mercado mundial em formação. Potenciada
pela conquista das Américas, a escravidão africana e o acesso
aos metais preciosos criaram-se condições que garantiram um
papel pioneiro da Europa do noroeste na revolução industrial.
Mas teria sido só depois da explosiva aceleração econômica
gerada pela introdução das máquinas que a economia européia
teria superado a chinesa. A liderança norte-americana no
século XX teria substituído a inglesa ao final das duas
guerras mundiais.
Em conseqüência deste processo, de acordo com Gunder-Frank,
haveria no Ocidente um vício ideológico de análise histórica,
o eurocentrismo, do qual o marxismo não estaria imune. Por
isso, a resistência intelectual ao prognóstico de que as
vantagens comparativas da Ásia estariam abrindo o caminho para
uma nova configuração do mercado mundial e do sistema
internacional de Estados que teria o seu centro na China.
Cinco grandes fatores que condicionaram, historicamente, a
dominação imperialista
O lugar de cada imperialismo no Sistema Internacional de
Estados dependeu, historicamente, de um conjunto de variáveis,
que poderiam ser resumidos em cinco grandes questões: (a) as
dimensões de suas economias, ou seja, os estoques de capital,
os recursos naturais – como o território, as reservas de
terras, os recursos minerais, a auto-suficiência energética
etc… – e humanos – entre estes, o peso demográfico e o estágio
cultural da nação – assim como a dinâmica, maior ou menor, de
desenvolvimento da indústria; (b) a estabilidade política e
social, maior ou menor, dentro de cada país, ou seja, a
capacidade de cada burguesia imperialista para defender o seu
regime político de dominação diante de seu proletariado, e das
classes populares, ou seja, a coesão social interna e o grau
de identificação nacionalista que ofereça sustentação às
ambições imperialistas; (c) as dimensões e a capacidade de
cada um destes impérios em manter o controle de suas colônias
e áreas de influência, ou seja, o nível de sua superioridade
econômica e influência cultural e ideológica; (d) a força
militar de cada Estado, que dependia não só do domínio da
técnica militar ou da qualidade das Forças Armadas, mas do,
maior ou menor, grau de coesão social da sociedade, portanto,
da capacidade do Estado de convencer a maioria do povo da
necessidade da guerra; (e) as alianças de longa duração dos
Estados imperialistas, uns com os outros, e o equilíbrio de
forças que resultavam dos blocos formais e informais etc.
Se considerarmos estes cinco critérios, não parece provável
que a liderança dos EUA venha ser desafiada, porque suas
vantagens relativas são insuperáveis. Ela veio se exercendo no
interior da Tríade (EUA, Europa Ocidental, Japão), ou seja, na
colaboração de Washington com Londres, Paris, Berlim e Tóquio,
há décadas, desde o final da Segunda Grande Guerra, em função
das condições da coexistência pacífica com a ex-URSS. A
eleição de Obama, depois de oito anos de unilateralismo de
Bush, muda o tom das relações entre EUA e Europa, mas o tom
não é a música.
As únicas alternativas que poderiam ser potencialmente
consideradas à dominação norte-americana seriam a União
Européia ou o Japão. O Japão aceitou resignado, após a
tragédia da II Guerra Mundial, um papel complementar à
economia dos EUA, sendo um dos financiadores da dívida pública
dos EUA.
O Estado chinês, uma potência nuclear em uma das nações mais
pobres do mundo – uma das últimas sociedades de maioria
camponesa – conformou-se com um lugar complementar na relação
com os EUA, porque aceita o papel econômico de semicolônia
privilegiada, que na dimensão regional tem função de
submetrópole. O regime ditatorial do Partido Comunista se
manteve depois do massacre da Praça Tian An Men porque se
apoiou, além do terror, no crescimento intenso de duas
décadas, apesar da maior desigualdade social. Quando esse
crescimento for bloqueado, ficará patente a baixa coesão
social interna e o regime será desafiado pelo imponente novo
proletariado, como aconteceu com as ditaduras sul-coreana e
brasileira que fomentaram industrialização acelerada. Não é,
portanto, sequer razoável imaginar que um processo dessa
amplitude pudesse ser resolvido sem uma comoção que exigiria,
possivelmente, uma guerra mundial, o que na atualidade não
interessa a nenhum Estado.
A reunião de abril de 2009 do G-20[i][12] em Londres,
anunciada como o embrião de um novo Bretton Woods, não
produziu as novidades esperadas. A proposta de regulação dos
paraísos fiscais ou de controle sobre os mercados de
derivativos ficou suspensa no ar.[ii][13] Já, a decisão de
elevar as participações dos Estados no Fundo Monetário
Internacional (FMI), comprometendo os Estados periféricos,
como o Brasil, na solidariedade com a defesa do sistema
financeiro mundial, estruturado em torno do dólar como moeda
de reserva mundial, não parece muito animadora.
A necessidade intransferível de uma coordenação internacional,
algo que seria o mais próximo de um governo mundial, parece
urgente. Mas, a montanha pariu um rato. A coordenação que foi
ensaiada nas reuniões do G-20 desde 2008 se choca com as
assimetrias que dividem o mundo em países centrais, rivais, e
países periféricos.
A União Européia não é um Estado, ou sequer uma Federação de
Estados. O governo da Alemanha não parece disposto a aceitar
uma redução da taxa de juros do euro para patamares negativos,
como os do dólar, e prefere conviver com um crescimento do
desemprego na Europa a arriscar-se em operações de
keynesianismo fiscal, que poderiam turbinar uma inflação
descontrolada e uma insolvência generalizada das dívidas
públicas, pelo contágio da ameaça terminal das moratórias,
como o perigo da Grécia. O perigo “grego” seria a abertura de
uma situação revolucionária na Europa, com governos caindo “em
cascata”, algo que não se vê desde a derrota do Maio de 68 e
da revolução portuguesa de 1974.
Mesmo um ajuste socialmente menos destrutivo exigiria uma
latino-americanização da Europa. Especula-se sobre a
possibilidade de uma saída mais ambiciosa, como seria um super
plano Brady de resgate de Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e
até mesmo Itália. Ainda que possível, um plano deste alcance
teria custos incalculáveis. O plano Brady foi a securitização
das dívidas latino-americaas, realizada no início dos anos 90,
quando os títulos da dívida foram renegociados com os credores
privados, salvando os bancos norte americanos do perigo de
moratórias devastadoras, através de um hedge que garantia a
troca dos papéis podres por novos títulos de longo prazo
garantidos pelos papéis do tesouro norte-americano.
O alongamento dos prazos das dívidas públicas dos países da
periferia européia diminuíria o custo social regressivo das
privatizações, das demissões em massa de funcionários
públicos, do aumento dos impostos, da destruição dos direitos
sociais e das políticas públicas de garantia de coesão social.
Um plano Brady para a Europa do Mediterrâneo só seria possível
com destruições apocalípticas de capital, com um engajamento
do FMI, do Federal Reserve norte-americano, das reservas
chinesas e asiáticas, e ainda assim seria difícil antecipar os
seus resultados.
Está ameaçada a supremacia dos EUA no Sistema Internacional de
Estados?
Não há dúvida que a indústria dos EUA diminuiu o seu peso,
proporcionalmente,
no mercado mundial em comparação ao
período do pós-guerra. A evolução desfavorável desse
indicador, entre outras variáveis, tem alimentado discussões
sobre o seu declínio relativo, e a capacidade maior ou menor
dos EUA manterem a posição de supremacia no sistema
internacional de Estados. Wallerstein, Arrigui, e Gunder
Franck, entre outros, defenderam que uma lenta decadência da
hegemonia norte-americana teria se iniciado nos anos
setenta.[4] No entanto, em comparação com a etapa política
entre 1945-89, o papel dos EUA como defensor da ordem
imperialista desde 1991, aumentou, como se verificou nas
guerras dos Bálcãs, do Afeganistão e do Iraque.
A responsabilidade que cabe a Washington na coordenação
internacional da resposta à crise, preservando o privilégio de
ser o Estado que pode emitir a moeda de reserva mundial, será
colocado à prova. As vantagens relativas dos EUA, a partir de
1945, explicam a sua superioridade no sistema de Estados e
Obama não deixará de defendê-la, a qualquer custo. Em primeiro
lugar, os EUA ainda são, comparativamente, a maior economia
nacional. Sua produção industrial deixou de corresponder a
metade da capacidade mundial instalada como em 1945, mas seu
PIB de estimados US$14 trilhões em relação a um PIB mundial de
aproximadamente US$55 trilhões corresponde a mais de um quarto
da riqueza mundial.
Não obstante, esse recuo relativo foi compensado pela
importância do seu capital financeiro. Ela é avassaladora: o
capital financeiro dos EUA opera em escala mundial e seus
fundos de investimentos controlam corporações em todos os
continentes. Controlam parcelas gigantescas dos PIBs das
maiores economias do mundo, em especial, na China. No entanto,
a estabilidade do sistema de Estados que garante a segurança
dos negócios é muito menor do que antes de 1991. A restauração
capitalista na ex-URSS e na China foram derrotas do
proletariado mundial – derrotas históricas, em especial, dos
trabalhadores russos e chineses. Mas, paradoxalmente, o
sistema de Estados era mais estável entre 1945 e 1989/91,
porque os condicionamentos da coexistência pacífica induziam
movimentos como a Organização pela Libertação da Palestina, a
OLP, nos territórios ocupados por Israel, ou partidos leais a
Moscou, como na França e na Itália, a cumprirem um papel de
preservação da ordem política.
Não existem, contudo, possibilidades para uma renegociação do
alcance de Bretton Woods, ou seja, a refundação de um novo
sistema monetário internacional.[5] Não existem, porque não
interessa a Washington, e sua liderança permanece intacta. Não
haverá refundação do capitalismo. Não haverá New Deal nos
EUA.[6] O plano de trilhões de Obama não é senão um Proer para
salvar o capital financeiro de Wall Street.
Nunca houve substituição de potência dominante sem guerra
Nenhum Estado, na história do capitalismo, renunciou às
vantagens de sua posição dominante no sistema mundial sem
imensas resistências. O caminho do poder foi sempre a guerra.
Sendo improvável, nos limites em que previsões são plausíveis,
uma guerra em que pequimj desfiaria Washington, o tema da
liderança chinesa é um fantasma ideológico. Quando um não
quer, dois não brigam.
As lutas dentro do sistema europeu de Estados pela hegemonia
levaram Amsterdã a entrar em guerra com Londres no século
XVII, Londres com Paris no XVIII, Paris com Berlim no XIX, e
Berlim com Londres no XX. As Províncias Unidas – hoje a
Holanda – aceitaram um papel complementar com a Inglaterra,
depois de perderem três guerras: selaram o acordo quando,
depois da chamada revolução gloriosa, a última herdeira Stuart
se casou com um príncipe holandês, que nem sequer sabia
inglês.[7] Portugal aceitou um papel de submetrópole inglesa,
desde o Tratado de Methuen, nos primeiros anos do século
XVIII.[8] A orgulhosa Grã-Bretanha aceitou um papel associado
aos EUA, depois das duas guerras mundiais do século XX.
Assim como a desigualdade entre as classes, em uma nação,
explica a luta de classes, a disparidade entre os Estados
explica uma inserção mais ou menos favorável no mercado
mundial. Uma luta constante dos Estados, para preservar ou
ganhar posições relativas, uns em relação aos outros, e das
grandes corporações, umas contra as outras, foi o centro dos
conflitos internacionais dos últimos dois séculos. Uma das
obras do capitalismo foi a construção do mercado mundial, a
partir do século XVI. Ao longo deste processo foi se
estruturando um Sistema Internacional de Estados, a partir da
organização pioneira de um sistema europeu de Estados. Depois,
o sistema assumiu dimensões mundiais. Um sistema é um
conjunto, em que o todo é maior que a soma das partes. A
medida da saúde do sistema não é, no entanto, dada pela força
do capitalismo nas suas fortalezas históricas, os EUA por
exemplo. Nenhum sistema é mais forte do que seu elo mais
fraco.
[1] . ARRIGHI, Giovanni. A ilusão
Petrópolis, Vozes, 1998. p. 46-9
do
desenvolvimento.
[2] GUNDER FRANK,
Andre. ReORIENT, Global Economy in the
Asian Age. San Francisco, UCPress, 1998
[3] GUNDER FRANK,
Ibidem, p.260.
[4] O debate entre Arrigui e Gunder Frank pode ser encontrado
em Reorientalism? The World According to Andre Gunder Frank in
Review of the Fernand Braudel Center for the Study, 1999; 22
(3) que pode ser consultado in http://www.binghamton.edu/fbc O
debate entre Arrighi e Robert Brenner pode ser consultado em
Adam Smith em Pequim, São Paulo: Boitempo, 2008.
[5] Entre os dias 1 e 22 de Julho de 1944, no calor da Segunda
Guerra Mundial, em Bretton Woods, New Hampshire, nos EUA, por
iniciativa de Roosevelt, reuniram-se 44 países, entre eles o
Brasil, mas sem representação da URSS, em uma Conferência, sob
a liderança de Keynes, que discutiu o futuro da ordem
econômica internacional, decidindo-se a formação do FMI (Fundo
Monetário Internacional).
[6] O New Deal (em português, novo acordo), inspirado nas
idéias keynesianas de regulação estatal do mercado, é o nome
do programa do governo do Presidente Roosevelt com o objetivo
de recuperar a economia norte-americana durante a depressão
dos anos trinta. Entre 1933 e 1937 os investimentos do Estado
agigantaram-se, provocando grandes déficits públicos, e a
economia dos EUA voltou a crescer, mas a depressão só foi
superada durante a II Guerra Mundial.
[7] William e Mary, o casal da revolução gloriosa de 1688
pertencem à dinastia Stuart, cujo último representante é a
Rainha Ana, filha de James II, que lhes sucedeu. A ela segue-
se George I, eleitor de Brunswick, coroado em 1714, e fundador
da dinastia chamada “hanoveriana” que se mantém até hoje, mas
mudou de nome. A dinastia chamada de Windsor começa com George
V, coroado em 1910. A mudança de nome – que remete ao Castelo
que é residência oficial – se deveu à inconveniência de a
monarquia inglesa ser, durante a I Guerra Mundial, de origem
germânica.
[8] O Tratado de Methuen de 1703 foi um acordo diplomático
entre a Grã-Bretanha e Portugal. O nome do célebre acordo
remete a John Methuen que representou os ingleses. Os
portugueses se comprometeram a consumir os têxteis britânicos
e, em contrapartida, os britânicos, os vinhos de Portugal.
Desde o século XVIII, Lisboa aceitou as condições da aliança
estratégica com Londres, que reduziram sua autonomia à
condição de submetrópole para compensar as pressões de Madri.
A ameaça espanhola permaneceu muito intensa, mesmo depois da
restauração de 1640 que levou ao poder a dinastia de Bragança,
quando se dissolveu a União Ibérica (1580/1640), período em
que o Rei de Espanha assumiu a Coroa portuguesa.
Um
reformismo
quase
sem
reformas: o governo Lula dez
anos depois
Valerio Arcary
“Quem a si próprio elogia não merece crédito.” (Sabedoria
popular chinesa.)
“Não se deve elogiar o dia antes da noite.” (Sabedoria popular
alemã.)
“Se você está em uma mesa de pôker e não sabe quem é o otário,
é porque o otário é você.” (Sabedoria popular brasileira.)
A análise crítica do significado do governo Lula é complexa,
principalmente, por três razões. Primeiro, porque o governo
Lula é história recente, e a ausência de distanciamento
dificulta a perspectiva. O governo Lula, apesar do mensalão em
2005, cumpriu dois mandatos, foi capaz de eleger a sua
sucessora e, ao final de 2012, uma candidatura do PT
apresenta-se como favorita para a sucessão de 2014. Ou seja,
eleitoralmente, foi um sucesso. Mas vitórias eleitorais não
devem ser confundidas com vitórias políticas. Ser vitorioso
nas urnas apropriando-se do programa dos outros é uma
armadilha política: o feitiço se voltará, inexoravelmente,
contra o feiticeiro. O tempo ajuda a decantar o sentido de
experiências históricas novas, e diminuir as pressões da luta
política mais imediata.
Segundo, porque a eleição de um líder de origem operária foi
uma experiência inusitada na história do Brasil. Embora não
tenha sido uma surpresa, foi uma anomalia. Não foi uma
surpresa porque, desde 1989, a possível vitória eleitoral do
PT era mais do que um dos cenários possíveis: era provável, e
tinha sido assimilada pela classe dominante. Ninguém ameaçou
mudar para a Florida, como aconteceu em 1989. Ainda assim, foi
uma excepcionalidade para a dominação burguesa. Um operário na
presidência era algo impensável, ainda nos anos setenta do
século XX. Em outra dimensão, o governo da Frente Popular
dirigido pelo PT, uma coalizão com partidos burgueses
liberais, foi uma anormalidade, porque foi o mais estável dos
vinte e cinco anos de regime democrático-eleitoral.
Terceiro, porque o governo Lula se encerrou com elevadíssima
popularidade, tanto dentro do país como na esfera
internacional, o que foi excepcional na história do Brasil.
Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso estavam
desacreditados quando deixaram o Palácio do Planalto, depois
de terem gozado, alegremente, de uma popularidade igual, senão
maior do que a de Lula, por uns poucos anos. O governo Lula
foi muito beneficiado pela conjuntura econômica internacional
favorável à exportação de commodities, pela abundância de
investimentos externos, pela disponibilidade de crédito
internacional a custos baixos, pela quase ausência de uma
oposição de direita, e pela fragilidade da oposição de
esquerda.
Existem em debate, grosso modo, duas interpretações históricas
do significado do governo Lula. A primeira afirma que ele deve
ser qualificado pela redução da miséria absoluta e pela
diminuição da desigualdade social. Teria sido aberto um novo
ciclo de crescimento sustentável da economia brasileira, uma
nova inserção mais forte do país no mercado mundial e,
portanto, um posicionamento mais soberano no sistema
internacional de Estados. Mais importante, teria acontecido a
ascensão de uma parcela do proletariado ao padrão de vida de
classe média. A hipótese deste texto é que, contrariando a
percepção dominante no tempo presente, o trabalho de
investigação histórica irá diminuir o balanço do governo Lula,
e revelar que houve muito mais continuidades do que rupturas
com os governos anteriores.
Se considerarmos a evolução política da América Latina, na
primeira metade da última década, parece incontroverso que os
regimes democráticos viram as suas instituições questionadas
pelas mobilizações de massas, seriamente, pelo menos em alguns
dos mais importantes países vizinhos. Dez presidentes não
completaram seus mandatos. Entre 2001 e 2005, quatro países da
América do Sul estiveram em situações revolucionárias. Os
governos cúmplices do ajuste recolonizador na América Latina
dos anos noventa se desgastaram até à queda, ao ponto de
vários ex-presidentes – Salinas do Mexico, Menem da Argentina,
Cubas do Paraguai, Fujimori do Peru, e Gonzalo de Losada da
Bolívia, além dos golpistas da Venezuela – terem sido presos,
se encontrem foragidos, ou à espera de julgamento.
O governo Lula sucumbiu diante do imperialismo e da burguesia
brasileira como produto de uma estratégia política consciente.
Lula foi um interlocutor do governo norte-americano para os
governos venezuelano, boliviano e equatoriano, elogiado pela
sua responsabilidade por ninguém menos do que Bush. Sua
influência moderadora sobre Chávez, Evo Moralez e Correa foi
reconhecida por Washington, pelos governos europeus e até
pelas burguesias locais. O PT beneficiou-se, em 2002, de um
crescente mal estar social que vinha se acumulando desde o
início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Lula
não foi, contudo, um improviso histórico como a eleição de
Kirchner na Argentina depois da insurreição de 2001.
O governo Lula é história recente, ou história do tempo
presente, é preciso distinguir o que foi o governo Lula das
percepções que ele deixou. A sua popularidade oculta mais do
que revela sobre a sua verdadeira natureza. O crescimento
econômico entre 2004 e 2008, interrompido em 2009, porém,
recuperado com exuberância em 2010, foi inferior à média do
crescimento dos países vizinhos, mas a inflação foi, também,
menor. A média do crescimento do PIB durante os anos do
governo Lula foi de 4% ao ano, inferior ao crescimento da
Argentina ou da Venezuela no mesmo período, mas a inflação
abaixo dos 5% ao ano foi, também, menor. [1]
O crescimento econômico teve duas dimensões: foi favorecido
pelo aumento da demanda mundial de commodities, e pelo aumento
interno do consumo. Associado à expansão do crédito, e à
recuperação salarial ofereceram ao país uma sensação de
alívio. Esta foi a chave de explicação do sucesso popular do
governo Lula: reduziu o desemprego a taxas menores que a
metade daquelas que o país conheceu ao longo dos anos noventa;
permitiu a recuperação do salário médio que atingiu,
finalmente, em 2011, o valor de 1990; aumentou a mobilidade
social, tanto a distribuição pessoal quanto a distribuição
funcional da renda, ainda que recuperando os patamares de
1990, que eram, escandalosamente, injustos; garantiu uma
elevação real do salário mínimo acima da inflação; e permitiu
a ampliação dos benefícios do Bolsa-Família. A redução da
desigualdade social remete ao tema da mobilidade social.
Consideram-se duas taxas de mobilidade social, a absoluta e a
relativa, para avaliar a maior ou menor coesão social em um
país. A taxa absoluta compara a última ocupação do pai e a
primeira do filho, por exemplo. A taxa de mobilidade relativa
confere em que medida os obstáculos de acesso a posições de
emprego – ou oportunidades de estudo – que favorecem a
ascensão social, puderam ou não ser superados pelos que
estavam em posição social inferior. Compara, portanto, jovens
de origem social diferentes, mas da mesma geração. O período
histórico do pós-guerra (1945/1973) favoreceu a mobilidade
social absoluta no Brasil. No entanto, parece ter ficado,
irremediavelmente, no passado.[2]
É verdade que a distribuição pessoal da renda é menos desigual
do que era no início do governo Lula. Mas este indicador
compara somente a renda daqueles que vivem do trabalho. E a
redução da desigualdade se explica tanto porque o salário
médio do trabalho manual subiu, quanto pela queda do salário
médio de escolaridade superior. A evolução da distribuição
funcional da renda tampouco é animadora. Embora a participação
da massa salarial sobre a riqueza nacional tenha se
recuperado, ainda é menor que 50% e atingiu em 2011 o patamar
de 1990.
Lula foi muito diferente de Arbenz na Guatemala entre 1951/54,
de Siles Suazo e Paz Estenssoro na Bolívia depois da revolução
de 1952, dos militares associados a Velasco Alvarado no Peru
no início dos anos setenta, de Allende no Chile entre 1970/73.
No contexto internacional da guerra fria, todos foram
derrubados por golpes de Estado articulados pelas Forças
Armadas com apoio do imperialismo. Tampouco é possível a
comparação com o governo da Frente Sandinista na Nicarágua, em
1979, que liderou uma revolução, e teve que enfrentar uma
invasão militar financiada por Washington e uma guerra
devastadora durante anos. Lula teve a vantagem histórica de
ter chegado a Brasília dez anos depois da dissolução da União
Soviética, mas não fez sequer reformas semelhantes às que a
social democracia européia inspirou no pós-guerra, depois de
1945. Não confrontou o rentismo, não enfrentou o latifúndio,
não elevou os impostos sobre a riqueza, não cercou a negociata
da educação privada, não diminuiu a privatização da saúde, não
desafiou as Forças Armadas, não ameaçou os monopólios da
mídia, e um longo etc.
Em resumo, é preciso considerar que a classe trabalhadora
esperou vinte anos para ver Lula na presidência, e constatar
que ele foi muito favorável para o mundo dos negócios. O
governo liderado pelo PT foi um governo amigável para os
capitalistas. Não surpreendeu, portanto, o generoso
financiamento eleitoral que recebeu da classe dominante em
2006, 2010 e 2012. O sistema financeiro, ou seja, os
rentistas, como o próprio Lula reivindicou, não tiveram razões
para queixas.
Os oito anos do governo Lula se distinguem por terem sido o
período de maior estabilização social do regime político que
surgiu no Brasil em 1985 com o fim da ditadura militar. O
paradoxo é que a forma presidencialista arcaica que a
democracia liberal assumiu foi, essencialmente, consolidada
durante o governo liderado pelo PT.
Notas:
[1] Os dados mais significativos tanto econômicos como sociais
estão disponíveis on line no site do IBGE (Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística:
http://www.ibge.gov.br/home/. Informações sobre o censo de
2010
podem
ser
encontrados
no
site: http://www.ibge.gov.br/censo2010/primeiros_dados_divulga
dos/index.php. Consulta em novembro 2012
[2] O tema da redução da desigualdade social está envolvido em
grande polêmica. Uma excelente referência é Reinaldo Gonçalves
do Instituto de Economia da UFRJ (Universidade Federal do Rio
de
Janeiro): http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/reducao_da_d
esigualdade_da_renda_governo_lula_analise_comparativa_reinaldo
_goncalves_20_junho.pdf. Consulta em novembro de 2012.
Uma
crítica
a
Kurz:
objetivismo
teórico,
catastrofismo econômico e
impotência política
Valério Arcary
“Duas luvas da mão esquerda não perfazem um par de luvas. Duas
meias verdades não perfazem uma verdade.” (Eduard Douwes
Dekker, alias,
Multatuli — 1820-1887)
A elaboração de Robert Kurz chegou a ter alguma repercussão no
Brasil nos anos 1990, e ainda hoje mantém uma pequena
influência em círculos universitários e, curiosamente, em
Fortaleza. Os seus argumentos merecem ser considerados e
submetidos à crítica.
Argumentamos em outros textos que, no século XX, revoluções
foram mais freqüentes que em qualquer outra época histórica. E
continuam sendo cada vez mais prováveis. Em contrapartida,
concluímos, também, que as transições ao socialismo revelaramse muito mais difíceis do que foi elaborado na tradição
marxista. Em outras palavras, ocorreram no que diz respeito à
elaboração do marxismo clássico sobre a teoria da revolução,
duas surpresas históricas.
Surpresas
não
são
acidentes
históricos.[1]
São
desenvolvimentos inesperados que contrariam prognósticos e
exigem atualização teórica, mas confirmam uma tendência,
revelam uma constante, sugerem um padrão. A atualização de uma
teoria não diminui a sua força explicativa, apenas confirma a
sua vigência. Teorias que não se renovam, dogmatizam-se.
Nenhuma teoria com ambição científica permanece válida se não
incorpora revisões impostas pelas transformações da realidade.
Todavia, sempre que foram necessárias atualizações teóricas, o
grau de dispersão política se eleva à enésima potência. Este
texto defende duas teses programáticas fortes do marxismo que
julgamos serem vitais: a centralidade da luta política
marxista pela direção do proletariado, e a necessidade da
conquista pelo proletariado da direção da luta de todos os
oprimidos.
Esta é a dimensão subjetiva do desafio porque remete ao
processo de formação da consciência de classe. Em outras
palavras, ser marxista no início do século XXI é uma aposta
estratégica que tem dois alicerces: a confiança histórica de
que enquanto o proletariado existe e luta poderá redescobrir a
grandeza social de sua força; e a confiança de que a luta
política dos revolucionários pela direção do proletariado
poderá abrir o caminho da revolução socialista.
Quarenta anos de revoluções interrompidas
Consideremos, primeiro, o curso inesperado da “longa marcha”
da revolução mundial e, em seguida, as hipóteses de Kurz. A
primeira surpresa foi o grau elevadíssimo de substitucionismo
social nas revoluções do século XX. A maioria das revoluções
proletárias foi derrotada (França/1871; Alemanha/1923;
Espanha/1936; Grécia/1945; Bolívia/1952; Portugal/1975, entre
outras) e a maioria das revoluções vitoriosas não teve como
sujeito social a classe operária (Yugoslávia/1945; China 1949;
Cuba 1959/1961; Vietnam 1975). O bloco de classes disposto a
ações revolucionárias foi muito mais amplo do que a hipótese
formulada por Léon Trotsky. E ele foi, entre os marxistas
revolucionários da primeira metade do século XX, aquele que
com maior audácia atualizou a formulação do marxismo do século
XIX, na sua teoria da revolução permanente.
Em outras palavras, em sociedades agrárias ou muito pouco
urbanizadas, os camponeses e massas populares não proletárias,
empurrados pelas sequelas de crises e guerras devastadoras,
cumpriram um papel revolucionário inesperado que o marxismo
não tinha previsto. Mas, se o protagonismo social
revolucionário das classes oprimidas não proletárias
significou que o bloco social revolucionário poderia ser mais
amplo – e, portanto, mais forte – demonstrou, também, os
limites de processos revolucionários liderados por movimentos
nacionalistas.
Todas as experiências de transição ao socialismo foram, em
poucas décadas, bloqueadas. As restaurações capitalistas foram
lideradas, invariavelmente, pelos aparelhos burocráticos
estatais. As vitórias nacionais revolucionárias dos anos do
pós-guerra deram lugar a derrotas que enlamearam a bandeira do
socialismo. Um processo tão complexo de dialética de vitórias
e derrotas não poderia deixar de provocar perplexidades. O
paradoxo da história foi que não faltaram revoluções nos
últimos cem anos, mas em nenhuma sociedade transformada por
processos revolucionários se abriu e se manteve uma transição
ao socialismo.
As revoluções do século XX foram, em sua maioria, revoluções
políticas que não transbordaram em revoluções sociais.
Dialeticamente, foram revoluções sociais interrompidas.
Revoluções políticas transformam a forma da dominação do
Estado, mas não deslocam o controle do Estado das mãos da
classe dominante, porque não desafiam o fundamento histórico
da dominação. Revoluções sociais são aquelas que alteram as
relações econômico-sociais porque desafiam as relações de
propriedade.
Em outras palavras, o século XX foi o século mais
revolucionário da história, mas só excepcionalmente as
revoluções se radicalizaram até o limite do rubicão do assalto
ao capitalismo. A maioria das situações revolucionárias
evoluiu até à queda de regimes tirânicos, ditaduras odiadas ou
governos execrados, entretanto, pouparam a burguesia que
protegia seus interesses com esses regimes. Portanto, o
intervalo histórico entre as revoluções democráticas e as
revoluções anticapitalistas, ou entre os Fevereiros e os
Outubros, por analogia com a revolução russa de 1917, não
deixou de aumentar.
A tentação catastrofista da iminência da crise final
O que nos diz Kurz? Em nossa opinião, a fuga em frente
preferida de todas as análises de inclinação objetivista na
história do marxismo, incluindo uma parte da tradição
trotskista. O centro da questão metodológica foi desviar o
foco para a análise da crise do capitalismo, para afastar-se
da espinhosa análise da crise do movimento operário. Defende
que o novo quadro histórico se definiria pela tendência ao
esgotamento da forma mercadoria e pela anulação do valor,
quase simultaneamente a conclusões semelhantes, neste tema,
desenvolvidas por Mészáros:
“Se, no início do século XX, a transformação do modo de
produção capitalista (…) (imperialismo, economia de guerra,
taylorismo, ideologização das massas, etc.), (…) talvez a
ruptura de época, no final do século XX, exija uma
transformação ainda mais ampla. (…) Só agora, passado o
período de incubação dos anos 80, as novas forças produtivas
pós-fordistas da microeletrônica e seus conceitos correlatos
de racionalização (descritos em seu conjunto, de acordo com
o referencial teórico escolhido, como segunda ou terceira
revolução industrial) mostram seu verdadeiro potencial de
crise: pela primeira vez, a riqueza material (e também
ecologicamente destrutiva) é produzida antes pelo emprego
tecnológico da ciência que pelo dispêndio trabalho humano
abstrato. O capital começa a perder sua capacidade de
valorização absoluta e alcança com isso aquele estágio, extrapolado logicamente por Marx, no qual a forma de socialização do sistema produtor de mercadorias – que ‘repousa no
valor’ – esbarra em seus limites históricos.” [2]
A hipótese de Kurz é instigante, mas flerta com o
catastrofismo, porque sugere a possibilidade de que uma crise
sem saída estaria em gestação. A premissa implícita por trás
desta hipótese é que as crises do passado foram insuficientes
para colocar na ordem do dia a estratégia da revolução
mundial. Nessa perspectiva as revoluções do século XX foram
prematuras. Por um lado, defende que o capitalismo já teria
mergulhado a civilização na barbárie. Contudo, por outro,
concentra-se na análise das mudanças trazidas pelas inovações
tecnológicas da micro-eletrônica, exaltadas como um terceira
revolução industrial, sem se perguntar qual o grau de
coerência entre os dois postulados.
Kurz não parece dar importância aos desdobramentos destas duas
linhas de interpretação. Primeiro, não parece difícil admitir
que o capitalismo ameaça a vida civilizada. A questão é
precisar, rigorosamente, se a barbárie já abriu o caminho ou
não. A hipótese sempre foi cara para todos os marxistas, desde
Engels e Rosa Luxemburgo. Se isso aconteceu, correspondeu a
uma mudança de época. Consiste em afirmar que o capitalismo do
final do século XX, em algum momento, deu um salto de
qualidade regresssivo,
irreversível.
e
impôs
uma
derrota
histórica
Segundo, se o capitalismo ainda estava desenvolvendo forças
produtivas e não forças destrutivas, e os computadores e a
telemática já permitem ir além do valor e garantir a
socialização imediata, significa que aconteceu um importante
progresso material e cultural e, portanto, parece exagerado
caracterizar a sociedade contemporânea como um estágio de
barbárie. A análise de Kurz anuncia os limites históricos do
modo de produção capitalista, mas quase nada sobre as
perspectivas da revolução:
“A crise da forma-mercadoria é, no entanto, filtrada pelo
movimento do mercado mundial (…) luta essa que possibilita
(e domina) as próprias forças produtivas que serão responsáveis pela desvalorização da força de trabalho. Os
capitais mais produtivos abatem concorrencialmente aqueles
que não podem mais acompanhar o elevado padrão de
produtividade, mobilizando para tanto vultosas somas de
capital fixo. Os velhos perdedores e os novos retardatários
só podem continuar no páreo à custa de baixos salários (ou
ainda trabalho forçado ou escravo) (…) Podia parecer, à
primeira vista, que o processo de crise transcorreria de
maneira escalonada(…) e deixaria por último as nações mais
fortes do ponto de vista do capital, capazes de sustentar
por mais tempo o processo de simulação monetária através do
endividamento do Estado e do sistema de crédito. Primeiro
sucumbiram as economias do Terceiro Mundo e do socialismo de
Estado, que passaram a ser exemplo de uma ‘modernização
tardia’, fadada desde então ao fracasso no interior do horizonte burguês. Nos anos 90, porém, a crise parece avançar a
passos largos em direção às economias nacionais
estabelecidas.” [3]
Estamos diante de uma análise que identifica nas novas forças
produtivas a capacidade de abrir uma época histórica em que
mudam os fundamentos do processo de acumulação do capital.
Inaugura-se uma fase de desenvolvimento que se definiria,
tendencialmente, pela anulação histórica do valor.
A nova época histórica teria como traços constituintes a
crescente barbarização das relações sociais, como expressão
dos limites do trabalho com a forma mercadoria. Em outras
palavras, a proporção de valor agregado pelo trabalho vivo
seria cada vez mais irrelevante, na medida em que a ciência e
a tecnologia se emancipam como a principal força produtiva, e
a queda da taxa média de lucro atingiria tal nível, que o
horizonte histórico dos limites da acumulação estariam cada
vez mais próximos.
Decorre desta análise, de uma radicalidade objetivista que
surpreende, uma nova compreensão do papel dos sujeitos sociais
na
luta anticapitalista. Kurz desenvolve a crítica da
esquerda a partir da ótica da necessidade de superar o
politicismo. A crítica do politicismo é compreendida com uma
superação da política. Mas a política não deve ser reduzida
pela crítica marxista à sua dimensão mais cenográfica,
mesquinha, ritualizada, espectacularizada. A fórmula antipolítica de Kurz
propagandista.
não
consegue
esconder
a
tentação
A disputa pela direção do proletariado contra os aparelhos
reformistas sempre foi o beabá do marxismo. Aqueles que estão
em minoria e querem lutar para ser maioria não podem se
permitir o luxo de escolher o terreno da disputa, porque a
relação de forças não o permite. O terreno da política- as
eleições nos sindicatos, as campanhas salariais, a organização
de marchas, a participação nas eleições – é imposto aos
revolucionários por essa necessidade. As ilusões da classe
operária nas possibilidades de regulação do capitalismo não se
explicam sem a presença ativa, esmagadora e opressiva de
aparelhos burocráticos que dependem destas ilusões, e
parasitam a insegurança dos trabalhadores sobre sua capacidade
de luta. Estes aparelhos não podem ser derrotados sem ser
confrontados. A alternativa seria uma opção de auto-exclusão
de tipo “anarquismo” tardio, uma versão pós-moderna dos
falanstérios de Fourier.
O enfoque anti-político leva a desaparecer da análise uma
história centrada nos sujeitos sociais e na luta de classes.
Kurz não procurou esconder o seu propagandismo, não há
mediações, e o derrotismo se manifesta nas entrelinhas.
Portanto, um pouco à maneira luckásciana, mas por um outro
ângulo, menospreza os elementos subjetivos. A impotência
política revela-se de forma desinibida.
Crise de direção ou aburguesamento do proletariado?
A segunda surpresa histórica foi a imaturidade do proletariado
em afirmar a sua independência política e manter a vigilância
e controle sobre as suas organizações. O grau de dificuldade
do proletariado remete à sua condição
economicamente,
explorada,
socialmente
de classe,
oprimida
e
politicamente dominada.
Muito maior do que o previsto pelo marxismo do século XIX, a
debilidade subjetiva da classe operária se expressou na
longevidade da influência da social democracia e do
estalinismo, de longe os dois maiores aparelhos burocráticos
que parasitaram a representação política dos trabalhadores no
século XX. O substitucionismo social e, em conseqüência, o
papel de organizações nacionalistas foi uma das pressões que
levou uma parte do marxismo a dizer “adeus” ao proletariado.
Outro aspecto da análise de Kurz é o deslocamento do
protagonismo revolucionário das mãos do proletariado:
“Os remanescentes do velho radicalismo chegam a ponto de
denunciar os prognósticos de uma transição iminente para a
barbárie global como ‘falsa certeza’(…) Os náufragos
críticos da sociedade foram de tal modo arruinados pela
política e imbecilizados pela agitação, que só pode lhes
parecer amalucada a tentativa de analisar uma revolução
industrial (a microeletrônica), lançando mão de conceitos
teóricos de crise. Eles tomam por supérfluas tanto uma
definição de época, quanto uma nova historização do
desenvolvimento interno do capitalismo, pois este, concebido
em conceitos escolares, nunca deixou de ser o mal de sempre,
imutável (…) Eles não ousam mesmo acusar de ‘objetivismo’,
precisamente, a análise e a crítica das estruturas (realmente) objetivadas, por terem desde sempre operado com
conceitos burgueses irrefletidos de sujeito e vontade. Não
chega a espantar, assim, que a demanda por uma supressão da
forma-mercadoria e da forma-política, que no atual estágio
da crise do sistema mundial plenamente desenvolvido deve ser
formulada de maneira muito distinta que no passado, seja
vista como reformismo ou fundamentalismo. “[4]
Segundo Kurz, o proletariado se integrou de forma
irreversível: uma nova atualização das teses “soixantehuitards” vaticinando o aburguesamento dos trabalhadores. Mas
uma classe que é explorada não pode renunciar à luta. Pode,
simplesmente, escolher quando sente confiança em si mesma para
lutar. Esta disposição de luta foi sabotada durante décadas
pelos aparelhos reformistas, em especial o estalinista, que
semearam entre os trabalhadores a ilusão das negociações,
pactos e concertações para evitar situações de confronto,
enquanto faziam a gestão do mal menor. Mas há um limite
histórico para a eficácia dos aparelhos como última linha de
defesa do sistema.
Todas as grandes revoluções políticas da nossa época foram,
também, revoluções sociais em processo, porque só a
mobilização de massas em grande escala pôde garantir a vitória
das revoluções democráticas. Mesmo quando classificadas como
democráticas, pelas tarefas colocadas, as revoluções políticas
merecem caracterizadas como revoluções sociais incompletas, ou
interrompidas, pelos sujeitos sociais que foram convocados
para o seu triunfo. A armadilha da história é que as
revoluções democráticas são processos em disputa cujo
desenlace é incerto.
Não eram vermelhas as bandeiras dos jovens que saíram às ruas
de Túnis, do Cairo, da Líbia, do Bahrein, do Yemen, e de
Aleppo na Síria. Inexistem organizações marxistas
revolucionárias importantes no mundo árabe. A revolução voltou
à primeira cena da arena mundial, porém, as massas populares
em luta contra as ditaduras como as de Ben Ali, Mubarak,
Gadhafi, Assad e os outros califas não fizeram reivindicações
anticapitalistas. Entretanto, as situações revolucionárias
abertas nesses países ainda não se encerraram.
Aonde os ditaduras foram derrubadas, a revolução democrática
foi uma antessala de combates de classe cuja dinâmica
histórica será, objetivamente, anticapitalista, porque a
contra-revolução
da
nossa
época
histórica
foi,
invariavelmente, burguesa. Mas este terrível aprendizado de
que as revoluções democráticas foram revoluções inacabadas
terá que ser feito no calor das lutas que virão, ou seja, com
uma margem de improviso político elevado.
Notas:
[1] Acidente histórico é uma fórmula que remete, entre outros
temas, a formas estatais ou regimes políticos que foram
bloqueados, destruídos ou
derrotados. Tenta explicar, em
elevado grau de abstração, processos muito singulares, como as
Missões Jesuíticas no Cone sul da América Latina no final do
século XVII e início do XVIII, por exemplo. Pode ser
considerado um acidente histórico uma evolução temporária,
porém insustentável ou até mesmo anacrônica, de uma sociedade
(ou de uma nação). O conceito surgiu nas Lições sobre a
filosofia da história de Hegel, e foi usado, também, por
alguns marxistas. Uma das polêmicas sobre o tipo de sociedade
que surgiu na URSS com o regime estalinista é se aquela seria
ou não um acidente histórico. O texto de Hegel pode ser
encontrado
em:
http://pt.scribd.com/doc/57456425/HEGEL-Em-Licoes-de-filosofia
-da-Historia. Consulta em 13/12/2012
[2] KURZ, Robert. Os últimos combates. Petrópolis, Vozes,
1998. p.67-68.
[3] Idem.
[4] Idem, p.75-76.
A
revolução
perguntes por
sinos dobram
Síria:
não
quem os os
Valerio Arcary
“Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo (…) E
por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles
dobram por ti.” (John Donne)
“Será necessário que se reúnam condições completamente
excepcionais, independentes da vontade dos homens ou
dos partidos, para libertar o descontentamento das
cadeias do conservadorismo e levar as massas à
insurreição. Portanto, essas mudanças rápidas que as
idéias e o estado de espírito das massas vivem nas
épocas revolucionárias não são um produto da
elasticidade e mobilidade da psíque humana, mas, ao
contrário, de seu profundo conservadorismo(…) As
distintas etapas do processo revolucionário,
consolidadas pelo deslocamento de uns partidos por
outros, cada vez más radicais, sinalizam a pressão
crescente das massas para
a esquerda, até que o
impulso adquirido pelo movimento tropeça com
obstáculos objetivos. Então começa a reação: decepção
de certos setores da classe revolucionária, difusão da
apatia.” (Leon Trotski)
O ano de 2011 inaugurou uma nova situação internacional com a
onda de revoluções políticas no Magreb, transbordando em
poucos meses para os países de língua árabe do Oriente Médio.
Quando uma ordem econômica, social e política revela
incapacidade para realizar mudanças por métodos de negociação,
concertação ou reformas, as forças sociais interessadas em
resolver a crise de forma progressiva recorrem aos métodos da
revolução para impôr a satisfação de suas reivindicações. Essa
foi a forma que assumiu a defesa de interesses de classe na
história contemporânea.
Duas conclusões se impõem de forma irrefutável ao final de
quase dois anos. Primeiro, o que aconteceu nas ruas de Túnis e
Cairo, depois na Líbia, Bahrein, Yemen, e Síria, merece ser
considerado como revolução no sentido pleno do conceito: uma
irrupção representativa da vontade popular, com o objetivo de
derrubar ditaduras corrompidas, regimes monstruosos de frações
degeneradas de burguesias nacionais instaladas no poder há
décadas.
Segundo, o processo revolucionário se estendeu na forma de uma
vaga sincronizada que foi contaminando, em maior ou menor
medida, a maioria dos países da região, pelo efeito
arrebatador do exemplo das vitórias fulminantes na Tunísia e
Egito. Que na Líbia e Síria a dinâmica do processo tenha
evoluído para uma guerra civil nos diz mais sobre a contrarevolução do que sobre a revolução. Uma revolução que luta com
armas nas mãos não é menos legítima, é mais heroica. Na Síria
não está somente em disputa o destino da ditadura do clã
Assad. Nas ruas de Damasco estão se dando neste momento
combates cruciais para o futuro da revolução mundial.
Uma contra-revolução mundial
Já se disse que as próximas revoluções serão sempre mais
difíceis que as últimas, porque a contra-revolução aprende
depressa. A contra-revolução burguesa foi um dos fenômenos de
dimensão mundial do século XX. As revoluções contemporâneas
manifestam-se como revoluções na esfera nacional, mas esta
aparência é uma ilusão de ótica que remete à centralidade da
luta política imediata contra o Estado. As revoluções do
século XX não enfrentaram somente os seus inimigos nacionais
imediatos, mas a contra-revolução à escala internacional. As
do século XXI terão desafios ainda mais complexos, e o
primeiro deles é a necessidade do internacionalismo.
Os Estados se definem pela vigência das fronteiras nacionais,
todavia a dominação mundial capitalista foi se estruturando,
crescentemente, sobre uma institucionalidade mundial: o
sistema internacional de Estados, ou seja, ONU, a Tríade
(Estados Unidos, União Européia, Japão), o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o G-8, o G-20, o Banco Mundial, o Banco
de Compensações Internacionais de Basileia, etc.
As revoluções contemporâneas estiveram inseridas, desde o fim
da Primeira Guerra Mundial, em contextos, pelo menos,
regionais, ou semi-continentais, e assumiram a forma de ondas
de expansão que cruzaram mais ou menos rapidamente as
fonteiras nacionais. Por isso as revoluções contemporâneas
merecem ser caracterizadas como processos de refração da
revolução mundial.
A revolução mais recente pode ser interpretada, portanto, como
“o futuro de um passado”, e começa onde a última foi
interrompida. O ano de 2012 foi o ano em que a revolução na
Síria chegou à sua hora decisiva. Combates se travam
diariamente nas ruas de Damasco. Esta revolução incompreendida
pela maioria da esquerda brasileira vive as suas horas
decisivas. A solidariedade maior a Gaza durante as duas
últimas semanas de novembro de 2012 demonstrou que está
aumentando o isolamento político de Israel, e potencializando
a resistência palestina. Os governos da França e Reino Unido
se apressam a compreender a nova relação de forças e sinalizam
a disposição de votar a favor de um novo estatuto para a
Autoridade Palestina na ONU, contrariando o alinhamento
incondicional dos Estados Unidos com Israel. A queda de
Kadafi, portanto, não diminuiu a disposição de apoio à causa
palestina na Líbia, ao contrário, aumentou. Não será diferente
na Síria.
Fevereiros heróicos, mas intervalos mais longos até Outubros
Mas afirmar que têm sido revoluções políticas democráticas
significa dizer, também, que não só não realizaram rupturas
anticapitalistas, como destacar que a participação política
dos trabalhadores não ocorreu ainda, predominantemente, de
forma independente. Ou seja, remetendo a uma metáfora
histórica ancorada na experiência da revolução russa, estamos
diante de Fevereiros muito difíceis que sugerem ainda um longo
intervalo antes que possam ocorrer Outubros.
Estas formas da revolução árabe não foram, historicamente,
incomuns. As ditaduras do Cone Sul da América Latina –
Argentina, Uruguay e Brasil – foram, também, desafiadas por
mobilizações de massas entre 1982/1984. Estes processos
sugerem que existe um padrão recorrente, se analisarmos a
dinâmica política da época contemporânea. Parecem corresponder
a duas regularidades:
(a) regimes ditatoriais em países periféricos em processo de
urbanização podem se manter no poder, até por algumas décadas,
mas serão derrubados por revoluções democráticas, mais cedo ou
mais tarde, pelo surgimento de um bloco social muito mais
poderoso do que a oligarquia arcaica que os sustentou: um
proletariado e uma classe média asssalariada plebéia massiva.
A questão decisiva é se este bloco é dirigido pelo
proletariado ou por frações burguesas dissidentes e seus
aliados internacionais;
(b) o efeito exemplo do triunfo de uma revolução democrática,
em uma época histórica em que a informação circula quase
instantaneamente, acelerou a experiência política de massas, e
funcionou como um gatilho que incendiou os países da região
vizinha, produzindo uma internacionalização rápida da
revolução.
A urgência da revolução
A história, contudo, não é sujeito, mas processo. O seu
conteúdo é uma luta. Essa luta assume variadas intensidades. A
revolução política é uma dessas formas, e a frequência maior
ou menor em que ela se manifesta é um indicador do período
histórico. Todas as revoluções contemporâneas tiveram uma
dinâmica anticapitalista, maior ou menor, mas não foram todas
elas revoluções, socialmente, proletárias. Todas as revoluções
socialistas da história começaram como revoluções políticas,
ou como revoluções democráticas, mas nem todas as revoluções
democráticas transbordaram em revoluções sociais.
Estará em disputa a possibilidade da revolução no norte da
África e do Oriente Médio abrir o caminho para segundas
independências, com todas as sequelas que teria a perda de
controle do imperialismo sobre as maiores fontes de
abastecimento de petróleo, mas, também, a destruição das
políticas públicas de bem estar social que ainda estão de pé
na Europa Ocidental, ou a redução da Grécia, Portugal e,
talvez, até da Espanha à condição de semi-colônias do eixo
franco-alemão na União Européia.
O que condicionou, historicamente, a possibilidade de
revoluções foi a pressão objetiva de crises de dimensões
catastróficas. Mas, só a existência de crises nunca foi o
bastante para que se iniciassem processos revolucionários.
Foi indispensável, igualmente, que a mentalidade de milhões de
pessoas fosse sacudida pela experiência terrível de que não
existiria mais esperança em saídas individuais. Somente quando
a nova geração acordou para a inescapável constatação de que
teria que aceitar condições de sobrevivência inferiores às dos
seus pais, ou seja, somente quando o que era inacreditável em
condições normais se impôs de forma incontornável, se
precipitaram situações revolucionárias. A urgência da
revolução voltou a ter significado político imediato. Mas não
autoriza a conclusão de que o socialismo está mais perto. A
luta pelo socialismo requer mais do que ações revolucionários
contra o governo e regime no poder: exige protagonismo
proletário independente e projeto internacionalista.
14 N: o dia em que o
internacionalismo
ressurge
como força social e política
Valerio Arcary, professor do IFSP
O dia de greve geral unificada de 14 de novembro de 2012 em
Portugal, Grécia e Estado Espanhol, com ações simultâneas como
a greve metalúrgica na Itália e outras, seja qual for a sua
dimensão e repercussão imediata, entrará para a história como
um novo momento do internacionalismo. Nada remotamente
semelhante já aconteceu, e isso diz tudo. Esta greve é uma
resposta em terreno novo e muito animador. Será um
acontecimento extraordinário, mesmo que venha a ser somente um
ensaio geral.
O internacionalismo proletário poderá renascer, nesta quarta
feira, como uma força social e política capaz de derrotar a
Troika. Se a união do movimento operário e sindical com os
movimentos sociais de juventude vier a se consolidar estará
aberta uma nova situação política no Mediterrâneo. Estarão
começando a serem reunidas, quiçá, as condições para impor aos
governos uma nova relação de forças, ameaçando todos os planos
de austeridade.
O capitalismo está se confrontando, a cada crise (1990/92;
2000/2001; 2008/12), com seus limites históricos. A
perspectiva de situações revolucionárias nos países
mediterrânicos da Europa está mais próxima. Contudo,
paradoxalmente, as duas premissas anteriores não permitem
ainda concluir que o socialismo está mais perto. Porque o
futuro do socialismo depende da afirmação de um sujeito social
com disposição de luta, consciência anticapitalista, e
organização independente capaz de atrair para o seu projeto a
maioria dos oprimidos. Esta afirmação só será possível com uma
capacidade de ação internacionalista. Por isso a greve geral
de 14 de novembro será um momento magnífico de resistência, ou
seja, uma demonstração de que há energias no proletariado da
Europa, aquele que tem maior tradição histórica no mundo.
Estamos diante de um impasse histórico, um período
transitório, que poderá mergulhar a sociedade em um abismo
regressivo. Abismos regressivos já vitimaram sociedades
contemporâneas, desde o final da Segunda Guerra Mundial,
incontáveis vezes, e das mais diferentes e terríveis formas.
Na forma de limpezas étnicas, por exemplo, quando da fundação
do Estado de Israel, a nakba palestina em 1948 ; ou na forma
de genocídios, como no Ruanda, em 1994, ou na Bósnia, entre
1992/95. Mas ocorreram, tragicamente, outras formas de
regressão histórica, como as ditaduras no cone sul da América
Latina nos anos setenta, ou as sequelas da restauração
capitalista na Rússia nos anos noventa.
A perspectiva de uma estagnação econômica internacional, por
uma década, como tem sido admitida por analistas da mais
diversas tendências, merece ser caracterizada, também, como
uma regressão, pelas consequências sociais e políticas
imprevisíveis que provocará. Uma das mais plausíveis é a
confirmação da tendência a uma queda acentuada do salário
médio nos países centrais (EUA, União Européia e Japão). Pela
primeira vez, desde o pós-guerra, a geração mais jovem será
mais pobre que a mais velha. Outra, também, provável, é a
revogação das políticas públicas do chamado bem estar social,
sendo a previdência dos mais velhos, o salário desemprego dos
ativos, e o acesso à educação gratuita dos mais jovens, três
dos alvos prioritários dos ajustes. As relações entre o centro
e a periferia do capitalismo deverão conhecer, também,
transformações
reacionárias
como
reprimarização,
desnacionalização e recolonização. Estes são os planos da
Troika para salvar o capitalismo. Conseguirão ou não aplicálos? O 14 de novembro será um dia em que se medirão forças.
A última crise do capitalismo e a teoria da crise última
As últimas crises econômicas confirmam que os limites
históricos do capitalismo estão mais estreitos. É verdade que
estes limites nunca foram fixos, mas o fato de serem móveis
não quer dizer que não existam. Eles resultam de uma luta
política e social. Vivemos em uma época histórica em que os
destinos políticos e econômicos da civilização se decidem na
arena mundial, ainda que a luta política se desenvolva,
aparentemente, em marcos nacionais. Do futuro desta luta de
classes internacional dependerá a longevidade do capitalismo.
O que, no entanto, é previsível, é que a senilidade do sistema
exigirá mudanças regressivas, ou seja, reacionárias,
historicamente, até em relação ao passado do capitalismo. O
futuro deste passado será cada vez mais próximo ao prognóstico
de barbárie crescente. Em alguns períodos, os horizontes
histórico-sociais do capital se contraíram (depois da vitória
da revolução russa; depois da crise de 1929; depois da
revolução chinesa; depois da revolução cubana; depois do Maio
1968; depois da revolução portuguesa), e em outros se
expandiram (depois do New Deal de Roosevelt; depois do acordo
de Yalta/Potsdam, ao final da II Guerra Mundial; depois de
Reagan/Thatcher nos anos 80). O capitalismo não terá “morte
natural”, o que não é o mesmo que dizer que não se manifestou
na história uma tendência ao desmoronamento, isto é, uma
tendência a crises cada vez mais sérias e destrutivas, que
ficou conhecida na tradição marxista como a teoria do colapso.
Os últimos cento e cinqüenta anos já foram um intervalo
histórico suficiente para se concluir que o capitalismo não
morre de “morte natural”: suas crises convulsivas, por mais
terríveis, não resultam em processos revolucionários, a não
ser quando surgem sujeitos sociais com disposição
revolucionária. Os critérios objetivistas que diminuem a
centralidade do protagonismo do proletariado e das classes
oprimidas foram refutados pela história. Os vaticínios
políticos catastrofistas neles inspirados, se aproximaram
perigosamente de uma versão marxista de um novo milenarismo.
Ainda nos Grundrisse, Marx deteve-se no comentário das
contratendências que poderiam neutralizar e até, em
determinadas circunstâncias histórico-sociais, inverter de
maneira transitória a ação dos fatores que pressionam no
sentido da queda da taxa média de lucro e, portanto, da
precipitação da crise, como se pode perceber a partir deste
fragmento:
“No movimento desenvolvido do capital existem fatores que
detêm este movimento mediante outros recursos que não as
crises, como, por exemplo: a contínua desvalorização de uma
parte do capital existente; a transformação de uma grande
parte do capital em capital fixo, o qual não presta serviços
como agente da produção direta; improdutivo desperdício de
uma grande parte do capital, etc. […] Que ademais se possa
conter a queda na taxa de lucro, por exemplo, reduzindo os
impostos, diminuindo a renda do solo, etc., não é assunto
que devamos considerar aqui, por maior que seja sua
importância prática, já que se trata de partes do lucro
chamadas por outro nome e das quais se apropriaram pessoas
que não são o capitalista mesmo. […] A diminuição é
contrabalançada, da mesma forma, mediante a criação de novos
setores de produção, nos quais se requer mais trabalho
imediato em proporção ao capital, ou naqueles em que ainda
não está desenvolvida a força produtiva do trabalho, isto é,
a força produtiva do capital (também os monopólios).”
(tradução nossa)
O conceito de crise final revelou-se, históricamente, sem
fundamento, portanto, politicamente estéril. As crises
econômicas do capitalismo continuaram a se manifestar com uma
intensidade destrutiva que não deve ser subestimada. Mas da
regularidade da crise não se pode retirar outra conclusão que
não seja que a sociedade estará condenada a sofrer,
convulsivamente, as dores do parto de uma transição que vem se
revelando muito mais longa do que eram os prognósticos de
Marx.
Marx apostava
na hipótese de que o peso crescente do
maquinismo, ou seja, da ciência objetivada como tecnologia,
como uma força produtiva aplicada em larga escala, exigiria
uma tal imobilização de capital, que a tendência à queda da
taxa média de lucro seria irrefreável, donde o prognóstico da
precipitação de crises mais destrutivas e devastadoras. Como
se pode conferir adiante:
“Na mesma proporção, portanto, que no processo de produção o
capital enquanto capital ocupe um espaço maior em relação ao
trabalho imediato, quanto mais cresça a mais-valia relativa
– a força criativa própria capital – tanto maior será a
queda a taxa de lucro (…) Esta é, em todos os aspectos, a
lei mais importante da economia política moderna e a
essencial para compreender as relações mais difíceis. É, do
ponto de vista histórico, a lei mais importante. É uma lei
que,
apesar
de
sua
simplicidade,
nunca
foi
compreendida.” (tradução nossa).
O próprio Engels interveio no debate preocupado com ênfases
excessivas ou deformadamente deterministas que eram feitas em
nome de Marx. Na conhecida carta a Kugelmann apresenta a
fórmula do paralelograma de forças, um esforço de
reequilibrar/reordenar a articulação das causalidades,
sugerindo que Marx utilizava diferentes níveis de abstração
quando buscava o estudo de cortes de temporalidades ou esferas
distintas de análise. A necessidade do desenvolvimento
histórico colocava a possibilidade da revolução social.
Necessidade e possibilidade se definem assim em uma unidade
dialética que não se confunde com fatalismo.
O 14 de novembro de 2012 será um dia de celebração do
internacionalismo. Porque é possível, porque é necessário.
Nakba é uma palavra árabe que significa “catástrofe” ou
“desastre” e designa o êxodo palestino de 1948 quando pelo
menos mais de 700.000 árabes palestinos, segundo dados da ONU,
fugiram ou foram expulsos de seus lares, em razão da guerra
civil de 1947-1948 e da Guerra Árabe-Israelense de 1948.
Limpezas étnicas são remoções forçadas de populações com o uso
de violência estatal que resultam em migrações forçadas.
Há um debate interessante sobre o tema conhecido como a
discussão sobre a Zusammenbruchstheorie,ou teoria do colapso
ou desmoronamento. Uma referência útil pode ser encontrada no
livro organizado por Lucio Colletti: El marxismo y el
“derrumbe” del capitalismo. 3
Editores, 1985.
ª
ed. México, SigloVeintiuno
São caracterizados por uma parte da historiografia como
milenaristas alguns movimentos populares europeus de
inspiração mística e, algumas vezes, messiânicas, da Idade
Média e Moderna que acreditavam no advento de um novo mundo
com a inauguração de um novo milênio. O livro de Norman Cohn é
uma das eferências para este tema. Na senda do Milênio:
milenaristas revolucionários e anarquistas místicos da Idade
Média. Lisboa: Editorial Presença, 1970.
MARX. Grundisse. Mexico, Siglo XXI p. 637, 1997.
MARX, Karl. Grundisse. Siglo XXI,
p. 634.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich Obras escolhidas. São Paulo,
Alfa-omega, [s/d]. (vol. I, II e III).
Outros Outubros virão
Valério Arcary
Hoje celebramos noventa e cinco anos da revolução russa. A
efeméride oferece a ocasião para o ressurgimento da
interpretação liberal sobre o seu significado: seus arautos
nos recordarão, em um exercício manipulado de história contrafactual, que o século XX teria sido o palco de uma luta
titânica da democracia contra os totalitarismos comunista e
fascista. Esquecerão, convenientemente, que sem a revolução de
outubro e, portanto, a existência da URSS, seria pelo menos
duvidoso a introdução de regulações no capitalismo como a
experiência do New Deal de Roosevelt nos EUA na sequência da
crise de 1929, ou a seguridade social na Escandinávia nos anos
trinta. A vitória da luta contra o nazi-fascismo na Segunda
Guerra Mundial teria sido imensamente mais difícil.
Argumentarão, pomposos e solenes, que as revoluções seriam
processos de transformação, historicamente, superados: teriam
sido, afinal, terremotos convulsivos característicos de nações
com baixos níveis de instrução. O que não permitiria explicar
o Maio de 1968 na França: um dos países centrais com
escolaridade média mais elevada do mundo. Descuidarão,
portanto, que a história é um processo em aberto.
Ininterrupta, a história voltou a nos surpreender com
revoluções políticas, como nos recordam os últimos dois anos
na Tunísia, Egito, Líbia, Síria, enfim, no Magreb e Oriente
Médio.
O século do encontro da revolução com a história
A revolução política e social foi o fenômeno decisivo da
história contemporânea, deslocando o lugar que, no passado,
era ocupado pela guerra. A desigualdade social foi e continua
sendo o maior problema da civilização. Revoluções aconteceram
e continuarão acontecendo porque há injustiça e tirania no
mundo. A disparidade de condições materiais e culturais de
existência humana precipitaram, recorrentemente, crises
sociais que transbordaram em crises políticas. Quando as
crises políticas não encontram uma solução no limite das
relações sociais dominantes, abre-se uma situação
revolucionária. A revolução russa de outubro não foi uma
excepção. Ao contrário, a revolução bolchevique estabeleceu um
dos paradigmas mais longevos do século XX e inspirou várias
das gerações de socialistas que vieram depois.
Mudanças eram – e continuam – sendo necessárias. Nenhuma
sociedade permanece imune à pressão por mudanças. Mas, as
forças da inércia histórica são proporcionais à força social
reacionária de cada época. Um atraso significativo e, muitas
vezes, terrível, é inevitável entre o momento da manifestação
de uma crise social, e o tempo que a sociedade precisa para
que seja capaz de enfrentar as mudanças que são
indispensáveis. Revoluções não acontecem quando são
necessárias, mas quando a pressão pela transformação se
demonstrou inadiável. A história confirmou que as
transformações podem ocorrer por via de reformas, ou seja, por
lutas que resultam em negociações e acordos transitórios que
mantém, na essência, a ordem econômica, social e política, ou
por via de revoluções.
Significado das derrotas históricas
A velha máxima que assegura que as revoluções tardias são as
mais radicais não deixou de se confirmar. Ao final da Primeira
Guerra Mundial ruíram na Europa Central e Oriental três
Impérios – o russo, o austro-húngaro e o prussiano – que
tinham atravessado, incólumes, o século XIX, desde a Santa
Aliança anti-republicana e o Tratado de Viena de 1815. As
formas monárquicas mais ou menos arcaicas de cada um deles –
expressão de uma transição burguesa negociada sob as cinzas da
derrota das revoluções democráticas de 1848 – foram destruídas
pelo desenlace da guerra, mas, também, pela maior vaga
revolucionária que a história tinha até então conhecido: de
Petrogrado a Budapeste, de Viena a Berlim, milhões de homens e
mulheres, trabalhadores e soldados, atraíram para o seu lado
setores das camadas médias, artistas, intelectuais e
professores, e lançaram-se na obra de destruir os velhos
regimes de opressão que os tinham mergulhado no turbilhão do
genocídio que acabou consumindo algo próximo a dez milhões de
vidas.
Aonde as revoluções democráticas de 1848 foram derrotadas
pelas velhas monarquias – fortalecidas na época da restauração
depois de 1815- como na Alemanha prussiana e no Império dos
Habsburgos, a tarefa de pôr fim à guerra uniu-se à proclamação
da República, mas as forças sociais que impuseram, pelos
métodos da revolução, a derrota do governo – o proletariado e
os camponeses arruinados que constituíam a maioria do exército
– não se contentaram somente com as liberdades democráticas, e
lançaram-se na vertigem da conquista do poder com suas
esperanças socialistas.
As
revoluções
atrasadas
da
Europa
Central
e
Oriental
transformaram-se em revoluções proletárias pioneiras ao final
da Primeira Guerra Mundial, mas, à excepção da Rússia, foram
desbaratadas. Derrotas históricas, contudo, têm conseqüências
trágicas e duradouras. O custo histórico, para os alemães, da
derrota de seus jacobinos em 1848 foi o militarismo
nacionalista do II Reich, o imperialismo do Kaiser, e a
Primeira Guerra Mundial. O preço que a nação alemã pagou pela
derrota do seu proletariado – o triunfo do nazismo, a Segunda
Guerra e os seis milhões de vidas da juventude alemã – foi
ainda maior.
Ditadura do proletariado ou ditadura fascista
Aonde as formas tirânicas do Estado revelaram-se mais rígidas,
como na Rússia, a revolução democrática radicalizou-se, muito
rapidamente, em revolução socialista, confirmando que
revoluções não podem ser compreendidas somente pelas tarefas
que se propõem resolver, e menos ainda pelos seus resultados,
mas, sobretudo, pelos sujeitos sociais, ou classes, que
tiveram a audácia de fazê-las, e pelos sujeitos políticos, ou
partidos, que foram capazes de dirigi-las. O substitucionismo
histórico – de uma classe por outra – e a centralidade da
política – com a redução das margens de improviso da liderança
– demonstraram-se as chaves de explicação dos processos
revolucionários contemporâneos.
Não foi a burguesia russa que se lançou à insurreição para
derrubar o Estado semi-feudal dos Romanov em fevereiro de
1917, mas foi ela quem impediu o governo provisório do
Príncipe Lvov de fazer a paz em separado com a Alemanha: os
capitalistas russos demonstraram-se demasiado frágeis para,
por um lado, romper com seus parceiros europeus, e por outro,
para garantir a sua dominação através de métodos eleitorais na
República que nascia pelas mãos da insurreição proletária e
popular. Não foi a burguesia quem mandou os seus filhos para
as trincheiras da guerra serem massacrados, mas era ela quem
apoiava Kerensky, quando este insistia em lançar os camponeses
fardados em ofensivas suicidas sobre o exército alemão.
A pressão de Londres e Paris exigia a manutenção da frente
oriental, mas a pressão de um proletariado poderoso e
combativo – proporcionalmente a uma burguesia com pouco
“instinto de poder” pela submissão à monarquia – exigia o fim
da guerra; as forças mais fortes da esquerda socialista –
mencheviques e esseristas – se recusavam a assumir o poder
sozinhos, porque não queriam romper com a burguesia, porém os
bolcheviques, minoritários até setembro, recusavam a
integração no governo de colaboração de classes, porque não
admitiam romper com as reivindicações populares. Quando
Kerensky perdeu o apoio nas classes populares, a burguesia
russa apelou ao general Kornilov para resolver com as armas, o
que não podia ser resolvido com argumentos. A hora das
eleições para a Constituinte tinha passado. A burguesia russa
perdeu a paciência com Kerensky e rompeu com a democracia,
dois meses antes de o proletariado perder a paciência com os
seus líderes, e recorrer a uma segunda insurreição para
terminar com a guerra.
O fracasso do putsch selou o destino da burguesia russa. O
proletariado e os soldados encontraram nos bolcheviques, nas
horas terríveis de agosto, o partido disposto a defender com a
vida as liberdades conquistadas em fevereiro. Sem o apoio da
burguesia e sem o apoio das massas, suspenso no ar, o governo
de Kerensky – e seus aliados reformistas – procurou socorro no
pré-parlamento, mas a legitimidade da democracia direta dos
sovietes superava a representação indireta de qualquer
assembléia: o tempo para as negociações com a Entente tinha se
esgotado, a oportunidade histórica para a república burguesa
tinha sido perdida. Era tarde demais.
A engrenagem da revolução permanente empurrava os sujeitos
sociais interessados no fim imediato da guerra – a maioria do
Exército e dos trabalhadores – para uma segunda revolução e
operava a favor dos bolcheviques que, no espaço de poucos
meses, viam sua influência se agigantar. O proletariado e os
camponeses pobres precisaram dos meses que separaram fevereiro
de outubro para perderem as ilusões no governo provisório,
onde os partidos em que depositavam suas esperanças,
mencheviques e esseristas, eram incapazes de garantir a paz, a
terra e o pão, e entregar sua confiança aos sovietes onde a
liderança de Lênin e Trotsky se afirmava.
Martov, líder dos mencheviques internacionalistas e Kautsky,
líder da social-democracia alemã, insistiram, nos anos
seguintes, que Outubro teria sido uma aventura voluntarista.
Acusaram os bolcheviques de golpistas por terem feito a
revolução: queriam que os bolcheviques construíssem o regime
democrático-liberal quando a burguesia russa tinha apoiado os
métodos da guerra civil para defender a propriedade privada.
Quis a ironia da história que, na Rússia de 1917 – antecipando
um movimento histórico que depois se generalizou à Europa – os
partidos menchevique e SR, que nasceram como organizações
operárias e populares, transfiguraram-se nos porta-vozes da
pequena-burguesia e das incipientes classes médias urbanas: um
colchão de amortecimento da luta de classes entre o Capital e
o Trabalho, e os últimos advogados de um regime democráticoliberal, mesmo depois que a burguesia tinha abraçado o plano
da ditadura fascista, que poderia ser adornada com uma coroa
monárquica. Mais razoável, entretanto, seria concluir que uma
hesitação bolchevique em outubro, ou a sua derrota na guerra
civil entre 1918/1920, teria levado ao poder – apoiado pelas
democracias de Washington e Londres – um fascismo russo, e
ninguém deveria querer imaginar o que poderia ter sido um
“Hitler” no Kremlin.
A alternativa de outubro: capitalismo ou socialismo
O balanço que a história deixou parece irrefutável: se até a
Alemanha, a mais desenvolvida e educada das nações européias
não escapou da ditadura nazista, seria superficial e até,
talvez, ingênuo, imaginar que a atrasada Rússia semi-asiática
poderia ter consolidado um regime democrático-liberal ao final
da Primeira Guerra Mundial. São variadas as razões que
explicam essa impossibilidade na Rússia, ao contrário do que
aconteceu, posteriormente, na Europa do Mediterrâneo em 1945,
em Portugal e Espanha entre 1975 e 1978, ou na América Latina
entre 1982 e 1985.
Nas condições da Rússia depois da queda do Czar, em fevereiro,
a burguesia não estava disposta a romper suas relações com
Londres e Paris e iniciar um processo de paz em separado com
Berlim, porém, sem a paz, a burguesia não poderia imaginar a
convocação das eleições para a Constituinte. Ao chegar mais de
meio século atrasada ao processo de industrialização, e ao ter
se inserido no sistema internacional como potência semiperiférica – imperialista em relação às suas colônias no
Cáucaso e na Ásia, mas sub-metrópole em relação à França e à
Inglaterra – a burguesia russa tinha se associado aos capitais
estrangeiros para financiar a implantação de seu parque
industrial.
A consolidação de uma democracia-liberal pressupunha a
convocação de eleições em uma situação em que a legitimidade
da vontade popular tinha encontrado representação nos
sovietes, onde o principal partido burguês, o Kadete, não
tinha expressão. A força do proletariado em movimento impunha
uma forte presença dos partidos socialistas moderados,
mencheviques e esseristas, nos variados Governos provisórios,
mas, assim como Miliukov não estava disposto a romper com a
Entente, estes partidos não estavam dispostos a romper com a
burguesia, levando primeiro o Príncipe Lvov, e depois
Kerensky, ao impasse crônico.
Ao exigir das massas que
fizeram a revolução contra o Czar para se libertar da guerra,
que prolongassem a guerra para conseguir a Constituinte (e a
promessa secular de terra e libertação nacional para
ucranianos, bálticos, caucasianos e asiáticos) sucessivas
crises políticas foram se precipitando em vertigem até à crise
revolucionária, depois da derrota do golpe de Kornilov.
Referências bibliográficas
COLLETTI, Lucio. El marxismo y el derrumbe del capitalismo.
México: Siglo XXI, 1985.
DRAPER, Hal. Karl Marx’s theory of revolution. v. 2. Nova
York: Monthly Review Press, 1978.
FURET, François.
Siciliano, 1995.
O
passado
de
uma
ilusão.
São
Paulo:
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século
1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
XX,
TROTSKY, Leon. Historia de la revolución rusa. Bogotá: Pluma,
1982.
Entrevista de Valério Arcary
à revista Caros Amigos
Outubro de 2012
1. Na sua opinião, em que medida a divulgação dos escândalos
do “mensalão” afetaram a política brasileira, em 2005, e
durante o julgamento em 2012? Qual a importância deste caso
para a história da política no país?
A importância foi e permanece devastadora. A crise do
“mensalão” tem duas dimensões em perspectiva histórica. Em
primeiro lugar, o episódio é desmoralizador para o PT, em toda
a linha, e as suas seqüelas foram e serão inescapáveis. Não
será mais possível ao PT atrair para uma militância despojada
os ativistas honestos como antes. A relação do PT com os
movimentos sociais, em especial, os movimentos sindical,
estudantil, popular de luta pela moradia, camponês de luta
pela reforma agrária, de mulheres, e negro não poderá ser a
mesma que existia antes da eleição de Lula e da crise do
“mensalão”: uma hegemonia incontestável. Em segundo lugar, a
direção política do PT foi decapitada em 2005 para preservar
Lula e, a rigor, salvar o próprio governo de coalizão que o PT
dirigia, senão o próprio partido. Zé Dirceu cumpria o papel de
“primeiro ministro” dentro de um regime presidencialista e
podia, eventualmente, ser um futuro candidato à presidência.
Foi destruído, politicamente, como figura pública pela
repercussão da denúncia e, internamente, muito atingido, mas
salvou Lula. Formar uma nova direção para o PT será,
imensamente, mais complicado que improvisar um candidato à
prefeitura de São Paulo. Uma direção individual de Lula, de
tipo caudilhista, é um anacronismo arcaico. Não creio que a
esquerda brasileira seja tão atrasada assim. Um Bonaparte que
se impõe sobre os líderes regionais só pode se manter enquanto
houver vitórias. A experiência histórica sugere que a hora
decisiva em que uma direção demonstra sua força é na hora das
derrotas.
2. Alguns órgãos de imprensa chegaram a caracterizar o caso do
“mensalão” como o maior caso de corrupção da história
brasileira. Você concorda com essa teoria? Por quê?
Não. Quando a imprensa comercial burguesa faz estas
avaliações, tenho náuseas. Sei que a mensagem nas entrelinhas
é o veneno de classe: “tá aí, olhem os dirigentes da classe
operária se lambuzando com o mel, não confiem nunca mais em
trabalhadores, votem nos ricos que eles roubam menos”. Mas não
tenho, tampouco, qualquer solidariedade com a direção do PT.
Simplesmente, não estou de acordo com este ranking ou
“corruptômetro” que busca hierarquizar quem desviou mais
verbas públicas para financiamento eleitoral. Isso foi sempre
“feijão com arroz” na política burguesa no Brasil. Maluf,
entre tantos outros, deve achar estas esgrimas retóricas
divertidas. Na verdade, são desprezíveis. O que há de novo no
episódio é que a rede foi feita pelo PT. Já se sabia que o PT
era um partido de reformas do capitalismo financiado pelas
grandes corporações desde 1994. O que se descobriu foi que era
tudo muito mais grave. A denúncia do “mensalão” revelou
publicamente a existência de um sofisticado esquema de desvio
de verbas, e compra de votos de frações parlamentares que são
uma praga de um regime político que alimentou, com o apoio da
burguesia em uníssono, a inflação do custo das campanhas
eleitorais brasileiras para patamares estratosféricos. Não há
nada de novo neste episódio, a não ser que veio a público. O
governo do PSDB de FHC já tinha comprado votos para garantir a
emenda constitucional que introduziu a reeleição. Esse tem
sido um custo colateral do regime presidencial de coalizão
muito reacionário que temos.
3. Com polêmicas de tamanha profundidade envolvendo um dos
partidos mais importantes da tradição de esquerda brasileira,
é possível pensar em “respingos” para toda a esquerda e para a
própria política em geral?
Sim, em alguma medida isso é assim, o que é triste e,
evidentemente, injusto. A direção do PT não só foi obrigada a
admitir como financiava a si mesma, mas como ajudava a
financiar os partidos de aluguel que atraiu para ter
governabilidade no Congresso Nacional. O dinheiro, ainda por
cima dinheiro público, substituía o papel da mobilização e
organização popular. E foi assim porque era impossível
mobilizar fosse quem fosse para fazer reformas reacionárias
que retiravam direitos, como a Reforma da Previdência. A
desmoralização do PT atinge, ainda que parcialmente, a
esquerda de conjunto e diminui a autoridade de quem se
apresenta perante a nação como porta-voz dos interesses do
proletariado. Se é verdade que a oposição de direita, com boa
parte da imprensa e das TV’s e rádios a tiracolo, explora
politicamente o julgamento do “mensalão”, também é verdade que
o próprio PT cavou o escândalo com as próprias mãos ao se
apropriar da política e dos métodos dos partidos burgueses. A
crise do PT veio para ficar, mas ainda será necessária uma
etapa em que o mais central será a luta política para que
possa nascer o novo. Porque o que há de velho e decadente não
desaparece por si mesmo. Resiste. Abriu-se uma nova etapa
político-histórica com o início do fim da hegemonia petista
sobre os setores organizados da classe trabalhadora. Tem sido
um processo lento, por muitas razões. Porque, por exemplo,
ainda não vimos uma nova onda de lutas nacionais, algo como
semelhante a 1979/81, 1983/84, 1987/89, ou 1992. Esta
transformação tem sido lenta, Mas já se iniciou, porque a
experiência em setores de vanguarda já começou. Não acredito
em um matrimônio indissolúvel da classe operária com Lula.
4. Apesar do “mensalão” ter abalado a imagem do PT, a de Lula
permaneceu forte. A que se deve isso em sua opinião?
Lula foi salvo em primeiro lugar porque não houve impeachment,
ou seja, porque não foi a julgamento pelo Congresso Nacional.
Tão simples como isso, porque a política tem os tempos de uma
luta e, como estamos em 2012, e sabemos o que aconteceu,
podemos nos deixar cegar por uma ilusão de ótica. No campo de
possibilidades de 2005 estava ou não colocada a possibilidade
de outro desfecho? Lula conseguiu ganhar tempo, completar o
primeiro mandato, e se reeleger. Se tivesse sido derrubado
pela oposição de direita no Congresso ou no STF teria
acontecido uma solução muito reacionária da crise. Heloísa
Helena chegou a defender impedimento, com apoio de uma parte
do Psol, talvez a maioria, um grave erro de tática. A oposição
de esquerda não deve se unir à oposição de direita contra um
governo Lula. O PT e Lula tinham ainda a confiança dos setores
organizados do povo. Nossas contas com o PT e o lulismo têm
que saldadas dentro do movimento de massas. Isto posto, para
salvar Lula em agosto de 2005 foi necessária uma operação
política complexa. Em primeiro lugar, foi preciso entregar a
cabeça de Zé Dirceu. Na época, Cesar Maia chegou a bradar pelo
impedimento. Mas foi uma voz isolada na oposição burguesa. A
maioria dos partidos burgueses, o PSDB à frente, foi contra.
Ficaram com medo da desestabilização que poderia vir em
seguida. O próprio Bush enviou um representante do governo
norte-americano para acalmar os ânimos e mostrar a necessidade
estratégica de manter Lula. Como sabemos, Lula não os
decepcionou. Como ele mesmo admitiu os capitalistas nunca
ganharam tanto dinheiro como nos seus oito anos em Brasília, e
em ambiente social e política de paz social, com poucas
greves, protestos, mobilizações, uma alegria para a burguesia
que voltou a dormir tranquilíssima.
5. Temos visto, na mídia e nas redes sociais, uma dicotomia ao
se avaliar o papel dos ministros do STF neste julgamento.
Alguns setores os glorificam como salvação da democracia
brasileira, outros os apontam como partidários e
manipuladores. Em sua opinião, qual papel cumpriu o STF neste
caso?
A operação de financiamento eleitoral foi herdada, sem tirar
ou por nada, do “valerioduto” articulado para beneficiar
Eduardo Azeredo (presidente nacional do PSDB em 2005, só isso)
ao governo de Minas, em 1998. Até o organizador da operação
era a mesma pessoa, o que foi sinistro e, especialmente,
bizarro. Uma solução “técnica” típica para a defesa da
estabilidade do regime de presidencialismo de coalizão que
surgiu no Brasil depois do fim da ditadura militar. Que o STF
tenha feito um julgamento separado do outro é incrível. Mas,
em resumo, o episódio não confirmou os prognósticos feitos
pela maioria dos analistas que publicam na grande mídia. Não
significou um deslocamento na relação de forças que tenha
aberto o caminho para a oposição de direita, liderada pelo
PSDB. Serra amargou a derrota presidencial em 2010 e agora,
nas prefeituras das capitais, o PSDB saiu diminuído.
6. Por fim, a questão da reforma política e do Estado
inevitavelmente volta à tona com este caso. Corrupção, caixa
2, etc., são inerentes à política institucional brasileira no
presente momento ou é questão de opção política?
Não há e nunca houve em país algum um regime político de
defesa do capitalismo que não estivesse deformado e degenerado
pela corrupção. Não creio que seja provável que o Brasil venha
a ser uma exceção. Novos escândalos nos aguardam.
Crise econômica e governo
Dilma:
aula
pública
de
Valério Arcary (Vídeo)
Aula Pública de Valério Arcary no IFRS campus Bento Gonçalves
promovida pelo SINASEFE Seção Bento Gonçalves no dia 29 de
junho de 2012 durante greve da categoria.
Colóquio
internacional
discute
o
colapso
das
ditaduras em uma perspectiva
marxista
Quarta, quinta e sexta da próxima semana, no IFCS-UFRJ
Colóquio Internacional
O Colapso das Ditaduras
Programação geral
24/10 (Quarta-feira)
8:30 -09:00 – Credenciamento
09:00 -09:30 – Abertura oficial
· Renato Lemos (Brasil)
· Fábio Lessa (Diretor do Instituto de História da
Universidade Federal do Rio de Janeiro).
· Mônica Grin (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em História Social História da Universidade Federal do
Rio de Janeiro).
Raquel Varela (Portugal)
10:00 -12:00 – Mesa-redonda/ Roundtable – O colapso das
ditaduras (com tradução simultânea)
·
·
·
·
Theotônio dos Santos (Brasil)
Valério Arcary (Brasil)
Tamás Krauz (Hungria)
Coord. António Paço
12:00 -14:00 – Almoço
14:00 -16:00 – Apresentações de trabalhos
O golpe de 1964 no Brasil – Coord. Rômulo Mattos
· O empresariado e as relações Brasil-Estados Unidos no
caminho do golpe de 1964 – Martina Spohr
· A ditadura desenhada – prós e contras diante do golpe
– André Gustavo Ubinski
· O terror de Estado em São Luís: uma análise construída
pelo jornal O Imparcial – Rafael Ferreira Cutrim
· Reflexões sobre a profissionalização militar e o golpe
burguês-militar de 1964 – Camila Fernandes Bravo
Forças Armadas e regimes políticos
– Coord. Aloysio Carvalho
· Guerrilha de Caparaó (1966-1967): esquerda militar em
resistência à ditadura militar – Márcio Francisco
Carvalho
· Os oficiais brasileiros da reserva e a defesa da
memória institucional do 31 de março de 1964 – Fernando
da Silva Rodrigues
Da ditadura militar nacionalista à ditadura civil-
militar neoliberal: Forças Armadas e participação
política no Peru (1968-1993) – Vanderlei Vazelesk
Ditadura e política na Argentina
– Coord. Rachel Cardoso
· Da “Ttriple A” ao terrorismo de Estado: o terror
ampliado na ditadura civil-militar argentina de 1976 –
Marcos Vinicius Ribeiro
La recomposición del movimiento obrero durante la última
dictadura militar argentina bajo el liderazgo de Saúl
Ubaldini (1980-1983) – Carla Sangrilli
Argentina em conflito: as disputas entre a Central Geral
do Trabalho (CGT) e a ditadura de Juan Carlos Onganía –
Manoel Afonso Ferreira Cunha
Ditadura e memória no Brasil
– Coord. Gilberto Calil
A quem interessa? Um debate sobre a memória construída
em torno da ditadura brasileira (1964-1985) – Cláudio B.
de Vasconcelos
Pode a vítima falar? O testemunho como recipiente de
memórias traumáticas – Lucas Amaral de Oliveira
História e memória: na busca pelo direito à AnistiaGEUAr (1994-2002) – Esther Itaborahy Costa
Ditadura e transição política no Brasil
Hoeveler
– Coord. Rejane
Ditadura: um programa saindo do ar – Paulo Roberto de
Azevedo Maia
Transição democrática no Brasil e a Assembleia Nacional
Constituinte 1987-1988: permanências e rupturas –
Heloísa Fernandes Câmara
A redemocratização na proposta do Partido dos
Trabalhadores – Amanda Cristine Cezar Segura
16:00-16:30 – Coffee break
16:30 – 18:30 – Debate: Crise económica, Estado Social e
resistência dos trabalhadores
Promoção: revistas Outubro e História & Luta de Classes
Moderadores: Felipe Demier (historiador, revista Outubro) e
Gilberto Calil, historiador (revista História & Luta de
Classes)
Hungria. Do liberalismo ao neofascismo – Tamás Krausz,
historiador, revista Eszmélet, Hungria
Possibilidades e limites do reformismo no Brasil
contemporâneo – Valério Arcary, historiador, revista
Outubro, Brasil
Quem paga o Estado Social? – Raquel Varela,
historiadora, revista Rubra, Portugal
Marikana: as armadilhas da libertação nacional – Claire
Ceruti, historiadora, revista Socialism from Below,
África do Sul
19:00 – 21:00 – Mesa-redonda
mudança de regimes políticos
·
·
·
·
– A dimensão internacional na
Serge Wolikow (França)
António Paço (Portugal)
Encarnación Lemus (Espanha)
Coord. Marcelo Badaró
25/10 (Quinta-feira)
9:00 -11:00 – Apresentações de trabalhos
Ditadura e revolução em Portugal – Coord. Gilberto Calil
· As contribuições do intelectual exilado Vítor Ramos
para o colapso do salazarismo: sua presença no jornal
Portugal Democrático (1955-1974) – Fábio Ruela de
Oliveira
· A edição política e a denúncia da ditadura em Portugal
(1968-1977) – Flamarion Maués
· Comissões de Trabalhadores e o movimento operário no
Portugal pós-25 de Abril – Miguel Angel Pérez Suárez
Ditaduras no Cone Sul – Coord. Fernando Rodrigues
· A ditadura brasileira em relação aos seus pares
latino-americanos – Janaína de Almeida Teles
· A denúncia nas telas: cinema e representações
políticas dos colapsos das ditaduras e das transições
democráticas na Europa e na América Latina (décadas de
1970 – 1980) – Wagner Pinheiro Pereira
· Ditadura militar na fronteira sul do país:
resistência, repressão e rotas de exílio – Marília
Brandão Amaro da Silveira
Ditadura e movimentos sociais no Brasil – Coord. Camila Bravo
· A Diocese de Nova Iguaçu: uma Igreja nova, pobre e de
periferia em tempos de repressão política (1974-1980) –
Gabriel do Nascimento
· A comunidade de informação e segurança no processo de
abertura política no Brasil e a visão sobre a atuação do
Movimento Amigos de Bairros (MAB) em Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro (1974-1985) – Abner Sotenos
· Movimentos Comunitários. Experiências de participação
em Juiz de Fora, MG – 1974-1988 – Luciana Verônica Silva
Moreira
11:00 -13:00 – Mesa-redonda – O colapso das ditaduras e os
conflitos sociais (com tradução simultânea)
·
·
·
·
Marcelo Badaró Mattos (Brasil)
Raquel Varela (Portugal)
Ricardo Antunes (Brasil)
Coord. Felipe Demier
13:00 -14:30 – Almoço
14:30 -16:30 – Apresentações de trabalhos
Ditadura e coerção no Brasil
– Coord. Fernando Rodrigues
· A contradição eleitoral: da realização ao cancelamento
das eleições diretas na ditadura militar – Priscila
Oliveira Pereira
· O terror de Estado no Maranhão: quem eram os
perseguidos pelo DOPS? – Sarah Fernanda Moraes Gomes
· Assessoria de Segurança e Informação – ASI/UFF no
espaço de significação universitário: uma célula do
poder do Serviço Nacional de Informação de 1964 a 1985 –
Rosale de Mattos Souza
Fascismo, Nazismo e Integralismo – Coord. Enrique Padrós
· Plínio Salgado em Portugal: a difícil atualização do
fascismo no contexto de pós-guerra – Gilberto Grassi
Calil
· O Estado Novo e o Movimento Integralista. A atuação de
Raymundo Padilha na reorganização da AIB durante o
período de exílio de Plínio Salgado – Alexandre Luís de
Oliveira
· Liberdade e resistência no Grupo Rosa Branca – Maria
Visconti Sales
Ditadura e mudança política no Brasil
– Coord. Aloysio
Carvalho
· Samuel Huntington e a transição gradualista no Brasil
(1972-1974) – Rejane Carolina Hoeveler
· As propostas militares não “esguianas” para transição
brasileira (1977-1983) – Tiago Monteiro
· A contrarrevolução de 1964: colapso ou transição? –
Roziane Ferreira da Silva Cerqueira / Rogério Fernandes
Macedo
16:30-17:00 – Coffee break
17:00 -19:00 – Apresentações de trabalhos
O fim do Franquismo – Coord. Felipe Demier
· The anti-francoist social movements in Barcelona:
social and political victims becoming the founders of a
new democratic civil society under dictatorial rule –
Florian Musil
· La memoria es de ayer, pero sirve para mañana”: as
tensões entre história e memória à luz da historiografia
recente sobre a Guerra Civil Espanhola (1936-39) – Marco
Antônio Pereira
· La democracia (no) es el mercado. El mundo de los
negocios ante el colapso de las dictaduras en la
Península Ibérica – Ángeles González Fernández
Ditadura e coerção no Brasil
– Coord. Enrique Padrós
· As ditaduras de segurança nacional e o uso político do
silêncio – Silvania Rubert
· Terror de estado no Brasil: repressão e censura
através da imprensa no Maranhão (1964-1974) – Mariana
Pinheiro de Sousa
· “Meu filme não é extremista”: Roberto Farias e “Pra
frente Brasil!”. Censura e posicionamento político –
Wallace Andrioli Guedes
Anistia e processo político no Brasil
– Coord. Tiago Monteiro
· O Comitê Brasileiro pela Anistia e a descompressão
política (1978-1980) – Cristina Monteiro de Andrada Luna
· Algumas reflexões sobre a transição política no Brasil
e a anistia enquanto instrumento de autoproteção do
Regime – Alessandra Gasparotto / Renato Della Vechia
· Anistia e conciliação na ditadura civil-militar
brasileira – Carla Simone Rodeghero
Constituição e crise do mundo socialista
Mattos
– Coord. Rômulo
Herdeiros do Muro: análise comparada da reação pública
de cinco partidos comunistas sul-europeus aos
acontecimentos históricos de 1989/1991 – Álvaro Cúria
“Arcana Imperii” pós-1989: A política de abertura dos
arquivos policiais na transição Búlgara – Elitza
Bachvarova
The collapse of traditional culture as perceived
dictatorship: Russia, a case study – Anna Geifman
19:00 – 21:00 – Mesa-redonda – Mudanças de regime na América
Latina
·
·
·
·
Enrique Serra Padrós (Brasil/Uruguai)
Manuel Garretón (Chile)
Renato Lemos (Brasil)
Coord. Demian Melo
26/10 (Sexta-feira )
9:00 – 11:00 – Apresentações de trabalhos
Historiografia da ditadura brasileira – Coord. Demian Melo
· O regime ditatorial brasileiro em foco: balanço da
produção historiográfica na pós-graduação (1995-2010) –
Carine Muguet
· Revendo a “hegemonia cultural de esquerda”: a visão da
produção das ciências sociais sobre a atuação dos
artistas de esquerda da década de 1960 – Larissa Costard
· Historicizando um conceito: a “ditabranda” – Carla
Silva
Ditadura e mudança política no Brasil
– Coord. Tiago Monteiro
· Liberalização e regime autoritário no Brasil – Aloysio
Henrique Castelo de Carvalho
· Projetos editoriais de esquerda e o processo de
redemocratização brasileiro – Andréa Lemos Xavier Galucio
· A Folha de São Paulo, a memória histórica e o
acontecimento: passado e o futuro presentes em tempos de
Diretas-Já – Tâmyta Fávero
Ditadura e processo político no Chile – Coord. Rachel Cardoso
· A luta pela democracia: olhares brasileiros sobre as
jornadas nacionais de protesto no chile (1983-1984) –
Carlos Domínguez Avila
· La crisis del régimen de Pinochet y sus partidarios
civiles: la Unión Demócrata Independiente (UDI) y
Renovación Nacional (RN), 1988-1990 – Pablo Rubio
Apiolaza
· “El sentido de la transición”: discursos políticos da
direita chilena nos anos 1980 – Eric Assis dos Santos
11:00 -13:00 – Mesa-redonda
– As transições incompletas
· Claire Ceruti (África do Sul)
· Procopis Papastratis (Grécia)
· Coord. Raquel Varela
13:00 -14:30 – Almoço
14:30 -16:30 – Apresentações de trabalhos
História e teoria: como definir os regimes?– Coord. Carla
Nascimento
· Totalitarianism, authoritarianism, dictatorship:
Juan
Linz’s concept revisited – Jean-William Dereymez
· Bonapartismo e ditadura militar: algumas interpretações
do Brasil pós-Golpe de 1964 – Felipe Demier
· “Ditadura civil-militar”? Os impasses de uma discussão
conceitual – Demian Bezerra de Melo
Ditaduras e políticas de Estado/ Dictatorships and State
policies – Coord. Camila Bravo
· O regime do apartheid e seu programa nuclear – Edson
Perosa
· Diretrizes da política econômica da ditadura civilmilitar: fundamentos para o projeto privatista brasileiro
dos anos 1990 – Monica Piccolo Almeida
· Reforma agrária, instrumento de governos militares? –
Daniel Polatto
Ditadura e oposição no Brasil – Coord. Carla Silva
· Música e ditadura no Maranhão: canções como elementos
de contestação a partir do AI-5 – Wilson Pinheiro Araújo
Neto
· Imprensa e oposições políticas na década de 1970: a
experiência dos jornais Opinião e Movimento – Hugo
Bellucco
· O futebol brasileiro em clima de “Diretas Já” – Romulo
Mattos
Memória e justiça do passado – Coord. Cristina Luna
Justiça de Transição no Brasil e na Argentina: normas
internacionais de direitos humanos, ativismo
transnacional e mudança política – Emerson Maione de
Souza
Um novo lugar para o testemunho a partir dos processos
sobre terrorismo de Estado no Cone Sul – Roberta Cunha
de Oliveira
La situación de los archivos de la represión
después
del fin de las dictaduras: una comparación Europa
oriental / America Latina – Bruno Groppo
Arte colectivo e instituciones artísticas en las
ciudades de Buenos Aires, Lima y São Paulo.
Una
perspectiva comparada 1997-2007 – Cecilia Vazquez
Ditadura e processo político no Chile
Cardoso
– Coord. Rachel
“Ley Maldita’: A Ley de Defensa Permanente de La
Democracia de Videla e o desvio para ‘La Vía Chilena’ –
Mariana Sulidade / Romario Basilio
Ariel Dorfman e o longo adeus a Pinochet – Cláudio
Pereira Elmir
16:30 -17:00 – Coffee break
17:00 -19:00 – Mesa-redonda – Transições políticas e memória
·
·
·
·
Constantin Iordachi (Hungria)
Fernando Rosas (Portugal)
Jessie Jane Vieira de Souza (Brasil)
Coord. Renato Lemos
19:00 – 21:00 – Sessão de encerramento
– Palestra
Fernando Rosas – Do golpe militar à revolução de 1974/75:
singularidades históricas da “transição” em Portugal