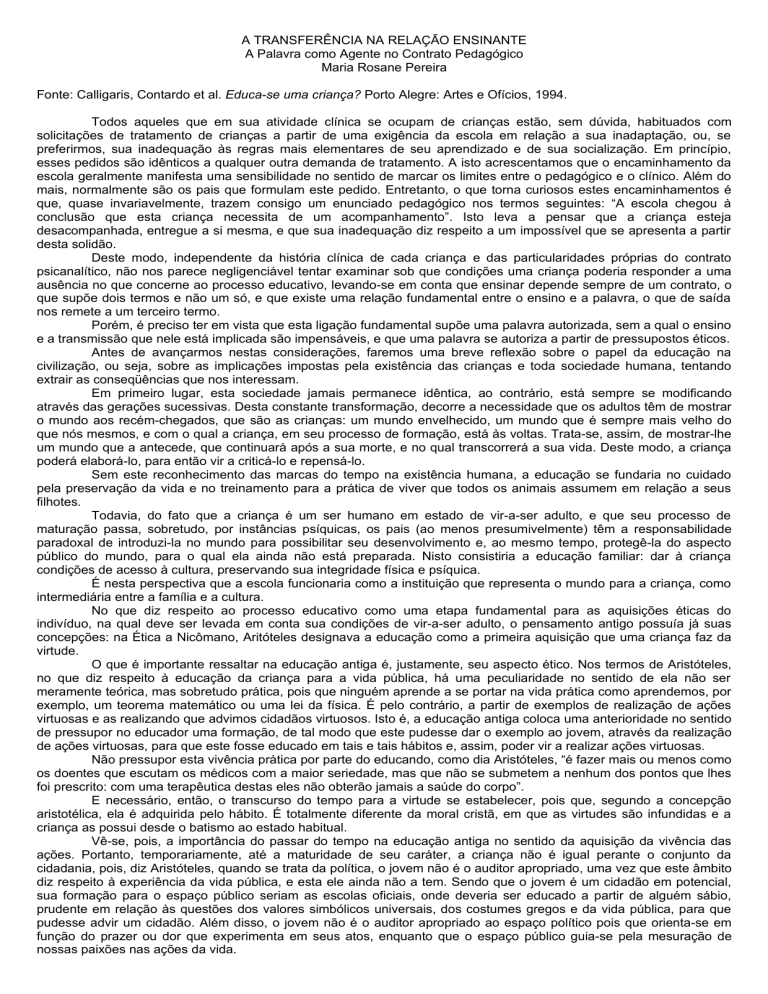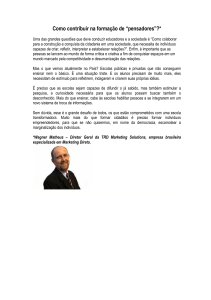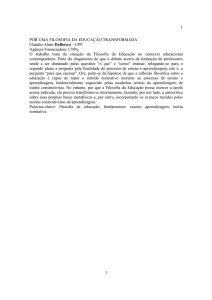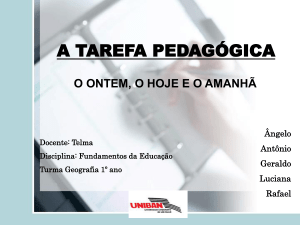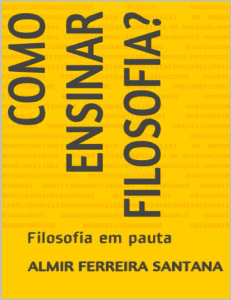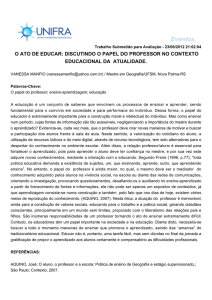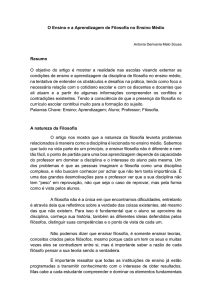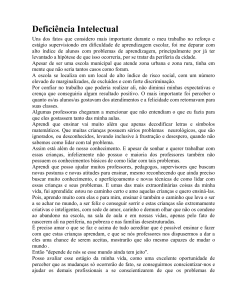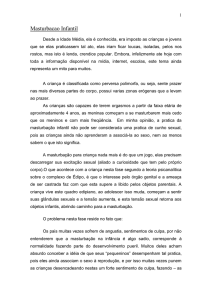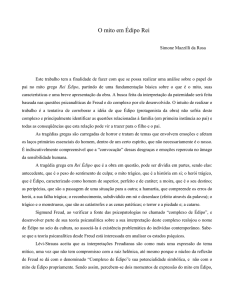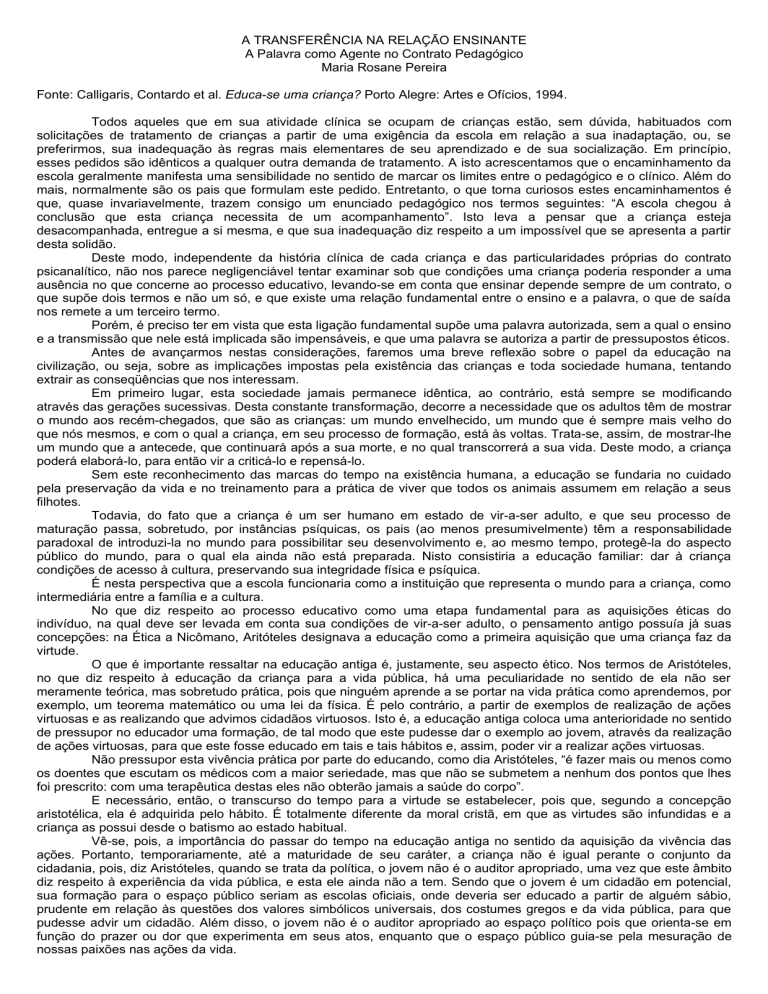
A TRANSFERÊNCIA NA RELAÇÃO ENSINANTE
A Palavra como Agente no Contrato Pedagógico
Maria Rosane Pereira
Fonte: Calligaris, Contardo et al. Educa-se uma criança? Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1994.
Todos aqueles que em sua atividade clínica se ocupam de crianças estão, sem dúvida, habituados com
solicitações de tratamento de crianças a partir de uma exigência da escola em relação a sua inadaptação, ou, se
preferirmos, sua inadequação às regras mais elementares de seu aprendizado e de sua socialização. Em princípio,
esses pedidos são idênticos a qualquer outra demanda de tratamento. A isto acrescentamos que o encaminhamento da
escola geralmente manifesta uma sensibilidade no sentido de marcar os limites entre o pedagógico e o clínico. Além do
mais, normalmente são os pais que formulam este pedido. Entretanto, o que torna curiosos estes encaminhamentos é
que, quase invariavelmente, trazem consigo um enunciado pedagógico nos termos seguintes: “A escola chegou à
conclusão que esta criança necessita de um acompanhamento”. Isto leva a pensar que a criança esteja
desacompanhada, entregue a si mesma, e que sua inadequação diz respeito a um impossível que se apresenta a partir
desta solidão.
Deste modo, independente da história clínica de cada criança e das particularidades próprias do contrato
psicanalítico, não nos parece negligenciável tentar examinar sob que condições uma criança poderia responder a uma
ausência no que concerne ao processo educativo, levando-se em conta que ensinar depende sempre de um contrato, o
que supõe dois termos e não um só, e que existe uma relação fundamental entre o ensino e a palavra, o que de saída
nos remete a um terceiro termo.
Porém, é preciso ter em vista que esta ligação fundamental supõe uma palavra autorizada, sem a qual o ensino
e a transmissão que nele está implicada são impensáveis, e que uma palavra se autoriza a partir de pressupostos éticos.
Antes de avançarmos nestas considerações, faremos uma breve reflexão sobre o papel da educação na
civilização, ou seja, sobre as implicações impostas pela existência das crianças e toda sociedade humana, tentando
extrair as conseqüências que nos interessam.
Em primeiro lugar, esta sociedade jamais permanece idêntica, ao contrário, está sempre se modificando
através das gerações sucessivas. Desta constante transformação, decorre a necessidade que os adultos têm de mostrar
o mundo aos recém-chegados, que são as crianças: um mundo envelhecido, um mundo que é sempre mais velho do
que nós mesmos, e com o qual a criança, em seu processo de formação, está às voltas. Trata-se, assim, de mostrar-lhe
um mundo que a antecede, que continuará após a sua morte, e no qual transcorrerá a sua vida. Deste modo, a criança
poderá elaborá-lo, para então vir a criticá-lo e repensá-lo.
Sem este reconhecimento das marcas do tempo na existência humana, a educação se fundaria no cuidado
pela preservação da vida e no treinamento para a prática de viver que todos os animais assumem em relação a seus
filhotes.
Todavia, do fato que a criança é um ser humano em estado de vir-a-ser adulto, e que seu processo de
maturação passa, sobretudo, por instâncias psíquicas, os pais (ao menos presumivelmente) têm a responsabilidade
paradoxal de introduzi-la no mundo para possibilitar seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, protegê-la do aspecto
público do mundo, para o qual ela ainda não está preparada. Nisto consistiria a educação familiar: dar à criança
condições de acesso à cultura, preservando sua integridade física e psíquica.
É nesta perspectiva que a escola funcionaria como a instituição que representa o mundo para a criança, como
intermediária entre a família e a cultura.
No que diz respeito ao processo educativo como uma etapa fundamental para as aquisições éticas do
indivíduo, na qual deve ser levada em conta sua condições de vir-a-ser adulto, o pensamento antigo possuía já suas
concepções: na Ética a Nicômano, Aritóteles designava a educação como a primeira aquisição que uma criança faz da
virtude.
O que é importante ressaltar na educação antiga é, justamente, seu aspecto ético. Nos termos de Aristóteles,
no que diz respeito à educação da criança para a vida pública, há uma peculiaridade no sentido de ela não ser
meramente teórica, mas sobretudo prática, pois que ninguém aprende a se portar na vida prática como aprendemos, por
exemplo, um teorema matemático ou uma lei da física. É pelo contrário, a partir de exemplos de realização de ações
virtuosas e as realizando que advimos cidadãos virtuosos. Isto é, a educação antiga coloca uma anterioridade no sentido
de pressupor no educador uma formação, de tal modo que este pudesse dar o exemplo ao jovem, através da realização
de ações virtuosas, para que este fosse educado em tais e tais hábitos e, assim, poder vir a realizar ações virtuosas.
Não pressupor esta vivência prática por parte do educando, como dia Aristóteles, “é fazer mais ou menos como
os doentes que escutam os médicos com a maior seriedade, mas que não se submetem a nenhum dos pontos que lhes
foi prescrito: com uma terapêutica destas eles não obterão jamais a saúde do corpo”.
E necessário, então, o transcurso do tempo para a virtude se estabelecer, pois que, segundo a concepção
aristotélica, ela é adquirida pelo hábito. É totalmente diferente da moral cristã, em que as virtudes são infundidas e a
criança as possui desde o batismo ao estado habitual.
Vê-se, pois, a importância do passar do tempo na educação antiga no sentido da aquisição da vivência das
ações. Portanto, temporariamente, até a maturidade de seu caráter, a criança não é igual perante o conjunto da
cidadania, pois, diz Aristóteles, quando se trata da política, o jovem não é o auditor apropriado, uma vez que este âmbito
diz respeito à experiência da vida pública, e esta ele ainda não a tem. Sendo que o jovem é um cidadão em potencial,
sua formação para o espaço público seriam as escolas oficiais, onde deveria ser educado a partir de alguém sábio,
prudente em relação às questões dos valores simbólicos universais, dos costumes gregos e da vida pública, para que
pudesse advir um cidadão. Além disso, o jovem não é o auditor apropriado ao espaço político pois que orienta-se em
função do prazer ou dor que experimenta em seus atos, enquanto que o espaço público guia-se pela mesuração de
nossas paixões nas ações da vida.
Por sua vez, os romanos tiveram em Quintiliano um pensador da pedagogia. Em seu Institutione Oratória
podemos verificar que Quintiliano entendia que ensinar deveria se fundar no conhecimento, por parte do professor, das
disposições da criança. Para ele, desde que uma criança é confiada a um mestre hábil, este deve se dedicar primeiro a
conhecer a fundo a inteligência e o caráter de seu pequeno discípulo. A formação da criança estaria acabada quando,
tendo passado por aquele professor, na idade da puberdade eles ainda continuam ali, a aprender com ele. Por isto, diz
ele: “É preciso zelar para que a inexperiência deles encontre na virtude do mestre uma garantia contra todo o atentado e
que a impetuosidade deles seja desviada da permissividade”. E, quanto à posição do professor, ele aconselha: “Que,
acima de tudo, ele adote a atitude de um pai para com seus alunos e se considere como substituto dos que lhe
entregaram seus filhos e sua guarda...pois os alunos corretamente instruídos estimam seu professor com afeto e
respeito. E é quase impossível dizer quão mais voluntariamente imitamos aqueles a quem amamos”.
Essas concepções, em termos gerais, resguardadas as diferentes condições históricas, vêm ao encontro do
pensamento crítico da modernidade construído por Hanna Arendt, para quem a educação deve ter em vista a
preservação da criança da esfera pública, a fim de preservar seu amadurecimento e sua capacidade de inovar.
Segundo Hanna Arendt é precisamente porque está ligada à ação que a educação deve permitir às jovens
gerações que encontrem seu lugar no mundo. Para isso, o educador deve estar em condições de representar para as
crianças o mundo, assumindo a responsabilidade por ele, descrevendo-o tal qual ele é, comprometido com a realidade,
sabendo que este mundo que ele ensina às crianças é sempre mais velho, mais antigo do que elas. Deste modo, ele é
encarregado de transmitir um saber que constitui a herança das novas gerações. É nesta posição de representação que
se funda sua autoridade. Caso contrário, assumindo a posição de absoluta vanguarda, o educador exime-se de sua
responsabilidade com o mundo, além de tomar o lugar que é da criança quanto á inovação. Desprezado o passado, ele
impõe à criança a sua concepção de novidade, concepção que, de todo o modo, também é sempre mais velha que as
crianças.
Neste sentido, ensinar é um ato de memória, e estamos sempre nos esquecendo. Em uma passagem do seu
trabalho Entre o Passado e o Futuro, Hanna Arendt nos diz: “Se nos resignamos com o esquecimento e preferimos o
novo a partir dele mesmo, como se ele desde sempre ali estivesse, nos privaríamos da dimensão de profundidade da
existência humana, pois memória e profundidade são o mesmo, e a profundidade não pode ser alcançada pelo homem a
não ser através da recordação”.
Disto conclui-se que a ética da tarefa de ensinar se funda no reconhecimento da infância como uma etapa a
ser superada e que esta superação depende, para a criança, de uma anterioridade em que ela possa alicerçar seu
saber, com o qual ela poderá vir a criticar e transformar.
Estas reflexões nos remetem às considerações anteriormente propostas, visto que, se nos interrogamos
quanto à existência da linguagem, deparamos com a anterioridade desta em relação ao sujeito humano, e quando
evocamos o sujeito humano, não lhe opomos a sociedade, já que ela também é chamada a funcionar como se fosse um
sujeito, sustentando um discurso graças às montagens adequadas que são as instituições.
Ademais, sendo o inconsciente uma conseqüência da existência da linguagem, se tomamos os pressupostos
psicanalíticos para pensar o modo de acesso humano à cultura, podemos afirmar que o nosso lugar é designado pela
linguagem a partir de traços que dela vão se inscrever em nosso inconsciente, ou seja, a partir do modo como esses
lugares vão estar representados para nós desde nosso acesso subjetivo à lei, à cultura.
Assim, podemos dizer que o educador representa para a criança as instâncias psíquicas que se constroem a
partir de sua inscrição na linguagem, ou seja, a partir de seu ingresso nas linhagens, desde a sua filiação. Esta filiação,
sabemos, dependerá sempre da passagem pelo complexo de Édipo.
Ora, como nos expõe C. Millot em Freud, Anti-Pedagogo, o complexo de Édipo consiste na relação dual da
criança com a mãe e no acesso à ordem simbólica. Este acesso requer a existência de um terceiro termo, cuja função é
introduzir esta ordem e assegurá-la. O pai, ou melhor, a função paterna constitui para a criança a referência a uma lei
que é válida para todos, mas que só se impõe à criança na medida em que é reconhecida pela mãe. Esta lei se inscreve
no inconsciente sob forma de proibição do incesto, proibição que barra o acesso à mãe como supremo objeto de gozo,
tornando-se um bem proibido, um “soberano bem”. Ao mesmo tempo esta lei sanciona, a nível simbólico, o impossível
“reencontro” com este objeto, do qual Freud demonstra que já está perdido desde sempre, só se constituindo como
perdido.
O mito de Édipo é assim a metáfora deste ingresso na estrutura simbólica, indissociável da existência da
linguagem. É na medida em que o complexo de Édipo é o que introduz efetivamente a criança na cultura, e que desta
inserção vão resultar suas relações com a lei, com os limites, com as figuras de autoridade, é nesta medida que o
complexo de Édipo é o motor da educação, como preconizou Freud.
Por outro lado, sabemos que a transferência é um fenômeno psíquico que se encontra presente em todos os
âmbitos das relações com nossos semelhantes, a situação analítica constitui-se apenas em seu modelo exemplar,
tomando-a em sua dimensão clínica.
Este fenômeno, produto das identificações primárias, está diretamente vinculado à construções edípicas de um
sujeito, e consiste em seu investimento imaginário na representação do ideal-do-eu. Na situação analítica, ocupar no
imaginário de um sujeito o lugar do ideal-do-eu não implica, antes impede, que este semblante seja assumido pelo
psicanalista como uma verdade, pois a cura analítica visa à dissolução da transferência precisamente para remeter o
sujeito ao reconhecimento da verdade e dos limites de seu próprio desejo.
Entretanto, a situação ensinante não pode se prevalecer da mesma ética, sob pena de se desvanecer. Só é
possível ensinar na medida em que houver transferência, quer dizer, suposição de saber. É nesta suposição que vai se
fundar a autoridade do professor para a criança (e, aliás, não apenas para a criança). Por isso, é necessário que o
sujeito suposto saber sustente as construções imaginárias da criança para que seu discurso tenha efeito.
Isto equivale a dizer que é desta relação imaginária, em si mesma narcísica e alienante, que depende a
possibilidade de ensinar. Todavia, isto não significa que a situação transferencial deva necessariamente ser um produtor
de servilidade, como se constata em determinadas posturas pedagógicas, em que a criança tem a função de eu-ideal do
educador, devorada pelos ideais deste último, devendo dar conta de todas as suas aspirações pessoais, conscientes ou
inconscientes, funcionando assim numa condição de absoluto desreconhecimento de seu próprio desejo. Aliás, esta foi
sempre uma preocupação de Freud.
O outro extremo disto, caso fosse possível nada desejar em relação à criança, deixando-a livre de qualquer
influência, de qualquer coerção, não seria menos nocivo, pois inviabilizaria a sua estruturação psíquica, impedindo-a de
assumir sua condição de desejante, já que para a criança, assim como para qualquer sujeito, a pergunta sobre seu
próprio desejo se formula, de saída, como interrogação sobre o desejo do Outro.
Evidentemente, uma neutralidade destas jamais tem lugar, na medida em que a ferramenta do ensino é a
palavra e, seja qual for o papel que um professor escolha para si, a relação ensinante vai se dar a partir de sua forma
discursiva e é o que vai determinar o seu caráter mais ou menos opressivo. Ensinar é sempre uma aventura com a fala,
e falar é sempre uma aventura de poder; no espaço da fala não há nenhuma segurança, nenhuma inocência. É isto que
faz com que o contrato pedagógico se funde sob condições que se formam a partir de uma demanda intransitiva, quer
dizer, aprender e ensinar, que se apresenta sob a cobertura de outras demandas, aparentemente transitivas como:
aprender algo, ensinar algo. Esta intransitividade se baseia na posição subjetiva que cada um ocupa na sua fala, pois
falar está sempre para além do comunicar, desde que o sujeito em questão é sempre o do inconsciente. A relação
ensinante não é nada mais do que a transferência que ela institui. O método, o saber, a idéia, são dados a mais, são
acréscimos.
A este propósito encontramos no pensamento de Roland Barthes uma formulação bastante sensível sobre os
efeitos da linguagem na relação ensinante em termos de poder e discurso. Em sua aula inaugural no Collège de France,
pronunciada em 7 de janeiro de 1977, ele propõe ao auditório de estudantes que o ensino que ali se inaugurava fosse
fundado em uma interrogação sobre o que seria ensinar fora de toda sanção institucional, sem um saber dirigido:
segundo ele, “ensinar com liberdade, falar simplesmente não constitui uma atividade que seja, por direito, pura de
qualquer poder, pois o poder aí está, emboscado em todo e qualquer discurso, mesmo quando este parte de um lugar
fora do poder. Assim, quanto mais livre for este ensino, tanto mais será necessário indagar-se sob que operações o
discurso pode despojar-se de todo desejo de agarrar”.
Como podemos ver, a tarefa de ensinar está impregnada de uma exigência ética que não é das menores, em
que talvez resida toda a sua dificuldade, pois se ensinar é possível, nem por isso deixa de esbarrar no desejo. Aliás, foi o
que nos disse Gabriel Balbo, por ocasião da abertura dos trabalhos preparatórios deste congresso: “...a verdadeira
pedagogia consiste em desejar o desejo de aprender do outro”. Desta forma, se o reconhecimento da palavra como
fundante se faz ausente, não há contrato possível, só sintoma.
A propósito disto, gostaria de relatar-lhes o sonho de uma paciente que, aos seis anos de idade, fazia a préescola. Esta garotinha no decorrer do tratamento analítico manifestou o desejo de aprender a ler, sendo que a escola
que freqüentava, por questões de método, não alfabetizava as crianças antes da 1ª série. Do contato com os jogos de
letras durante nossas sessões ela consegue, numa sessão, chegar a escrever seu prenome. Na sessão subseqüente ela
conta seu sonho:
“...Sonhei de novo com aquele buraco que sempre caio quando sonho, só que desta vez, quando fui gritar,
olhei pra cima e vi uma corrente de letras emendadas. Aí, eu me pendurei na perna do (p) do papai que era a primeira e
me salvei”. Eu lhe pergunto de onde vinha essa corrente? Ela responde: “Da boca do buraco. Tinha uma perna do (m) de
mamãe que segurava. E as outras letras eu não sei o que diziam, eu ainda não sei elas”. “O que dizem?”, eu pergunto.
“É”, diz ela, “as letras falam coisas pra gente, mas quando eu souber fazer letras emendadas eu vou saber quem foi que
colocou o (m) da mamãe na boca do buraco”.
Para concluir, mesmo sem nos determos aqui às particularidades clínicas do caso, podemos, ainda assim,
levantar a questão: o buraco de seu sonho não seria precisamente o lugar de seu desejo, desejo de saber cujo
reconhecimento só tem lugar na palavra, mediadora de sua relação com o Outro que a situa em um tempo e em um
espaço?
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 ARENDT, Hanna. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1970.
2 ARISTÓTELES. L’Ethique a Nicomaque. Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1959.
3 BARTHES, Roland. Leçon. Paris: Ed. 1982.
4 Ecrivains, professeurs et Intelectuels. In: Tel Quel. Paris: Ed.du Seuil, 1972. n.47
5 MILLOT, Catherine. Freud, Anti Pedagogo. São Paulo: Zahar.
6 QUINTILIANO. De Institutione Oratória. Paris: Ed. Gallimard, 1960.