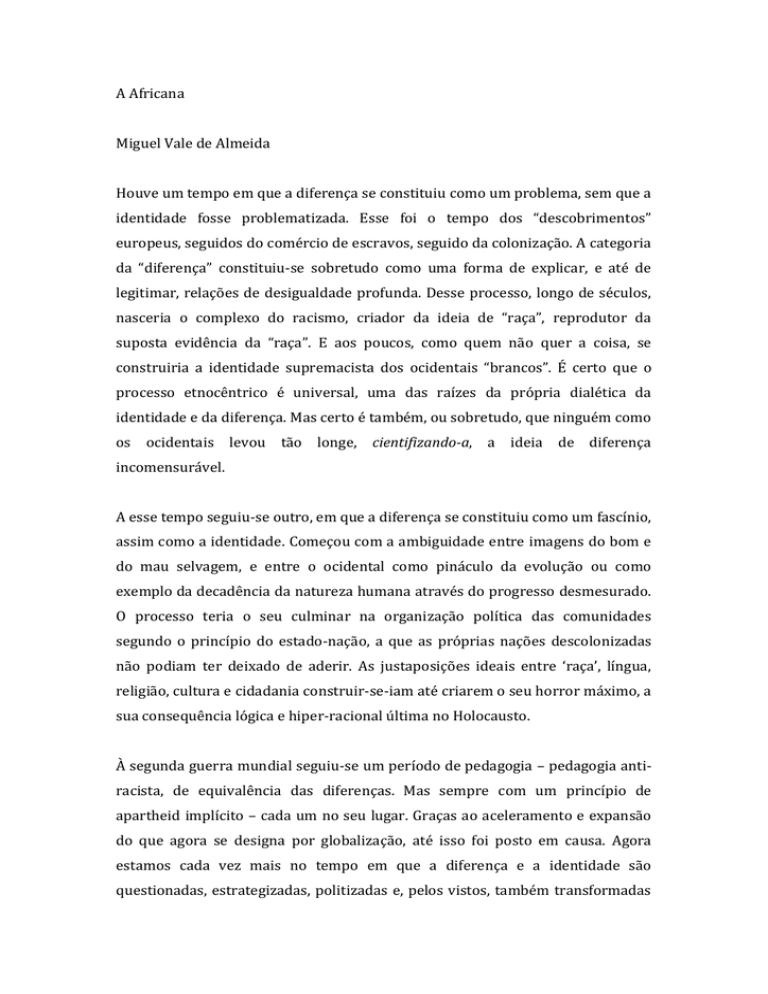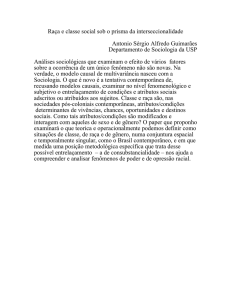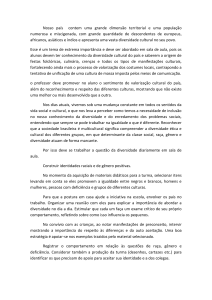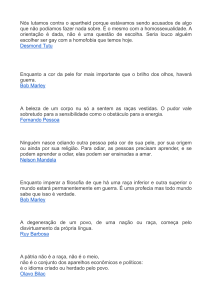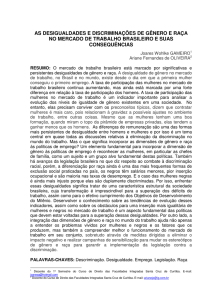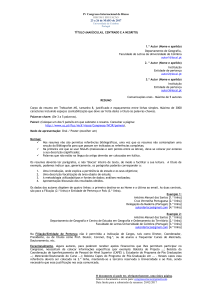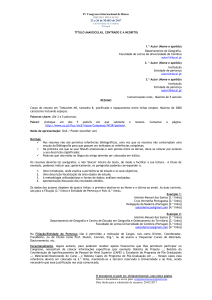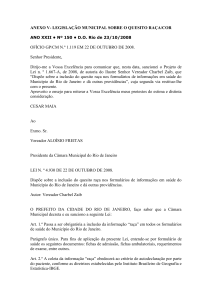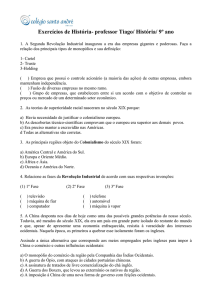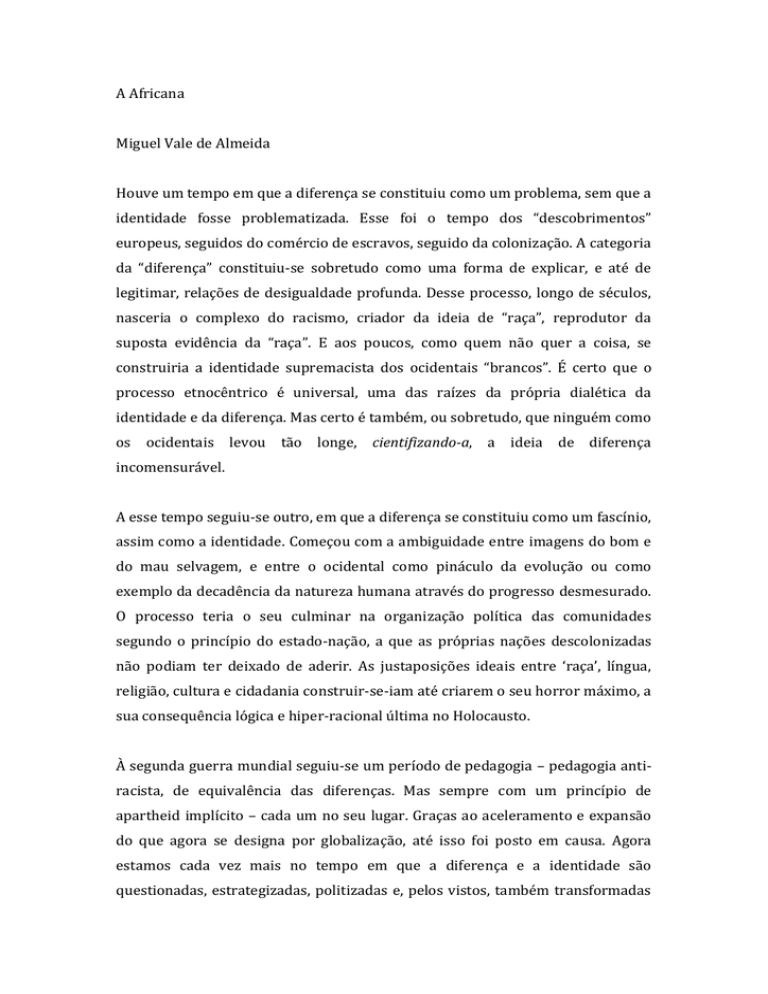
A Africana
Miguel Vale de Almeida
Houve um tempo em que a diferença se constituiu como um problema, sem que a
identidade fosse problematizada. Esse foi o tempo dos “descobrimentos”
europeus, seguidos do comércio de escravos, seguido da colonização. A categoria
da “diferença” constituiu-se sobretudo como uma forma de explicar, e até de
legitimar, relações de desigualdade profunda. Desse processo, longo de séculos,
nasceria o complexo do racismo, criador da ideia de “raça”, reprodutor da
suposta evidência da “raça”. E aos poucos, como quem não quer a coisa, se
construiria a identidade supremacista dos ocidentais “brancos”. É certo que o
processo etnocêntrico é universal, uma das raízes da própria dialética da
identidade e da diferença. Mas certo é também, ou sobretudo, que ninguém como
os ocidentais levou tão longe,
cientifizando-a, a ideia de diferença
incomensurável.
A esse tempo seguiu-se outro, em que a diferença se constituiu como um fascínio,
assim como a identidade. Começou com a ambiguidade entre imagens do bom e
do mau selvagem, e entre o ocidental como pináculo da evolução ou como
exemplo da decadência da natureza humana através do progresso desmesurado.
O processo teria o seu culminar na organização política das comunidades
segundo o princípio do estado-nação, a que as próprias nações descolonizadas
não podiam ter deixado de aderir. As justaposições ideais entre ‘raça’, língua,
religião, cultura e cidadania construir-se-iam até criarem o seu horror máximo, a
sua consequência lógica e hiper-racional última no Holocausto.
À segunda guerra mundial seguiu-se um período de pedagogia – pedagogia antiracista, de equivalência das diferenças. Mas sempre com um princípio de
apartheid implícito – cada um no seu lugar. Graças ao aceleramento e expansão
do que agora se designa por globalização, até isso foi posto em causa. Agora
estamos cada vez mais no tempo em que a diferença e a identidade são
questionadas, estrategizadas, politizadas e, pelos vistos, também transformadas
em objeto do nosso humor cáustico. Questionamos a identidade e a diferença
porque vemos nelas as fontes de conflitos aparentemente insanáveis, mas que
sabemos não o serem. Entrevemos, no meio do caos definicional e autoritário das
categorias de pertença e não pertença – ao estado, à nação, à cidadania, à
“competência” cultural, à “família” – que na realidade somos todos e todas
muitas coisas ao mesmo tempo, que somos muitas coisas em potência, que o
somos em circunstância, em narrativa, em auto e hetero-construção, em
afirmação, resistência, bricolage e invenção e linhas de fuga; e que estamos
ligados oculta e subterraneamente quais rizomas.